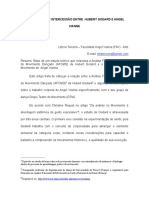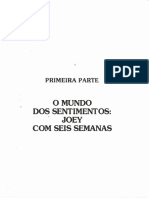Elipse - Gazeta Improvável
Diunggah oleh
Cadu Mello0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
86 tayangan55 halaman01 Primavera 98
Revista portuguesa organizada pelo filósofo José Gil e a dançarina contemporânea Vera Mantero. Ensaios dos dois e outros.
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Ini01 Primavera 98
Revista portuguesa organizada pelo filósofo José Gil e a dançarina contemporânea Vera Mantero. Ensaios dos dois e outros.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
86 tayangan55 halamanElipse - Gazeta Improvável
Diunggah oleh
Cadu Mello01 Primavera 98
Revista portuguesa organizada pelo filósofo José Gil e a dançarina contemporânea Vera Mantero. Ensaios dos dois e outros.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 55
CAS
gazeta improvavel
Ana Godinho José Rolnik Silvina Rodrigues Lopes José jonisio Catarina Freire Diogo André Lepecki
ne
3
‘Ana Godinho
. ANELO
6
José Gil
SERET HOMEM?
u
Anténio Guerreiro
0 HOMOSSEXUAL COMO PARIA
18
Suely Rolnik
VICIADOS EM IDENTIDADE
23
José Gil
OS CULPADOS:
35
Silvina Rodrigues Lopes
IMPROPRIO PARA CONSUMO
46
José Amaro Dionisio
REENCONTRO
48
Catarina Freire Diogo
DA IRREVERSIBILIDADE DO DESEIO
55
André Lepecki
CORPO INCERTO
#
eLipse gazeta improvavel 02 / outono 98
Segundo Director Rotativo: Anténio Guerreiro. Comité de Redaccao: André Lepecki, José Gil,
Silvina Rodrigues Lopes, Vera Mantero. Design: Bold — Paulo Scavullo. Colaboracao: Ana Godinho,
Suely Rolnik, José Amaro Dionisio, Catarina Freire Diogo. Editor: Reldgio D’Agua Editores Lda., Rua
Sylvio Rebelo, n* 15, 1000 Lisboa, Tel. 8474450, Fax 8470775.
Preco: 1500$00 Assinatura por quatro ndmeros anuais: 4500$00
elipse garcia improvavel aceita colaboracao para o préximo ndmero, a sair em Dezembro, com o ti-
tulo «Terrores Quotidianos», reservando-se o direito de seleccao dos textos, que devem ser enviados
para o editor ou por correio electrénico para o seguinte endereco: nop35062@mail.telepac. pt
elipse 3
ANELO
Foi frio o dia, foi como se $6 agora voltasse devagar a ter gestos no corpo. Neste
corpo que se desfaz e apaga. Gestos, vagos, restos de qualquer coisa infantil e sem re-
gresso. Um movimento muscular minimo que se desapega e confunde no ar que circula
aqui no quarto.
Corpo e ar um sé.
Atropelo sem querer uma pena da almofada que esvoaca perdida enredada na
aragem. Qualquer coisa que esqueco e esquego e esqueco e volta.
Desejo
‘um sopro, anelo.
Anseio por ti
Desejo-te
Nao estas aqui mas a'sala inteira cheira, chove. Nao suporto a chuva nem o ven-
to, nem o som a bater na janela. Tenho a garganta seca como se fosse um dia quente.
Desejo-te para além do limite e estou impassivel aqui sentada. Ninguém sabe .
deste desejo, nao se vé. Deixa-me s6 a garganta seca.
Choveu muito e fez sol. Agora néo te desejo. Ficou esta sensacéo de secura e 0
corpo inteiro rasgado.
E desejo-te. A falta que me fazes alastra. Cria um espaco, largo.
Devia poder falar-te deste desejo todo. Assim fica um né sem som.
Existe uma lei funda que define e é por ela que se alinha a vida. Quem a quebra
corta e adianta a morte. Pressinto-a lé no fundo, forte, grande e nao te digo.
Nao te vas. 4
Incompreensivel que ainda sinta aqui a meio do estémago naquele ponto preciso S
e impartilhavel 0 n6 que se desdobra e multiplica infinitamente por cada nervo ou fi-
bra, e déi nos gestos que ainda me restam.
4 elipse
Chega devagar um torpor que se transforma.
Apagam-se 0s gestos todos quando fazemos amor. A consciéncia, a lei fica rom-
ba. Neste instante, o sexo, anelo, neste instante grito.
Para além da intensidade da luz ou da auséncia dela abre-se em cada zona do cor-
po uma outra maior e outra. Tmpossivel saber deste desejo. S6 passagem das tuas
aos, do teu braco num gesto lento do corpo inteiro quando te voltas e me tocas mini-
mamente num pélo, num centimetro de pele,
o teu sexo.
0 teu desejo misturado com o meu, um corpo. Inteiro sem dores, uma superficie
que é a velocidade do desejo.
0s restos do corpo onde tenho estas sensacdes rasgam-se. As pregas, as dobras,
0s recantos escuros desaparecem e j4 no corpo é uma superficie um bloco tnico de
sentir, eldstico e um orgasmo e depois dele outro ou a continuacao de um s6 subindo
em intensidade, maior que qualquer ndmero. Impossivel de contar. A superficie muda,
transforma-se numa pele transparente e sem peso.
O teu corpo nao pesa um conjunto de ritmos e calor, forte, qualquer coisa sel-
vagem e do principio, intensa. Vida na medida-simples das sensacdes. Cheira a rosas.
(0 meu corpo, depois a superficie, finalmente a pele, s6 tem um lado, todo fora.
‘Agora, agora mesmo na auséncia de todos os movimentos 0 prazer aumenta, que-
bra-se, amplia-se, nasce outro desejo, ciega dos primérdios do tempo violento. Sem um
nico gesto, fora do tempo. Ndo nos mexemos os dois, uma cittima palavra acaba com 0
movimento mais infimo, nao dizemos nada, no fazemos nada.
Aproxima-se uma vaga gigante, ndo respiramos, expande-se qualquer coisa,
abate-se sobre os dois corpos, nasce, sente-se. A consciéncia que tinha ficado romba
estilhaca-se de vez. Num espaco amplificado, um anelo, j4 nao desejo-te, mas desejo,
outro desejo, esse que rouba a lei e inconsciente invade 0 espaco inteiro, Fixa-se até
aos fluidos, no sangue e na carne, mais que a dor. Entranha-se nos corpos e no ar. Deixa
uma meméria. Entre e entra nos poros.
Qualquer coisa aconteceu, uma abertura, um intersticio no tempo; sem expli-
cacao.
Rebenta o pensamento todo. Depois. Jé nao sdo possiveis as mesmas palavras, as
palavras dos outros. Um caos.
De vez em quando levanto a cabeca, olho lé para fora, vejo e ouco distante o ven-
to e parece chuva outra vez.
Mais nitidas as casas que vi hoje pela manhé, nftido, finalmente este desejo.
Contei as horas, devagar, enquanto o dia passava para estar certa destas sen-
sacbes pouco certas. Para continuar a fazer de conta que existo. Arranjei dois rel6gios.
Um deixei-o na parede 0 outro em cima da mesa.
0 dia jé passou.
Hé um tempo que escapa aqueles rel6gios.
Da minha infancia ficou o canto dos passaros que ougo quando estala um tronco
ali na lareira e um gesto vago que faco de cada vez que uma sombra passa na parede
aqui do quarto. *
José Gil
SERE| HOMEM?
Um facto impressiona na histéria do movimento feminista: é a falta de um movi-
mento correspondente do lado dos homens. Enquanto as mulheres punham e pdem em
‘causa a sua condi¢go de dominadas, exploradas, exclufdas, humilhadas, desapossadas
do seu ser feminino ao ponto de se interrogarem sobre «o que é ser mulher?», os
homens quase nunca responderam ao desafio, aplicando-o a si mesmos: «o que é ser
homem?»
Numa palavra, ndo houve dialéctica senhor-escravo na histéria da emancipacéo
feminina. Como se as lutas feministas confortassem o homem na sua posicéo «viril»
(por exemplo: as conquistas no plano do direito no trabalho ou dos direitos sociais
visavam a igualdade com 0 homem; mas também que, dentro dessa igualdade, se re-
conhecesse o direito a diferenca — 0 que podia levar a reivindicacoes de «excessivos»
privilégios da mulher em relacéo 20 homem)..
Mesmo os defensores masculinos mais comprometidos na luta pelos direitos femi-
rinos raramente puseram em questao a posicao do homem perante 0 que a sua prépria
dominacao tinha feito da muther.
A resistencia a questionar a imagem do homem tem maitiplas causas, algumas
bem estudadas: por exemplo, o facto de a luta pela emancipacao feminina (endo s6 por
tais e tais direitos sectoriais) ser mal aceite pelo movimento operdrio. Ou, de maneira
mais geral ainda, o facto de a dominagao da mulher pelo homem nao ser um fenémeno
localizado socialmente, mas atravessar toda a sociedade: tal como 0 «pequeno branco»
se sentia superior ao negro, o camponés, 0 operdrio, os grupos mais diminuidos
nna escala social compensam o seu estatuto inferior afirmando a sua superioridade so-
bre as mulheres (nomeadamente dentro da familia).
Nao se trata propriamente de «machismo», nem mesmo de «sexismo». € uma
convicggo, ndo uma atitude; convicgdo tao entranhada no homem que se confunde com
uma cesséncia» (sem a qual ele deixaria de ser homem).
0 asexismon confunde «sexo» e «género» (conjunto dos efeitos formadores da so-
ciedade sobre 0 «sexon: um ser de sexo feminino é formado para ser «mulher»), reba-
tendo o primeiro sobre o segundo. A mulher define-se, antes de tudo, pelo seu sexo —
© que justifica todas as manipulagdes 2 que a sujeitam, desde a prostituicao ao corpo-
-objecto da publicidade,
0 «machismo» repete 0 rebatimento, mas em sentido contrario: 0 homem é,
antes de mais, «macho» ~ 0 que, de certa maneira, aparece como uma redundancia
ridfcula sobre o discurso déxico masculino. JA se sabe que o homem se define pelo
‘sexo, mas 0 sexo nele é 0 Falo, muito para além do pénis: para qué reduzir a supe-
rioridade masculina & de um Orgao, caricaturando a propria universalidade falica?
Por isso ha sexistas ao mesmo tempo criticos dessa caricatura da posigao masculina
(de resto, hé muito que a psicandlise mostrou que 0 «macho» tem singulares
cumplicidades com o seu verdadeiro inverso e simétrico, 0 «maricas» ou homos-
sexual — abaixo, ainda, no discurso machista, do valor da mulher).
‘A aconvicgdo» de que a esséncia do ser humano é masculina difere, pois, destas,
duas atitudes (que, no entanto, dela decorrem). A dificuldade em caracterizé-la vem
da sua generalidade: ela contamina toda a relacéo de valor, ao mesmo tempo fun-
dando-a e participando na clivagem dos géneros. Ela funda-a porque, de certo mo-
do, coloca-se fora do seu campo: enquanto instancia fundadora, a masculinidade
da de sexo, neutra. 0 masculino é neutro, o ser a partir do qual «se
(0 sexual 6 neutro, mas esta neutralidade esconde profundamente
9 masculino como valor primeiro.
Nao podia ser de outro modo: porque a instncia fundadora tinha que se si-
tuar fora das determinacdes de sexo e género; porque, por outro lado, tem de as in-
cluit, mesmo virtualmente, na medida em que as funda; ora a clivagem nao fornece
uma igualdade dos géneros, mas a superioridade de um sobre 0 outro. Esta tinha de
él estar, de qualquer maneira.
Porque o masculino é neutro, e é fundamento, nds, homens (género) julgamo-
-nos insusceptiveis de mudanga. Pode-se pois conceber sem contradicéo nem dia-
léctica, uma luta pela emancipagéo da mulher, quer dizer pela conquista da sua fe-
minilidade roubada, sem que o ser do homem (a sua masculinidade) tenha que so-
frer transformagdes (seja posta em causa). A mulher muda, o homem nao, porque
© homem € 0 padrao-fundador, situado numa esfera (neutra) sem relagio com
a mulher.
Numa palavra, as relacées humanas estéo envoltas numa espécie
de manto global magico que confere imediata e inquestionavelmente a superiori-
dade ao homem. A relagéo homem-homem passa pela relagio homem-mulher,
pois o valor de cada um ganha-se na relagdo com a mulher.
Esta generalidade (que se transforma em universalidade) do valor superior do
homem é um dado inconsciente: esta inscrito nas instituigdes, no direito, mesmo na
relagao de amor. £ Virginia Woolf que se refere nos Trés Guinéus a uma espécie de
automatismo magico que faz com que a mulher entre naturalmente numa relacio
de obediéncia, desde 0 primeiro contacto. com um homem. € certamente um dos
mais poderosos exemplos da relagéo de influéncia,
Porqué, este reflexo imediato de obedecer? Vem sem duivida daquela convicgao
universal e inconsciente da superioridade masculina (partilhada pelo homem e pela
mulher). Cuja contrapartida nao é a desvalorizago pura e simples da mulher, mas a
avaliagdo, em termos precisos de capital simbélico, do seu corpo: & a mercadoria
por exceléncia, 0 equivalente geral comparavel ao dinheiro («la monnaie vivante»,
clipe 7
© dinheiro vivo, diz Klossowsk’) de todo o valor simbélico em circulagao: por isso,
de certo modo, nao possui nenhum, em si mesmo, se bem que possa ser trocado sim-
bolicamente por toda a espécie de valor; por isso, como o dinheiro, se acumula
(0 harém, 0 don-juanismo); por isso, de outro modo, esse corpo parece condensar
nele todo o valor simbélico, avidamente cobigado pelo homem, cujo corpo nao tem
nenhum. (A obra de Lévi-Strauss mostra bem, nao como o homem, no sistema de
aliancas, fez da mulher um objecto (critica que certas feministas americanas the
fizeram e que ele rejeitou), mas como constitui o equivalente geral, simbélico e re-
al, cuja circulagio permite a circulacdo dos outros bens).
E que a relacao especular — possuir (de miltiplas formas) uma ou varias mu
theres da valor ao homem, é ela que o admira, the da confianga em si, 0 anima e 0
serve — fez cair 0 homem numa armaditha: 0 corpo da mulher reflecte o valor do es-
pirito do homem. Desapossado do valor simbélico do corpo, é obrigado a conferir
esse mesmo valor ao da mulher, sem o qual ele mesmo, como espfrito, cessaria de
exist. Daf a ambivaléncia, a oscilagéo permanente a que sujeita 0 corpo da mulher:
entre a desvalorizagao reel maxima (machismo, corpo bestial no discurso medieval),
ea valorizagao simbélica extrema (0 corpo virginal, divino, corpo da Mamma, etc.).
Como se reapropriar do seu proprio corpo? Roubado pela mulher porque o
homem the roubou a alma, roubado pois por si préprio — 0 que esconde ainda mais
sofisticadamente’o cardcter masculino da neutratidade-fundamento —, como reen-
contrar 0 seu corpo perdido, e com ele 0 desejo, e 0 seu «ser? Se a mulher se
alienou na relacao com 0 homem, este necessariamente também perdeu a sua mas-
culinidade'que s6 existe em fungao da feminidade. Desapossou-se de-corpo e es-
pirito. Como reavé-los? Como ser um homem?
(0 discurso comum opée-se com raivan (como notaria Virginia Woolf) a este
tipo de consideracées. Ele diz: porqué tanta pergunta, quando tudo — quer dizer, as
relagdes homem-muther — funciona bem? E nao é isto mesmo, essas diferencas en-
tre 0 homem ea mulher que fazem nascer e efectivar-se 0 desejo? (Discurso tipico
sexista, como se vé; subentendendo que «tudo isso s6 conduz a efeminizacao do
homem»; mas discurso interiorizado pela muther portuguesa que, quando critica
um comportamento machista, por exemplo, comeca por dizer «eu nao sou feminista,
mas...» Transparece aqui o medo de que o rétulo «feminista> afaste dela 0 desejo
dos homens.)
A ver como vao as relages entre homens e mutheres, e como funciona o de-
sejo, nao hd muito crédito a dar a este tipo de discurso.
Como ser um homem, pois; aonde procurar o nosso corpo-ser, se ndo sabemos
sequer onde desapareceu? (Na mulher, na zona obliterada, desaparecida do funda-
mento-neutro, no funcionamento do poder?)
Mesmo Deleuze nao parece poder ajudar-nos: nao afirma ele que ndo ha devir-
-homem, mas sé um devir-muther, porque todo 0 devir € minoritario? Ser que a
questao «como devir-homem nao faz sentido no pensamento deleuziano?
Mas Deleuze diz-nos também que a condigéo de todos os devires é 0
devir-muther que nos (a nés homens e mulheres) faz encontrar a rapariga em nés,
ela que passa entre as representacies, através dos intersticios de todos os estratos,
organismos e sistemas. E chega mesmo a esbocar um tragado finalizado dos devires:
«Se o devir-mulher é 0 primeiro quantum, ou segmento molecular, e depois os de-
vires-animais que se the encadeiam, sobre o que é que se precipitam todos? Sem
diivida nenhuma sobre um devir-imperceptivel. 0 imperceptivel é o fim imanente do
devir, a sua formula césmica» (Mille Plateaux, p. 342). E com o devir-imperceptivel
que se constroem mundos ~ como os artistas.
Percebe-se que a questo da identidade sexual, de género ou de individuo,
eva ser posta de outra maneira. Para Deleuze, o que se passa de importante ndo
se fixa na escala macroscépica das representacSes, mas acontece na escala molecu-
lar ou microscopica das intensidades. Devir-mulher & emitir particulas intensivas
{afectivas, sensoriais, gestuais) de maneira a criar blocos femininos de intensidade
que atravessam os sexos. «Cabe a mulher, como entidade molar, devir-muther», uma
microfeminidade, uma mulher molecular que permite ao homem devi-la também
(MP, p. 338).
‘Mas se todos os devires tendem para o devir-imperceptivel césmico, serd esta
a resposta a questo: o que um homem?
Mais uma vez, 0 problema esté mal posto: os géneros, como 0s sexos, so
representagdes macroscépicas, construcdes que se apoiam em circulagdes de inten-
sidades minimas. Ndo ha s6 dois sexos, mas tantos quantas as emissoes singulares
de intensidades sexuais: e nés passamos por 1 fronteiras, somos «fémea», «macho»,
mas também «orais», «genitais», «dérmicoss, «odoriferos», e outras intensidades
que formam auténticos sexos ou érgdos intensivos; de resto, os nossos érgaos
sexuais multiplicam-se no corpo erotizado, somos forgas sexuais nao classificadas,
fugidias, que escapam & divisdo bindria. Nao 2 sexos, mas 3, 4, n sexos.
E os géneros? Nao assistimos ja a sua multiplicag’o, com 0 homosexual e
as formas varias de transexualidade (cujo drama, é verdade, é o de nao terem ain-
da definido um género auténomo, esmagados que estdo pela binaridade macros-
c6pica)? Ou seja, 580 05 devires moleculares que podem criar as figuras molares que
vo permitir esses devires, Nao se trata, pois, de ser homem, nem de se tornar
homem como entidade fixa, mas de fazer da sexualidade macroscopica um meio
plastico para o devir-muther, o devir-animal e 0 devir-imperceptivel cdsmico: eu,
chomem», biol6gica e culturalmente, sé-lo-ei (ou nao) através de uma série de de-
vires e movimentos de criagdo cujo tracado desenha precisamente 0 meu sexo sin-
gular. Qual? 0 meu, aquele, ou varios, entre os na inventar e construir o meu, quan-
do cafrem todas as imagens e mais néo serei que uma particula intensiva 4 minha
maneira, imperceptivel na minha humanidade nua, quer dizer, césmica.
Dit-se-é: mas «praticamentey, «na realidade», nao estamos condenados a bi-
naridade dos sexos e dos géneros? Nao é com dois sexos que se fazem as criancas?
Etc, Claro, se bem que nesse campo as revolugdes mais inesperadas se estejam a pas-
sar. Claro, é a binaridade exclusiva que nos querem condenar as instituicbes @ «os
homens» (que nao existem: so apenas textos e contextos de subjectivacao).
Mas podemos partir disso mesmo.
elipse 9
nio Guerreiro
O HOMOSSEXUAL COMO PARIA
Ha alguns meses, um canal de televiséo dedicou uma madrugada inteira
20 «tema» da homossexualidade. Nada de novo, aqui, a registar. Em Portugal, a ho-
mossexualidade s6 tem representacgo na esfera piblica de duas maneiras: associa~
da a factos que recaem imediatamente sob a esfera da acco policial ou judicial; ou
elevada & objectividade de «tema» escrupulosamente isolado, com uma autonomia
uma evidéncia que parecem impor-se a toda a gente. Aquilo que torna possivel es-
ta figuracao tematica é uma prévia e nitida categorizagao da homossexualidade, que
2 torna objecto de uma facil e ruidosa nomeagéo, prépria de um meio onde a
oposicio homossexual/heterossexual é tao marcada que se tornou quase a matriz de
todas as diferencas.
E este britho ofuscante da homossexualidade que explica certamente que um
dos filmes exibidos nessa madrugada tenha sido Sal6 ou as 120 Dias de Sodoma, de
Pasolini. Como é que uma poderosa metéfora politica, o fascismo representado co-
‘mo perversio, pode ser remetida para o «tema» da homossexualidade? Porque ha no
filme cenas de sexo entre homens, e isso impée-se por si s6, literalmente, com um
significado anterior a qualquer outro e sem recurso a mediagoes metaféricas. Ver
naquela maquina infernal, montada para aniquilar os corpos até ao itimo grau, al-
go como a chomossexualidaden, é tao intoleravel e obsceno como apresentar numa
sessio dedicada & pornografia filmes de violagdes das mulheres bésnias pelos sol-
dados sérvios.
Por altura do julgamento de um padre, na Madeira, acusado de ter matado um
adolescente, surgiu uma curiosa expresso que foi insistentemente repetida pelos
jornais: «homossexuatidade tentada num menor». Uma tal formulagéo parece di-
rectamente saida da linguagem técnica dos tribunais, onde toda a palavra tem
‘aquele rigor higiénico que a isenta das contaminagdes morais do senso comum. No
entanto, analisada com alguma atengéo, ela ecoa de maneira caricata a linguagem
«naturalizada» das normas heterossexuais. £ uma linguagem onde se instalou toda
a metafisica do sexo «natural» (como se sexo fosse alguma vez uma coisa natural!).
elipse 1.
22 elipse
0 que podera entao significar «homossexuatidade tentada»? Que um individuo
heterossexual tenta tornar-se homosexual? E se a vitima tivesse sido nao um rapaz
mas uma rapariga 0 réu seria acusado de cheterossexualidade tentaday? Afinal,
porque é que a segunda expressdo parece to absurda e a primeira «pega» de tal
modo que ninguém a interroga? A razdo é simples: porque cheterossexualidaden é
um nome abstracto, utilizado apenas no discurso neutro da ciéncia (isto é, a
sexologia e a psicandlise), enquanto «homossexualidade» é um nome carregado de
sentido, & forca de ser utilizado por quem detém o poder de nomear sem ser nomea-
do, 0 que a expresso chomossexualidade tentada» denuncia 6, muito simples-
mente, isto: que em relagdo a certos individuos (os homossexuais) ha uma enorme
dificuldade em dissociar a escolha sexual dos actos sexuais. Assim, se os segundos
so criminosos, é a propria escolha sexual que aparece envolvida no crime. Ao ad-
mitir expressdes como «homossexualidade tentada», o aparelho judicial reforca 0
modo mais comum de falar a sexualidade: aquele onde se manifesta o poder (ret6ri-
co e pragmatico) de fazer coincidir a heterossexuatidade com a sexualidade «tout
court». Disse «falar a sexualidade> e nao «falar da sexualidade» para acentuar esta
ideia que um autor como Roland Barthes defendeu em varias ocasides: 0 sexo é uma
fala, um efeito da linguagem. Evidentemente que a concepcio metafisica do sexo
«natural», que tem a seu cargo uma fungéo normalizadora, jamais perceberé 0 que
isto significa ou, na melhor das hipéteses, diré que se trata de uma grosseira sim-
plificagéo.
Entre nés, a existéncia da homossexualidade no espaco piblico deve-se quase
exclusivamente a uma «fala» heterossexual que nao é apenas hegeménica, como
acontece em todo o lado — é absoluta. £ verdade que podiamos apontar como ex-
cepcao muita da poesia portuguesa contemporénea. Mas a poesia tem uma circu-
lagéo muito restrita, as suas representagoes raramente acedem a uma visibilidade
propriamente pablica. Aquelas figuras da homossexualidade tao tipicas de outras
literaturas (@ homossexualidade trégica de um Weininger, a homossexuatidade
transgressiva de um Genet, a homossexualidade herdica de um Pasolini, a homos-
sexualidade estética de um Spender) quase nao existem na histéria das artes e das
letras em Portugal.
Dizer, no entanto, que a homossexuatidade é o grande excluido do
‘nosso espaco piblico nao corresponde a toda a verdade, porque é o prdprio espaco
plblico que sé existe como aparéncia. Aqueles que fazem um uso pablico das suas
opinides pertencem a castas rigorosamente seleccionadas e circulam em circuito
fechado dos jornais para attelevisio e da televisio para os jornais. Esta classe, que
provém quase exclusivamente do universo da politica, entendida como mera gestao
do poder, corresponde a-uma nova oligarquia altamente invejada, Sao eles 0 rosto
exiguo do espaco piblico. Nestas circunstancias, nao ha lugar para a «questo ho-
mossexualy, como nao ha para a «questao feminista» ou para a «questo racial». A
violéncia exerce-se da forma mais terrivel: através da espoliacao das palavras e das
imagens.
€ assim facil perceber a razao pela qual nunca houve entre nés movimentos or-
ganizados de libertacdo sexual, incidindo sobre as reivindicagées identitarias dos
homossexuais: porque o regime secular de violéncia, interiorizado pelas vitimas,
nunca abrandou, e porque o principio sanitério de que politica é politica e sexo é
sexo sempre prevaleceu de maneira eficaz. A sexuatidade, seja ela qual for, nunca se
tornou objecto de uma representacio politica nem acedeu ao valor de experiéncia e
consciéncia colectivas. Quando é objecto de discussao piblica, na televisao ou nos
jomnais, a homossexuatidade € reduzida ao estatuto de «drama pessoal», conve-
nientemente moralizado e psicologizado, assunto de familia, de igreja e de espe-
Galistas da psicologia das profundezas. Convidam-se entdo dois ou trés individuos
a representar o papel de «homossexuais assumidos» para responder as perguntas
dos outros e falar a linguagem piedosa dos persecutores que se julgam tolerantes.
Sendo estas as regras do discurso sobre a homossexualidade, fica assim garantido
que os homossexuais sao sempre os outros; e que a homossexualidade jamais poderd
ganhar a virtualidade de um «modo de vida», como queria Foucaul
Nao admira, por isso, que, entre nés, quase nao se dé pela existéncia de uma
iconografia «gay», seja ela veiculada pela publicidade, pelas revistas de «sociedaden
‘ou por publicacdes especializadas. A Unica iconografia que circula esporadicamente
€ a que repete os mais preconceituosos «clichés», reproduzidos para terem uma
leitura em primeiro grau. No entanto, apesar de nunca ter havido, entre nés, um
discurso homossexual aspirando a um valor de representacao social, 6 muito co-
mum, na linguagem jornalistica, falar-se da «comunidade homosexual». Nao se
referindo a uma cultura e a um estilo de vida especificos (que nao tém existéncia
pablica, enquanto tais), sendo constituida a partir de uma légica que the ¢ impos-
ta do exterior, uma tal expressdo s6 serve para discriminar, para designar uma «co-
munidade» negativa.
Ha algum tempo, um escritor pogtugués queixava-se, numa entrevista, de um
poderoso «lobby» homosexual no campo das letras; e outro afirmava: «Gosto de
mulheres, 0 que neste meio comeca a ser uma coisa rara.» 0 que traduzem estas
afirmagées? Em primeiro lugar, a ideia de que hé um particularismo homossexual
que é de tal modo pregnante e irredutivel que o individuo, em tudo aquilo que faz,
em todas as ideias que defende, pode ser sempre identificado pela sua sexualidade;
os homossexuais constituiriam assim uma espécie de classe, mais fechada do que
qualquer classe social, e com uma «consciéncia de classe» que permaneceria activa
vinte e quatro horas por dia. Ser homossexual tornar-se-ia uma espécie de ocupacao
a tempo inteiro. E onde quer que exista mais do que um homosexual, esté auto-
maticamente criado um «lobby». Dois homossexuais juntos, quando nao estéo
a fazer poucas vergonhas, estao a fazer «lobbying». € assim nas letras, é assim nas
artes, é assim na politica (um politico de Aveiro notabilizou-se ha alguns anos por
‘um manifesto jocoso onde denunciava um «lobby gay» na politica). Em segundo lu-
ger, tais afirmacées insinuam a ideia de uma ameaca: uma ameaca puramente fan-
elipse 13
Welipse
tasmatica, que dé lugar a projeccdes hiperbolicas. Mal a homossexualidade se torna
um pouco mais visfvel, ela adquire logo a dimensao de uma praga, a exigir um grito
de alarme: «The time is out of joint.»
0 tempo poderd estar a sair dos seus eixos. Mas Portugal continua firme e re-
sistente, como sempre foi ou como sempre se imaginou. De todas as representacdes
que dao forma a um «imaginério nacional» (como se diz habitualmente), o machis-
mo lusitano € das mais poderosas e persistentes. Num meio onde os papéis social e
sexual do homem e da mulher esto rigidamente codificados (e onde todas as dife-
rengas sexuais sao imediatamente criadoras de hierarquias), a oposigéo entre ho-
mossexual e heterossexual nao poderia deixar de ser fortissimamente marcada. Na
escala machista adoptada como padréo, o homosexual esta abaixo da mulher, po-
dendo mesmo chegar quase condigéo de nao-pessoa. De resto, 0 machismo
popular de raizes profundas revive, em versdo urbana, no filistefsmo burgues larga-
mente maioritario: 0 burqués filisteu esta convencido de que a cultura efeminiza.
Em matéria de sexo e de sexualidade, sempre houve a convicgdo mais ou menos
explicita de que era preciso resquardarmo-nos dos maus exemplos que vém «lé de
foran. Nos tempos mais recentes, a abertura acelerada ao estrangeiro enfraqueceu
esta conviccao. Mas ela persiste ainda numa certa geracdo, aquela a que pertence
um politico da velha guarda que, na campanha eleitoral para o Parlamento Europeu,
em 1994, enquanto dancava numa festa-comicio, fez este comentério para a tele
visdo: «Aqui, tudo se passa como deve ser: as mulheres dangam com homens e os
homens com mulheres.» Dificilmente podemos conceber que um politico de qualquer
‘outro pais da Europa (a nao ser Le Pen ou um seu congénere) ousasse dizer seme-
thante coisa perante as cémaras da televisdo. Nao porque os politicos europeus se-
jam muito diferentes; mas porque a opiniao piblica o 6.
Por outro lado, uma tal afirmac3o mostra como Portugal se manteve comple-
tamente impermeével 20 «politicamente correcto». Em nenhum momento aqueles
que fazem um uso piblico das suas palavras tiveram que submeter o discurso a qual-
quer vigilancia especial.
Uma das perguntas que os jornatistas costumam fazer aos politicos quando
thes querem tracar um «perfil» com uma dimensao mais alargada é esta: «0 que pen-
sa da homossexualidade?» 0 facto de a pergunta constar desses questiondrios-tipo
indica que a homossexualidade é um assunto que nao s6 continua a interessar como
Provoca mesmo alguma excitacao. A pergunta supde que quem a colaca é moderno,
aberto, liberal. Quem responde, faz quase sempre um esforco para se mostrar & al-
tura: «nao tenho nada contra, é uma opcao. que tem de ser respeitada...» Esta ati-
tude respeitosa sempre significou, na pratica, isto: a homossexualidade é um as-
sunto privado e é tanto mais «respeitavel» quanto mais invisivel for. Sob a capa da
tolerancia, esta posicio € aquela que sempre legitimou a opresséo: a homossexua-
lidade entendida como um tesouro pessoal e, portanto, jamais podendo aceder ao
estatuto de objecto de uma cultura ou perturbar as normas heterossexuais e as es-
truturas sexistas.
Durante estes 25 anos de democracia, a Gnica vez que o poder politico foi
obrigado a pronunciar a palavra chomossexual» foi na recente discussio piblica das
«cunides de facto». Mesmo assim, sempre que pOde recorreu a perifrases manhosas.
Entre nés, tal como a sexualidade nunca foi integrada na luta politica (passo por
cima de algumas excep¢des), a politica sempre evitou intervir em questdes sexuai
Porque a doutrina Gnica da sexualidade adulta, genital, heterossexual e, na medida
do possivel, praticada no quadro do casamento nem admite discussao. E como, no
que diz respeito a esta matéria, a produgao teérica ea discussao publica foram quase
sempre inexistentes, 0 monologismo estatal nunca conheceu sombras..
A expressao chomossexual assumido» € muito comum entre nés e designa
quase uma categoria: a do homosexual que proclama publicamente que «o é» aque-
les que «o nao séo». Afinal, por que é que a homossexualidade é tao facilmente re-
conduzida ao jogo do assumir/ndo assumir? Por que se supde que ela detém in-
teiramente a chave do problema da identidade, do «quem sou eu?» Por isso é que o
individuo homosexual tende a ser imediata e totalmente identificado através da sua
sexuatidade. 0 «homosexual assumidon é aquele que, tendo acedido ao segredo do
seu desejo (porque se julga que o seu desejo esconde um segredo que comeca por
ser dificil de decifrar, até para ele préprio), aceita divulgé-lo. Desde que nao faca
disso grande motivo de exibicio, a sociedade até aprecia que o individuo entre nes-
sa relacéo de verdade. 0 chomossexual assumido» & aquele que presta um tributo &
ordem heterosexual, que aceita falar sob a instancia do outro, que aceita a légica
do seu discurso e dispde-se a discutir com ele como quem reclama uma parcela de
identidade. Dizer «Eu sou homossexual», sendo um direito, é também uma armadi-
tha. Por que é que alguém tem de ser obrigado, ou to-s6 levado, a prociamar a sua
escotha sexual? Uma das razdes é esta: porque a visibilidade é uma condigéo que
garante a eficdcia da vigilancia disciplinar e permite que a «questdo> da homos-
sexualidade encarne inteiramente em certos individuos que tém a seu cargo desem-
penhar o papel que se espera deles, isto é, o de conformarem a homossexualidade
205 esteredtipos mais terriveis, o de se identificarem com tragos psicoldgicos (senao
mesmo fisicos) particulares ¢ 0 de aderirem a um méscara que thes foi imposta em
nome da mais pura verdade do rosto. £ 0 que acontece geralmente nas reportagens
e debates que a televisdo e os jornais dedicam ao assunto.
Uma das antinomias com que se confrontaram os movimentos «gay» tem 2 ver
precisamente com a ambiguidade e os efeitos de sentido contrério inerentes quer a
afirmagéo: «Eu sou homosexual», quer a recusa de o dizer. No primeiro caso, temos
a reivindicacao identitaria, que est na base da luta politica pelo reconhecimento
dos direitos. € uma reivindicaggo que acentua a ideia de uma diferenca entre ho-
|
|
|
|
|
mossexualidade e heterossexualidade. Mas, por outro lado, esta reivindicacao € pri-
sioneira da l6gica bindria com que a sociedade dominante define e defende a sua
propria identidade: atribuindo as identidades homossexuais e heterossexuais,
Porque haveriam os homossexuais de aceitar a identidade que thes é dada pelos
outros, de aceitar serem categorizados como se pertencessem a uma categoria se-
xual ou antropol6gica constante? A breve histéria do movimento «gays, na Europa
‘ennos Estados Unidos, mostra como ha algo de indecidivel entre estas duas posicées.
Foucautt deslacou a questo num outro sentido: a homossexualidade nao se-
ria uma forma de desejo, mas algo de desejével. E acrescentou: «Nous avons done @
nous acharner & devenir homosexuels et non pas & nous obstiner @ reconnaitre que
rnous le sommes.» Devir homossexual, em vez de ser homosexual, corresponderia a
entrar numa relacao que no pode ser definida a partida porque poe em jogo inten-
sidades mittiplas, formas varidveis, movimentos imperceptiveis, enfim, forcas que
perturbam os cédigos institucionais das identidades e criam novas possibitidades de
relagées. Neste sentido, a sexualidade liberta-se do jugo a que é submetida pela
concepcao metafisica do sexo natural e passa a ser uma criagdo de nés préprios.
Trata-se, no fundo, de ir para além dos actos sexuais e dar lugar ao que Foucault
chamou um «modo de vida». Isto significa que a escolha sexual deve ser criadora
de uma cultura, Nao uma cultura no sentido em que a homossexualidade seria
traduzida imediatamente em obras literdrias, musicais, cinematogréficas ou outras
(esse 0 grande logro em que caem os festivais de «cinema gay» e os encontros de
«literatura homosexual»), mas uma cultura num sentido mais alargado, que nao é
apenas uma outra versao das formas culturais gerais, nem se reduz a um roteiro cul-
tural de homossexuais para homossexuais. Um modo de vida escapa a todas as ca-
tegorizacées, poe em jogo poténcias e ndo actos. A homossexuatidade como criado-
ra de um modo de vida supée que o comportamento sexual ndo é apenas uma
questao de desejo e de prazer: também uma questdo de valor, a consciénci
desse comportamento se tem e a maneira como é vivido.
Numa sociedade normalizada, como é a portuguesa, nao hé devires: um homos-
sexual é um homossexual (isto é, um tipo caracteriolégico muito bem identificado)
© um heterosexual no é coisa nenhuma porque nao é uma categoria — é a natureza
em estado puro. Por isso, ndo ha circulacdo visivel de intensidades: ha
apenas formas (de um modo geral, a literatura e a arte portuguesas comprovam-no
bem):
Nas nossas aldeias e cidades de provincia é muito comum existir um homos-
sexual conhecido por toda a comunidade: é 0 «maricas da aldeia», & semelhanca do
que acontece com 0 «louco da aldeia», Esse homossexual deixou de ser um indi
duo para se tornar um exemplo. € de tal modo exemplar que encarna com a maxima
perfeicao, até aos limites da caricatura, a representacao vulgar da homossexuali-
dade: uma verso imagindria da sexualidade feminina. Esse individuo a quem foi
roubado tudo, ineluindo 0 corpo, ndo é um homossexual «exemplar» — é uma cari-
catura da lei sexual e das normas que o fabricaram. *
Suely Rotnik
.
wWelipse
VICIADOS EM IDENTIDADE
A globalizacio da economia e os avancos tecnolégicos, especialmente os mé-
dia electr6nicos, aproximam universos de toda a espécie, situados em qualquer pon-
to do Planeta, numa variabilidade e numa densificacao cada vez maiores. As subjec-
tividades, independentemente da sua localizacéo geogréfica, social, cultural, etc.,
tendem a ser povoadas por afectos desta profusao cambiante de universos; uma
constante mesticagem de forcas delineia cartografias mutaveis coloca em xeque os
seus habituais contornos.
Tudo leva a crer que a criacdo individual e colectiva se encontraria em alta,
pois muitas so as cartografias de forcas que pedem novas maneiras de viver, nu-
merosos 0s recursos para crié-las e incontaveis os mundos possiveis. Por exemplo,
as infovias: forma-se, através delas, uma comunidade do tamanho do mundo que
produz e compartilha suas ideias, gostos e decisées & viva voz, numa infin-
davel polifonia electronica; uma subjectividade que se engendra na combinagao
sempre cambiante da multiplicidade de forcas deste colectivo anénimo. Estariamos
assistindo a emergéncia de uma democracia em tempo real, administrada por um sis-
tema de autogestao em escala planetéria? A figura moderna da subjectividade, com
a sua crenga na estabilidade e a sua referéncia identitéria, agonizante desde o final
do século pasado, estaria chegando ao fim?
Nao 6 tao simples assim: é que a mesma globalizacdo que intensifica as mis:
turas e pulveriza as identidades, implica também na producao de kits de perfis-
-padrao de acordo com cada Grbita do mercado, para serem consumidos pelas
subjectividades, independentemente do contexto. Identidades locais fixas desa-
parecem para dar lugar a identidades globalizadas flexiveis que mudam ao sabor dos
movimentos do mercado e com igual velocidade.
Esta nova situagdo, no entanto, ndo implica forcosamente o abandono
da referencia identitaria. As subjectividades tendem a insistir na sua figura moder-
na, ignorando as forcas que as constituem e as desestabilizam por todos os lados,
para organizarem-se em torno de uma representacdo de si dada a priori, mesmo que,
na actualidade, ndo seja sempre a mesma esta representacao.
E verdade que estas mudancas implicam a conquista de uma flexibilidade para
adaptar-se ao mercado na sua légica de pulverizacao e globalizacao; uma abertura
para o to propalado novo: novos produtos, novas tecnologias, novos paradigmas,
novos habitos, etc. Mas isto nada tem a ver com a flexibilidade para navegar ao ven
to dos acontecimentos — transformagées das cartografias de forcas que esvaziam de
sentido as figuras vigentes, lancam as subjectividades no estranho e as forgam a re~
configurar-se. Abertura para 0 novo no envolve necessariamente exposicao ao es-
tranho, nem tolerancia ao desassossego que isto mobitiza e menos ainda disposicao
para criar figuras singulares orientadas pela cartografia destes ventos, tao revoltos
na actualidade.
E a desestabilizagao exacerbada de um lado e, de outro, a persisténcia da re-
feréncia identitaria, acenando com o perigo de se virar um nada, caso nao se consi-
ga produzir 0 perfil requerido para gravitar em alguma 6rbita do mercado. A combi-
‘nacdo desses dois factores faz com que os vazios de sentido sejam insuportaveis.
E que eles sao vividos como esvaziamento da propria subjectividade e ndo de uma das
suas figuras — ou seja, como efeito de uma falta, relativamente a imagem completa
de uma suposta identidade, e nao como efeito de uma proliferacio de forcas que ex-
cedem os actuais contornos da subjectividade e a impelem a tornar-se outra, Tais ex-
periéncias tendem entdo a ser aterrorizadoras: as subjectividades séo tomadas pela
sensacéo de ameaca de fracasso, despersonalizacao, enlouquecimento ou até de
morte. As forgas, ao invés de serem produtivas, ganham um carécter diabélico; 0 de-
sassossego trazido pela desestabilizacao torna-se traumético, Para proteger-se da
proliferacdo das forcas e impedir que abalem a ilusdo identitéria, breca-se 0 proces-
so, anestesiando a vibratilidade do corpo ao mundo, e portanto os seus afectos. Um
mercado variado de drogas sustenta e produz esta demanda de iluséo, promovendo
uma espécie de toxicomania generalizada. Mas a que drogas me estou referindo?
Primeiro as drogas propriamente ditas, fabricadas pela indistria farmacolégi-
ca que so pelo menos de trés tipos: produtos do narcotréfico, proporcionando mi
ragens de omnipoténcia ou de uma velocidade compativel com as exigéncias do mer-
cado; formulas da psiquiatria biolégica, nos fazendo crer que essa turbuléncia nao
passa de uma disfungao hormonal ou neurolégica; e, para incrementar © cocktail,
miraculosas vitaminas prometendo uma sate ilimitada, vacinada contra o stress
ea finitude, Evidentemente ndo est sendo posto em questo aqui o beneficio que
‘trazem tais avangos da indéstria farmacolégica, mas apenas 0 seu uso enquanto dro-
ga que sustenta a ilusdo de identidade.
Outros tipos de drogas que sustentam igualmente esta ilusdo encontram-se
disponiveis no mercado, embora nao se apresentem enquanto tal. Vejamos as mais,
evidentes.
A droga oferecida pela TV (que os canais a cabo s6 fazem multiplicar), pela
publicidade, o cinema comercial e outros média mais. Identidades prét-a-porter,
figuras glamourizadas imunes aos estremecimentos das forcas. Mas quando estas
's40 consumidas como proteses de identidade, 0 seu efeito dura pouco, pois os indi-
viduos-clones que entao se produzem, com seus falsos-self estereotipados, sao vul-
neréveis a qualquer ventania de foryas um pouco mais intensa. Os viciados nesta
elipse
20 elipse
droga vivem dispostos a mistificar e consumir toda a imagem que se apresente de
uma forma minimamente sedutora, na esperanca de assegurar o seu reconhecimen-
to em alguma érbita do mercado.
Ha ainda a droga oferecida pela literatura de auto-ajuda que lota cada vez
mais as prateleiras das livrarias, ensinando a exorcizar os abalos das figuras em
vigéncia. Esta categoria inclui a literatura esotérica, o boom evangélico e as terapias
que prometem eliminar o desassossego, entre as quais a Neurolinguistica, progra-
magao behaviourista de cittima geracdo.
Muito procuradas, por fim, sao as drogas oferecidas pelas tecnologias diet/
light. Maltiplas formulas para uma purificagdo organica e a producao de um corpo
minimalista, maximamente flexivel. E 0 corpo top model, fundo neutro em branco
€ preto, sobre o qual se vestird diferentes identidades prét-a-porter.
Dois processos acontecem nas subjectividades hoje que correspondem a desti-
nos opostos desta insisténcia na referéncia identitaria em meio ao terremoto que
transforma irreversivelmente a paisagem subjectiva: o enrijecimento de identidades
locais e a ameaca de pulverizacao total de toda e qualquer identidade.
Num pélo, as ondas de reivindicacio,identitéria das chamadas minorias sexu-
ais, étnicas, religiosas, nacionais, raciais, etc. Ser viciado em identidade nestas
condigdes € considerado politicamente correcto, pois se trataria de uma rebetiéo
contra a globalizacdo da identidade. Movimentos colectivos deste tipo.sdo sem duivi-
da necessarios para combater injusticas de que so vitimas tais grupos; mas no
plano da subjectividade trata-se aqui de um falso problema. 0 que se coloca para as,
subjectividades hoje nao é a defesa de identidades locais contra identidades globais,
nem tdo-pouco da identidade em geral contra a pulverizacao; é a propria referéncia
identitaria que deve ser combatida, néo em nome da pulverizacao (0 fascinio niilista
pelo caos), mas para dar lugar aos processos de singularizagao, de criagao existen-
ial, movidos pelo vento dos acontecimentos. Recolocado o problema nestes termos,
reivindicar identidade pode ter o sentido conservador de resisténcia a embarcar em
tais processos.
No polo oposto, esté a assim chamada «sindrome do panico». Ela acontece
quando a desestabilizaco actual é levada a um tal ponto de exacerbacio que se ul-
‘trapassa um limiar de suportabilidade. Esta experiéncia traz a ameaca imagindria de
descontrolo das forcas, que parecem prestes a precipitar-se em qualquer direccdo,
promovendo um caos psiquico, moral, social, e antes de tudo organico. & a im-
Pressdo de que o proprio corpo bioldgico pode de repente deixar de sustentar-se na
sua organicidade e enlouquecer, levando as funcdes a ganharem autonomia:
coracéo que dispara, correndo o risco de explodir a qualquer momento; 0 controlo
psicomotor que se perde, perigando detonar gestos gratuitamente agressivos; o pul-
mao que se nega a respirar, anunciando a asfixia, etc. Neste estado de panico, nio
basta mais apenas anestesiar a vibratibitidade do corpo, tamanha a violéncia de in-
vaso das forcas. Imobiliza-se entao 0 proprio corpo, que s6 se deslocara acompa-
nhado. A simbiose funciona aqui como uma droga: o outro torna-se um corpo-
~prdtese que substitui as funcdes do corpo préprio, caso a sua organicidade venha a
faltar, dilacerada petas forgas enfurecidas.
Todas estas estratégias, tanto as que visam a volta as identidades locais, quan-
to as que visam a sustentacao das identidades globais, tém uma mesma meta: do-
mesticar as forcas. Em todas elas, tal tentativa malogra necessariamente. Mas 0 es-
trago esté feito: neutraliza-se a tensio continua entre figura e forcas, despoten-
aliza-se 0 poder disruptivo e criador desta tensdo, brecam-se os processos de sub-
Jectivagio. Quando isto acontece, vence a resisténcia ao contemporaneo.
Fruir da riqueza da actualidade, depende das subjectividades enfrentarem os
vazios de sentido provocados pelas dissolucdes das figuras em que se reconhecem a
cada momento. Sé assim poderdo investir a rica densidade de universos que as
povoam, de modo a pensar o impensével e inventar possibitidades de vida. *
elipse 23
é Gil
OS CULPADOS
Peca em um acto
Personagens:
Juiz Supremo 3s
1° Juiz aR
2° Juiz 2]
Acusado AGS a
1° Policia aPot *
2° Policia 2Pol
Escrivao fs
Porteiro p
Substituto s
Vetha v
JS — Eu sou Juiz de Alma e Meia
(senta-se)
1 — Eu sou Juiz de Paz. (senta-se)
23 — Eu sou Juiz de Tuta-e-Meia.
Sala de, tribunal. Escrivéo j4 sentado. (senta-se)
Porteiro de pé. 0 Acusado de pé, de P (emvoz alta) — Tragam 0 condenado!
costas para o piblico. Entram trés
Juizes, vestidos em grande pompa, que —_@ Acusado dé um passo em direcgao aos
se dirigem para as cétedras respectivas. Juizes.
elipwe &3
P (em voz alta) — Retiro 0 que disse.
E acrescento: tragam o acusado! E 0
acusado veio. E assim falou.
‘Ac (depois de olhar para o Porteiro com
desprezo) — Apanhado na valeta a
comer um passaro morto, ali mesmo se
encontrou, de repente, um polfcia.
P— Que se apresente o policia!
© Policia entra. Estaca ao lado do
Acusado.
Ac — Olhei-o de cima a baixo com uma
asa entre os dentes, e.fiz-lhe assim,
bom dia, com a cabega. Como nada
dissesse, ofereci-lhe a outra asa. Nao
pestanejou. Ofereci-the uma coxa, Nao
fez um gesto. Propus-the uma perna.
Ficou calado. Eu pensei: nao tem fome,
© acabei a minha asa. Mas, eis sendo
quando, apareceu um segundo policia
que, vim a saber mais tarde, era seu pri-
mo.
P — Que aparega o segundo policia!
13 — Silencio!
23 — Siléncio!
13 — Ew afirmei: silencio!
P— Eu repeti: silencio!
JS — Basta!
‘Siléncio,
JS (para o Porteiro) — Perdoo-te desta
vez, sem mais excepcdes. Mas cuidado!
Que isto nao se repita! (Pausa. Para 0
Acusado) Alias, qual o motivo deste jul-
gamento?
Ac — E porque eu desejo!
JS — Ah, muito bem. Vamos la, entdo.
Havia uma cabra, dizias...
P—0 segundo policia!
JS (com benevoléncia paternal) — 0
maroto, ha, 0 teimoso!... Bem, que ve-
nha dai esse célebre policia, (Cim-
lice, para os outros) Acabo sempre
por ceder. (Rispido) Uma vez sem
exemplo!
Entré 0 segundo Policia que se coloca
ao lado do Acusado, do lado oposto ao
primeiro Policia.
Ac— Ora o segundo policia tirou-me uma
asa e comeu-a. Eu disse-lhe: Ah, € isso?
E ele, a mastigar sofregamente: Isso 0
qué? (Para os policias) Exptiquemos.
2Pol — Nao quero explicar.
23 — Como? (Para o Escrivdo) Escri
escreva. (Para 0 policia) Continue.
-2Pol — Nao quero continuer.
2) — Inadmissivel! (pausa) Inadmissivel.
Escreva, Escrivao, Escreva, escreva, es-
creva.
Es — Mais devagar!
23 — Como, mais devagar? 0 que vem a
ser isto?
Ac — Foi o que eu the disse: 0 que é
isto? E depois...
23 — Cala-te!
Es — Falam depressa de mais. Devager,
por favor...
‘Ac — Mas eu no vou depressa...
23 — Siléncio, Acusado!
P—Siléncio, Acusado!
1) — Paz, paz, eu sou Juiz de paz,
caramba!
JS — Ordem!... (Pausa. Outra vez rispi-
do) Disciplina! (Pausa) Cambada de de-
sordeiros!...
P —Cambada de desordeiros!
IS (subitamente encantado com o eco)
— Esto a ouvir? Reparem. (Imitando
teatralmente alguém) Miseraveis!
P— Miserdveis!
JS (rugindo como um ledo) Corja de as-
sassinos!
P — Corja de assassinos!
IS — Violadores, salteadores!
P — Violadores, salteadores!
JS — Ah!
P— Ant
JS (provocando 0 eco) — Ah! Ah!
P— Ah! Ah!
IS (satisfeito) — Esté tudo em ordem.
Podem continuar. (Pausa) Mas antes
quero-vos dizer: 0 Poder é 0 Poder!
(Pausa) Andem, continuem.
Ac — Estava eu pois sentado na valeta,
e vai dat este disse-me: Isso 0 qué?
(Para o segundo Policia) Disseste ou
nao disseste?
2Pol — Disse.
Ac — Ah, vs? Mas eu tinha dito antes:
Ah, € isso? H
2Pol — E verdade.
‘Ac — Comegou tudo por af. (para os
Policias) Vamos la, vamos 1, Eu sento-
-me.
Senta-se no chéo.
‘Ac — Ah, 6 isso? “
Silencio.
Ac — -Ento? Nao sejas timido!
Recomeco. (Pausa) Ah, é isso?
2Pol (forcando-se) — Isso 0 qué?
Ac — Mais naturalidade, mais vivaci-
dade. Assim: Isso 0 qué?
2Pol (hesitando ainda) — Isso 0 qué?
Ac (estimulando-o) — Isso 0 qué?
2Pol — Isso 0 qué?
‘Ac — Esté quase. Isso 0 qué?
P (em voz muito alta) — Isso 0 qué?
2Pol — Isso 0 qué?
‘Ac — Isso, isso. Que tal a asa?
2Pol — Magra.
O Acusado faz um gesto, como um chefe
de orquestra, para que o primeiro Poli-
Ga «entre».
1Pol — Estava morta.
Ac — E verdade. E bem morta. Foi tudo
culpa minha.
1Pol— Minha néo foi!
2Pol — Nem minha! Eu, foi s6 para
petiscar!
‘Ac — Para petiscar? E gostaste?
2Pol — Uma asa tio magrinha. Pobre
passaro.
Ac — Se gostaste, és culpado. Coitado,
t80 pequenino. Tao jovem.
1Pol — Tao feliz! Ninguém tem culpa,
no 6? Aconteceu...
2Pol — Claro, claro. Tao leve, esvoacava
sobre os campos...
‘Ac — Comia insectos, debicava nas flo-
res, corria, brincava, trepava As drvores,
ia aos ninhos. (Pausa) A culpa é minha.
2Pol — Qual culpa, qual carapuca!
Compraste-o no supermercado! E ainda
1 havia mai
1Pol — Dé-me uma asa.
‘Ac — Nao tenho mais (Procura nos bol-
sos) Tenho aqui um outro passaro...
1Pol — Sim, sim, desse quero. Porque
nao tenho nada a ver com ele. Dé-me
uma perna.
‘Ac— Toma. (Pausa) Espera. 0 que é que
disseste? Que no tens nada a ver com
ele?
1Pol — E gordo? :
‘Ac — Tens ou nao a ver com ele? Estés
com medo de ser culpado?
1Pol — E gordo?
‘Ac — Diz primeiro se te sentes culpado,
4Pol — Responde tu primeiro: 6 gordo
ou nao?
‘Ac — Pois, pois... Se digo que é magro
nao quererds assumir as culpas, se é
elipwe 25
ee
26 elipwe
gordo, aceitas. Conheco-te. Desde que
chafurdes na gordura, no te importas
de ser culpado.
1Pol — € humano, nao?
2Pol — Ha uma confusao qualquer (Para
0 Acusado) Tu tens principios. E por is-
50 que te sentes responsével pela morte
do passaro. Ele no otha & moral, sé the
interessa a lei. Interessa-the comer
legalmente, e mesmo qualquer género
de animal. Ha, que é verdade?
1Pol — € isso mesmo. Eu que nao faria
mal a uma mosca, se a lei 0 permite...
zis!
‘Ac — Entéo por que queria ele saber se
© passaro € gordo?
2Pol — Por uma questo de rigor. Por
curiosidade, Nao temos culpa de nada!
O que € que isso quer dizer, culpado?
‘Ac — Mas ele queria saber primeiro!
Primeiro, estés a ouvir? Porque se o
soubesse bem gordo, até admitia ser
culpado!
1Pol — Estou de ma fé, ento?
Ac — De ma fé? Estés feito parvo ou
qué? Sé espontaneamente se é culpado.
6 por um impulso livre, sem restricées.
Senfo, ndo passa de palavreado.
Responde: sentes-te ou nao te sentes
culpado?
1Pol — Mas como hei-de saber, se nem
sequer vio passaro! E por que é que hei-
-de ser culpado se for gordo?
‘Ac — Porque o vais comer!
‘1Pol — Mostra-mo primeiro!
‘Ac— CA esté, cd esta ele outra vez! Quer
ver primeiro se é gordo ou magro. Bem,
vou mostrar-te sé um bocado da pele,
Cubro o resto.
1Pol — Ah, nao! Um bocado de pele?
Essa é boa! E quem me diz que ndo é um
pedaco da pele de um gato, ou de um
boi, sei l4! Nao. Tudo ou nada,
‘Ac — Entéo, guardo-,
1Pol — Se guardas, eu nao sou culpado,
jé te aviso. De resto, que vem a ser toda
esta histéria? Jé"ninguém é culpado,
hoje em dia! Serei culpado pela bomba
atomica? Pela fome na Africa? Pelo bu-
taco do ozono? Pelo massacre das
baleias? Eu sou apenas um policia de
rua, para evitar os atropelamentos das
velhinhas! Eu no sou nada! Nao sou
culpado, nem responsavel, nem vitima
sequer! Quando acontece, acontece...
Ac — Mas hd 0 desejo! Eu desejo tanto,
tanto, que é impossivel que nao seja
culpado!
2Pol — Com ticenga, com licenga,
parece-me que, quanto ao passaro gor-
do, as duas posigées séo irreconciliéveis.
Proponho uma solucdo. Cada um de
vocés faz a sua pergunta, e quando eu
der o'sinal, respondem ao mesmo tem-
po. Concordam? Bem. Tu.
Ac — Es culpado?
2Pol — E tu...
1Pol — E gordo?
0 segundo Policia dé o sinal.
(Ao mesmo Ac — € gordo!
tempo) 1Pol — Nao culpado!
Es — Alto!
23 — 0 qué?
Es — Como 6 que vou escrever duas
frases ao mesmo tempo? Uma sobre a
outra?
23 — Cala-te, estipido, e escreve!
P — Cala-te, estapido, e escreve!
JS — Silencio!
P — Siléncio!
JS — Arte, siléncio,’o Escrivao fez uma
pergunta legitima. Proponho que se
cole uma fita no lugar em que os dois
falaram, e que nela se escreva a respos-
ta do primeiro Policia. Por baixo, a res:
posta do Acusado. Mais: que a fita nao
seja em papel transparente para.néo
haver confuses. Pronto. (Pausa) Alids,
qual é 0 motivo deste julgamento?
‘Ac — Porque eu desejo!
IS — Ah, assim esta bem. Continuem.
Havia uma cabra, dizias...
P—Havia uma cabra, dizias...
IS — silencio!
P= Silencio!
JS — Arre! Basta!
P— Arre! Basta!
JS = Que se leve este homem daqui
para fora. Esté louco, perdeu a cabeca!
Siléncio,
JS — Nao ouvem? ©
Siléncio.
Es — E que 6 ele sabe transmitir as or-
dens.
JS — £0 Substituto, ha? Substituto!
P—Substituto!
0 Substituto, sentado 20 lado do
Porteiro, levanta-se e fica de pé.
JS — Fora com esse homem!
P — Fora com esse homem!
S— Fora com‘esse homem!
0 Porteiro sai, direito.
IS (contente) — Magnifico, espléndido.
(Refastela-se na cadeira) Estévamos,
creio, num dos pontos mais impor-
tantes. (Para 0 Acusado) Continuem...
‘Ac (aborrecido) — Isto assim nao esta
bem. Se julgas que é facil recomecar!...
Jé foi muito dificil conseguirmos colo-
car-nos no ambiente, revivé-lo. Nao,
ndo ha direito. Duas vezes é de mais!
1e 2Pols (com mau humor) — Nao est
certo, é um abuso!
‘JS — Nao querem continuar?
Ac — Mantém a ordem no tribunal,
1n6s faremos o que nos compete. Sendo,
nao. E uma anarquia, este julgamento!
JS — Caramba, nao custa nada, nao
vos peo muito. Um pequeno esforco!
E agora _a ordem reina, como estao a
ver.
‘Ac—A ordem reina... Até quando?
JS — Prometo que nao se repetira.
(Pausa. Recosta-se) Aliés, qual o motivo
deste julgamento? Jé ndo me lembro...
‘Ac —E porque eu desejo!
3S — Ah, pois claro. Vamos portanto dar
continuaco ao acto. Havia uma cabra,
dizias...
Ac — Uma cabra, uma cabra... Ends?
JS ~ Compreendo. Mas que mais posso
fazer? Havia uma cabra...
‘Ac — Também somos seres humanos!...
(0s dois Policias abanam a cabeca em
_ Sinal de assentimento)
JS — Estou a ver. (Reflecte, inclina-se
para o primeiro Juiz, depois para vu se-
gundo Juiz, confere com eles. Depois...)
Propomos uma gasosa para cada um.
‘Ac — Uma gasosa? (Confere com os
Policias) Aceitamos.
JS — Trés gasosas!
S — Trés gasosas! (Sai)
‘Ac — Desta vez, ainda vai. Mas que no
se repita.
JS — Estd descansado, esta descansado.
0 Substituto entra com as trés gasosas,
que 0 Acusado e os Poltcias bebem com
vagar. Depois preparam-se para con-
tinuar.
‘Ac — Aonde ficdmos? Creio que era. 2Pol (respondendo ao Acusado) —
JS — Um momento. Se ha ordem, que _Deves ter raza
haja desde 0 principio. Podem, pois, 1Pol — £ que realmente nao podiamos
continuar. comecar sem nos lembrarmos de tudo. A
‘Ac ~ Ah, tinhamos resolvido a questo reconstituicdo tem de ser completa.
do passaro gordo (Para os Policias) Ac — Lembro-me agora nitidamente,
Lembram-se? Recomecemos. fs culpado? Passou-se tudo como disseste (Pausa)
‘1Pol — E gordo? Estava calor, nao estava?
1Pol (sentando-se no chao) — Estava
0 segundo Policia dé 0 sinal. muito calor... E 0 calor da-me para as
mulheres, é uma doenca... Que querem?
(Ao mesmo Ac — £ gordo! Fico encarnado como um tomate, e an-
tempo) 1Pol— Nao culpado! do por af como um desalmado...
Es — Alto! Outra fita! 2Pol — Eu cé, é no maximo do Vergo
JS (rapidamente) — Outra fita! que gosto de comer. Ah, comer um
S (muito rapidamente) — Outra fita! —_leitéo da Bairrada com o sola pino! Até
(Tira do bolso a outra fita que dé a0 parece que me desfaco todo!
Escrivao) Ac — 0 calor, para mim, era a praia.
3S (sorrindo para o Acusado como para Sentia o sol a entrar e a infiltrar-se,
cobrir uma falta) — No € nada. Depois s6 queria inchar, inchar como
Continuem, uma mulher, com grandes seios e
Ac (num gesto de desconfianca)—Bem. grandes nédegas até ter um filho
(Para 0 2Pol) Jé nao me lembro, de- _parir, parir, parir! Deixar enfim de ser
pois... Tinhamos resolvido 0 passaro um homem!
gordo, e em sequida comemo-lo, creio, _1Pol — Quando nao arranjava mulher,
2Pol — Foi. Por sinal até comi uma coxa. dava-me a paixdo dos _berlindes.
1Pol — Nao. Engandmo-nos. Esperem... Apoiava a mo num dedo, concentrava.
(Esforca-se por se recordar) N3o pode -me, visava um berlinde a meio metro
ser, porque dessa vez eu é que comi as de distancia e pac!, em cheio! 0 mundo
| duas coxas... Tu deves ter comido uma _explodia!
asa, 2Pol — C4 por mim, adorava os umbigos.
2Pol — Mas recordo-me perfeitamente Ac — Os umbigos?
de ter comido uma coxa! Lambia-a toda, 2Pol — Sim, os umbigos das pessoas,
santo Deus! Ficava a olhar para eles... Aquela fun
1Pol — Nao. Nao... Deve ter sido do ter- dura, ali, no meio da barriga.
| ceiro passaro, porque desse sé me Ac—A fundura?
estou uma asa! 2Pol — Os umbigos céncavos, e também
Ac — E a mim o pescogo. Lembro-me: ‘0s convexos. Que mal hd nisso?
chupei 0 pescoco do terceiro passaro.E Ac — Nenhum, nenhum,
do segundo, do gordo, s6 tive uma asa.
Mas senti-me muito culpado! Silencio,
JS — Mas quantos passaros hé neste jul-
gamento? Por este andar... ‘Ac — Esté-se bem, aqui.
2 elipse
1Pol — Pac! (Pausa) Pac!
2Pol (espreguicando-se) — Aaaahh!...
1Pol — Pac! (Pausa) Estou com fome.
Ac —Mais tarde. E 0s nossos problemas?
2Pol — £ verdade, j4 me esquecia. Em
que Ficémos?
‘Ac (sinistro) — Arrastamos cadaveres
desde 0 nascimento. Crimes. J4 os an-
‘tepassados...
1Pol — Que antepassados? $6 vale o pre-
sente. E um corpo adormecido de mulher,
ha, ndo 6 excitante? Estou com fome.
2Pol — A quem o dizes!
1Pol — Espreito enquanto ela dorme. 0
‘seu corpo respira... Sorvo-a num trago,
inteirinhat
2 Pol — Como um gelado!
‘Ac — Estamos aqui para nos resgatar.
2Pol — Alto ai! Mais devagar. Eu cd...
(Pausa) Mas comungo contigo... Comer
€ resgatar-se.
1Pol — ...Percorro a pele com os dedos,
2 pele daquele corpo, entendem? Sinto
fome nas maos e nos olhos. Nao, vocés
no podem sequer imaginar 0 que é! No
quarto, ela dorme... (Pausa) Nao, é im-
posstvel que vocés sintam o mesmo!
2Pol—Talvez. Tens um problema sexual,
6 tudo. Olha, tenho a impressio de te
compreender neste momento, nao sei
porque...
1Pol — Duvido! Duvido muitissimo!
2Pol — Quem sabe? Talvez também eu
deseje?
1Pol — Nao podes compreender! Esté
aqui (bate no peito), aqui! (Pausa) Uma
mulher nua, adormecida, aht... Além do
mais, tudo aquilo € meu, os joelhos, a
coluna vertebral, as unhas, tudo...
2Pol — Bem, isso € outra coisa.
‘Ac — Trindade imaculada! Trindade obs-
cura!
2Pol — 0 que?
Ac — 0 desejo, a dor, a redengao!
2Pol — 0 umbigo, o leitdo, a salvacio!
‘Siléncio. Ficam uns segundos em estado
de éxtase. Depois 0 Acusado parece
acordar, falando lentamente,
‘Ac — Estamos aqui para nos resgatar.
(Pausa) Desejémos! Deveros sofrer, de-
vemos pagar!
2Pol — La estd ele outra vez a excitar-se
‘com 0 desejo e com a culpa! Calma, ra-
paz, que jé me estas a enervar...
Ac — Nao me interrompas! Somos todos
culpados!
2Pol — Eu por mim ngo me sinto nada
culpado, devo dizer. SO as vezes, a
noite, quando saio do supermercado...
‘Ac (interrompendo-o brutalmente, num
grito) ~ Basta! Chegou a hora!
0 Acusado levanta-se e, com passadas
vigorosas, dirige-se para a cétedra dos
Juizes.
‘Ac — Fora! Fora!
0s Juizes fogem. procurando abrigo
atrds das cétedras. 0 Acusado sobe para
a cétedra do Juiz Supremo.
‘Ac — Este € 0 meu dltimo grito!
Burburinho.
4Pol (rebolando-se no chéo) — Quero
uma mulher nua!
Ouve-se «chut! chut!» 0 Substituto imo-
biliza 0 primeiro Policia.
Ac — 0 meu nome é Cristévéo Paixao!
Sou culpado de desejo e de paixao!
Tenho @ paixéo dos maltratados, dos
20 elipse
exclufdos, dos doentes, dos sub-
-humanos, e isso é inadmissivel! Sou
culpado! Quando 0 Sol desce no firma-
mento sobre os jardins e eu vejo os
gestos lentos das familias a regres-
satem a casa, e todos a comerem bolos,
invade-me 0 desejo de ser feliz! Adoro
ser feliz! Por isso sou culpado e infeliz!
Desejo a felicidade do mundo e 56 vejo
mortos, massacres, sofrimento, fome,
sangue. Vejo tanto sangue que dentro
de mim ergue-se o poder do sangue! Eu
sou o Ruanda e a Bésnia, Timor-Leste e
a Birmania! Tenho a paixio do sofri-
mento! Nao me toquem em Auschwitz
que eu expludo! Nem no Gulag, que eu
rebento! Nem no Camboja, nem no nar-
cotréfico, nem na sida! Deixem-nos vi-
ver! Deixem-me sofrer e gritar de indig-
nagao! Desejo o sofrimento de todos,
com a fraternidade dos santos! Sofro, e
‘0 mundo cobre-se de dor! E 0 meu cor
po cobre-se das chagas do mundo! Eu
sei! Isso dé-me mais forga ainda para
desejar salvar 0 mundo! Eu sou a Paixio
contaminante! Adoro 0 grito incon-
solével das vidvas e o toque a rebate
dos fandticos! Pratico a ginéstica
apaixonada! Adoro a Patria e o rufar
dos tambores, adoro a Autoridade e
Deus em uniforme! Adoro 0 gemer do
mundo! Por isso me resgato! Com o
sofrimento da Paixéo! Eo meu dltimo
grito, 0 sacrificio final, a gléria de
sofrer! Sou o Abencoado por vir!
(Pausa) Tenho dito.
Hé um momento de siléncio. Depois
rebentam aplausos entusiastas. 0
Acusado volta para 0 seu lugar, no pal-
co. Os Juizes regressam apressada-
mente as suas cétedras.
1) — Eu sou Juiz da Patria!
2] — Eu sou Juiz da Autoridade!
JS — Eu sou Juiz de Deus!
Sentam-se.
3S (furioso) — Este incidente é injusti-
ficével. Nao tolerarei_ nem mais um
desvio ao decurso normal da justicat
Quem manda aqui sou eu! Arre!
Escriva
S— Escrivao!
IS — Escrivao, néo escreva na acta 0
discurso do acusado!
Es — Jé escrevi!
JS — Apague!
S.— Apague!
Es — Eu escrevi «apague!»
JS — Nao seja burro! Nao escreva,
apague!
S — Nao seja burro! Nao escreva,
apague!
JS (completamente fora de si) — Raios!
Faco evacuar a sala se isto continua!
Ordem, siléncio! Othem que tenho aqui
© martelo! Silencio, ou rebento com tu-
do!
5 — Silencio, ou rebento com tudo!
O Juiz Supremo desata a bater com 0
martelo desabridamente, como um doi-
do durante um minuto. Depois para, e
hd um grande siléncio na sala.
JS (acalmando-se) — Bem. (Pausa)
Vamos lé a ver... (Confere com 0
primeiro e o segundo Jufzes) Como nao
vai ser facil retomar 0 fio do julgamen-
to, nés propomes...
1Pol — Escusam de propor, que nés néo
aceitamos.
2Pol — Nao aceitamos!
0 Juiz Supremo confere de novo com os
colegas.
‘Ac — Eu tenho uma proposta a fazer!
IS —Cale-se, seu estapido!
Ac —E preciso um inocente!
13 — 0 qué? 0 que é um inocente?
‘Ac — Um homem que nunca desejou! $6
uum inocente pode salvar este julgamen-
to! Um verdadeiro arbitro, que nao
perceba nada, por cima de todos!
JS — E tu julgas que nés estamos a
perceber alguma coisa disto? Aonde ha
uum inocente?
‘Ac — Uma crianga!
Es — Uma crianca?
JS — Escrivao, nao fale, escreva!
Es — € que tenho ali a minha filha a es-
pera.
JS — A tua filha?
Es — Estd & espera que eu escreva 0
veredicto. Depois.
JS — Tragam a crianga! (0 Escrivéo sai,
20 Juiz Supremo continua a falar) E que
isto nao se repita! Eu, enquanto Juiz
Supremo, ndo posso tolerar que o curso
normal da justica se transforme...
Entra 0 Escrivao, trazendo” uma velha
pela mao.
JS (interrompendo-se) — &h, bem.
(Pausa. Refastela-se. Tentando lembrar-
se) Este julgamento trata de... eheh...
Bem. Continuem. Havia uma velha
cabra, dizias...
2Pol (para a Velha) — Senta-te aqui.
Como te chamas? (acaricia-the os cabe-
los)
V—Gistina.
2Pol — Bonito nome. Vais & escola? Em
que classe andas?
V — Na segunda.
2Pol — E os teus pais, o que fazem os
teus pais?
V—Morreram.
2Pol — fs drfa2. (A Velha faz que sim)
Pobrezinha. Tens muita pena, nao tens?
Eram bonzinhos, no eram?
V— Nao sei, nao os conheci, Mas parece
que o pai era coronel de cavalaria...
2Pol — Lindo, lindo! Que rica miudinha.
(Para os outros) Nao é encantadora?
JS — Engracadissima! £ a inocéncia em
pessoa!
13 — Uma beleza!
23 — E que othos!
1Pol — Que pel
2Pol — Escrivao, parabéns. Tens fo-
tografias de familia?
Es — Claro!
2Pol — Guarda-as, porque so pre-
ciosas. Cristina, queres jogar um jogo?
Sabes jogar a sardinha?
V (meneando-se como uma crianca
caprichosa) — Sei, mas perco sempre.
(Timidamente «coquete») Nao quero!
2Pol — S6 um bocadinho. Anda lé. Sou
eu quem to pede. Dou-te um chupa-
~chupa se jogares s6 cinco minutos.
V—Eum chocolate?
2Pol — E um chocolate.
V—E um chupa-chupa?
2Pol— Um chocolate e um chupa-chupa.
V (depois de reflectir) — Nao.
Ouvem-se protestos:
JS — Entdo, caprichosa?
13 — Que crianca mimada!
23 — Nao custa nada, Cristina.
Es — Cristina, faz esse favor ao senhor!
\V — $6 com dois chocolates e dois chu-
pa-chupas.
2Pol (encantado) — € maravilhosa, a
marota! Ah, Cristina, Cristina, o teu
elipse 21
2 elipse
papa estragou-te com mimos! (Tira os
chocolates e os chupas do bolso) Estao
aqui. Vamos jogar.
Preparam-se para jogar. 0 1Pol aproxi-
ma-se, rouba os chocolates e os chupas
e come-os.
V— otha!
2Pol — Cristévio!
1Pol — Estou com fome.
V — Roubou-me os chocolates! (Chora)
1Pol — Ela tem todos a protegé-la, eu
ndo. Quem me dera ser crianga! Tenho
direito aos chocolates.
2Pol — Nem penses! Os chocolates eram
meus!
JS — Meus senhores! Nada de brin-
cadeiras. Lembrem-se que estamos a
julgar um criminoso de guerra!
1Pol — De guerra?
2Pol — Qual guerra?
1Pol — A guerra contra os mouros.
JS — A guerra civil geral! Nao véem? A
Humanidade inteira esté em guerra, 0
homem ergueu-se contra homem, 0 ir-
mao contra o irmao, as mulheres contra
os homens, as criancas contra os adul-
tos..
V—Eos meus chocolates?
2Pol — Os chocolates so meus!
1Pol — 0 tanas! S30 meus e bem meus.
JS — 0 que é isto? Outra vez? Quem
manda aqui sou eu! E se eu quiser, os
chocolates séo meus e de mais
ninguém.
13 = Eu também sou Juiz, Também
quero os chocolates.
23 — E eu também!
JS — Eu sou o juiz de todos os juizes,
s0u 0 juiz de tudo, esto a ouvir? Sou o
Juiz dos Chocolates! E decreto aqui e
agora: quem comer os chocolates esta
inocente! (Para a Velha) Anda, come
chocolates, pequena...
13 — Nao! Sao meus!
A partir daqui gera-se um breve tumul-
to em que todos gritam «séo meus»!
Falam todos a0 mesmo tempo. De re-
pente, 0 acusado levanta-se e fala com
uma voz terrivel.
‘Ac— Basta! (Todos se calam) 0 Gnico, 0
grande, o imenso culpado sou eu! Eu
desejei, eu pagarei! Quero o meu sacri
ficio! 0 meu crime! Imediatamente.
Tragam 0 meu corpo!
S—0 meu corpo!
Ropidissimamente os Juizes trazem uma
mesa e uma bela travessa com um
enorme peru. Exclamagdes de admi-
ragao: «Abt», «oh!»
1Pol — E 0 vinho!
2Pol — Eo pio!
Vem 0 pao e 0 vinho. Todos se aproxi-
mam da mesa excepto a velha.
‘Ac — Que grande passaro morto! Que
grande crime! Olhai: do meu corpo farei
héstias e bebereis o vinho do meu
sangue. Que bela celebracao, esta
noite! a agonia ardente!
Pega na faca. A Velha vai sentar-se na
cétedra do Juiz Supremo. 0 Acusado,
depois de desferir um grande golpe no
peru — gesto que os outros satidam com
exclamagées de deleite — corta fatias,
que distribui.
1Pol — Que bela muther nua! Cheira
bem!
JS (recebendo uma fatia) — Eu sou Juiz
de Alma e Meia!
13 (idem) — Eu sou Juiz de Paz!
21 (idem) — Eu sou Juiz de Tuta-e-Meial
2Pol (voltando-se para os bastidores) —
Fechem o pano, fechem 0 pano, vamos
comer!
0 pano comega a descer lentamente.
JS — Comamos!
S—Comamos!
JS — Silencio!
S — Siléncio!
JS — Arte, siléncio, basta!
Pausa breve. Servem-se e comem,
V (lé do fundo) —E 0s meus chocolates? *
/
.
elipse 33
ina Rodrigues Lopes
IMPROPRIO PARA CONSUMO
Falo do milagre com algum pudor,
porque o unico tema é o milagre.
Herberto Hélder
(0s modos como as sociedades acolhem as obras de arte, do passado e da ac-
tuatidade, supaem implicita ou explicitamente concep¢des do desejo indissocidveis
das formas de organizacao do poder nelas dominantes. £ a indagacao dessa ligacao
politica que serviré de fio condutor as interrogagdes que me proponho desenvalver
com vista & compreensdo do que se passa hoje com aquilo que € chamado «arte».
Enquanto principio gerador que esté na base de todo o fazer, agir e criar, 0
desejo faz parte tanto da natureza social do homem como da sua singularidade,
daquilo em que se nao reduz a simples parte de um todo, mas através do que, pe-
lo contrério, impede a conversio desse todo num sistema fechado que conduziria &
indiferenciagao. £ com base nesta duplicidade que o desejo introduz o conflito in-
superdvel, no podendo ser considerado univocamente como forca mediadora na
relagéo com um ideal de perfeicéo, No entanto, € comum a grande parte dos dis-
cursos filos6ficos, pedagégicos e juridicos a redugio do desejo a uma forca agre-
gadora, estabilizadora, que combate e domina os instintos naturais, desviando-os
para fins elevados, como o de alcancar 0 Belo ou 0 Bem, de que o homem esta afas-
tado pela sua realidade mortal, ou como o de criar aquilo que o faca aceder & imor-
talidade através da descendéncia ou da meméria que persistiré para lé da sua
morte. Na medida em que assim aparece como um cimento das comunidades hu-
manas, 0 desejo desenvolve-se segundo mecanismos miméticos e d4 lugar a com-
portamentos que se traduzem em oscilagdes minimas em relacdo a um padrao fun-
36 elipse
damental, uma lei que traga os limites do aceitavel, os quais sao tanto os da moral
como os do gosto.
Interiorizados pelos habitos e justificados por um conjunto de mitologias, os
referidos limites supdem a demarcagao de um exterior do humano face ao qual as
comunidades reconhecem a sua identidade. Seja através da repressio de comporta-
mentos, seja através da sua instituigéo, do que se trata sempre é de controlar,
moldar, fixar imagens proprias e relacdes de poder. £ porque, como mostrou
Foucault para a sexualidade, estas nao sao necessariamente negativas, mas podem
apresentar outro tipo de tracos (a instancia da regra, o ciclo do interdito, a légica
da censura) que importa perceber como as relagdes entre desejo e poder se tém or-
ganizado a partir da imposigao da lei enquanto insténcia que preside a uma ordem
discursiva baseada num sistema rigido de oposigdes: sentido/sem sentido,
razio/desrazio, espirito/corpo, natureza/artific
Quer visem dominar o desejo, quer satisfazé-lo, os dispositivos da lei sao sem-
pre dirigidos para a anulacéo de qualquer movimento de fuga a sua universalidade.
Concorrem para 0 mesmo fim tanto @ construcéo de ideais e o controlo da sua
Prossecucéo como a criagio de mecanismos de compensacéo através dos quais se
pretende aceder regularmente ao seu oposto e neutrdlizd-lo. E 0 caso da festa, em
que, de modo ritualizado e regulamentado, se suspendem temporariamente alguns
interditos e se desencadeiam formas de libertagao e consumo de energias a-sociais,
acumuladas, e, por consequinte, de reforco de uma economia do sentido na qual to-
dos 0s movimentos esto de antemao previstos.
Porém, houve sempre gestos que nao foram feitos em funcSo da lei ou da sua
negacdo, gestos que rompiam com a esfera dos habitos através da afirmacio do sin-
gular — 0 irreconhecivel, o que nao faz sentido por nao se situar na cadeia de uma
‘ausalidade necessdria. Quando a relagao ao desconhecido nao corresponde @ um
Projecto de assimilacao ou reconhecimento estamos perante um movimento cuja di-
recgio nao se confunde com um fim determinado e que desencadeia a emergéncia
de comportamentos, ou a criagao de objectos, que j& nao so compreensiveis a par-
tir dos habitos, pois contribuem para fazer vacilar a certeza que os sustenta, para
dar espessura a uma distancia inultrapassavel. Como diz Blanchot, hé distancias, co-
mo a das pausas que permitem a alternancia das falas no didlogo, que se destinam
a superacao num movimento dialéctico que forma o horizonte do senso comum, mas
hd também distancias irredutiveis, aquelas que implicam o exterior e trazem consi-
go «uma relacdo de infinitude e estranhezant.
que pretendo assinalar que, na sua dimensdo criadora e nao apenas media-
dora, que nao se confunde com a busca de objectos compensatérios de uma falha in-
trinseca, ou com a obtencdo de prazer, 0 desejo é uma forca instabilizadora que
pode fazer deslocar os limites e as regras agindo no seu interior: nao hé um exterior
das regras fora das regras, mas sim, minando-as, um dinamismo que se actualiza de
modos contraditérios e coloca 0 conflito na base do humano impedindo a sua fi-
xagio numa identidade,
Creio que aquilo a que hoje alguns chamam arte, qualquer que tenha sido 0
nome que tenha tido no passado, correspondeu e corresponde a um modo de as so-
ciedades abrirem a circularidade econémica do sentido ao desejo inextingutvel e in-
controlvel como condigao da vida enquanto fluxo divergente que vai abalando os
mecanismos da simples repeticao do mesmo.
Alguns objectos que chegaram até nds pertencentes a épocas antigas, onde se
‘nseriam em préticas magicas ou religiosas, funcionavam até certo ponto adstritos a
fins, mas 0 fascinio que ainda hoje tém no resulta desses fins, nem tao-pouco de
terem perdido 0 mundo em que se integravam naturalmente e terem sido designa-
dos como arte a partir da sua entrada no museu. 0 fascinio que exercem decorre de
descobrirmos (ou inventarmos) neles a irredutibilidade a qualquer fungdo, as mar-
cas ou vestigios de um fazer nao inteiramente determinado pelo uso de uma técni-
ca ou por regras de fabricacao. Em suma, a sua ndo-coincidéncia consigo préprios e,
como tal, a sua energia disruptora que abala o projecto assimilador da cultura.
Aquilo que continua através dos tempos a interpelar-nos resulta da transformacgo
em distancia interior, inultrapassavel, da energia do encontro que the deu forma.
Chamando, por conseguinte, arte aquele tipo de actualizacées da irredutibili-
dade do desejo que se traduzem na criagao de objectos (incluindo formas efémeras)
em que a relagéo do finito ao infinito se revela inesgotavel, importa sublinhar que
através do seu gesto o artista propée algo ao acolhimento piblico, algo que sem
este no existird. Isso supSe uma gestao politica, que até uma certa época se apoiou
em instituigdes religiosas (teolgico-politicas) e depois em instituicbes do campo da
arte (até a actualidade, em que estas dltimas tendem a confundir-se com um ramo
do mercado). A passagem para as segundas, com 0 advento da modernidade, cor-
responde sem divida a alterades tao importantes como a da passagem do dogma-
tismo (ou da tradicéo entendida como prescricéo, 0 que é um pouco diferente) para
2 critica enquanto debate e persuaséo ou enquanto auto-reflexdo. No entanto, as
instituigdes que criaram 0 campo artistico nao deixaram de impor a arte fins exte-
riores, através do proprio processo da sua autonomizacao.
Desde o inicio da modernidade e até meados do século XIX, as preocupagées
com a circunscrigéo de um dominio da arte constituiram uma das principais estraté-
gias assimiladoras da cultura. Uma tal circunscricéo, de que resultaram a Histéria de
Arte e a Critica, movia-se em torno de definigdes que estabeleciam as funcdes (de
educacao, de formagéo humanista, de busca de um sentido para a vida, de compen-
sagio do excesso de racionalidade, de revelacio da verdade) e o estatuto das obras
de arte, ignorando sob a capa de uma imortalidade da perfeicdo aquilo que era o di-
namismo das obras enquanto actualizacéo de desejo, ritmo, A subordinacao da arte
2 fins fez com que se impusesse como dominante um tipo de relacdo com aquela
apoiado em preocupacées hermenéuticas e em ideias como as de escola, estilo da
época, movimento artistico, de onde decorria a sua integracéo em processos de con-
firmagdo-construgio de habitos, regularidades, limites.
A possibilidade de circunscrever a arte surgiu sempre como afirmacao de um
poder que nao s6 the era exterior, e superior, mas também era superior na escala so-
cial. Poder designar aquilo que é objecto de «culto» artistico, ou estar treinado para
© consumir de modo adequado, constitufa (e ainda hoje) uma forma de «distingao»
social que, como assinalou Pierre Bourdieu, correspondia a um lugar na hierarquia
elipse 37
8 elipse
social economicamente determinada. Se em finais do século XVIII 0 desprezo pela
{nutilidade prética da arte traduzia o espirito dominante, disposto a avaliar tudo a
partir da sua utilidade imediata, ao longo do século XIX a tigagdo da arte a fins deu
lugar, como diz Hannah Arendt, & construcao de uma regido de «poesia pura», reino
do kitsch, que instaurava a separacio das artes e da realidade. Esse foi o modo de
‘snob se apoderar da arte «como de uma moeda com a qual comprou uma posigao
superior na sociedade, ou adquiriu um nivel superior na sua prépria estima — supe-
rior, quer dizer superior a0 que, na sua opiniao pessoal, the cabia por natureza ou
nascimento»®,
Do ponto de vista do artista, as relagdes entre arte e espirito pratico nao
foram de complementaridade perfeita. Revoltado ou nao, o artista situou-se fre-
quentemente (quando o conseguiu) margem das questdes de sobrevivéncia; 0
gesto criador sobrepds-se quase sempre 2 qualquer outro tipo de preocupacées.
Quando imaginamos a biografia de um artista tendemos a vé-la como entrega
apaixonada a um trabalho, vemo-lo inteiramente absorvido por problemas poéticos,
pldsticos ou musicais, e nem por sombras acharfamos que devesse ter-se pronuncia-
do sobre o estatuto social da arte, sobre as-suas instituicoes ou coisas do género.
No entanto, foi a propria arte que a partir do romantismo fez suas essas preocu~
paces: os poetas romanticos situaram-se no interior da problematica da conexéo da
arte e da sociedade do ponto de vista de uma misso do poeta. Note-se que a obra
de Hélderlin no deixou de perturbar a homogeneidade desse movimento messiani-
co, deixando como legado a abertura da literatura a interrogacéo de si propria. 0
«cdlculo» do poeta, sendo aquilo que faz coincidir 0 mesmo e 0 outro, a desapro-
priacio do sujeito e do objecto, deixa o destino em aberto, sem solucao. De um ou-
tro modo, a partir da problematizagao da relacdo da poesia com o quotidiano,
Wordsworth coloca igualmente a questo da liberdade, que nao é a do possivel sem
constrangimentos, nem a do verosimil, mas a do real inapropriével.
‘o pretenderem responder & (ou pela) vertiginosa acelera¢ao tecnolégica do
inicio do século, alguns movimentos modernistas preconizaram a rendicdo da arte &
eficécia e 8 ideologia. Daf a instrumentalizacao daquela ao servico da politica foi um
pequeno passo (a miisica classica viria a acompanhar a tortura nos campos de con-
centragio). Mas hé um outro modo daquele tipo de instrumentatizacéo, menos evi-
dente, mas que nao deixa de ser perigoso, o da negacio da arte através da sua ba-
nalizagdo no consumo, ou por outras palavras, a negacao do desejo criador, infini-
tizador, a troco da satisfacéo das necessidades biolbgicas de lazer e diverséo.
Hannah Arendt® chama a atenco para aquilo a que talvez se possa chamar «esteti-
Gizacdo da existéncian, que desde 0 infcio do século veio permitir o Legitimo acesso
das massas a lazeres e diversdes que, no seu entender, satisfazem necessidades bio-
\ogicas — «panis et circenses conjugam-se verdadeiramente». 0 raciocinio em que
aquela autora mostra a contradigéo que se gera a partir daf parece-me de extrema
pertinéncia: o desenvolvimento das inddstrias de diversées traz beneficios para uma
grande parte da populacao e é por isso preferivel a uma situacéo dominada pelo sno-
bismo com que alguns pretendiam melhorar a sua propria situacéo social. Porém,
uma vez que o consumo faz desaparecer os seus objectos, as inddstrias de diversbes
so obrigadas 8 constante procura da novidade e os mass media acabam por reduzir
toda a cultura (tradigao, pensamento,arte) a produtos de consumo. Esta maquina
trituradora e indiferenciadora nao pode ser confundida, embora a distingéo nem
sempre seja facil, com 0 movimento de divulgaco da cultura no sentido de amplia-
‘cao de circuitos de acesso a ela: a distingdo principal a fazer é que a primeira des-
tr6i 0 objecto de modo a facilitar a sua assimilaggo, enquanto o segundo o preserva
20 deixar visiveis as marcas da sua inapropriabitidade.
E tendo como pano de fundo a situago da sociedade de massas, e os meca-
nismos homogeneizadores que s6 criam diferencas para vertiginosamente as anu-
tarem (a moda é 0 paradigma disso), que o imperativo de estilhacamento do apare-
tho de conformagdo e circunscrigo do campo da arte se tornou um objectivo desse
mesmo campo. Por volta dos anos 20 do nosso século, o «dadaismon (primeiro movi-
mento artistico que nao foi um «movimento» enquanto tal) tornou evidente, e fez
disso um gesto decisivo, a complexidade dos gestos artisticos na sua condi¢ao de si-
multaneamente intiteis e indispensdveis & vida. Tratava-se acima de tudo de perce-
ber que o lugar demarcado dos objectos artisticos os tornava presas faceis do con-
sumo, reconhecendo ao mesmo tempo que eles néo poderiam subsistir no exterior
do mercado (até porque os artistas, se no fossem predestinados a partir de uma
situagdo econémica, precisavam de vender). A recusa da subordinacdo da arte as
suas instituigGes nao se inscreveu numa légica da contradi¢ao ou da novidade pela
novidade, como tantas vezes tem sido dito. Ao defenderem uma arte «antiarten, ou
uma «arte-vida», autores como Tzara ou Duchamp nao introduziram a hipstese de se
pensar 0 campo da arte como campo experimental. Essa hip6tese jé vinha de antes.
Mostraram sim, em gestos irdnicos irrepetiveis, quer os mecanismos paralisantes de
uma circunscrigao do mundo da arte assente em principios rigidos, quer as dificul-
dades.de circunscrigao que em qualquer caso se colocariam sempre. Foi em grande
medida um movimento terapéutico orientado para a alteraco da relagdo com a arte
fora de um circuito de privilégios e imposigées demasiado estritos. A insLauraco da
possibilidade de gestos exteriores as instituigSes colocava nao sé a hipétese de
deslocagao daquelas mas também, sobretudo, as condigdes para que o impulso de
experimentagéo emergisse na sociedade e pudesse contribuir para que cada um
aprendesse a ver que 0 acolhimento dos objectos na sua alteridade supe a desvin-
culagao de si enquanto lugar de dominio, a disponibilidade para participar do jogo
de forcas em que os conflitos e intensidades do desejo dao lugar a infinita multipti-
cagéo de formas. Nao de formas acabadas, mas de formas providas de vazios como
aberturas ao exterior, & vida na sua indecifrabitidade. Em Passages’, Michaux colo-
ca como epfgrafe a seguinte pequena histéria de Yoshida No Kaneyoshi, séc. XIV:
«Koyu, 0 religioso, diz: s6 uma pessoa de compreenséo reduzida deseja arran-
jar as coisas em séries completas.
£ a incompletude que é desejavel. Em tudo, ma é a regularidade.
Nos palécios de outrora-deixava-se sempre uma dependéncia inacabada, obri-
gatoriamente.
Aarte, e nomeadamente o ready made, contrariamente aquilo que pretendem
‘0s que 0 véem como simples afirmagéo do poder de interpretar e impor interpre-
elipse 39
tacdes, apaga o sentido ou plenitude de um mundo inteiramente dominavel, um
mundo ready made, e torna-o como esse palacio em que cada sala s6 existe numa
relagio com o vazio. Este ndo € 0 nada, mas aquilo que se apresenta no apagar das
‘imagens e sentidos comuns, presenca nao-presente porque nao-unificavel — aque-
le que cria (acolhe) uma obra de arte suspende-se como consciéncia unificadora e
acede & «experiéncian nao-subjectiva da multiplicidade e da estranheza. Do que se
trata é sobretudo de contrapor & lei como destino ou sentido unico da vida, a pri-
mazia do encontro e da errancia enquanto movimentos desejantes. Do que Se trata
é de liberdade, nao no sentido vulgar, que ja Aristételes criticou, de que ser livre €
fazer-se 0 que se deseja, mas no de conceber a deciséo (liberdade) como interrupcao
de automatismos. Um agir que nao se reduz nem ao acaso nem a um determinismo
e que, reunindo espontaneidade e célculo, possibilita o imprevisivel.
'A ruptura que isso implica com os cédigos da verosimilhanca, ou com os
horizontes de expectativa, pode aproximar a arte do delirio, talvez em contraparti
da possa manté-la imprépria para consumo e desse modo converter a dissolucdo
daquele em tensdo que constréi, em jogo de linguagem que, ao procurar nela um
limite, lhe imprime um movimento alterante. £ na medida em que uma obra se ndo
subordina a fins que the sao impostos socialmente que ela age, embora de modo in-
directo, sobre 0 meio social, isto €, que ela perde a sua autonomia. Isso significa
que a questo da autonomia-ndo-autonomia da arte (o que separa é o que liga) se
coloca a0 nivel do acontecimento que cada obra é, e nao de um campo circunscrito
fe, como tal, necessariamente subordinado a fins (ndo ha «a arten, ha livros,
quadros, etc.).
‘Arrecusa da subordinagao as institui¢des que constituem o campo literério colo-
cou-se frequentemente a par de um questionamento mais vasto das instituigoes que
impdem a conformagao do desejo a um determinado modelo de relacdes de poder. A
resisténcia & ideia de um sentido da Histéria, sintetizada na célebre afirmacao de
Mandelstam «nunca fui contemporaneo, nao», ndo sé atravessa toda a obra deste es-
critor, como se torna visivel em todos os processos de des-totalizagao que visam a
unidade da narrativa, ou mais radicalmente, os limites da linguagem. Gherasim Luca,
que inventou a gagilez em poesia como modo de resisténcia aos esterestipos e fez
dela igualmente a manifestacdo de uma tensio que dé corpo as palavras, debateu-se
sempre com a edipianizacio do desejo e as ideologias da comunicagao: 0 seu
Manifeste non-oedipien propunha o abandono do esquema edipiano, através do pen-
samento da sua ndo-inelutabilidade; a sua recusa do reconhecimento assinalava a di-
vergéncia infinita e a fuga a um acordo ideal. Ou ainda, a defesa da vida através das
suas metamorfoses, que nao se ajustam aos padrées. D. H. Lawrence:
«Evil, What is evil?
There is only one evil, to deny lifer.
Uma vida, que desejo, nao se confunde com 0 biolégico e nao se deixa limi-
tar; na superficie espelhada dos esterestipos a sua respiragao abre as brechas que
so um aparecer no desaparecer, manifestacéo da pujanca plastica do caos.
(0 grande logro da relagao com a arte foi muito frequentemente o de querer
reduzir as imagens e significados aquilo que eles «so», no sentido de forma fixa,
exaustivamente descritivel, ou de significado transcendental. € 0 que Derrida pro-
blematizou num texto fundamental, «Force et signification», onde diz que
«Compreender a estrutura de um devir, a forma de uma forga, é perder o sentido,
ganhando-o»6. 0 que se perde € a vida do sentido (a «hipétese viva», como the
chama William James), 0 que se ganha € a «hipétese morta», 0 resfduo de um so-
nho de eternidade, a imobilizacao da forma, que anula a sua duragao e faz com que
principio e fim coincidam, com que cesse o seu movimento diferenciante. A forga é
sempre algo que a linguagem nao pode dizer mas apenas inscrever (deixar que se
mostre) pois «A forga é 0 outro da linguagem sem o qual esta nao seria o que é»7.
A poesia de Alberto Caeiro, ao dizer cada coisa é o que é», vai exactamente
no sentido de mostrar que «o “é” da arte»8 nao coincide com o «é> das definigées,
© do conhecimento légico, isto é, ndo permite a reducao das coisas a formas ou
‘deias. Aquela tautologia («é 0 que é ») € 0 leitmotiv de uma poesia que pode ser li-
da como gesto educativo ou terapéutico para a liberdade do desejo ou como pro-
grama em defesa da arte. Com efeito, para Caeiro, aceder aquilo que cada coisa «é»
exige um processo de desaprendizagem do sentido (senso comum), através do qual
possam irromper numa escrita inqualificdvel («a prosa dos meus versos») as inten-
sidades pré-verbais do viver, a singularidade dos encontros.
Quaisquer que tenham sido os designios dos artistas que surgiram depois de
um periodo em que a recusa de um fim para a arte (fosse a expresso, a represen-
tagio, ou a prépria arte como fim em si) correspondeu a admiti-la como um ele-
mento da vida — que, como tal, no pressupde exceléncia, qualificativo decorrente
da conformidade a um padrao, mas uma natureza dinamica, antiburocracia dos con-
sensos ou «iluminacdes» clericais autoritarias —, a insubordinacao da arte a poderes
limitadores de qualquer tipo (técnicas, escolas, criticas, etc.) deu lugar a uma pu-
janca, tanto na pintura, sobretudo americana, como na literatura ou em artes que
vieram alterar compartimentages ¢ classificagées tradicionais.
A critica formalista, dominante na América a partir dos anos trinta, impos de
alguma maneira uma concepgao de arte traduzida na ideia de arte abstracta, que,
a0 encerré-la na sua morfologia, admitia a sua redugéo a uma fungio decorativa,
Contrapondo-se a esta, a concepcao de arte conceptual acaba por ser também ela
paralisante na medida em que admite como principio a «assercio de que os objec-
tos so conceptualmente irrelevantes para a condicao da arten®. A hipétese de ab-
dicar do momento de percepcio implica uma ideia de sujeito imune a afecco dos
sentidos e definido exclusivamente como poder espiritual auténomo, 0 que corres-
ponde a instauracao de um poder de separacao (de dominio absoluto) do sensivel.
Quanto a nogéo de pés-modernismo, ela veio contribuir simultaneamente para
um fechamento do campo artistico e para a dissolugéo da arte no mercado. Quer di-
zer, ao identificar-se a arte como produto de uma especializacao entre outras, esta-
va-se a fazé-la entrar no mercatlo em igualdade com as restantes mercadorias. A dis-
solucgo no mercado nao resulta do facto de as obras adquirirem um valor de troca,
mas sim de, estrategicamente, se rasurar que devam excedé-lo. Esta rasura depende
de dois principios que se impuseram:1. a arte tem de ser popular (entendida pelas
massas, no sentido de por elas ser recebida como simbolo de cultura); 2. a relagao
42elipse
com 0 passado nao € uma questo de tradico que significa decisdo, mas de eclec-
tismo.
0 primeiro daqueles principios traduziu-se na expanséo do marketing e no de-
senvolvimento de um circuito econémico; o segundo, na instauracéo de um regime
de parodia. Sao complementares. Com efeito, a parédia tende facilmente a tornar-
-se uma forma de especializagao na medida em que o «saber fazer», constituido pela
capacidade de manejar técnicas e pela posse de informacoes, se torna dominante.
Nos casos em que a parddia nao se limita ao aspecto lidico da perfeiggo combi-
natéria e da adivinha cultural, mas pretende exercer a critica como auto-reflexivi-
dade, esse propésito, sendo extrinseco as obras, nao basta para as afastar dos
processos mecanicos da repeti¢go. A combinatéria s6 é criadora quando nao se iso-
la no campo estrito do artificio definido por oposicéo a natureza, isto é, quando se
liga & vida, Nao no sentido narrativo de chistdria de uma vida», mas pelo contrério,
no de «rapton (Herberto Hélder: «A realidade 6 um repto. A poesia é um rapton®),
deslocacao do finito para um movimento infinito.
0 problema que hoje se coloca é 0 seguinte: a popularizacao da arte como
efeito do marketing contribuiu quer para danum novo valor simbolico & arte (esta
deixa de ser simbolo de tensao, para ser simbolo de sucesso), quer para criar ex-
pectativas (de sucesso, ou de profissionalizacdo) a um grande ndmero de jovens. A
vertigem da diversidade com que hoje nos confrontamos no que diz respeito ao uso
de novas técnicas e materiais desenvolve-se na coexisténcia de mitos desde os da
autenticidade, da espontaneidade e da libertacdo do desejo, com mitos da técnica e
da pura auto-reflexividade do campo artistico. Isso nao significa, porém, que 0 fa-
zer orientado para fins nao seja excedido do seu préprio interior por impulsos que
‘os ponham em perda e déem lugar ao aparecimento do «atractor estranho», 0 ob-
jecto ndo-idéntico que se apresenta como ritmo ou movimento sem-fim.
Ao nivel da teoria muito se tem escrito em busca de critérios que permitam in-
troduzir alguma ordem no caos da superproducao. Com efeito, se o marketing pode
promover qualquer coisa (anything goes), 0 mesmo nao se passa do ponto de vista
‘intelectual. 0 problema € que, falhando a busca de critérios, temos assistido ao re-
torno de um adetirio da fixagdo», de estilos ou tendéncias, que constréi uma imagem
da arte absolutamente rendida ao museu ou a historia. € um delirio parandico, que
vai sugerindo que nao se pode falar da arte mas se pode catalogé-a, estabelecer li-
inhagens, encontrar precursores e seguidores, fixar com a maior plausibitidade nar-
rativa os pormenores de um inquérito em tudo idéntico ao policial. Tudo estratégias
{que concorrém para tornar os objectos artisticos simples produtos de arquivo morto.
‘Ao passar as barreiras da institucionalizacéo, tudo arrisca a tornar-se indife-
rente: € como se a condiggo de existéncia fosse ao mesmo tempo condicdo de ine-
xisténcia, Aquilo que hé de conformismo nas «teorias institucionais da arte» é 0 no
levarem a andlise daquele proceso até 4 questdo: ha um determinismo nos proces-
s0s de institucionalizacao, ou estes poderiam ser outros se se recusasse a hegemo-
nia absoluta das leis do consumo? Por outras palavras: quem séo os agentes princi-
pais do proceso? Os que nao tendo encontrado critérios, abdicaram de pensar? Os
promotores de vendas? Os publicitérios?
Nao se trata de descrever uma situacao catastrofica, mas de perceber que 0
conformismo, em que a tensio da rela¢ao ao exterior é abandonada, s6 pode dar lu-
gar a perda de liberdade, ao dominio do aleatério (alianca de determinismos cegos
€ de contingéncia). Trata-se de recusar 0 conformismo. E embora a direccéo dessa
recusa ndo seja visivelt?, julgo que ela comeca nas obras que nao sao feitas em
funcdo das instituigdes e continua com a problematizacéo das nogdes que utilizamos
a propdsito das obras de arte. E pelo desfazer dos mitos e das panaceias ideolégicas
que, mantendo o mundo da arte isolado da vida, tendem a amortecé-lo ou dissolvé-
~lo, que se pode chegar a um funcionamento responsdvel das instituigées.
0 que & que entendo por «mundo da arte isolado da vida»? Um campo
auténomo, regulado exclusivamente por regras proprias e assente no pressuposto de
uma clivagem entre a vida identificada com a ordem biol6gica (as necessidades de
sobrevivencia) e uma transcendéncia constitutiva da ordem do sentido, Nesse mun-
do, a arte, ou pertence ao capitulo da representacao (adequacéo a verdade), ou 20
da revelacao, ou é puro jogo formal enquanto actualizagao de um instinto lidico,
ou articula dialecticamente verdade e jogo. Em qualquer dos casos, a cléusula de
fechamento ou de autonomia supde uma teleologia propria, uma plenitude, defen-
dida tanto pela perspectiva humanista, como pela ontolégica, como pela simples-
mente esteticista ou pelas varias conjugacdes possiveis dessas perspectivas entre si.
Aquilo que faz com que a arte nao seja apenas questo de Si prépria € o lugar da in-
certeza, que a caracteriza como algo que ndo se subjuga ao campo das relacées so-
ais de poder. Por isso que nao basta identificar a liberdade artistica com liberdade
de expressio (liberdade de um sujeito, dependente da lei). Ela é sobretudo de uma
outra ordem, afirmativa, aquela para que envia esta exclamacéo de Beckett:
«Direito! Desde quando o artista, como tal, no tem todos os direitos, quer dizer,
nenhum?s (sublinhado meu),
Na sequéncia do que sugeri anteriormente a propdsito da anti-institucionali-
dade de alyuma arte mudernisLa, julgo que quando a clivagem entre arte e vida, no
sentido que the dei no pardgrafo anterior, foi posta em causa, percebeu-se que isso
abria no sentido 0 vazio do sentido. Blanchot descreve a resposta a esse movimen-
to como sendo investigagao num sentido preciso, «o de accao no seio e em vista do
‘espaco criador»; experiéncia que, ao captar a obra «como profundidade, e também
como auséncia de profundidade»'3, recusa tudo o que se poderia apoderar dela para
a julgar. S6 aquilo que é passivel de resposta a partir da sua forca incitante se reti-
ra a0 juizo e abre o campo da afirmagéo.
Se a auséncia de critérios objectives (claros, neutros) ndo permite uma res-
posta aquele tipo de obras ou manifestagies artisticas em que sé se reconhece 0 en-
simesmamento de algo que, pretendendo ser tinico, se torna sem-sentido, sem de-
sejo (isto é, sem um movimento para o outro); ndo 6 menos evidente que também
nao se pode chamar «obra de arte» aos resultados de um outro ensimesmamento, 0
produto feito segundo todas as regras (obedecendo por conseguinte a critérios),
mas que ndo desencadeia nada, apenas repete, e por isso também no deseja.
Quando admiramos um artista, ndo 0 fazemos por se tratar de um bom profis~
sional, nem por exprimir uma individualidade Gnica, admiramo-lo como génio, al-
elipse 43
quém que se retira do comum, mas de cujo dom depende a alteracao desse comum.
Gerhard Richter diz a esse propésito: «Artista: mais perto de um titulo do que da des-
crigio de um emprego.» Depois de lembrar a imagem tradicional do artista, compos-
ta de adjectivos como «independéncia», «liberdade», «indomabilidader, «coragem»,
Richter levanta uma hipétese inquietante: «se se impuser como arte o que ninguém
pode compreender e por conseguinte ninguém pode atacar a palavra “artista” pode
ser indutora de nausea.»
Nao & possivel perder de vista que a salvaguarda da arte depende do dilogo
que ela suscita e que ela se estabelece. A melhor justica que se the pode prestar,
portanto, € a de se ser exigente nesse didlogo, isto é, de nao 0 iludir ou confundir
‘com campanhas promocionais, mas também nao o situar somente no campo da
erudigao, e muito menos no do julgamento,
0 que pretendo dizer, a concluir, € que devemos recusar a alternativa entre a
existéncia de critérios objectivaveis e 0 «vale tudo». Dizer, ainda, que isso implica
que se admita que: 1. a arte nao popularizavel, nao visa maiorias como um todo,
mas destina-se apenas a cada um (independentemente da sua pertenca a um grupo
social, nacionalidade, etc.) que saia do seu papel de simples consumidor, isto é, que
deseje; 2. ha uma aprendizagem da recusa da tirania do marketing, que nos levara
a perceber que quem nao abandonar a embriaguez da fixagéo nao poderd nunca «ex-
ceder-se até amar a forca e o movimento que desloca as linhas, amé-la como movi-
mento, como desejo, nele mesmo, e no como o acidente ou a epifania das linhas.
‘Até & escritan. (sublinhado meu)'®.*
1 Blanchot, Maurice, «U’interruptions, in L’Entretien infin, Paris, Gallimard, 1969, p. 108
2Cf. Bourdieu, Pierre, La distinction. Critique social du jugement, Paris, Minuit, 1978,
3 Arendt, Hannah, «La crise de la cultures, in La crise de la culture, Pars, Gallimard, 1982 p. 261.
4 Op. cit, p. 266.
5 Michaux, Henry, Passages, Paris, Gallimard, 1963, p. 5.
{6 Derrida, Jacques, L’écriture et la différence, Paris, Seu, 1967, p. 44.
7°0p. cit, p. 45.
£8 Esta expressao é utilizada por Arthur Danto igualmente para assinalar uma diferenca entre «0 “6”
da arter € «0 “€” das definigées l6gicas, mas num sentido diferente do que aqui exploro».
‘9 Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After, p.
10 Herberto Hélder, Photomaton & Vox, Lisboa, Assirio & Alvim, 1979, p. 26.
11 Cf. Blanchot, «a recusay, in L‘Amitié, Gallimard. Nesse texto escrito em circunstancias polticas
precisas, Blanchot fala da recusa num sentido que é importante lembrar, 0 de que ela pode aparecer
‘como necesséria embora ndo seja facile no seja um poder nosso; ela anuncia um comeco e exige
uma aprendizagem.
12 Samuel Beckett, Le monde et le pantalon, Paris, Minuit, 1990, p. 17.
13 Blanchot, Maurice, «Qu’en est-il dela critique?», precio a Lautréamont e Sade, Paris, Minuit, 1963.
14 Gerhard, Richter, The Daily Practice of Paintings, Londres, Thames and Hudson, 2," ed, 1998, p. 247.
45 Derrida, op. cit, p. 47.
José Amaro Dionisio
REENCONTRO
Sangra 0 chao e ela diz mata-me, por favor mata-me, e isso que diz instiga 20
vicio. Mata-me
— Por favor, murmura, a
a saia preta estreita rasa arrastada pelas mos defrauda a cintura. «Extinguir alto 0
nome do mundo», pensara ele a0 chegar a casa dispondo na mao a porta. Queria di-
zer nenhum de nés negociar inclinado a vida os dias da vida acaba-se desfeito eles
dizem um monstro e é verdade mas levantas a cabeca levanto a cabeca dectino este
reencontro assim negro e feliz, sempre soube sobre o sono que se trata apenas de
aprender a morrer. Ferem-the debrucado sobre ela os joelhos no pavimento e aque-
la fenda no coracio que vem de trés de muito longe de sempre, esse abandono que
faz calar até a tristeza, rumor de fundo, lagrimas secas, desculpem: o amarelo dos
olhos, certa cor de gelo velho, um epflogo de verdade. Sim mas por favor traca-nos
duma vez por todas uma personagem, dizem eles, dé-nos uma coisa com principio,
meio ¢ fim, que se perceba, definida, com regras, os tempos da narrativa. Mas, di-
go eu, vivi estou cansado e amo a elegancia, talvez um dltimo estertor, faz mal? «Sei
que mereces o melhor», pensa ele agora vendo na cara dela o seu préprio rosto,
‘emas 0 que é 0 melhor na cidade das pessoas a face baixa a pele curvada»? Contudo
sim h4 mundos, a tua voz desse modo caida onde bate na tarde o som que sobe ea
sombra da sala imobiliza para sempre o rufdo do que dizes mata-me
— Por favor.
Gostarfamos eu sei sim duma vez por todas possuir a alma dos destrocos er-
guer a alma dos destrocos 0 dorso dela assim comovido torna-se de facto imortal
‘tenho um desejo que ameaca explodir ira corrida saudades o cheiro coado deitados
assim na cruz que revela este fim de suftégio se os amigos te perguntarem pelo
queimado nos ombros dirés que foi uma distraccao & beira do fogo a pertenca assim
6 uma coisa que serve para nao se estar sozinho um rudimento suor aberto tudo ao
contrério de cargos encargos e empecilhos morte lenta no écran campo de concen-
trago ao domicilio e eles fingem nao perceber oh como eles falavam 0 que eles
diziam tanta eloquéncia proposigies € o que fizeram o que afinal sdo onde afinal es-
tao dez dinheiros e uma agonia lenta e sem dor esta dor que nos devolve assim 0
coragéo ancorado 8 sombra da sala ao fumo dos cigarros ao vinho entornado ¢ eles
nao sabem eles nao sabem declinar no corpo um reencontro assim negro e feliz.
Catarina Freire Diogo
DA IRREVERSIBILIDADE DO DESEJO
Dia 31 de Julho: mais uma vez ao sair do barco, no Terreiro do Paco, pensei «0
Tejo & mais belo que 0 rio que corre pela minha aldeiay. Ha um mistério do Tejo que
define a vida cultural e artstica portuguesa..Ninguém se mira nele, Parece que hé
ali uma indiferenca soberana. £ um imenso perigo. Nao nos olhamos nas éguas do
Tejo porque temos medo do olhar do outro, preferimos as docas e as tocas.
Alj estaria uma parte de desejo se soubéssemos soletrar, abreviar, olhar.
Mas nao: 0s barcos vo cheios, vém cheios. Nao hé rio, ndo hé aqua, nao ha vozes,
nem corpos. E no entanto, jovens, idosos ou criangas todos se beijam como nas
telenovelas, ou no cinema. Alids, dir-se-ia que a vida nao existe sendo para i
tar. 0 desejo vai-se tornando exclusivamente imitacéo do desejo do outro, ali-
menta-se de sinais exteriores de prazer. E por todo 0 lado desejo de um fim, de-
sejo do fim. E talvez por isso que nao ha Tejo. Também parece que j4 nao ha mi-
tos. Mas ha.
Os mitos que nos subjugaram a triste identidade de «orgulhosamente sés»
assentaram sobre crencas — sobretudo a que nos fazia rodar em torno da identi-
dade. Filhos de Deus e da nacio est4vamos destinados a ser apreciados pela pas-
sividade ao servico de uma sina, a de ser fadistas ou poetas, a capacidade de der-
Tamar sentimentos, ou mais literalmente a de se tornar uma pasta moldavel pelo
mito (a nostalgia de uma identidade perdida adequava-se perfeitamente a este dis-
Positivo de gravitagao edipiano). Mas de onde vinha esse destino? Ou, por outras
palavras, a crenga assentava em qué? No poder de uma forca que acima de tudo
ddispunha de meios para excluir, esmagar, liquidar, Era um poder mais ou menos lo-
calizével.
Seré que hoje somos esmagados por um poder que, em absoluto, no loca-
lizamos? Sera que vivemos hoje jé no futuro, ou seja, na tal realidade virtual em que
espaco e tempo desaparecem para dar lugar ao puro aleatdrio? Que «hoje» se ali-
menta desses mitos do futuro? 0 «hoje» da corrupcao, sem davida (o dos que
moldam, que querem dar uma identidade ao povo, converté-lo a uma imagem digi-
talizada, e ganhar com isso fama e proveito) e 0 «hoje» dos que se deixam moldar. 0
que € que fica de fora?
Para apanhar 0 comboio do futuro, dizem-nos, a cultura é fundamental.
Cultura e informacao sao os dois mitos que nos levam directos & estagao da reali-
dade virtual. Pelo primeiro, é a categoria de patriménio que se torna justificagao para
quase tudo. £ o sentido de propriedade elevado a principio sublime: haverd senti-
‘mento mais nobre que aquele que nos faz dizer «isto é patriménio nosso»? S6 se dis-
sermos «isto é patriménio da humanidaden. Nao é s6 uma questo de designacio, as,
palavras nao sao indiferentes: a justificagao mais facil é a da preservagao do valor se-
guro. E ha cada vez mais valores seguros. Basta ir buscé-los ao passado e po-los a
circular com novas efigies. Nada se questiona porque o mito da cultura s6 tem por
fungo agregar, fazer de Portugal uma imagem desejével (conforme ao gosto dos
outros, os mais cultos, os estrangeiros, por conseguinte, comercializével). Fazercom —,
que uns se vejam nos outros como espelho € 0 supremo milagre do mito, também na
nossa época. «Fomos capazesn: nds, quem? aqueles a quem a sorte bafejou um des-
tino de gestores de imagens; ou nds, os amea¢ados a toda a hora por nao querermos
ser 0$ maiores — nem os maiores do século, nem do fim do milénio, nem da semana
= nés, os que fugimos dos quinze minutos de fama que nos querem impingir? ou
1n6s, 05 postos & margem por qualquer motivo? Talvez nds, a massa amorfa e dese-
jAvel, 0 povo esclarecido da sua inferioridade, da sua incapacidade de compreender,
© povo que ainda nao tem tdo boa imagem como eles — os que sabem discursar, os
que sabem rir, os que sabem comer, os que sabem chorar, os que comovem, os que
sao bonitos, os que tém uma «cultura sélida», os que distribuem as migalhas que
‘caem do orcamento, os que apanham as migalhas e também sao bonitos — mas € 0
motor da circulaggo. Sem a massa amorfa nada circularia, nem as moedas, nem 0
resto. E por isso que ela é desejavel. Energia em bruto, pronta a ser conduzida
através de grandes canais subterraneos. Até que a superficie rebente. Haverd quem
pergunte: serd 0 poder absolutamente.ilocalizavel? E 0s nossos lagos de dependén-
cia imediata, so 0 qué? Pais, professores, patrées, vizinhos, colegas, etc., cada um
exerce a sua quota-parte de poder. Podemos comegar por af. Esquecer u mitu da su-
ciedade de informaco que nos desvincula e perguntarmo-nos, por exemplo, se os
hospitais e as escolas sdo simples empresas capitalistas geriveis em termos de pura
rentabilidade ou se existem para nos servir, em funcéo das nossas necessidades.
0 processo de agregacdo da massa silenciosa fez-se a custa de mitos que per-
mitiram que cada individuo interiorizasse a sua incapacidade de compreender. 0 de-
senvolvimento do capitalismo assentou num mito do inumano segundo o qual os
grandes fluxos de desenvolvimento nos transcendem, tal como os designios de Deus.
A transcendéncia da técnica é a justificagao para o nosso alheamento de todos os
problemas, dos econdmicos aos morais e aos politicos. As perguntas que poderiamos
fazer, encontram quase sempre quem as cale com o simples argumento de as con-
siderar primérias ou incultas. Os tais que recebem as migalhas desenvolvem esforgos
fem todas as direccdes para mostrar isso: para mostrar que ha coisas que nunca
poderemos compreender, porque nao lemos 0 autor X ou Y, porque ndo temos sensi-
bilidade, em suma, porque nao sabemos, e eles sabem. A crenca na transcendéncia
da técnica anula a politica porque, em nome de uma competéncia que ultrapassa @
capacidade do homem, nos retira das decisdes que nos dizem respeito. Mas toda a
elipye #9
50 elipwe
crenga construfda e supe um conjunto de crengas que se suportam mutuamente.
Nao € s6 a técnica que dita o destino. Sao as religides, os astros, os concursos, os
imagdlogos, os politicos de carreira. :
Em todos os campos a vida aparece reduzida a carreiras. No alto da hierarquia
estd a carreira politica, composta pelos que sabem tracar um destino para 0 povo,
mostrar-lhe do que é capaz ou nao. No fundamental, esse destino ja estd tracado,
trata-se de o administrar, de criar a mito-esfera que anule em cada um a capacidade
de desejar enquanto movimento para 0 desconhecido. Quando tal for conseguido
no haverd perguntas, sé inquéritos a que é indiferente responder. Nao haverd fala
mas apenas manuseamento de palavras.
No barco em que acabo de atravessar o Tejo os bancérios e os jovens designers
falam de Windows e Excel. Estdo igualmente aptos a discutir os argumentos retéri-
os pré e contra 2 despenalizacao do aborto. Participaram em debates. Nao votaram
porque elas é que sio as vitimas. E eles sabem. Citam: vitimas haverd sempre. Olham
2 volta para a beleza das vitimas. Depois sentem-se também vitimas. Alguém expli-
ca isso. Nao se lembram do nome do autor. Acham que s4o vitimas da falta de opor-
tunidades. Entusiasma-os a inteligéncia admirével dos piratas informéticos. Esses,
sim, fazem sonhar. Porque 0 futuro é a informacao. 0 aborto ¢ insignificante. A dor
em realidade virtual jé nao é dor. Sentem-se vitimas. Sonham. 0 Tesouro. Descobrir
© tesouro por acaso. Por baixo de uma imagem. Poder com ele conquistar certas top
models, leva-las a festas, estrangulé-las. Tudo na Net. A volta nao hd Tejo. Hé imagi-
nario. Elas sonham com herofnas que se suicidam mas acabam por casar com um
futebolista, ou por serem gestoras, tratarem de dia os homens de igual para igual e
a noite alugé-los para um jantar de negdcios. Para chegar lé tém de ser desejaveis.
‘Até para um romance de amor é preciso ser desejvel. Ha as que sonham com 0 amor
na Net, mais puro, sem fotografias, nada de pornogréfico, ou entao, por que nao —
a pureza estd no corpo ou nas imagens?
Concluf este ano a minha licenciatura. Tenho as medidas justas: 80-61-80. Nao
quero ser modelo, nem dirigente de uma seccio juvenil de qualquer coisa. Agora es-
tou no desemprego. Procuro um método para me desfazer da minha quota-parte do
patriménio imagindrio. Vou deixar as flores nascer ao cimo da agua, como no mito
mais enigmatico que conheco, onde leié sobretudo um apelo a perda da imagem que
nos torna vitimas, substancias limitadas e idénticas.
A irreversibilidade do desejo traca movimentos de subtraccao @ rigidez:
através deles o ritmo da fala toca 0 ouvido, o olhar protege a distancia, o tacto ar-
ranca os corpos ao seu caos inabitavel. Nao ha pensamento sem desejo, sem o im-
pulso que conduz a vida para o largo, para longe da linha de demarcagao entre «pu-
ritanismo» e «antipuritanismo». De um e de outro lado da linha, a existéncia abdi-
ca perante a inexorabilidade do dualismo corpo/alma: reduzir o desejo a sexualidade
€ esta ao bioldgico € um esquema que pode justificar todas as operacdes de for-
magdo/conformacao. Ter sido previsto/programado nos estudos de mercado das in-
diistrias ligadas ao sexo ou 20 turismo sexual é uma garantia de sucesso, € a promes-
sa de uma vida cheia de hipéteses. Os que no foram previstos precisam de ainda
mais um esforco. E seréo contemplados. £ s6 serem um pouco mais modernos, mais
informados, mais desinibidos. As empresas de desinibicao proliferam: oferecem
férias, jacuzzi, hidromassagem, sexo ao vivo, karaoke, kundu e outras artes marci-
ais. Para além delas, hd as que fazem publicidade delas — as que se dedicam a co-
municacao e informacao. E uma imensa parafrenalia ruidosa que garante emprego a
muitas pessoas. E a sobrevivéncia de muitos. Tudo pode ser justificado com a ne-
cessidade de arranjar empregos.
Sendo assim, o desemprego parece a Gnica solucdo para que venha a haver 0
minimo de distancia necessaria a vida, ao desejo. Sera? O desemprego é a exclusao
pura e simples. Os desempregados quase nao sao humanos. S6 podem viver afas-
tados::nos arredores dos arredores, nos bancos dos jardins, nas ruas. Sao alvos
para fotografia artistica. Nao tém nada a perder, olham de frente para as objecti
vas. Nao progridem na carreira, ndo vao a jantares comemorativos, nao léem re-
vistas de actualidades. Deitam-se na relva. Tém fome. Nao se véem ao espelho.
Ninguém os espera, ninguém os deseja. Movem-se devagar.
Para 0 politico, intelectual ou homem de negécios que assuma a sua misséo,
ter imagem € quase sempre deixar-se fotografar com uma mulher modelo ao lado,
acrescentando, discretamente, que o que mais se aprecia nela é o afecto e a in-
teligéncia. € em nome do patriménio que as mulheres se prestam a isso? Sao viti-
mas? E as outras, também so vitimas? Quem & que compra as revistas que trazem
noticias dos VIP? Quem é que nao tem vergonha da existéncia desta sigla? Sempre
foi assim, s6 que agora é mais acelerado? E mais assumido?
Quando envelhecem, as mulheres ficam sés. Deixam de ser fotografaveis.
Passam anos a recuperar de operacies plésticas, mas chega a altura em que deixam
de ser reaproveitaveis. H4 uma lei que se sobrepde a todas as normas e que, invistv-
el, anula todas as boas intengdes — é a imposi¢ao parandica do ideal. 0 desejo
parandico é 0 desejo de perfeigao.gu desejo de morte: acabar todas as derivas
porque toda a liberdade conduziré ao mesmo modelo. Ter imagem 6 hoje participar
dv universe da perfeicao, € nisso que o apregoado pluralismo tem servido o monstro
nico, A imagem nao questiona, s6 0 seu desfazer-se pode perturbar.
Anteontem, dia 2 de Agosto, algures numa feira suburbana de uma vila da
Margem Sul do Tejo, ao lado dos tremogos, dos plisticos e do gado, estavam senta-
dos em simbiose perfeita, e quase iméveis, uma crianga e um co pequenos. A cri-
anca agarrava um acordedo, e 0 co segurava nos dentes um pequeno depésito feito
de uma garrafa de dqua de meio litro, cortada ao meio e atravessada em dois pon-
tos diametralmente opostos por um arame que formava uma espécie de arco. Todos
os que ali passavam sabiam que aquele dispositivo significava «mendicidaden, esta-
va destinado a «pedir esmola». No entanto, nem a crianca nem o cdo tinham afixa-
da qualquer etiqueta. A transparéncia da «caixa de esmolas» deixava ver que no
havia é nenhuma moeda. Haveria desejo ali?
‘As pessoas passavam. Tinham pressa e bons sentimentos, duas condigdes
essenciais para «ter uma vida dignan. A primeira traduzia eficiéncia, a segunda exi-
bia humanidade, «Pois claro, sabemos que é assim mesmon, «muito tm eles feito»,
«no é justo, criangas desta idade andarem a trabalhar», «é melhor que roubar», «&
preciso é mais vigilancian, «se nao fosse a droga», «foi uma preta que ganhou o con-
elipwe 3
se elipse
curso, olhe que elas também séo bonitas», «sabemos que é assim mesmo, cada um
trata da sua Vida», «isso 6 4 com eles», «o que é meu custou-me muito a ganhar»,
«o trabalho nao faz mal a ninguém», «a gente ndo percebe nada disso, a produtivi-
dade 6 que manda, dizem eles», «nao era rentdvel, por muito que nos custe, temos
que ver isso, sabemos que 6 assim mesmon. Desejo?
Ontem, dia 3 de Agosto, na Rua Augusta, em Lisboa, um grupo de trés criangas
tentava fazer com que trés pequenos cdes segurassem na boca uns recipientes iguais
05 acima descritos. Os ces nao obedeciam e o dispositivo nao se cumpria. Nao se
percebia fim nenhum para aquela cena. A agitacio do grupo fez com que o exterior
se the tornasse indiferente. Os gestos deles eram destigados de qualquer propésito
significativo. Nao havia sentimentos que colassem aquela cena.
0s sentimentos sao reaccdes fixas a estados de coisas. Tal como a légica, im-
puseram-se por questdes de sobrevivéncia. Delimitam territérios do humano.
Servem de contentores (em diversos sentidos) das paixdes. Para cumprir essa
funco, sempre se apresentaram como naturais ou sobrenaturais, constitutivos da
natureza humana, naturalmente ou por dadiva divina.
‘Actualmente, porém, a distingao entreartificio e natureza parece ter sido apa-
gada. «Sabemos que é assim mesmo» néo significa a crenca em nenhuma natureza
que ainda se poderia pensar em ludibriar pelo artificio. Significa, pelo contrério, que
nao hd ilusio posstvel, que estamos condenados a realidade de tudo ser artificio ou
natureza, reversivel e indiferentemente.
Para onde quer que me volte tudo grita «deseja-men. £ asfixiante. E o uni-
verso convertido em dispositivo de esmola. Ou o triunfo de uma economia absolu-
ta. 0 desejo tornou-se a moeda que s6 precisa de ser suposta. $6 se admite aquilo
que é desejavel. E ser desejavel é ser diferente. Nem que seja pelo gancho do ca-
belo. Ou pela cor das meias. Ser diferente sem sair do horizonte estatistico das
diferencas. 0 horizonte aperta-se e as diferencas multiplicam-se. A resposta ao de-
sejo parandico do mesmo é cada vez mais répida e universal. Ser desejavel é poder
mostrar-se, Mostrar-se, mesmo que isso signifique tornar-se um duplo de algo que
deixou de existir, uma imagem virtual, Hé pensamento quando uma imagem nos
perturba ou nos pée em fuga, quando desencadeia o desejo. Nunca quando nos
confirma, quando dé prazer, quando se troca ou vende. 0 barroquismo da nossa so-
ciedade revela o horror do vazio, a desisténcia de pensar. Uma organiza¢ao de du-
plos em que cada um vive pelo outro como espetho. E por isso que, tudo adquire
valor de troca ao mostrar-se, ao dizer-se que se fez e no ao fazer-se. Os espec-
téculos de vanguarda jé quase sé existem para deixarem a sua imagem em video @
cesta para ser catalogada, arquivada.
Ja alguém perguntou em voz alta porque é que paga «realizacdes culturais»,
extremamente caras, de que é absolutamente excluido (ou porque se destinam js ex-
plicitamente a convidados ou porque os convites acabam por ocupar grande parte
dos lugares)? Provavelmente alguém responder que é a imagem de um povo que es
té em causa, a formagao/manutencao de uma elite cultural. Nesse caso, porque €
que um estudante que é suposto ser «o futuro do Pais» e pagar as propinas teré de
esperar até a sua idade de convidado da cultura para poder ser um dos escolhidos e
assistir ao que the dizem ser importante? Até ld, terd de provar que é desejavel. Se
possivel, ir as aulas com um baldinho preso nos dentes para os professores de-
positarem 0 saber. Abrir a boca s6 para prestar contas das moedas acumuladas:
quem so, de onde vieram e para onde vao.
«Sabemos que é assim mesmo», cada um nos quer desejével 3 sua maneira, que
uma maneira idéntica a todas as outras. E sé um toque de linguagem (como quem
diz «um toque de maquilhagem»): mais afecto para uns, mais corpo para outros, mais
hermenéutica para uns, mais ciéncia para outros. Os discursos que fazemos vao rapi-
damente deixando de fazer sentido, so jé quase sé sinais de reconhecimento. Como
‘quem diz Windows e Scanner e sabe que est certo por isso. Estamos quase aptos a
no perguntar nada, a sermos simplesmente desejaveis. A eficécia moldou-nos.
A eficdcia apoia-se no medo, o contrério do desejo. Medo de nao sermos de-
sejéveis: desemprego, solidao, falta de distingdo, sentimentos trocados.
E se comecéssemos a interrogar-nos acerca do sentido do que dizemos, acer-
ca do que pode significar «desejon sem a ameaca do fantasma da exclusio? Um de-
sejo que nao seja uma maquina de fazer vitimas? Desejar e ser desejavel nao sdo rea
lidades reversiveis: enquanto movimento, desejar supde a errancia dos corpos ¢ 0
encontro como emergéncia do novo, no espaco e no tempo. Ser desejavel é anular-
-se na definico de um duplo, passar para a realidade dos espethos, sair do jogo de
ilusdo e desilusdo sem o qual a linguagem deixard de fazer sentido. *
elipse 53
F André Lepecki
CORPO INCERTO
Ha 0 desejo de ser; e ha o desejo de se ter corpo. Um est sempre associado ao
‘outro, No ambito da mais recente «identity politics», que tanto informa os discursos
contemporaneos sobre o desejo, a escolha do corpo é sinénima a escolha identitéria do
genero, e a reciproca é sempre verdadeira. Neste contexto, deseja-se um certo corpo
Para que se possa veicular o desejo: querer ser «homem», querer ser «mulher», querer
ser «novo», querer ser «moreno», querer ser «louron, e as infindaveis comutacdes e
permutacdes entre estas e outras varidveis anatomicas, fisiolégicas, epidérmicas,
Para além deste contexto, onde o corpo é encenado e refeito de modo a que
© sujeito possa encontrar guarida e vefculo para 0 seu desejo, existe igualmente, e
operando de forma andloga, porém com outra funcao, o desejo por um corpo que se-
Ja marca e caugdo de uma nova era. Neste caso, 0 corpo seria um evento: marca r
cronolégica interrompendo o continuo da duracdo social, «corpo-novo», validando q
coma sua fisicatidade outra um novo momento histérico. Michel Foucault mostra de .
forma clara, ao longo da sua obra, de que modo o desejo de se ser um corpo novo 6
isomérfica, no ambito da invencéo da mentalidade modema, a momentos perce-
bidos como de profunda (senao mesmo, traumética) transformagao histérica,
0 desejo por um corpo-novo pressupée, por seu lado, e invariavelmente, a es-
colha de um modelo, de uma imagem ideal, de um Outro (ainda) por Ser. 0 desejo
metamérfico estaria firmemente ancorado na capacidade mimética. Resta saber qual.
a corporalidade alvo que cada momento de crise identitéria, que cada contexto de
disrupcao histérica especifica, elege como modelo privilegiado de um corpo em sin-
cronia com o desejo de se ser novo. E resta saber 0 que este «novo» significa. :
Na historia cultural portuguesa deste século, um dos momentos em que o de-
sejo por um corpo que transcenda e re-invente a corpo/realidade vigente, pode ser
encontrado no apelo conjunto que Almada, Ruy Coelho e José Pacheko lancam «A
todos 0s Portuguezes», na primeira pagina do ndmero 1 de Portugal Futurista. A re-
vista abre com palavras incendiarias, duplamente pedagégicas e metamérficas, in- r
citando @ populacdo em geral a ir assistir aos Ballets Russes, que em 1917 visitam :
pela primeira vez Portugal. 0 apelo dos futuristas, para alm de metamérfico, 6
mimético. Os Ballets Russes surgem como modelo de uma corporalidade modernista
elipse 55
56 elipse
e europeia, inexistente no Pats, e os futuristas encontram neles o écran sobre o qual
podem projectar e construir um discurso de desejo revolucionério: 0 de introduzir
uma (até hoje nunca atingida) modernidade «europeia» em Portugal. 0 seu projec-
to, «A bella brutalidade da nossa misao», nao é mais do que transformar Portugal,
por via da transformacéo do corpo fisico nacional, segundo o modelo vindo de um
exterior percebido como ja & frente no tempo:
Pezémos bem esse quasi-impossivel de fazer de ti um Europeu e, apesar d'is-
to, resolvemos inspirados na revelacio das Nossas Juventudes, entregar-te nas tuas
mos 0 methodo para, por ti-proprio, ganhares a tua liberdade.
Ejustamente 0 que tu, Portuguez, vaes aprender nos BAILADOS RUSSOS: edu-
cat-te a ti préprio, Aprender os teus devéres para comtigo e para com todos.
Aprender a resolveres todas as tuas possibilidades, isto 6, aprender a séres comple-
to, a dares-te completo para a Civilizagao da Europa Moderna.
A subsequente historia politica do Pais bem se encarregou de impedir, por boa
parte do que restava deste século, a qualquer possibilidade de se atingir essa tao
desejada modernidade, conceito que, ainda hoje, aparece sempre e invariavelmente
como sinénimo a «europeidade». Mas o desejo permaneceu latente, e explode assim
que se resolve a instabilidade institucional pés-25 de Abril. 0 desejo pela moder-
nidade (0 que quer que ela signifique, e ela significa principalmente ser-se «eu-
ropeu») tem sido consistentemente evocado como «projecto» nacional, pelo menos
desde as negociagées para a «entrada» de Portugal na Europa. Resta saber de que
modo esse desejo se alinharé eventualmente com um desejo por um corpo-outro. E
qual 0 Outro que ocupa 0 lugar do modelo ideal. Aqui, o problema extravasa o de-
sejo modernista centrado numa certa viséo europefsta, e lanca-nos de forma ine-
vitvel no complicado labirinto de paixGes que o nosso passado colonial(ista) nos
coloca. Pois, 05 modelos de modernidade de hoje so propostos ndo por uma van-
guarda urbana, cujo apelo se confina a uma minoria mais ou menos citadina e «inte-
lectual», mas entraram e entram pelo Pais adentro por via de formas culturais mas-
sificadas, de origens diversas, e diversas corpo/realidades.
Teremos entdo de othar para a concretude do contexto portugués enquanto
nagdo que se estrutura identitéria e historicamente perante modelos de corporali-
dades outras, e considerar de que modo o momento actual da pés-colonialidade por-
tuguesa se deixa ler por via do desejo (mimético) de se construir (mais) um novo
modelo para 0 corpo nacional, ainda & procura do molde que o torne «plenamente
moderno».
Voltemos por um momento & sinonimia entre moderno e eurapeu. Hoje em dia
plenamente cortente e aceite, essa equivaléncia semantica foi, por um breve mo-
mento (e ainda é, mas subterraneamente), nada dbvia. Por um instante, 0 corpo-
-padréo de uma modernidade que nos fora negada, surgiu, potente, e inesperada-
mente, de um outro quadrante geografico, emergindo por um outra via, nem van-
guardista, nem europeia. 0 que nos leva directamente ao momento da derrocada do
Império, e ao problema do destino do imagindrio corpéreo portugues.
.
‘
No seu livro Mimesis and Alterity (Taussig 1993) 0 antropélogo Michael Taussig
expe, de forma convincente, os mecanismos através dos quais modernidade,
histérias coloniais ea faculdade mimética sao insepardveis. E, no entanto, num seu
trabalho anterior, onde analisa modos de exploracao colonialistas e capitalistas em
plantacées de borracha na Colémbia no inicio deste século, que Taussig propde o
modelo epistemolégico que o leva a entretecer a sua visdo do colonialismo como um
aparato mimético, que pde em causa modelos de construcdo corporais (Taussig
1987).
Para Taussig, se quisermos compreender a dinamica subjacente aquilo a que
chamou de «economia de terrors, devemos comegar por suspender a divisao episte-
‘molégica contida no bindrio «realidade» e (sua) «descricdo». No modo de producao
colonial, Taussig encontra uma «realidade que se esvai por entre os poros da des-
cricdo, e, por via desse esvair, perpetua precisamente aquilo que as descricoes su-
postamente apenas “retratavam”». £ por via desse «esvair», que desestabiliza bina
rismos tais como areal» versus «ficcionals, «economian versus «exploraggo», «na-
tureza» versus «cultura» e «colonizador versus «colonizado», que entramos no
campo da mimese e, com ela, no campo da construcso do corpo num momento de
intensificagao historica,
0 esvair desestabilizador € produto e manifestacio da’dinamica que Taussig
descreve como constituindo um «espelho colonial» — um aparato mimético através
do qual o colonialismo produz a reatidade do Outro por via de uma constante reifi-
cago da «descrigéo». Aparato que permite que 0 Outro, essa construgao discursiva,
possa assim passar a ser essencializado através da marca do «realy que a nada ino-
cente «descrigao» the imputa. Por outras palavras, para Michael Taussig, a tarefa do
«cespetho colonial» é nao apenas o de gerar um modo de producao colonial, mas é
também, e mais importante ainda, o de produzir e manter um «modo colonial de
produgio de realidade». Esta nuancé que o conceito de Taussig nos traz — 0 de pos-
tular um modo colonial de produc3o da realidade — 6 crucial para uma compreensio
de manifestacdes culturais sob 0 colonialismo.
Taussig mostra como a realidade que o espelho colonial produz é de terror e
violéncia «reflectindo de volta sobre os colonos 0 barbarismo das suas préprias re-
laces sociais, mas imputadas a selvajaria que eles ambicionam colonizar. 0 colono
inicialmente descreve 0 nativo como selvagem, canibal, violento, irracional; num se-
gundo momento, por via da introjeccéo da descrigao feita, o colono percepciona
nativo enquanto isomérfico 8 descrigao dada; finalmente, esta percepgao permite o
colono a par em acco a mesma «selvajarian que ele primeiramente atribuira ao na-
tivo (que, nesta cltima fase, jé ocupa o papel de Outro colonial). Descricéo, intro-
jecedo, reificacio, percepcio: a «realidade» assim produzida, permite ao colonialista
perpetrar sobre o colonizado exactamente as mesmas perversoes das quais 0 colo-
nizado fora (fantasticamente) acusado de possuir. Assim, o «espelho colonial» é néo
apenas um aparato identitario, mas uma maquina de terror, regulando tanto o me-
do quanto o desejo.
Aplicar a nogao de «espetho colonial» as intricadas narrativas contemporaneas
que entretecem as histérias comuns de Portugal e seus espelhos coloniais — Brasil
clipse 57
se elipse
os paises luséfonos africanos por um lado; Espanha e «Europa» por outro — é ex-
plorar a utilidade desse conceito num contexto pés-colonial. Ou seja, é explorar, pe-
lo menos provisoriamente, a utilidade de se postular, a partir de Taussig, um modo
6s-colonial de produgio da realidade de dinamica andloga a0 modo colonial de pro-
ducdo da realidade. Este hipotético modo pés-colonial de produgao da reatidade aju-
dar-nos-8, assim, a melhor compreendermos as especificidades em jogo em pro=
duces de representacdes de identidades e alteridades no actual contexto (pés-
colonial) nacional. Finalmente, tal modelo opera numa economia semelhante
aquela que Taussig confere 20 «espelho colonial».
Dois conceitos essenciais na economia do «espelho colonial devem ser con-
siderados antes de avangarmos para 0 seu modo operativo no contexto portugués:
© conceito de «mimese» e 0 conceito de «modernidaden. Para Taussig, 0 espelho
colonial opera de acordo com a «magia da mimeses, i. e., por via de uma «transfor-
macao operada sobre a realidade por via da imagem dessa realidaden. A definicdo
que Taussig nos da de mimese € dupla: primeiro, como um mecanismo cognitivo-
-epistémico «insepardvel do imaginar e do pensar propriamente ditos»; em segundo
lugar, enquanto uma «capacidade de nos tornarmos Outro». Taussig observa que 0
controlo e represséo da mimese «é essencial ao aparato cultural da civilizagdo
moderna». Como veremos, esta observacao € crucial para uma compreensao dos me-
dos e ansiedades postos em jogo na evolucao do objecto de desejo a imitar.
0 segundo conceito que opera no espetho colonial é, como ja vimos, o de «mo-
dernidader. Muito embora Taussig no se preocupe em definir o conceito, a definicgo
geral que Jiirgen Habermas teoriza no seu ensaio «Modernidade: um projecto incom-
pleton, é-nos particularmente itil pois enfatiza a questao da clivagem temporal, e ilus-
tra muito bem a dindmica de criagdo do «novo», que enfatizei, no inicio deste texto,
como problemtica e intrinsecamente ligada ao desejo metamérfico-mimético por um
corpo novo. Segundo Habermas, a modernidade pode ser caracterizada, de modo geral, _
‘como a «consciéncia de uma época que se relaciona a si prépria com o pasado [...] de
modo a ver-se a si mesma como o resultado de uma transigao do velho para 0 novo».
10 geral, debrucemo-nos agora mais especificamente sobre o proble-
ma da modernidade e da mimese na corporalidade portuguesa pés-colonial(ista).
Investigar um modo de produgéo pés-colonial da realidade, no Portugal con-
temporaneo, é estar atento as narrativas, imagens e imagindrios que formam e de-
marcam 0 estatuto de , e abjec-
tamente «negra». Mais uma vez, o espelho colonial esté em pleno funcionamento.
Referéncias
: Auslander, Philip. 1997, From Acting to Performance. Londres e Nova lorque: Routledge
Bean, Annemarie, James Hatch, and Brooks Macnamara, eds. 1996. Behind the Minstrel Mask.
Hartford: Wesleyan University Press.
Butler, Judith. 1993. Bodies that Matter. On the Discoursive Limits of «Sex», Nova Torque e Londres:
Routledge.
Dionisio, Eduarda. 1993. Tiulos, Accbes, Obrigacdes. Sobre a Cultura em Portugal 1974-1994. Lisboa:
Edigées Salamandra.
Habermas, Jirgen. 1983. Modernity — An Incomplete Project. In The Anti-Aesthetic. Essays on
Postmodern Culture, editado por H. Foster, Seattle: Bay Press.
Lourenco, Eduardo, 1991. 0 Labirinto de Saudade. Lisboa: Edigies Dom Quixote.
Rowe, William e Schelling, Vivian. 1994, Memory and Modernity. Londres e Nova Torque: Verso. ‘
aussig, Michael. 1987. Shamanism, Colonialism, and the Wild Man. Chicago e Londres: The University
of Chicago Press. 4
Taussig, Michael. 1993. Mimesis and Alterity. A Particular History of the Senses. Nova Torque ©
Londres: Routledge.
E Smith, Diana. 1986.
Anda mungkin juga menyukai
- Incarnat Lia Rodrigues PDFDokumen11 halamanIncarnat Lia Rodrigues PDFCadu MelloBelum ada peringkat
- Dança-Teatro. A Falta Que BailaDokumen134 halamanDança-Teatro. A Falta Que BailaCadu MelloBelum ada peringkat
- Incarnat Lia Rodrigues PDFDokumen11 halamanIncarnat Lia Rodrigues PDFCadu MelloBelum ada peringkat
- As Existências MínimasDokumen61 halamanAs Existências MínimasCadu MelloBelum ada peringkat
- Da Empatia Ao SignoDokumen12 halamanDa Empatia Ao SignoCadu MelloBelum ada peringkat
- A Estruturação Do Self - Catálogo Funarte (Ferreira Gullar, Mario Pedrosa, Suely Rolnik, Et All.) PDFDokumen16 halamanA Estruturação Do Self - Catálogo Funarte (Ferreira Gullar, Mario Pedrosa, Suely Rolnik, Et All.) PDFCadu MelloBelum ada peringkat
- Imagem-Acontecimento, o Saber-Do-Corpo1 e o PsicanalismoDokumen10 halamanImagem-Acontecimento, o Saber-Do-Corpo1 e o PsicanalismoHelia BorgesBelum ada peringkat
- Poder Sobre A Vida, Potências Da VidaDokumen9 halamanPoder Sobre A Vida, Potências Da VidaCadu MelloBelum ada peringkat
- Pontos de Intercessão Entre Hubert Godard e Angel Vianna. TEIXEIRA, LetíciaDokumen7 halamanPontos de Intercessão Entre Hubert Godard e Angel Vianna. TEIXEIRA, LetíciaCadu MelloBelum ada peringkat
- Diário de Um BebêDokumen14 halamanDiário de Um BebêCadu MelloBelum ada peringkat
- O Livro Da DançaDokumen134 halamanO Livro Da DançaCadu MelloBelum ada peringkat
- Diário de Um BebêDokumen14 halamanDiário de Um BebêCadu MelloBelum ada peringkat
- Ligya Clark Breviario Sobre o CorpoDokumen12 halamanLigya Clark Breviario Sobre o CorpoCAROLINA LOPESBelum ada peringkat
- A Análise Do Movimento - Algumas Noções Segundo Hubert Godard - TAVARES, Joana Ribeiro Da Silva.Dokumen6 halamanA Análise Do Movimento - Algumas Noções Segundo Hubert Godard - TAVARES, Joana Ribeiro Da Silva.Cadu MelloBelum ada peringkat
- Esgotadoalexandre PDFDokumen282 halamanEsgotadoalexandre PDFJessica NascimentoBelum ada peringkat
- 5 Aulas Sobre NietzscheDokumen85 halaman5 Aulas Sobre NietzscheCadu MelloBelum ada peringkat
- Anatomias Por Meio Da Otica Da Educacao Pelo Movimento o Entendimento Pode Passar Pelo Corpo Proporcionando A Pessoa Uma Experiencia de Si MesmaDokumen11 halamanAnatomias Por Meio Da Otica Da Educacao Pelo Movimento o Entendimento Pode Passar Pelo Corpo Proporcionando A Pessoa Uma Experiencia de Si MesmaCadu MelloBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen12 halaman1 PBDaniel Franção StanchiBelum ada peringkat
- A ARTE COMO PERSEGUIÇÃO DO TEMPO: Ressonâncias Entre Cortázar e DeleuzeDokumen39 halamanA ARTE COMO PERSEGUIÇÃO DO TEMPO: Ressonâncias Entre Cortázar e DeleuzeCadu MelloBelum ada peringkat
- Hakim Bey TAZDokumen41 halamanHakim Bey TAZVanessa PaivaBelum ada peringkat
- Pão Escuro de Germe de Trigo e Farinha IntegralDokumen2 halamanPão Escuro de Germe de Trigo e Farinha IntegralCadu MelloBelum ada peringkat
- A Ontologia Da Performance - Peggy PhelanDokumen11 halamanA Ontologia Da Performance - Peggy PhelanFabricia Dias100% (1)
- SALLES, C. A. Desbobramentos e A Critíca de Processo. (2006)Dokumen16 halamanSALLES, C. A. Desbobramentos e A Critíca de Processo. (2006)Cadu MelloBelum ada peringkat
- Alain Danielou - Estudo Das Escalas MusicaisDokumen292 halamanAlain Danielou - Estudo Das Escalas MusicaisCadu Mello100% (1)
- KLINGER, Diana - Escrita de Si Como PerformanceDokumen11 halamanKLINGER, Diana - Escrita de Si Como PerformancerodrigoielpoBelum ada peringkat
- O Livro Da DançaDokumen134 halamanO Livro Da DançaCadu MelloBelum ada peringkat
- A Contemplação ReconsideradaDokumen9 halamanA Contemplação ReconsideradaCadu MelloBelum ada peringkat
- Management Contribuições de Winnicott para A ClínicaDokumen6 halamanManagement Contribuições de Winnicott para A ClínicaCadu MelloBelum ada peringkat
- Individualismo, Trauma e CriaçãoDokumen11 halamanIndividualismo, Trauma e CriaçãoCadu MelloBelum ada peringkat