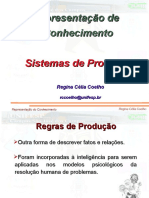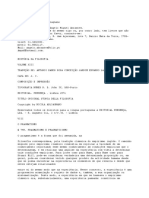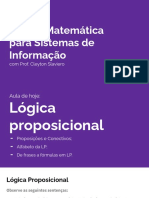Cassini (2009)
Diunggah oleh
Leandro AntonelliHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Cassini (2009)
Diunggah oleh
Leandro AntonelliHak Cipta:
Format Tersedia
Anais do V Simpsio
Internacional Principia
Universidade Federal de Santa Catarina
Reitor: lvaro Toubes Prata
Departamento de Filosoa
Chefe: Lo A. Staudt
Programa de Ps-Graduao emFilosoa
Coordenador: Darlei DallAgnol
NEL Ncleo de Epistemologia e Lgica
Coordenador: Cezar A. Mortari
NECL Ncleo de Estudos sobre Conhecimento e Linguagem
Coordenador: Luiz Henrique de A. Dutra
Principia Revista Internacional de Epistemologia
Editor responsvel: Luiz Henrique de A. Dutra
Editor assistente: Cezar A. Mortari
V Simpsio Internacional Principia
A Filosoa de Bas van Fraassen
10 Anos de Principia
Comisso organizadora Comisso cientca
Luiz Henrique de A. Dutra Michel Ghins
Cezar A. Mortari Alberto Cupani
Otvio Bueno Hugh Lacey
Sara Albieri Harvey Brown
Gustavo Caponi
www.cfh.ufsc.br/necl/5sip.html
necl@cfh.ufsc.br
RUMOS DA EPISTEMOLOGIA, VOL. 9
Cezar A. Mortari
Luiz Henrique de A. Dutra
(orgs.)
Anais do V Simpsio
Internacional Principia
NEL Ncleo de Epistemologia e Lgica
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianpolis, 2009
2009, NEL Ncleo de Epistemologia e Lgica, UFSC
ISBN: 978-85-87253-10-1 (papel)
978-85-87253-11-8 (e-book)
UFSC, Centro de Filosoa e Cincias Humanas, NEL
Caixa Postal 476
Bloco D, 2
o
andar, sala 209
Florianpolis, SC, 88010-970
(48) 3721-8612
nel@cfh.ufsc.br
www.cfh.ufsc.br/nel
FICHA CATALOGRFICA
(Catalogao na fonte pela Biblioteca Universitria
da Universidade Federal de Santa Catarina)
S612a Simpsio Internacional Principia (5. : 2007 : Florianpolis, SC)
Anais V Simpsio Internacional Principia ; Cezar A.
Mortari, Luiz Henrique de A. Dutra (orgs.) Florianpolis :
NEL/UFSC, 2009.
435 p. (Rumos da epistemologia ; v.9)
Tema : A losoa de Bas van Fraassen : 10 anos de
Principia
1. Van Fraassen, Bas C. 2. Epistemologia. 3. Lgica. 4. tica.
5. Filosoa Histria. I. Mortari, Cezar A. II. Dutra, Luiz Henrique
de A. III. Ttulo.
CDU: 1
Reservados todos os direitos de reproduo total ou parcial por
NEL Ncleo de Epistemologia e Lgica, UFSC.
Impresso no Brasil
Apresentao
Os textos reunidos neste volume foram apresentados no V Simpsio Internacio-
nal Principia, realizado em agosto de 2007 em Florianpolis, tendo sido promovido
pelo Ncleo de Epistemologia e Lgica, NEL, pela revista Principia e pelo Grupo de
Estudos sobre Conhecimento e Linguagem, GECL, da Universidade Federal de Santa
Catarina. O evento contou com apoio nanceiro da prpria UFSC e da CAPES.
Alguns textos tambm apresentados no simpsio foram publicados na revista
Principia, em virtude dos assuntos sobre os quais tratavam. O simpsio teve como
tema principal a losoa de Bas C. vanFraassen. Entretanto, como nos outros eventos
da srie, foramacolhidos tambmtrabalhos que no versavamsobre o tema principal
do simpsio. Estes trabalhos so das mais variadas reas loscas e de diversos te-
mas. No havendo forma de reuni-los em um volume com identidade mais denida,
optamos por publicar esses textos num volume de anais. Na medida do possvel, os
textos foram agrupados em sees temticas.
Os organizadores do evento e deste volume de anais agradecemaos participantes
que enviaram seus textos e tiveram a pacincia necessria para aguardar a publica-
o. Agradecem tambm s instituies que deram apoio nanceiro ao evento e s
pessoas que participaram de sua preparao e realizao, assim como deste volume
de anais.
Florianpolis, setembro de 2009.
Cezar Mortari
Luiz Henrique Dutra
coleo
RUMOS DA EPISTEMOLOGIA
Editor: Luiz Henrique de A. Dutra
Conselho Editorial: Alberto O. Cupani
Cezar A. Mortari
Dcio Krause
Gustavo A. Caponi
Jos A. Angotti
Luiz Henrique A. Dutra
Marco A. Franciotti
Sara Albieri
nel@cfh.ufsc.br
(48) 3721-8612
Ncleo de Epistemologia e Lgica
Universidade Federal de Santa Catarina
www.cfh.ufsc.br/nel
fax: (48) 3721-9751
Criado pela portaria 480/PRPG/96, de 2 de outubro de 1996, o NEL tem por objetivo
integrar grupos de pesquisa nos campos da lgica, teoria do conhecimento, loso-
a da cicia, histria da cincia e outras reas ans, na prpria UFSC ou em outras
universidades. Umprimeiro resultado expressivo de sua atuao a revista Principia,
que iniciou em julho de 1997 e j tem doze volumes publicados, possuindo corpo
editorial internacional. Principia aceita artigos inditos, alm de resenhas e notas,
sobre temas de epistemologia e losoa da cincia, em portugus, espanhol, francs
e ingls. A Coleo Rumos da Epistemologia publicada desde 1999, e aceita textos
inditos, coletneas e monograas, nas mesmas lnguas acima mencionadas.
SUMRIO
I EPISTEMOLOGIA
ALBERTO CUPANI 13
A Propsito da Base Tecnolgica do Conhecimento Cientco
ALEJANDRO CASSINI 23
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras?
FABRINA MOREIRA SILVA 38
Epistemologia como Histria Conceitual: a Formao do Conceito de
Ideologia Cientca em Georges Canguilhem
FLVIO MIGUEL DE OLIVEIRA ZIMMERMANN 44
Hume e os Acadmicos Modernos
GELSON LISTON 53
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo
GUSTAVO CAPONI 68
Las Constricciones Desenvolvimientales como Causas Remotas de los
Procesos Evolutivos
GUSTAVO RODRIGUES ROCHA 75
Realismo e Anti-realismo: o que podemos aprender a partir da histria
do spin
JANANA RODRIGUES GERALDINI 83
Conguraes Arqueolgicas das Cincias Humanas
KARLA CHEDIAK 88
O Papel da Evoluo Biolgica na Compreenso da Representao em
Fred Dretske
MARIELA DESTFANO 96
El Requisito de Generalidad y El Sistema Subpersonal de Procesamiento
Lingustico: ms conceptos de los que creamos
NLIDA GENTILE 108
Adecuacin Emprica y Compromisos Metafsicos
OSVALDO PESSOA JR. 114
Scientic Progress as expressed by Tree Diagrams of Possible Histories
OSWALDO MELO SOUZA FILHO 123
Analogia entre a Termodinmica Geral e a Fsica Aristotlica
8
RAQUEL SAPUNARU 133
Determinismo, Indeterminismo e Teoria Quntica em Popper
SOFIA INS ALBORNOZ STEIN 141
A Ontologia Analtica: Crticas e Perspectivas
THIAGO MONTEIRO CHAVES 149
Bas van Fraassen e o Problema da Inferncia para a Melhor Explicao
II LGICA
ANTNIO MARIANO NOGUEIRA COELHO 161
Um Conito entre Ontologia e Lgica: Quine a favor de V L e contra
BRUNO VAZ 165
A Concepo de Demonstrao em Euclides e Hilbert
CEZAR A. MORTARI 173
Bissimulaes para Lgicas Modais Restritas
HRCULES DE ARAUJO FEITOSA
MAURI CUNHA DO NASCIMENTO
MARIA CLAUDIA CABRINI GRCIO 184
A Propositional Version of the Logic of the Plausible
JORGE ALBERTO MOLINA 196
Sobre a Distino entre Demonstrao e Argumentao
MARIANA MATULOVIC 207
Um Sistema de Tabls para a Lgica do Muito
WAGNER DE CAMPOS SANZ 224
Que Harmonia para Regras de Introduo/Eliminao?
III TICA E FILOSOFIA POLTICA
ALCINO EDUARDO BONELLA 231
Valor da Vida Humana e Anencefalia
ALESSANDRO PINZANI 240
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso
ANTONIO FREDERICO SATURNINO BRAGA 259
Pode Rawls Tachar o Utilitarismo de Doutrina (abrangente) do Bem?
CHARLES FELDHAUS 273
Habermas, Eugenia Liberal e Justia Social
9
DISON MARTINHO DA SILVA DIFANTE 281
A Felicidade e o Sentimento de Prazer e Desprazer em Kant
ERICK C. DE LIMA 286
Normatividade a Partir de Socializao e Individualizao: Proximidades
entre Hegel e Habermas
GIOVANNE BRESSAN SCHIAVON 306
A Razo do Direito em Habermas
JOEL THIAGO KLEIN 319
A Relao entre Dever e Inclinao na Primeira Seo da Fundamentao
da metafsica dos costumes
MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE AZEVEDO 326
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos
MARIA CECLIA MARINGONI DE CARVALHO 343
Quem so os Membros da Comunidade Moral? Peter Singer, a Sencincia
e as Razes Utilitaristas
MILENE CONSENSO TONETTO 356
A Co-originariedade do Direito Liberdade e do Direito Igualdade
em Kant
PAULO CSAR DE OLIVEIRA
PATRICIA DE CARVALHO 366
Habermas: da Crtica ao Cientismo tica da Ao Comunicativa
IV HISTRIA DA FILOSOFIA
AGUINALDO AMARAL 375
A Inuncia Heideggeriana na Viso de Gadamer de Compreenso e
Linguagem, com Contribuies de F. Schleiermacher
CARLOS DIGENES C. TOURINHO 382
O Problema da Intencionalidade: da Objetividade Imanente em F. Bren-
tano Conscincia Transcendental na Fenomenologia de E. Husserl
RICO ANDRADE M. DE OLIVEIRA 392
Nota sobre o Conceito de Movimento no Le Monde e nos Principes de la
Philosophie: continuidade ou ruptura?
F. FELIPE DE A. FARIA 409
A Plenitude Cuvieriana
10
ROMMEL LUZ F. BARBOSA 417
Transcendncia Crtica sem Ideal Transcendental: sobre a questo da
crtica, em Foucault
TAS SILVA PEREIRA 427
Algumas Consideraes sobre o Papel da Autenticidade na Esfera Pblica
em Charles Taylor
I
EPISTEMOLOGIA
A PROPSITO DA BASE TECNOLGICA DO CONHECIMENTO CIENTFICO
ALBERTO CUPANI
Universidade Federal de Santa Catarina/CNPq
cupani@cfh.ufsc.br
certamente difcil entender o desenvolvimento da cincia, particularmente a mo-
derna, sem levar em considerao o papel da tecnologia. Aparelhos e tcnicas, ge-
ralmente originrios dos ofcios e da indstria, tiveram amide decisiva importncia
em suscitar ou resolver problemas cientcos, e at gerar reas de pesquisa, como no
conhecido caso da relao entre a mquina de vapor e a termodinmica.
Ohistoriador Derek de Sola Price enfatizou essa importncia, sobre tudo nas mu-
danas cientcas revolucionrias. Analisando o aperfeioamento e uso do telescpio
por Galileu, Price sustentou que esse instrumento no foi apenas um meio de testar
idias, mas um veculo de conhecimento revelador acerca do mundo. Conforme
este autor, a tecnologia contribui para a cincia mediante a revelao articial da re-
alidade, to importante quanto as idias ou a percepo natural (Price 1984: 108).
No entanto, a posio de Price dista de ser a regra. Geralmente se pensa na tec-
nologia como um recurso que auxilia ou possibilita o conhecimento propriamente
dito, no como um fator com relevncia epistemolgica prpria. Essa circunstncia
d particular interesse s idias de Davis Baird, tal como expostas emseu livro Thing-
Knowledge. A Philosophy of Scientic Instruments (2004).
1
Na opinio de Baird, o papel do pensamento e da linguagem tem sido sobrees-
timado, na tradio losca ocidental, com relao ao papel da ao e do uso de
instrumentos para a obteno do conhecimento. Do mesmo modo que a teoria, sus-
tenta nosso autor, os instrumentos so portadores de conhecimento (knowledge bea-
rers) e no meramente auxiliares dele. Os instrumentos so artefatos fabricados com
habilidade (crafted), sendo centrais, para seu desenvolvimento e uso, o pensamento e
a comunicao visual e tctil (e no necessariamente a linguagem). Uma dimenso
essencial da instrumentao, argumenta Baird, vive fora da linguagem. Assim como
lemos e interpretamos textos, precisamos de tcnicas para compreender e melhorar
os instrumentos, e a cultura dos textos impotente para entender a natureza material
da instrumentao e da tecnologia.
Por tal motivo, o propsito do livro mostrar a urgncia de uma diferente epis-
temologia, de uma concepo materialista do conhecimento, pois a epistemologia
habitual, ligada noo de conhecimento como crena verdadeira justicada, im-
potente para compreender o carter epistmico dos artefatos. Para Baird,
Os lsofos e historiadores se exprimemempalavras, no emcoisas, e assimno
surpreendente que aqueles que tm um virtual monoplio sobre dizer (pala-
vras!) o que o conhecimento cientco , o caracterizem em termos da classe de
conhecimento com que eles esto familiarizados palavras. (Baird 2004: 7)
2
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 1322.
14 Alberto Cupani
Mas tambm os aparelhos encarnam conhecimento, aponta Baird, um conheci-
mento que nem sempre pode ser apreciado to somente mediante palavras e pensa-
mentos. Baird ilustra esse fato com a histria do motor eletromagntico de Faraday,
do qual o inventor fez cpias reduzidas e enviou a colegas, alm de publicar artigos
sobre a sua descoberta/inveno.
O desempenho observado do aparelho de Faraday no requer qualquer inter-
pretao. Ao passo que havia considervel desacordo sobre a explicao desse
fenmeno, ningum contestava o que o aparelho fazia: ele exibia (e ainda exibe)
movimento rotatrio como conseqncia de uma adequada combinao de ele-
mentos eltricos e magnticos. (Baird 2004: 3)
Podemos compreender o motor de Faraday lendo suas notas e examinando o mo-
tor. Existe, segundo Baird, umespao de trabalho para o conhecimento na materia-
lidade do aparelho. Esse espao depende amide, porm nem sempre, da teoria (que
de resto, pode ser falsa). Inmeras vezes, na histria da cincia e da tecnologia, os
aparelhos foram entendidos em funo de uma teorizao que, posteriormente, foi
considerada errada. E tambm, o avano da teoria amide seguiu o avano instru-
mental (2004: 10). Por isso, segundo Baird, nenhuma explicao unitria do conhe-
cimento serviria cincia e tecnologia. Em particular (e como veremos melhor de-
pois), uma epistemologia puramente subjetiva, limitada s crenas de sujeitos, in-
suciente. Precisamos de uma epistemologia objetiva, porque o conhecimento, tanto
no que tange a teorias como a artefatos, algo pblico (2004: 16).
Se os instrumentos so portadores de conhecimento, isso no ocorre sempre do
mesmo modo. Baird prope distinguir entre trs tipos de artefatos epistemicamente
signicativos, trs classes de conhecimento-coisa ou conhecimento coisicado
(thing-konwledge). Existem, por um lado, os artefatos que representam (representing
things), ou seja, os modelos; por outro, os artefatos que mostram o conhecimento em
ao (working knowledge); por m, temos os artefatos que sintetizam conhecimento
(encapsulate knowledge).
Baird ilustra inicialmente o primeiro tipo com os planetrios (orreries)
3
dos s-
culos XVIII e XIX. Trata-se de estruturas metlicas que simulam a posio respectiva
do sol e os planetas, bem como o deslocamento destes ltimos nas suas rbitas. Se-
guindoN. Goodman(emLanguages of Art), Bairdarma que os planetrios somode-
los porque no so verbais nem constituem casos ou exemplos de eventos genricos.
Esses modelos cumprema mesma funo que as teorias, pois explicamos fenmenos
celestes, permitempredizer e so conrmveis ou refutveis tanto pela evidncia em-
prica quanto pela teoria (2004: 35ss). A sua relao com o pensamento continua
Baird conforme a concepo semntica das teorias, coma diferena de que com
os modelos conceituais, a teoria especica um modelo ou classe de modelos. Com os
modelos materiais, os modelos especicam ou talvez melhor apontam para a teoria
(2004: 37). Cabe reparar que, enquanto os modelos tericos no precisam se parecer
comos seus objetos, comos modelos materiais isso comum. Mais importante que
A propsito da base tecnolgica do conhecimento cientco 15
os modelos materiais so manipulveis, o que importante quando a manipulao
conceitual no possvel.
Outros casos de artefatos que representam a realidade, analisados por Baird, so
o modelo reduzido da roda de gua do engenheiro John Smeaton no sculo XVIII
(que permitiu aumentar a ecincia do artefato) e o modelo helicoidal da molcula
de DNA, devido a J. Watson e F. Crick. Com relao ao primeiro, Baird observa que
Smeaton, sem ser perturbado por uma teoria enganadora [a teoria de Antoine Pa-
rent, prevalecente poca], e bem informado pela sua experincia prtica com rodas
de gua, estava em melhores condies para represent-las em um modelo material
que Parent em equaes (2004: 31). J com relao ao modelo de bolas e varas de
Watson e Crick, Baird observa que aqui, o modelo conhecimento. Tanto o , que
foi brincando com a estrutura fsica que estavam montando que os hoje famosos
cientistas foram resolvendo os problemas tericos (2004: 33).
Quando faltavam a Watson e Crick razes pelas que os tomos deveriam ser de
um modo ou de um outro, os modelos lhes davam espao para explorar possibi-
lidades sem razo, o que equivale a dizer, sem razo proposicional, mas com a
razo fornecida pelo espao de modelagem material. (2004: 33)
Para almda sua utilidade emresolver problemas tericos especcos, Baird acre-
dita que este tipo de artefatos relevante para a prpria epistemologia.
A habilidade para modicar manualmente, por assim dizer, os modelos materi-
ais importante porque fornece um diferente ponto de entrada em nosso apa-
relho cognitivo. Manipulaes conceituais fornecem uma entrada; as manipula-
es materiais, [fornecem] uma segunda entrada independente. Admitindo que
os modelos, e mais geralmente, os instrumentos, tm status epistmico, amplia-
mos a nossa capacidade de fazer que nosso aparelho cognitivo se relacione com
o mundo. (2004: 40)
Ao segundo tipo de artefatos epistemologicamente signicativos pertencem os
que mostram conhecimento em ao ou conhecimento operante (working kno-
wledge), como a bomba de ar e o ciclotro. Os fenmenos que esses artefatos produ-
zem so reais e independem de se dispor de uma explicao terica que de resto, caso
existir, pode se revelar posteriormente falsa. Trata-se de fenmenos que constituem
casos de atividade material (material agency) e no podem ser diminudos por, ou
reduzidos a, uma explicao terica (2004: 44).
Baird ilustra mais especicamente este tipo de artefatos mediante o pulse glass,
um dispositivo para o qual B. Franklin chamou a ateno e que foi objeto de debates
durante o sculo XIX.
4
Oaparelho contribuiu para a cincia, argumenta Baird, de trs
maneiras: produzindo um fato instrumentalmente estruturado, uma certeza tcnica
(o fenmeno pode ser produzido regularmente) e a base para um posterior desen-
volvimento instrumental (o pulse glass foi estudado por J. Watt, o aperfeioador da
mquina de vapor). A relevncia epistemolgica do artefato comentada assim por
Baird:
16 Alberto Cupani
Chamooperante este tipo de conhecimento. uma forma de conhecimento ma-
terial diferente do modelo de conhecimento antes discutido. Subjetivamente, a
pessoa que tem um conhecimento operante tem conhecimento suciente para
fazer algo. Objetivamente, um dispositivo que porta conhecimento operante
opera regularmente. Apresenta um fenmeno que pode ser usado para realizar
algo. Esta forma de conhecimento material, em contraste com o conhecimento
modelo, no representacional, antes apela para noes pragmatistas de conhe-
cimento como ao efetiva. (2004: 45)
Da mesma maneira, no caso da bomba de ar, o mecanismo pneumtico permite
que a atividade material se apresente emsi mesma, pormsob controle articial. So-
mos admitidos no laboratrio da Natureza, no pela guia da teoria nem mediante
palavras, mas pela eccia da nossa capacidade de fazer coisas. O que vale para a
bomba de ar, vale a fortiori para o ciclotro, que nos permite experimentar alguns
dos mais profundos secretos do cosmos, argumenta Baird. No apenas isso: o ciclo-
tro um lugar (site) para o desenvolvimento de conhecimento material em uma
variedade de frentes, incluindo sistemas de vazio, eletrnica de rdio freqncia e
controle de raios de ons, entre outras coisas (2004: 55).
Os aperfeioamentos e adaptaes dos instrumentos fazem com que os mesmos
se acumulem. De igual modo se acumulam as tcnicas a eles ligadas, na forma de
receitas. Comentando um livro de tais receitas, Baird comenta:
A classe de informao preservada em livros como Building Scientic Apparatus,
diferente da classe de informao codicada em teorias cientcas ou dados
experimentais. Esses livros, e revistas como a Review of Scientic Instruments re-
gistram e preservam um acervo de tcnicas para produzir certos efeitos que, de
fato, tm sido importantes para fazer coisas . . . (2004: 656)
Oterceiro tipo de aparelhos analisado por Baird o daqueles que sintetizam(en-
capsulam) conhecimento. Trata-se dos aparelhos que medemalgo, desde uma rgua
at umespectrmetro. Oinstrumento interage comumespcime [de alguma classe]
gerando um sinal que, adequadamente transformado, pode ser entendido como in-
formao acerca desse espcime (2004: 68). Um termmetro um fcil exemplo.
Esses artefatos combinam diversos tipos de conhecimento:
Eles encapsulam na sua forma material no apenas o conhecimento-modelo e
o conhecimento operante, mas tambm, em muitos casos, conhecimento teo-
rtico e substitutivos funcionais de habilidades humanas. Na sua forma mate-
rial, os instrumentos de medio integram todas essas diferentes classes de co-
nhecimento em um dispositivo que ao mesmo tempo tanto um caso de co-
nhecimento materialmente encapsulado como uma fonte de informao sobre
o mundo. (2004: 116)
5
Um instrumento desses (habilidoso, skilled) no , comenta Baird, meramente
a realizao material de conhecimento proposicional. Ele rene idias e realidades
materiais, as quais nose comportamdomesmomodo(nempodemser manipuladas
do mesmo modo).
A propsito da base tecnolgica do conhecimento cientco 17
*
Conforme Baird, da maior importncia reconhecer como conhecimento (digamos,
corporicado), e no apenas como auxiliares do conhecimento, os artefatos antes
mencionados. Ao incluirmos em nossa viso do saber humano o conhecimento coi-
sicado, modicamos a nossa compreenso da histria e das relaes entre cincia
e tecnologia. A mudana de percepo aqui proposta no fcil, comenta Baird, pois
a materialidade dos instrumentos passa despercebida at para os analistas da tec-
nologia, quando os caracterizam como portadores de informao e resultados de
idias. signicativo, acrescenta, que a materialidade dos artefatos seja percebida
(admitida) to somente ao fabric-los ou quando quebram. Porm, crenas acerca
de artefatos no so elas prprias os artefatos, corrige nosso autor (2004: 148). E o
engajamento direto com os materiais um dos componentes do progresso em nosso
conhecimento do mundo. Por isso, conclui Baird, o desenho de artefatos no consiste
apenas em lidar com idias, mas cobre o mtuo emprego do material e do proposi-
cional, bem como formas hbridas tais como grcos, simulaes por computador
e modelos materiais.
Alm do mais, a coisicidade (thing-y-ness) dos aparelhos ensina lies que no
se podemextrair do trato comidias. Aprimeira delas, que nenhumdispositivo funci-
ona sem problemas (Podemos imaginar um parafuso perfeito, porm no podemos
fabric-lo). Os instrumentos no funcionam bem, ou de igual modo, em qualquer
meio. O comportamento especco dos materiais no pode ser sempre previsto teo-
ricamente. O espao e o tempo introduzem diculdades adicionais, no experimen-
tadas pelas idias: o dispositivo deve caber (problemas de forma e dimenso) e deve
durar (As idias podemou no ser atemporais. As ligas de metal, emseu estado de li-
quefao, certamente no o so). Igualmente alheias esfera terica so as questes
relativas segurana (riscos) e ergonomia (o modo fsico de se lidar com o aparelho)
(2004: 15265).
Particularmente importante, segundo Baird, a transformao dos aparelhos e
instrumentos em caixas-pretas (black boxes), no sentido utilizado por B. Latour,
isto , designando a circunstncia de que o aparelho, ao funcionar ecientemente,
se torna invisvel pelo prprio sucesso.
6
Mas, diferentemente do socilogo francs,
quem v nesse fenmeno algo que leva a misticar a cincia e a tecnologia, Baird
v aqui algo positivo. O conhecimento encapsulado no aparelho destacado de
seu contexto de origem e ca disposio como instrumento de novas descobertas e
invenes (adaptado, todavia, s suas circunstncias de aplicao). Trata-se de uma
certa mecanizao da cincia, sem a qual seus avanos (e at suas revolues) no
seriam concebveis.
7
*
Oconhecimento que encarnamos artefatos , para nosso autor, to objetivo quanto o
conhecimento encarnado em teorias.
8
A funo que desempenha o aparelho , para
18 Alberto Cupani
Baird, o equivalente da verdade terica. Trata-se de uma verdade material, no sen-
tido em que se fala, por exemplo, de uma verdadeira roda quando ela funciona
como se espera (2004: 122). Umartefato portador de conhecimento quando desem-
penha comsucesso uma funo.
9
E assimcomo a verdade umideal regulativo a que
tendem as teorias, a regularidade e conabilidade o ideal regulativo na construo
de instrumentos. O paralelismo se estende forma de trabalhar em ambos os casos:
O conhecimento, expresso em proposies, fornece alimento para posteriores
reexes tericas. Estes recursos sentenas com contedo so manipula-
dos lingstica, lgica e matematicamente. Os tericos so ferreiros de concei-
tos, se vocs querem, conectando, justapondo, generalizando e derivando novo
material proposicional a partir de um dado material proposicional. No mundo
material, funes so manipuladas (. . . ) Uma verdade material substituda por
uma outra que serve mesma funo. (. . . ) Os instrumentistas so ferreiros de
funes, desenvolvendo, substituindo, expandindo e conectando novas funes
instrumentais a partir de funes dadas. (2004: 123)
De resto, ambos os tipos de conhecimento: terico e material, esto intervincula-
dos na produo e funcionamento dos aparelhos:
A justicao de verdades materiais (. . . ) questo de desenvolver e apresen-
tar evidncia material, teortica e experimental que conecte o comportamento
de uma nova reivindicao material de conhecimento comoutras reivindicaes
materiais e lingsticas de conhecimento. Em alguns casos, um fenmeno su-
cientemente convincente por si mesmo (. . . ) No obstante, e de maneira tpica,
importante conectar os fenmenos que uminstrumento exibe comoutro conhe-
cimento instrumental, experimental e/ou teortico . . . (2004: 126)
Baird compartilha da posio de Popper no que diz respeito a no reduzir a Epis-
temologia ao estudo da subjetividade humana (Popper 1972). Na sua opinio, Popper
estava certo ao reivindicar o carter objetivo do conhecimento, na medida em que
ele pblico. No entanto, Baird prefere uma verso menos extrema da Epistemo-
logia Objetiva que a popperiana: ambos os tipos de conhecimento so reais e devem
ser enfocados pela Epistemologia. O conhecimento em sentido subjetivo (crenas,
mas tambm habilidades) ajuda a compreender o conhecimento objetivo (verdade
de uma teoria; funcionamento de um aparelho) e vice-versa. As crenas e habilida-
des individuais so, no mximo, candidatas a conhecimento, porm seu reconhe-
cimento provm da comunidade cientca e tecnolgica que age e reage sobre ob-
jetos pblicos (um problema ou teoria formulados; uma mquina operando). Junto
com o Mundo 3 de teorias, problemas e argumentos, argumenta Baird, temos um
mundo material de conhecimento (dispositivos, mquinas, instrumentos) que inte-
rage comos mundos 1 (material) e 2 (psquico) de Popper.
10
Almdo mais, para Baird
conhecimento, terico e material, no se apia, como defende Popper, emuma base
emprica convencional. Essa maneira de argumentar guarda as conotaes de uma
concepo demasiado terica do conhecimento, em que o papel da experimentao
A propsito da base tecnolgica do conhecimento cientco 19
no sucientemente apreciado. Colhendo sugestes de autores como A. Pickering
(The Mangle of Practice) e D. Gooding (Experiment and the Making of Meaning), Baird
chama a ateno sobre a bemdenominada questo de como os experimentos termi-
nam (P. Galison). E eles (seja relativos a enunciados, seja relativos a mquinas) ter-
minamquando se consegue uma consilincia (Hacking 1992) entre diversos fatores:
questes, enunciados, teorias, habilidades, materiais, instrumentos, dados . . . (2004:
134). Nessa espcie de harmonizao, Baird faz questo de frisar a menor plasticidade
dos elementos materiais em comparao com os elementos tericos.
Enquanto me sinto cmodo pensando que muito do contedo grosso modo pro-
posicional da cincia e da tecnologia (. . . ) um recurso plstico, me sinto menos
cmodo coma suposta plasticidade de (ao menos parte) do contedo material da
cincia e a tecnologia. O motor eletromagntico de Faraday (. . . ) no era um re-
curso plstico, mas uma ncora emprica num mar de confuso terica. O modo
como falamos, exatamente, do seu conhecimento operante, desde as mais bsi-
cas explicaes fenomenolgicas at as mais profundas explicaes teorticas,
uma arena de considervel espao de manobra. Mas o fenmeno em si no ir
desaparecer [por isso]. Pode acabar resultando no interessante e/ou no impor-
tante, talvez (como o pulse glass). Mas at esse fenmeno no importante no ir
desaparecer. (2004: 135)
Essa convico leva Baird a criticar as posies cticas dos socilogos com rela-
o ao discurso sobre conhecimento cientco. Para nosso autor, a importncia da
crtica sociolgica reside em que ela conduz a examinar melhor a epistemologia da
cincia e a tecnologia (2004: 114).
11
Mas sua certeza do carter objetivo do conheci-
mento material (resistncia dos materiais, persistncia de fenmenos produzidos
por aparelhos), bem como a intervinculao entre as formas materiais e tericas de
conhecimento, o leva a evitar esse ceticismo e considerar reais nosso conhecimento
do mundo e seu aperfeioamento.
*
Acredito que Baird fez uma importante contribuio epistemologia da cincia (e
at epistemologia geral) ao defender que existem formas de conhecimento mate-
rializado. Vejo como seu principal mrito fomentar uma viso de conjunto da capa-
cidade humana de conhecimento, em que suas diversas dimenses (perceptiva, te-
rica, lingstica, prtica) so apreciadas em seu operar conjunto. A constante remis-
so a exemplos de fabricao e uso de instrumentos, e sua relao com a formulao
e teste de teorias, torna a exposio de Baird bastante convincente.
Por outra parte, e contrariamente ao que se poderia esperar de um estudioso que
enfatiza a importncia dos artefatos na produo do conhecimento, Baird nos pe
emguarda contra o excesso de conana na informao obtida mediante instrumen-
tos. Ele a denomina objetividade instrumental, uma noo que se refere tanto aos
resultados como ao mtodo utilizado. Trata-se da objetividade alcanada mediante
20 Alberto Cupani
o uso de dispositivos (geralmente, para medir) que suprimem fatores subjetivos,
eliminando supostamente a inuncia de sentimentos, preconceitos e ideologias na
obteno da informao. Sobre tudo, essa objetividade permite minimizar a ao do
juzo humano. Baird exprime seu temor de que esse culto de uma certa objetividade
ponha em perigo a adequada captao da realidade pesquisada. Utilizando-se de
exemplos tomados de diversos campos (ultra-sonograa, qumica analtica, testes de
aptido escolar), nosso autor faz ver que a disponibilidade de dados aparentemente
rigorosos no dispensa a interveno humana no processo de conhecimento; que
objetividade uma coisa, e rigor outra. Para comear, os instrumentos objetivos
foram concebidos e construdos por seres humanos, a cujas idias e intenes aque-
les instrumentos esto vinculados. Alm do mais, os mtodos objetivos no deixam
de ter s vezes resultados no objetivos, ou at erros, com os quais se deve lidar. Mais
importante ainda que este tipo de objetividade est ligada dis-capacitao (des-
killing) do operador (cuja tarefa se reduz a: apertar um boto, registrar um resultado
numrico, etc.), para quem o aparelho se torna numa caixa preta, padronizao
dos dados
12
e ao clculo da relao custo-benefcio ao apreciar a ecincia do proce-
dimento. Aquesto da objetividade extrapola assimo mbito da cincia e a tecnologia
para se converter em uma questo de economia e poltica.
H uma variedade de elementos que constituemeste ideal [de objetividade]. Sus-
tento que os dois elementos mais centrais dizem respeito a minimizar o juzo
humano e [relao] custo-ecincia. Mtodos instrumentalmente objetivos de-
vem ser simples de utilizar exigindo um mnimo de juzo humano e os re-
sultados devem ser simples de interpretar requerendo tambm um mnimo
de juzo humano. Essa simplicidade acarreta um custo: os instrumentos desen-
volvidos so usualmente caros. Mas essa despesa pode ser compensada pela ca-
pacidade dos instrumentos de realizar muitas anlises em um dado perodo de
tempo. Isto pode reduzir o custo por anlise empurrando fora do mercado, ao
mesmo tempo, os laboratrios que realizam um pequeno nmero de anlises.
Isso homogeneza nosso pensamento e concentra poder. signicativo que
aqueles dois elementos centrais estejamintervinculados, porque o juzo humano
sumamente caro: fazendo com que um pessoal menos treinado realize as an-
lises, os mtodos de objetividade instrumental diminuem o custo do trabalho de
anlise. (Baird 2004: 193)
A adoo deste tipo de atitude vai provocando uma mudana na nossa experin-
cia, argumenta Baird, pois se apela cada vez mais para anlises objetivas, tanto para
compreender o mundo quanto para agir nele.
(. . . ) uma experincia qualitativamente diferente dar a luz com um conjunto
de monitores eletrnicos. uma experincia qualitativamente diferente ensinar
e ser ensinado quando [certas] avaliaes dos estudantes instrumentos de
pesquisa da satisfao do cliente so utilizadas para avaliar o ensino. uma
experincia qualitativamente diferente fabricar ao pelos nmeros nmeros
produzidos por instrumentao analtica. A objetividade instrumental de aper-
tar o boto mudou o nosso mundo . . . (2004: 193)
A propsito da base tecnolgica do conhecimento cientco 21
Baird observa tambmque as universidades no se tminteressado empesquisar
os aspectos problemticos da objetividade instrumental, e o resultado que o desen-
volvimento e aperfeioamento dos aparelhos que a ela servem cou por conta dos
laboratrios industriais, acentuando-se assim seu carter comercial (2004: 200). Por
tudo isso, a conana neste tipo de objetividade esquece que questes de validade
repousam ultimamente no juzo humano.
O alerta de Baird pode ser reforado com uma contribuio da sociologia da tec-
nologia. Pinch e Bijker (1987) salientam que a forma e o funcionamento de um arte-
fato no resultam da evoluo linear de um projeto inicial, mas so produtos de um
complexo jogo de fatores tcnicos, econmicos, culturais e polticos.
13
Isso implica
que, no caso de dispositivos que nos auxiliam a entender o mundo, o que se consi-
dera como sua ecincia no pode ser apreciada apenas em termos de informao
mais ou menos convel por critrios epistemolgicos. Comoutras palavras: trata-se
de informao procurada, possibilitada, formulada, limitada, permitida, nanciada,
etc. por fatores sociais. Tudo isso no implica que seu valor como referncia reali-
dade pesquisada seja nulo (como acertadamente opina Baird), pormnos impede de
conarmos demasiadamente nos dados que parecem isentos de subjetividade.
14
Referncias
Baird, D. 2004. Thing Knowledge. A Philosophy of Scientic Instruments. Berkeley/Los Angeles:
University of California Press.
De Solla Price, D. 1984. Notes Towards a Philosophy of the Science/Technology Interaction.
In R. Laudan (ed.) The Nature of Technological Knowledg. Are Models of Scientic Change
Relevant? Dordrecht/London: D. Reidel, pp. 105-14.
Galison, P. 1987. How Experiments End. Chicago: University of Chicago Press.
Gooding, D. 1990. Experiment and the Making of Meaning. Dordrecht: Kluwer.
Goodman, N. 1968. Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. New York: Bobs-
Merrill.
Hacking, I. 1992. The Self-Vindication of the Laboratory Sciences. In A. Pickering (ed.) Science
as Practice and Culture, Chicago: University of Chicago Press, pp. 2964.
Latour, B. 1987. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society.
Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Pickering, A. 1995 The Mangle of Practice: Time, Agency and Science. Chicago: University of
Chicago Press.
Pinch, T. J. e Bijker, W. E. 1987. The Social Construction of Facts and Artifacts: or How the
Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benet Each Other. In Bijker,
W. E.; Hughes, T.; Pinch, T.: The Social Construction of Technological Systems. Cambridge:
The MIT Press.
Popper, K. 1972. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford: Oxford University
Press.
22 Alberto Cupani
Notas
1
Baird professor de losoa na Unversidade de South Carolina, EUA, tendo publicado um livro sobre
lgica indutiva e um outro sobre losoa da qumica, alm da obra aqui comentada.
2
Esse preconceito textual (text bias) existiria, segundo Baird, desde Plato e poderia ser detectado
at em autores que aparentemente o criticam, como Latour e Woolgar (Laboratory Life) e D. Gooding
(Experiment and the Making of Meaning).
3
Assimdenominados por causa do conde de Orrery, para quemfoi construdo umdos primeiros destes
aparelhos (Baird 2004: 21).
4
Trata-se de um tubo de vidro formando ngulos retos em cada um dos extremos, que terminam em
esferas tambm de vidro. O tubo contm gua ou lcool at a metade ou dois teros de sua capacidade,
sendo praticado o vcuo no resto. Apertando uma das esferas com a mo, o lquido levado a ebulio.
5
Note-se que, no que tange a habilidades, as que o aparelho incorpora so, de algum modo subtradas
ao usurio humano. Se por um lado isso facilita a utilizao de tais aparelhos (a pessoa no precisa
possuir as habilidades que o aparelho encarna), por outro pode conduzir a menosprezar as habilidades
pessoais. Baird faz por isso uma crtica ao que denomina predomnio da objetividade instrumental na
cincia e a tecnologia (cap. 9).
6
Latour, B. 1987, p. 304, citado por Baird.
7
Baird analisa em particular a transformao da qumica analtica em meados do sculo XX, passando
de decompor substncias a fazer a identicao fsica dos seus componentes, mediante o uso do espec-
tro-fotmetro (v. Baird 2004, cap. 5). De resto, e como conseqncia do crescente condicionamento tec-
nolgico, a cincia e a tecnologia do sculo XX tornaram-se assim, cada vez mais, disciplinas dedicadas
caracterizao e ao controle (p. 116).
8
Para Baird, so sinais dessa objetividade poder ser destacado do seu contexto de descoberta, ser ecaz
(convel) e duradouro, e estabelecer uma conexo com o mundo em que a voz deste ltimo tem
sempre a prioridade (p. 120).
9
Baird esclarece que utiliza uma noo matemtica (e no biolgica) de funo: Oque queremos um
dispositivo umartefato que associe de maneira convel insumos e produtos [inputs and outputs]
(p. 125).
10
Para sublinhar a importncia do conhecimento material(izado), Baird corrige o experimento mental
de Popper e imagina que, se ocorresse uma catstrofe em que bibliotecas forem preservadas, mas no
as mquinas, instrumentos e a nossa capacidade de usa-los e aprender deles, o retorno da civilizao
seria mais difcil do que Popper sugere (Baird 2004: 13841).
11
Baird alude especicamente s idias de Pickering (1995).
12
Vinculada ao uso da estatstica (p. 194).
13
Os autores ilustram isso com a histria da evoluo da bicicleta.
14
A presente comunicao resultado parcial da pesquisa Cincia e controle da Natureza: A dimenso
cognitiva da tecnologia, nanciada pelo CNPq.
SON NECESARIOS LOS MODELOS PARA IDENTIFICAR A LAS TEORAS?
UNA CRTICA DE LA CONCEPCIN SEMNTICA
ALEJANDRO CASSINI
CONICET/Universidad de Buenos Aires
alepafrac@yahoo.com.ar
1. Introduccin
En su breve y lcida historia de la losofa de la ciencia en el siglo XX, C. Ulises Mou-
lines caracteriza a la etapa ms reciente de esta disciplina, aquella que, segn l, co-
mienza en la dcada de 1970, como una fase modelista. Esto constituye, sin dudas,
una exageracin, ya que existen numerosos desarrollos de la losofa de la ciencia re-
ciente, por ejemplo, vinculados con temas como el descubrimiento, la conrmacin
y la explicacin de teoras, que no hacen uso de la nocin de modelo. Los modelos
cientcos, segn creo, han sido sobrevalorados por algunos lsofos de la ciencia
recientes. Con todo, la armacin de Moulines es un buen ejemplo de cmo el con-
cepto de modelo a llegado a extenderse y a volverse dominante en muchas reas de la
losofa de la ciencia durante al menos las ltimas tres dcadas. Entre aquellos desa-
rrollos ms signicativos que apelan a la nocin de modelo, la llamada concepcin
semntica de las teoras ocupa un lugar preeminente. Aunque an se encuentra le-
jos de haber obtenido la aprobacin unnime de los lsofos contemporneos de la
ciencia, ha alcanzado ya el estado de un nuevo consenso, por cuanto ha reemplazado
casi totalmente a la concepcin clsica, elaborada por el empirismo lgico en la pri-
mera mitad del siglo XX. En tal sentido, puede decirse que actualmente la concepcin
semntica constituye el anlisis standard de la estructura de las teoras cientcas. En
este trabajo quiero arriesgarme a criticar esta concepcin de las teoras y, por tanto, a
oponerme a la difundida idea de que es un hecho establecido que sta tiene ventajas
evidentes sobre otras concepciones rivales.
Para comenzar, quisiera expresar claramente cules tesis intentar defender aqu
y cules no. Ante todo, no defender la concepcin clsica de las teoras tal como
fue desarrollada por los empiristas lgicos. Esta venerable elucidacin de la estruc-
tura de las teoras se ha mostrado insostenible desde hace ya mucho tiempo y en la
actualidad no constituye siquiera un candidato viable como alternativa al enfoque
semntico. Presentar, en cambio, un enfoque de la estructura de las teoras, al que
llamar concepcin proposicional, el cual no es otra cosa que una versin de la con-
cepcin clsica despojada de todos sus aspectos cuestionables. No sostendr que el
enfoque proposicional es la mejor elucidacin de la estructura de las teoras cien-
tcas, ni tampoco argumentar que resulta superior a la concepcin semntica en
todos los respectos posibles. Hay tres tesis positivas que, sin embargo, quiero defen-
der en este trabajo. En primer lugar, sostendr que la concepcin proposicional de
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 2337.
24 Alejandro Cassini
las teoras est libre de todos los defectos y dicultades de la concepcin clsica, que,
con toda justicia, han criticado los partidarios de la concepcin semntica. En segun-
do lugar, tratar de probar que la concepcin semntica no tiene ventajas evidentes
sobre la concepcin proposicional tal como la he de presentar aqu. Finalmente, in-
tentar mostrar que la concepcin proposicional tiene al menos alguna ventaja sobre
la concepcin semntica en tanto reconstruccin racional de las teoras cientcas tal
como de hecho las formulan los cientcos.
2. La concepcin clsica
La concepcin clsica de las teoras cientcas es fundamentalmente una reconstruc-
cinracional de la estructura de las teoras empricas. La desarrollaronde manera len-
ta y gradual los lsofos vinculados al empirismo lgico desde la dcada de 1920. Su
formulacin denitiva se complet a nes de la dcada de 1950, gracias a las obras de
Hempel y, sobre todo, de Carnap.
1
Las obras de los lsofos de la ciencia de la genera-
cin inmediatamente posterior al empirismo lgico solan denominarla concepcin
heredada o concepcin standard de las teoras
2
, pero, dado el paso del tiempo y los
desarrollos que siguieron, estas expresiones han quedado anticuadas o se han vuel-
to equvocas, por lo que es mejor evitarlas. Aqu no me ocupar de la historia de la
concepcin clsica, sino de los rasgos fundamentales de su estructura.
De acuerdo con la concepcin clsica, una teora, en sentido amplio, es un con-
junto de oraciones cerrado respecto de la relacin de consecuencia lgica. Esta carac-
terizacin, sin embargo, es demasiado general y no permite distinguir entre teoras
formales y teoras empricas, una distincin tan importante para el empirismo lgi-
co. Una teora emprica es la clausura lgica de la unin de dos conjuntos disjuntos
de oraciones: un conjunto de axiomas A, y un conjunto de reglas de corresponden-
cia C (en smbolos, T Cn(AC), donde Cn es el operador de consecuencia lgica).
La concepcin clsica es tan bien conocida que no necesito exponerla con detalle.
3
Segn ella, los axiomas de una teora emprica son oraciones puramente tericas, es
decir, formadas por trminos descriptivos o no lgicos de carcter terico (o no ob-
servacional, que viene a ser lo mismo). La clausura deductiva de este conjunto de
axiomas constituye una teora o sistema formal puramente sintctico o no interpreta-
do, ya que los trminos tericos no tienen signicado por s mismos. Por su parte, las
reglas de correspondencia son oraciones mixtas, esto es, oraciones cuyo vocabulario
no lgico contiene, de una manera no trivial, al menos un trmino terico y al me-
nos un trmino observacional. Estas reglas son esencialmente reglas semnticas que
tienen como funcin principal la de conferir signicado a los postulados tericos de
una teora. Originalmente, las reglas de correspondencia se concibieron como deni-
ciones explcitas de los trminos tericos, pero pronto Carnap advirti que esta idea
era insostenible.
4
Concibi, entonces, la nocin de interpretacin parcial, de acuerdo
con la cual las reglas de correspondencia son meras deniciones parciales del signi-
cado de los trminos tericos y, en consecuencia, proveen slo una interpretacin
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras? 25
parcial de dicho signicado, que permanece siempre abierto. Podemos, entonces, re-
sumir la concepcin clsica diciendo que una teora emprica es un sistema axiom-
tico formal parcialmente interpretado por medio de un conjunto nito de reglas de
correspondencia.
Esta concepcin de las teoras fue objeto de numerosas crticas durante las dca-
das de 1960 y 1970, y, como resultado de ello, hace ya tiempo que ha sido abandonada
por la mayora de los lsofos de la ciencia. Ya no es ms la concepcin standard de
las teoras. No es mi propsito revisar aqu todas las crticas dirigidas a la concepcin
clsica desde diferentes puntos de vista.
5
Slo considerar algunas de las principales
crticas que los lsofos de la tradicin semanticista le han dirigido. En lo esencial,
pueden reducirse a las siguientes cuatro.
Primero, los semanticistas han armado que la concepcin clsica es un enfoque
puramente sintctico de las teoras, y, como tal, es incapaz de capturar la verdadera
naturaleza semntica de las teoras empricas de la ciencia. Desde mi punto de vis-
ta, esta armacin es lisa y llanamente errnea. Segn la concepcin clsica, toda
teora emprica debe estar formada por un sistema sintctico de axiomas junto con
un conjunto de reglas interpretativas de correspondencia. La clausura deductiva de
un conjunto de axiomas no interpretados no es una teora emprica, sino un sistema
axiomtico puramente formal, es decir, una teora lgica carente de todo contenido
emprico. As pues, la concepcin clsica es, desde el comienzo una concepcin se-
mntica de las teoras empricas.
Segundo, los semanticistas han sostenido que, para la concepcin clsica, una
teora es una entidad lingstica y que, por esa razn, est indisolublemente ligada
a un lenguaje determinado en el cual se la formula. De este hecho se sigue que un
simple cambio en el lenguaje en el que est formulada una teora implica un cambio
de teora, cosa que resulta obviamente absurda. Por otra parte, segn los semanticis-
tas, es evidente que una misma teora puede formularse en diferentes lenguajes sin
perder su identidad. Esta crtica, como veremos, es correcta en tanto las teoras se
conciban como conjuntos de oraciones, que siempre son oraciones de un determi-
nado lenguaje.
Tercero, los semanticistas han argumentado que, como consecuencia de su ca-
rcter lingstico, la concepcin clsica no puede distinguir entre una teora y sus
diferentes formulaciones, todas ellas lgicamente equivalentes. Para muchos seman-
ticistas, este es el defecto principal de la concepcin clsica.
6
Esta crtica es correcta,
al menos en parte. Ante todo, para la concepcin clsica una teora, tal como la he
denido antes, no es una entidad lingstica, sino una entidad abstracta. Es un con-
junto de oraciones y no un simple agregado o coleccin de oraciones. No obstante, es
cierto que la identidad de cada oracin depende del lenguaje en el que se encuentra
formulada. En consecuencia, un cambio del lenguaje de una teora producir como
resultado un nuevo conjunto de oraciones y, por tanto, otra teora diferente.
Cuarto y ltimo, los semanticistas han sealado que, segn la concepcin clsica,
las teoras son entidades rgidas que no pueden experimentar ningn cambio sin per-
26 Alejandro Cassini
der su identidad. En contraste con ello, arman que la historia de la ciencia muestra
que las teoras cientcas son frecuentemente modicadas; experimentan toda clase
de revisiones y cambios y, sin embargo, son capaces de mantener su identidad. La
primera de estas armaciones es indudablemente verdadera. Si las teoras son con-
juntos de oraciones, entonces, son inmodicables. En efecto, un conjunto de oracio-
nes, como cualquier otro conjunto, est determinado por sus elementos, por lo que
su identidad se pierde cuando se cambia algn elemento. As, si agregramos o qui-
tramos una sola oracin a una teora dada, estaramos cambiando la teora misma.
Por consiguiente, el dictum segn el cual todo cambio en una teora es un cambio de
teora resulta verdadero respecto de la concepcin clsica de las teoras. En cuanto a
la segunda armacin, que las teoras cambian manteniendo su identidad, argumen-
tar en la prxima seccin que hay buenas razones para pensar que es falsa y que, por
tanto, la rigidez de las teoras no es un defecto que deba remediarse.
Como dije al comienzo de esta seccin, creo que la concepcin clsica no es ms
un candidato serio para proporcionar un anlisis plausible de la estructura de las teo-
ras empricas. Con todo, las crticas que me parecen fatales para esta concepcin no
son las que le han hecho los semanticistas. El problema principal del enfoque clsico
es que, despus de muchos intentos, nadie fue capaz de esclarecer las nociones de
denicin parcial e interpretacin parcial. La oscuridad de estas nociones arruina el
concepto mismo de regla de correspondencia, y, privada de las reglas de correspon-
dencia, la concepcin clsica colapsa, ya que se vuelve incapaz de distinguir entre
teoras formales y teoras empricas, y, en ltima instancia, entre ciencias formales
y fcticas. Retrospectivamente podramos decir que la raz del problema se encon-
traba en una teora del signicado insostenible, teora en realidad nunca formulada
de manera explcita, pero presupuesta en la distincin entre trminos tericos y ob-
servacionales. Con el derrumbe de esta dicotoma lingstica, ya a comienzos de la
dcada de 1960, la concepcin clsica se volvi insostenible.
7
3. La concepcin semntica
La llamada concepcin semntica de las teoras empricas la desarrollaron desde -
nes de la dcada de 1950 Patrick Suppes y muchos otros lsofos de la ciencia, como
Joseph Sneed y Bas Van Fraassen. Hacia mediados de la dcada de 1970 ya se haba
establecido como la principal alternativa a la decadente concepcin clsica. Existen
numerosas variedades del enfoque semntico de las teoras, pero no intentar exa-
minarlos aqu.
8
Me limitar a caracterizar ciertos rasgos generales que son comunes
a todas las variedades semanticistas, y luego sealar dnde se encuentran los prin-
cipales desacuerdos entre ellos.
Todos los lsofos semanticistas estn de acuerdo en que las teoras no son enti-
dades lingsticas y tambin en que los recursos de un determinado lenguaje no son
los instrumentos apropiados para individuar a las teoras. Segn ellos, las teoras em-
pricas se caracterizan mejor en trminos de modelos porque aquello que determina
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras? 27
la identidad de una teora es una clase de modelos y no una clase de oraciones. Con-
secuentemente, proponen denir a las teoras como familias de modelos. Frederick
Suppe lamenta que la riqueza de la concepcinsemntica a menudo se reduzca a una
nica expresin como las teoras son colecciones de modelos (Suppe 2000, p. 111).
Seala que se trata de un enfoque mucho ms complejo y sosticado que lo que su-
giere esa expresin. Esto es indudablemente cierto de cualquiera de las versiones de
la concepcin semntica en particular, entre ellas la del propio Suppe. Sin embar-
go, no resulta fcil hallar un conjunto sustantivo de caractersticas comunes a todas
las diferentes concepciones semnticas. Pienso que el siguiente enunciado captura el
ncleo fundamental de toda concepcin semntica de las teoras cientcas:
La concepcin semntica: una teora emprica es una coleccin de modelos M
que satisfacen ciertas condiciones C y estn relacionados entre s por una rela-
cin R.
Procedamos ahora a esclarecer cada uno de los componentes de esta denicin.
En primer lugar, una teora no es un conjunto de modelos, sino una coleccin de mo-
delos, donde el trmino coleccindebe tomarse enunsentido intuitivo, no conjuntis-
ta. En segundo lugar, no todo modelo, en cualquier sentido que se emplee el trmino,
es un modelo cientco o un posible modelo de una teora. Slo son modelos de una
teora aquellos que satisfacen ciertas condiciones, que cada variedad de la concep-
cin semntica debe establecer como necesarias. En tercer lugar, no toda coleccin
de modelos que cumple con dichas condiciones es un modelo de una y la misma teo-
ra. Los modelos de cada teora deben estar relacionados por alguna relacin bien de-
nida. Enel fondo, las distintas variedades de la concepcinsemntica resultande las
diferentes maneras de concebir M, C y R. Esto equivale a decir que los semanticistas
estn en desacuerdo acerca de qu es un modelo, acerca de qu es lo que convierte a
un modelo en un modelo de una teora y acerca de qu tipo de relacin conecta entre
s a los diferentes modelos de una teora determinada.
El segundo rasgo comn a todas las concepciones semnticas es que los modelos
se conciben como representaciones de los fenmenos (donde fenmeno debe en-
tenderse en un sentido muy amplio como cualquier porcin selecta de la realidad o
de la experiencia). Aunque no necesariamente toda parte o elemento de un mode-
lo cientco representa algn fenmeno, los semanticistas siempre sostuvieron que
todos los modelos de una teora dada son modelos representacionales porque tienen
al menos algn componente con carcter representativo. Podemos formular esa tesis
de la siguiente manera:
La tesis representacionista: Todo modelo M de una teora dada contiene al me-
nos un submodelo M
s
(donde M
s
M) que representa algn conjunto selecto
de fenmenos.
Creo que todos los semanticistas estaran de acuerdo sobre esta tesis general tal
como la he formulado. No hace falta decir que no existe acuerdo alguno entre ellos
28 Alejandro Cassini
acerca de cmo los modelos representan y, sobre todo, acerca de qu es una repre-
sentacin en general. Las dos maneras fundamentales de representacin que propu-
sieron los semanticistas son el isomorsmo entre estructuras (o bien el homomors-
mo u otros morsmos) y la semejanza entre modelos y sistemas reales. De acuerdo
con la primera concepcin, sostenida por Suppes, Sneed y los estructuralistas, y Van
Fraassen, entre otros, los modelos de una teora tienen alguna relacin de morsmo
con los modelos de datos (que tambin pueden concebirse como estructuras conjun-
tistas) y de esta manera representan los fenmenos. Segn este enfoque, la repre-
sentacin es esencialmente un morsmo entre modelos o estructuras conjuntistas.
De acuerdo con la segunda concepcin, sostenida principalmente por Giere, los mo-
delos tienen una relacin de semejanza con los sistemas reales que representan, de
modo que la relacin entre modelos y realidad puede establecerse de un modo di-
recto (aunque tambin, por cierto, a travs de modelos de datos). Para este enfoque,
la representacin es una relacin de semejanza entre modelos abstractos y sistemas
reales concretos. Ambas maneras de concebir la representacin cientca han sido
sometidas a severas crticas
9
. Me parece evidente que hasta el momento no tenemos
una teora satisfactoria de la representacin cientca, ni de los modelos cientcos
en general.
Creo que la tesis representacionista es lgicamente independiente de la concep-
cin semntica de las teoras, tal como la he denido antes. Es un hecho puramente
accidental que todos los semanticistas que he mencionado sean tambin represen-
tacionistas. Por supuesto, es posible establecer por denicin que todos los modelos
de cualquier teora emprica son representaciones de los fenmenos, esto es, que lla-
maremos modelos slo a los modelos representacionales. No me parece que esta
sea una estrategia muy atractiva, pero, en cualquier caso, no puede aceptarse sin al-
guna justicacin. En principio, est lejos de ser evidente que todos los modelos que
emplean los cientcos sean modelos representacionales. Por otra parte, si la inten-
cin de representar los fenmenos por parte del usuario se admite como una condi-
cin necesaria, aunque no suciente, de toda representacin, creo que, como nos lo
muestra la historia de la ciencia reciente, muchos modelos cientcos se construyen
sin ninguna intencin de representar. Se los emplea de una manera puramente ins-
trumental para dar cuenta de los fenmenos y efectuar predicciones en determina-
dos dominios bien acotados. Po ltimo, todava no poseemos ningn criterio general
para distinguir las representaciones adecuadas de las inadecuadas, ni a stas de los
modelos que no representan. Intuitivamente, parece plausible pensar que el modelo
de la doble hlice del ADN es una representacin adecuada de la estructura de esta
molcula, mientras que el modelo de la triple hlice no lo es. Pero en otros casos la
situacin no es clara. Si, por ejemplo, intentramos emplear un reloj como modelo de
la estructura de la molcula de ADN estaramos usando una representacin inade-
cuada, o un modelo que no representa, o ningn modelo en absoluto? La respuesta,
por supuesto, depende de qu se entienda por representacin. Pero es obvio que si
la mera intencin de representar algo fuera suciente para producir un modelo re-
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras? 29
presentativo, entonces, cualquier objeto podra representar a cualquier otro, lo cual
volvera trivial a la nocin misma de representacin.
No intentar abordar aqu el problema de si la bsqueda de una teora general de
la representacin cientca es una empresa viable. Slo quiero hacer una observacin
de carcter escptico acerca de tal empresa. El concepto de representacin tiene una
larga historia en la tradicin losca que comienza en la Edad Media. En la losofa
actual ha sido extensamente discutido en los dominios de la losofa de la mente y de
la losofa del lenguaje, entre otras disciplinas, y, me atrevo a decir, con magros resul-
tados en todos los casos. Todava no tenemos un anlisis satisfactorio de las nociones
de representacin mental y representacin lingstica, y mucho menos, del concepto
de representacin en general. Creo que sin disponer de una teora general de la repre-
sentacin no podemos esperar mucho de una teora de la representacin cientca.
Hasta el momento, los lsofos de la ciencia se han limitado a usar el concepto de
representacin como un primitivo no analizado, o a proponer elucidaciones vagas,
cuando no directamente circulares.
10
La concepcin semntica de las teoras se ha
denido siempre en oposicin a la concepcin clsica. Como ya he sealado, muchas
de las crticas que los semanticistas dirigieron a la concepcin clsica no me parecen
acertadas. Ante todo, la concepcin clsica no es puramente sintctica, como todava
se arma con frecuencia. Recientemente, Suppe ha reconocido este hecho.
11
En reali-
dad, debera decirse que es una concepcin esencialmente semntica de las teoras
empricas porque, como ya dijimos, un sistema axiomtico puramente sintctico es
una teora formal, pero no una teora emprica. Por cierto, todo sistema semntico,
esto es, interpretado, tiene una sintaxis denida, pero no se sigue de all que sea algo
as como un sistema parcialmente sintctico. Lo que es caracterstico de la concep-
cinclsica es el hecho de especicar separadamente la sintaxis y la semntica de una
teora por medio de dos conjuntos disjuntos de oraciones, pero ello no implica que
estas dos dimensiones sean independientes o autnomas. Como consecuencia de to-
do esto, la oposicin entre una supuesta concepcin sintctica de las teoras y una
concepcin semntica no captura ninguna diferencia esencial respecto de la concep-
cin clsica. Es conveniente abandonar completamente este modo de hablar, como
lo ha sugerido Giere, y llamar a la concepcin semntica enfoque modelo-terico de
las teoras empricas.
12
Igualmente, es incorrecto llamar enunciativa y axiomti-
ca a la concepcin clsica de las teoras y proclamar que la concepcin modelstica
o semntica es no enunciativa y no axiomtica.
13
Es un hecho trivialmente verda-
dero que todo modelo de una teora se presenta en un determinado lenguaje y, casi
siempre, mediante una lista de axiomas o esquemas de axiomas. Cuando presentan
una teora, reconstruida segn los cnones de cada versin semntica, los semanti-
cistas no hacen otra cosa que ofrecer una lista de axiomas formulados en un lenguaje
determinado.
14
Y, en verdad, no hay otra manera de hacerlo. Simplemente, la teora
presentada no debe identicarse con ese particular conjunto de axiomas en ese par-
ticular lenguaje. En ese punto, los semanticistas estn en lo correcto. Sin embargo, no
se sigue de all que la teora deba identicarse con la clase de los modelos que satisfa-
30 Alejandro Cassini
cen esos axiomas, como se ver enseguida. Por otra parte, las teoras, segn muchas
concepciones semnticas, tienen un componente lingstico o enunciativo. ste es-
t formado por las oraciones que arman que un modelo de determinada teora se
aplica a un cierto dominio de fenmenos, o bien que un determinado modelo es se-
mejante a un cierto sistema real. Giere las denomina hiptesis tericas, mientras
que los estructuralistas las llaman armaciones empricas.
15
Si atendemos, enton-
ces, a las formulaciones de una teora, la concepcin semntica es tan enunciativa y
axiomtica como la concepcin clsica.
Con todo, no se trata de concepciones equivalentes. La diferencia fundamental
entre ellas se encuentra en la manera de identicar o individuar a las teoras. El n-
cleo vlido de la crtica semanticista a la concepcinclsica radica enla armacinde
que sta ltima no es capaz de distinguir entre una teora, que es una entidad abstrac-
ta, y sus diferentes formulaciones, que son entidades lingsticas. Este hecho tiene la
desafortunada consecuencia de identicar a una determinada teora con alguna de
sus formulaciones, por ejemplo, con una cierta base axiomtica, histricamente con-
tingente. Esto es ciertamente el resultado de una manera equivocada de identicar a
las teoras. Dado que es unhecho indiscutible que una misma teora admite axiomati-
zaciones diferentes, que pueden expresarse en distintos lenguajes, formalizados o no,
cualquier enfoque viable de las teoras cientcas debe proporcionar los medios para
distinguir una teora de sus distintas formulaciones lingsticas. En la prxima sec-
cin presentar una concepcin de las teoras, alternativa a la concepcin semntica,
que permite hacer esta distincin y, a la vez, est libre de los problemas y oscuridades
que aquejan a la concepcin clsica.
4. La concepcin proposicional
La concepcin de las teoras que quiero defender aqu es la que llamar proposicio-
nal. No es ms que la nocin usual de teora que se emplea en lgica, pero formula-
da en trminos de proposiciones en vez de oraciones o enunciados. De acuerdo con
esta concepcin, una teora es simplemente un conjunto de proposiciones cerrado
respecto de la relacin de consecuencia lgica. Las proposiciones no son entidades
lingsticas, sino entidades abstractas portadoras de signicado y de valor de verdad.
Por supuesto, las proposiciones se expresan lingsticamente mediante oraciones de
un determinado lenguaje. Decimos que dos oraciones diferentes expresan la misma
proposicin si y slo si son lgicamente equivalentes. La relacin de consecuencia
lgica es una relacin semntica entre proposiciones, que establece que si una pro-
posicin es consecuencia lgica de un conjunto de proposiciones, entonces, no
es posible que todas las proposiciones de sean verdaderas, y sea falsa.
16
La re-
lacin de consecuencia lgica establece un orden parcial entre las proposiciones de
una teora.
Una teora puede estar axiomatizada o no, pero, por razones de simplicidad, con-
siderar slo el caso de las teoras nitamente axiomatizables. As, dir que una teora
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras? 31
es el conjunto de todas las consecuencias lgicas de un conjunto nito de proposi-
ciones, convencionalmente llamados axiomas, el cual es un subconjunto propio del
conjunto de las proposiciones de la teora. Una misma teora admite diferentes axio-
matizaciones mediante diferentes bases axiomticas. Decimos que A
1
y A
2
son dos
bases axiomticas para la teora T si y slo si sus clausuras lgicas son idnticas a T
(en smbolos: Cn(A
1
) T Cn(A
2
)).
Distinguir ahora una teora de sus formulaciones. Una formulacin de una teo-
ra es un conjunto de oraciones que expresa esa teora. Decimos, entonces, que T
1
y
T
2
son dos formulaciones de una teora T si y slo si expresan las mismas proposi-
ciones, esto es, si son lgicamente equivalentes. Si quisiramos evitar el compromiso
ontolgico conentidades abstractas como las proposiciones, podramos denir a una
teora como la clase de equivalencia de todas sus formulaciones, tal como lo hiciera
Quine.
17
En cualquier caso, las clases de equivalencia tambin son entidades abstrac-
tas, de modo que no se advierte ganancia alguna en esta estrategia: debemos aceptar
conjuntos o proposiciones (las cuales, a su vez, pueden denirse en trminos de con-
juntos, esto es, como conjuntos de mundos posibles).
Soy perfectamente consciente de que, en la prctica, determinar que dos conjun-
tos diferentes de oraciones, por ejemplo dos bases axiomticas, son dos formulacio-
nes de una misma teora no es una tarea sencilla. Si las formulaciones estn expre-
sadas en lenguajes distintos, uno puede verse envuelto en problemas muy complejos
de traduccin y en cuestiones sutiles de identicacin de signicados. Con todo, la
distincin entre teora y formulaciones que he presentado es una distincin de prin-
cipio que se basa en deniciones claras y precisas, independientemente de lo difcil
que de hecho pueda resultar la identicacin de las diferentes formulaciones de una
teora dada.
Una teora, de acuerdo con el enfoque proposicional, no necesita estar forma-
lizada ni presentada en algn tipo especco de lenguaje. En principio, una misma
teora se puede formular en distintos lenguajes y mediante diversos recursos lgicos
y matemticos. La eleccin de un lenguaje determinado es una cuestin fundamen-
talmente pragmtica, basada en consideraciones de simplicidad o utilidad para un
n especco. Sea cual fuere el lenguaje que se elija para formular una teora, no es
necesario hacer ninguna distincin, en el vocabulario de dicha teora, entre trminos
tericos y observacionales. Tampoco se requiere ninguna distincin entre postulados
tericos y reglas de correspondencia, como en la concepcin clsica. Una teora no
es una entidad lingstica ni un sistema puramente sintctico, sino un conjunto de
proposiciones signicativas formuladas en un lenguaje interpretado. Las teoras no
requieren estar axiomatizadas. Si son axiomatizables, su axiomatizacin efectiva es la
manera ms simple y conveniente de presentarlas. La concepcin proposicional no
identica a una teora con alguna de sus posibles axiomatizaciones en un lenguaje
determinado. Ninguna base axiomtica es privilegiada desde el punto de vista lgi-
co: una misma teora se puede presentar mediante bases axiomticas muy diferen-
tes, cuya eleccin tambin depende de factores pragmticos. Una teora se identica
32 Alejandro Cassini
siempre como el conjunto de todas las consecuencias lgicas de un conjunto dado de
axiomas, pero cualquier otro conjunto de axiomas que tenga las mismas consecuen-
cias identica a la misma teora.
Hay dos objeciones importantes que se han presentado contra la idea de con-
cebir a las teoras como la clausura lgica de un conjunto de axiomas.
18
La primera
arma que apelar a las consecuencias lgicas de un conjunto de axiomas no es su-
ciente para identicar una teora, puesto que un conjunto de axiomas A
1
junto con
sus consecuencias lgicas es un conjunto diferente de otro conjunto de axiomas A
2
junto con sus consecuencias lgicas, aunque stas sean idnticas a las primeras. Esto
es, los conjuntos A
1
,Cn(A
1
) y A
2
,Cn(A
2
) son conjuntos diferentes, aun cuando
Cn(A
1
) Cn(A
2
). Mi respuesta a este argumento es que se basa en una representa-
cin simblica inadecuada de las teoras axiomatizadas. Una teora T axiomatizada
mediante la base axiomtica A debe representarse exclusivamente como el conjunto
de las consecuencias de A (es decir, T Cn(A)) y no como el par ordenado A,Cn(A).
La segunda objecin es que la denicin habitual de consecuencia lgica emplea
el concepto mismo de modelo. Segn esta denicin, una oracin , formulada en
un lenguaje L, es consecuencia lgica de un conjunto de oraciones de L si y slo si
es verdadera en todo modelo de . Por consiguiente, hablar del conjunto de todas
las consecuencias lgicas de un conjunto de axiomas A no es ms que una manera
disfrazada o indirecta de hablar de la clase de todos los modelos de A. Mi respuesta
a esta objecin tiene dos partes. En primer lugar, si la nocin de consecuencia lgi-
ca slo pudiera denirse empleando el concepto de modelo, esto no nos forzara a
identicar a las teoras con una coleccin de modelos. En segundo lugar, si bien la ca-
racterizacin de la relacin de consecuencia lgica en trminos de modelos es simple
y elegante, no es en modo alguno la nica posible. Hay muchas otras deniciones de
esta relacin, como la que present al comienzo de esta seccin, que no hacen uso de
la nocin de modelo.
19
Por tanto, el argumento no puede aplicarse a otras caracteri-
zaciones de consecuencia lgica.
Mi balance provisional hasta aqu es que la concepcin proposicional de las teo-
ras no se ve afectada por tres de las cuatro crticas semanticistas a la concepcin
clsica que seal antes: no es un enfoque sintctico, no concibe a las teoras como
entidades lingsticas, ni es incapaz de distinguir entre una teora y sus diferentes
formulaciones. Nos queda por tratar slo el problema de la rigidez de las teoras.
Un conjunto de proposiciones, como cualquier otro conjunto, est determinado
por sus elementos y no puede ser modicado, en el sentido de que no se le pueden
agregar o quitar elementos sin afectar su identidad. En consecuencia, segn la con-
cepcin proposicional, las teoras son entidades rgidas y bien denidas, y no pueden
modicarse sin perder su identidad. Sin duda, es posible modicar la formulacin de
una teora sin cambiar a la teora misma, por ejemplo, cambiando el lenguaje en el
que se la expresa, o reemplazando su base axiomtica por otra lgicamente equiva-
lente. Estos son casos de simple reformulacin de la teora. No obstante, todo cambio
que implique agregar o quitar proposiciones de una teora, o ambas cosas, resulta un
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras? 33
cambio de teora. Es este rasgo un defecto de la concepcin proposicional? Segn mi
opinin, no lo es necesariamente.
Algunos partidarios de la concepcin semntica, como Giere, han sostenido que
las teoras cientcas no son entidades bien denidas y que este hecho hace que las
teoras sean exibles, es decir, permite agregar o quitar modelos de una teora deter-
minada sin afectar su identidad (Giere 1988, p. 86). Sin embargo, parece evidente que
una teora no puede mantener su identidad si se cambian todos sus modelos, o inclu-
so la gran mayora de ellos. Para poder dar cuenta de la exibilidad de las teoras es
necesario introducir alguna distincin entre modelos centrales y modelos perifricos
de la teora. As, una teora se mantiene idntica en la medida en que slo se le agre-
guen o quiten modelos perifricos. Si se cambia algn modelo central, se produce un
cambio de teora. De esta manera, la teora se vuelve rgida respecto de los modelos
centrales y slo es exible respecto de sus modelos perifricos. En la concepcin es-
tructuralista, por su parte, se distingue entre el ncleo terico, que contiene las leyes
fundamentales de la teora, y las aplicaciones pretendidas de la teora. La identidad
de una teora, en este caso, se mantiene si se cambian las aplicaciones, pero no el
ncleo.
20
Si no distingue ninguna parte nuclear e inmodicable de la teora, enton-
ces, no es posible diferenciar entre uncambio enuna teora determinada y uncambio
de teora. Si el ncleo de la teora no fuera rgido, el problema vuelve a reproducirse.
Se advierte, entonces, que un algn tipo de rigidez de la teora, aunque slo sea de
un ncleo especco de modelos, es indispensable incluso dentro de la concepcin
semntica.
En la concepcin proposicional de las teoras no es posible hacer una distincin
entre ncleo y periferia dentro de una teora, pues, todos los axiomas de cada formu-
lacin, si son independientes, resultan esenciales para determinar a la teora misma.
Por tanto, la totalidad de la teora es rgida y no puede modicarse sin producir un
cambio de teora. As, a diferencia de lo que ocurre en la concepcin semntica, en
la concepcin proposicional no pueden distinguirse los cambios en una teora (salvo
que sean reformulaciones) de los cambios de teora. No obstante, esta rigidez, en mi
opinin, resulta bastante razonable cuando se presta atencin a las implicaciones del
cambio de teora en la concepcin proposicional. Una teora es siempre un conjun-
to innito de proposiciones al que no se le pueden agregar ni quitar proposiciones
aisladas, ni tampoco conjuntos nitos de proposiciones. Esta es una consecuencia
inevitable de la clausura deductiva de las teoras. As pues, cada vez que agregamos
o quitamos una proposicin de una teora dada, estamos agregando o quitando a la
vez todas sus consecuencias lgicas, junto con todas las consecuencias lgicas que
dicha proposicin tiene en conjuncin con las restantes proposiciones de la teora.
Este hecho es particularmente evidente cuando se trata de una teora axiomatizada,
donde slo es posible modicarla agregando, quitando o reemplazando al menos un
axioma. En suma, slo se puede cambiar una teora agregando o quitando (o ambas
cosas) conjuntos innitos de proposiciones. Por consiguiente, dos teoras diferentes
siempre deben tener un nmero innito de proposiciones que no son comunes a las
34 Alejandro Cassini
dos (esto es, si T /T
, entonces, T T
, o T
T, o ambos, son conjuntos innitos).
Me parece que este hecho hace ms razonable pensar que todo cambio en una teora
es a la vez un cambio de teora.
5. Conclusiones
La concepcin proposicional de las teoras, que aqu present de manera sumamente
esquemtica, est libre de las principales dicultades que los semanticistasatribuyen
a la concepcin clsica. No es una concepcin sintctica de las teoras; no las concibe
como entidades lingsticas, sino como entidades abstractas; distingue entre una teo-
ra y sus diferentes formulaciones, sin identicar a una teora con una determinada
formulacin axiomtica en un lenguaje determinado. Segn la concepcin proposi-
cional, las teoras son entidades bien denidas y perfectamente rgidas, como lo es
cualquier conjunto: admiten diferentes formulaciones, pero no pueden preservar su
identidad cuando se les quitan o agregan proposiciones.
La concepcin semntica resuelve efectivamente algunas de los problemas de la
concepcin clsica, pero no me parece que tenga ventajas evidentes sobre la concep-
cin proposicional que he presentado. Una comparacin detallada entre la concep-
cin semntica y la concepcin proposicional de las teoras es una tarea extensa, que
todava est por hacerse. Se podra preguntar, sin embargo, si la concepcin proposi-
cional tiene alguna ventaja evidente sobre la concepcin semntica, como ha hecho
Van Fraassen.
21
Encuentro al menos la siguiente.
En la concepcin proposicional es perfectamente posible que una teora sea l-
gicamente inconsistente, o bien que sea consistente, pero no tenga modelos. Segn
la concepcin semntica, ninguna de las dos cosas podra ocurrir. Si el concepto de
modelo se entiende en el signicado habitual que tiene en la teora de modelos (co-
mo una estructura en la que son verdaderas todas las proposiciones de una teora),
es evidente que las teoras inconsistentes no tienen modelos. As, para todas las con-
cepciones semnticas que emplean este concepto de modelo, como la de Suppes, los
estructuralistas o la de Van Fraassen, la consistencia resulta una condicin necesaria
para toda teora. Dado que las teoras son colecciones de modelos, no puede existir
algo as como una teora inconsistente. Esto ciertamente no resulta compatible con el
uso y la prctica de los cientcos, sobre todo en matemticas, pero tambin en fsica
terica, donde el problema de la consistencia de las teoras se considera particular-
mente importante y donde es habitual hablar de teoras inconsistentes. Los semanti-
cistas podranreplicar que una teora no es solamente una coleccinde modelos, sino
que tambin contiene armaciones empricas o hiptesis tericas, las cuales, puesto
que son oraciones, pueden ser inconsistentes. Sin embargo, el argumento todava se
aplica si poseer una coleccin de modelos es una condicin necesaria de toda teora.
Y efectivamente lo es, ya que las armaciones empricas y las hiptesis tericas son
oraciones que especican la relacin entre los modelos de la teora y los fenmenos.
De modo que una teora que no tiene modelos tampoco puede contener armaciones
empricas o hiptesis tericas.
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras? 35
Las teoras inconsistentes no tienen modelos, pero si una teora es consistente no
se sigue que siempre los tenga. Para las teoras de primer orden es verdadera la equi-
valencia entre consistencia y satisfacibilidad, ya que toda teora consistente de pri-
mer orden tiene al menos un modelo (lo cual no implica, por supuesto, que siempre
podamos conocerlo). En cambio, esta equivalencia no se mantiene para las teoras
formuladas en lenguajes de segundo orden o de orden superior. Existen teoras de
orden superior que no tienen modelos, y se puede probar que no los tienen, aunque
sean consistentes. La concepcin semntica no puede acomodar esta clase de teoras.
En conclusin, no parece que sea razonable hacer de la consistencia una condi-
cin necesaria de toda teora, ni excluir a priori las teoras consistentes que no tienen
modelos, aunque se trate de teoras puramente formales o matemticas. La concep-
cin proposicional no tiene ninguno de estos dos problemas. Aqu se advierte que la
concepcin proposicional y la concepcin semntica no son equivalentes. En la con-
cepcin proposicional una teora puede ser consistente o inconsistente y tener o no
tener modelos, sin que por ello deje de ser una teora. Por esta razn, me parece ms
satisfactoria, al menos respecto de estos aspectos, que la concepcin semntica.
Bibliografa
Balzer, W. 1997. Teoras empricas: modelos, estructuras y ejemplos. Madrid: Alianza.
Balzer, W., Moulines, C. U. y Sneed, J. 1987. An Architectonic for Science. Dordrecht: Reidel.
Braithwaite, R. B. 1953. Scientic Explanation. Cambridge: Cambridge University Press.
Carnap, R. 19361937. Testability and Meaning. Philosophy of Science 3: 42068 y 4: 140.
. 1956. The Methodological Character of Theoretical Concepts. En: Feigl, H. and Scriven,
M. (eds.) Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol II, Minnesota: University of
Minnesota Press, pp. 3876.
Da Costa, N. C. A. y French, S. 2003. Science and Partial Truth: A Unitary Approach to Models
and Scientic Reasoning. New York: Oxford University Press.
Dez, J. A. y Moulines, C. U. 1997. Fundamentos de losofa de la ciencia. Barcelona: Ariel.
Frigg, R. 2006. Scientic Representation and the Semantic View of Theories. Theoria (Espaa)
55: 4965.
Giere, R. 1988. Explaining Science: ACognitive Approach. Chicago: University of ChicagoPress.
. 1997. Understanding Scientic Reasoning. Fourth Edition. New York: Harcourt Brace.
. 1999. Science Without Laws. Chicago: University of Chicago Press.
. 2000. Theories. En: Newton-Smith, W. (ed.), A Companion to the Philosophy of Science.
London: Blackwell, pp. 51524.
. 2006. Scientic Perspectivism. Chicago: University of Chicago Press.
Hanson, N. R. 1958. Patterns of Discovery. Cambridge: Cambridge University Press.
Hempel, C. G. 1952. Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press.
McKinsey, J. J.; Sugar, A. C.; Suppes, P. 1953. Axiomatic Foundations of Classical Particle Me-
chanics. Journal of Rational Mechanics and Analysis 2: 25372.
Moulines, C. U. 2006. La philosophie des sciences: Linvention dune discipline. Paris: ditions
Rue d Ulm.
36 Alejandro Cassini
Putnam, H. 1962. What Theories Are Not. En: Nagel, E., Suppes, P. y Tarski, A. (eds.) Logic,
Methodology, and Philosophy of Science: Proceedings of the 1960 International Congress.
Stanford: University of Stanford Press, pp. 24051.
Quine, W. V. O. 1975. On Empirically Equivalent Systems of the World. Erkenntnis 9: 31328.
Shapiro, S. 2005. Logical Consequence, Proof Theory, and Model Theory. En: Shapiro, S. (ed.)
The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic. New York: Oxford Univer-
sity Press, pp. 65170.
Sneed, J. 1971. The Logical Structure of Mathematical Physics. Dordrecht: Reidel.
Stegmller, W. 1970. Theorie und Erfahrung. Heidelberg: Springer-Verlag.
. 1973. Theorienstruktur und Theoriendynamik. Heidelberg: Springer-Verlag.
. 1979 The Structuralist View of Theories. Berlin: Springer-Verlag.
Suppe, F. (ed.) 1977. The Structure of Scientic Theories. SecondEdition. Urbana-Chicago: Uni-
versity of Illinois Press.
Suppe, F. 1989. Scientic Realism and the Semantic Conception of Theories. Urbana-Chicago:
University of Illinois Press.
. 2000. Understanding Scientic Theories: An Assessment of Developments, 1969-1998.
Philosophy of Science 67: S102S115.
Suppes, P. 1957. Introduction to Logic. New York: Van Nostrand.
. 2002. Representation and Invariance of Scientic Structures. Stanford: CSLI Publications.
Van Fraassen, B. C. 1980. The Scientic Image. Oxford: Clarendon Press.
. 1989. Laws and Simmetry. Oxford: Clarendon Press.
Notas
1
Vase, entre otros, los trabajos clsicos de Hempel (1952) y Carnap (1956). La elaboracin ms detalla-
da de la concepcin clsica posiblemente sea el libro de Braithwaite (1953).
2
El ejemplo ms conocido es el libro de Suppe (1977) (cuya primera edicin es de 1974), que acu la
expresin Received View of theories.
3
La exposicin ms complete del desarrollo histrico y de la estructura lgica de la concepcin clsica
se encuentra en Suppe 1977, pp. 661.
4
Carnap 19361937 es el lugar clsico para la discusin de esta cuestin.
5
Vase Suppe 1977, pp. 3877, para una crtica detallada del concepto de interpretacin parcial y de la
teora del signicado asociada con l.
6
Van Fraassen, por ejemplo, expresa esta idea en los siguientes trminos: En toda tragedia, sospecha-
mos que un error crucial se cometi en el comienzo mismo. El error, segn pienso, fue confundir una
teora con la formulacin de una teora en un lenguaje en particular (Van Fraassen 1989, p. 221).
7
Hanson 1958 y Putnam 1962 son dos de las crticas pioneras a la distincin terico-observacional.
Suppe 1989, pp. 3854 resume bien las crticas al concepto de interpretacin parcial.
8
Vase, por ejemplo, Suppe 2000, para una descripcin breve de las diferentes concepciones semnti-
cas. La llamada familia semanticista incluye, entre otros, la axiomatizacin mediante predicados con-
juntistas de Suppes (Suppes 1957 y 2002); la concepcinestructuralista de Sneedy sus seguidores (Sneed
1971; Stegmller 1973 y 1979; Balzer, Moulines y Sneed 1987); el enfoque de espacios de estado de Van
Fraaseen y Suppe (Van Fraassen 1980 y 1989; Suppe 1989); la concepcin modelstica informal de Gie-
re (Giere 1988, 1999 y 2006) y la concepcin de estructuras parciales de Da Costa y French (Da Costa
y French 2003). Una comparacin entre las diferentes concepciones semanticistas est ms all de los
lmites de este trabajo.
9
Vase Frigg 2006, para un anlisis crtico de estos modos de representacin y otras referencias sobre el
tema.
Son Necesarios los Modelos para Identicar a las Teoras? 37
10
As, por ejemplo, Suppes escribe que . . . una representacin de algo es una imagen, modelo o repro-
duccin de esa cosa (Suppes 2002, p. 51). Ciertamente, esta denicin no ayuda mucho a comprender
en qu consiste el carcter representativo de un modelo.
11
Al respecto dice que la Concepcin Heredada tiene un componente semntico y no es totalmente
sintctica (Suppe 2000, pp. 1034). Uno se pregunta cmo una teora podra ser parcialmente sintc-
tica.
12
Giere lo expresa de esta manera: De hecho, uno puede abandonar la distincin entre [los enfoques]
sintctico y semntico como un desecho de un viejo debate. La distincin importante es entre un en-
foque que toma a los modelos como fundamentales versus uno que toma a los enunciados, en particular
a las leyes, como fundamentales. (Giere 2000, p. 523, subrayado por el autor).
13
Stegmller 1973 y 1979, y los estructuralistas han puesto especial nfasis en estas oposiciones.
14
Vase, entre otros, Mc Kinsey, Sugar y Suppes 1953; Suppes 1957 y 2002; y Balzer 1997.
15
Vase, por ejemplo, Giere 1988, p. 80; 1996, p. 25; 1999, p. 179. Giere reconoce explcitamente que
su concepcin de las teoras es heterognea, pues, incluye elementos no lingsticos (una poblacin
de modelos) y lingsticos (un conjunto de hiptesis tericas). Las armaciones empricas de los
estructuralistas relacionan los modelos de la teora con los modelos de datos (vase Balzer 1997, p. 293).
Como toda oracin, las hiptesis tericas y las armaciones empricas pueden ser verdaderas o falsas,
y, en general, estarn ms o menos conrmadas por los datos disponibles.
16
Esta es slo una de las deniciones posibles del concepto de consecuencia lgica, pero resulta su-
ciente para los nes del presente anlisis.
17
Quine 1975, p. 31821. Quine ha sido ms sensible a las sutilezas del lenguaje que lo que yo lo he
sido aqu. Su denicin de la formulacin de una teora es la siguiente: dos formulaciones expresan
la misma teora si son empricamente equivalentes y hay una reinterpretacin de sus predicados que
transforma una teora en lgicamente equivalente en la otra. (p. 320). La teora expresada por una
formulacin dada es la clase de todas las formulaciones que son empricamente equivalentes a esa for-
mulacin y pueden transformarse en lgicamente equivalentes a ella o viceversa mediante una reinter-
pretacin de sus predicados. (p. 321). Para los nes de este trabajo me resulta suciente la armacin
de que la teora expresada por una determinada formulacin es la clase de todas las formulaciones que
son lgicamente equivalentes a ella.
18
Se encuentran claramente resumidas en Dez y Moulines 1997, pp. 319-320.
19
Vase, por ejemplo, Shapiro, 2005, para un anlisis de seis caracterizaciones diferentes de la nocin
de consecuencia lgica, en ninguna de las cuales se emplea el trmino modelo. Es evidente que no hay
un nico concepto de consecuencia.
20
Para mayores detalles sobre este punto vase Balzer, Moulines y Sneed 1987.
21
En una comunicacin personal.
EPISTEMOLOGIA COMO HISTRIA CONCEITUAL:
A FORMAO DO CONCEITO DE IDEOLOGIA CIENTFICA EM GEORGES
CANGUILHEM
FABRINA MOREIRA SILVA
Universidade de So Paulo
fabrina@usp.br
Georges Canguilhem, epistemlogo francs do sculo XX, nomeado Diretor do Ins-
tituto de Histria da Cincia na Universidade de Sorbonne em 1955, destaca-se no
campo da losoa e da histria das cincias, segundo P. Bourdieu, por reagir contra
a imagem ao mesmo tempo fascinante e rechaada do intelectual total que se fazia
presente em todas as frentes de pensamento (Bourdieu 2005, p. 45).
Ao dar continuidade obra de Gaston Bachelard, sobre o qual ofereceu uma apre-
sentao admirvel (ver Canguilhem1970), Canguilhema dintingu et reuni lhistoi-
re e lepistmologie. ce titre, il a ralis une partie de la synthse projete par Gaston
Bachelard, dont il na cesse de se rclamer (Debru 2004, p. 82). Ao mesmo tempo em
que Canguilhem recorre frequentemente Bachelard, ele tambm o ultrapassa no
sentido de convergir para questes que no pertencemao campo da cincia tradicio-
nal, como a ideologia e as prticas sociais. Odesao consiste justamente ementender
qual o papel da Ideologia cientca na construo das cincias, enquanto que para a
losoa da cincia tradicional, a ideologia umobstculo que deve ser superado pelo
conhecimento cientco, no pertencendo, portanto, ao campo cientco.
Com uma dupla formao em medicina e losoa, Canguilhem adquiriu uma
competncia interdisciplinar, no qual se encontra emuma situao privilegiada den-
tro do campo da losoa das cincias da vida. E, assim como Bachelard, Canguilhem
faz uma epistemologia regional, que temcomo princpio a inexistncia de critrios de
racionalidades vlidos para todas as cincias, e que, portanto, exige uma investigao
minuciosa de vrias regies de cienticidade, procurando explicitar os fundamentos
de setores particulares do saber, que no seu caso a siologia, a biologia, a anatomia
e a patologia.
No olhar do epistemlogo francs para estas cincias, esto incorporados con-
ceitos bachelardianos como obstculo epistemolgico, corte epistemolgico, cincia
caduca, cincia sancionada e recorrncia, que lhe servem de ltro para compreender
a historicidade da cincia. Para Canguilhem, uma obra de Bachelard se destaca esta
do Racionalismo Aplicado, que contm em sntese, mais precisamente na concluso
deste livro, os conceitos centrais da sua epistemologia.
Com efeito, Canguilhem retoma uma discusso j iniciada pelo seu mestre, que
a freqente posio tradicional que ocupa os historiadores das cincias em conside-
rar o objeto da histria das cincias como um objeto da cincia. Essa viso de histo-
riador constitui um modelo cuja histria das cincias tem a funo de microscpio
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 3843.
Epistemologia como histria conceitual 39
mental
1
na prtica da historiograa cientca. Ou seja, uma problemtica, exposta
atravs da discusso diretamente sobre a pergunta: emque exatamente a histria das
cincias histria? Como o foi no caso da conferncia na cidade de Montreal em1966.
Nessa pergunta esto tcitas outras questes que remetem histria das cincias,
sendo que uma delas a denio do critrio de classicao usado para selecionar
o que est inscrita dentro da categoria
2
histria das cincias.
Segundo Canguilhem, uma prtica comumdos historiadores inscritos no modelo
empirista, considerar que a relao da cincia aos objetos das quais elas so cin-
cia, doit tre importe et transplante de la science dans lhistoire (Canguilhem 1970,
p. 12).
Admitir o mesmo critrio usado para denir o que cincia, para denir o que
histria da cincia, trata-se, na verdade, de um problema epistemolgico respei-
tante ao modo permanente da constituio dos conhecimentos cientcos na hist-
ria (Canguilhem 1977, p. 32). Compreender a constituio dos conhecimentos cien-
tcos na histria no signica aplicar o critrio de cienticidade usado tradicional-
mente pelos lsofos da cincia, e ento separar o que cincia do que no cincia
atemporalmente. No cabe histria das cincia julgar a cienticidade dos objetos
histricos, mais sim, a histria das cincias para Canguilhem, junto com a episte-
mologia, teria a funo de compreender a cincia como um processo histrico, na
medida em que as constituies de conceitos cientcos pertencem ao tempo da his-
tria geral do homem. Considerar o objeto da histria das cincias como um objeto
natural da cincia, seria para Canguilhem
ce qui revient considrer des concepts, des discours et des gestes spculatifs ou
exprimentaux comme pouvant tre dplacs et replacs dans un espace intel-
lectuel o la rversibilit des relations a t obtenue par loubli de laspect histo-
rique de lobjet don til est trait. (Canguilhem 1970, p. 21)
Assim, para Canguilhem, a histria das cincias
concerne une activit axiologique, la recherche de la vrit. Cest au niveau des
questions, des mthodes, des concepts que lativit scientique apparat comme
telle. Cest porquoi le temps de lhistoire des sciences ne saurait tre um let la-
teral du cours general du temps. (Canguilhem 1970, p. 19)
Na verdade, essa confuso de objetos encontra-se presente nas discusses de Ba-
chelard, quando ele ope a histria caduca e a histria sancionada, histria dos
fatos de experimentao ou de conceitualizao cientca, apreciados no seu relato
aos valores cientcos recentes.
Segundo Canguilhem, sem a epistemologia seria impossvel de discernir os dois
tipos de histrias, denominadas caduca e sancionada. Entretanto, este discernimento
seria possvel somente por aquele que portasse suciente capital cientco capaz de
julgar a atualidade de tal ou tal conhecimento, dentro do campo cientco. Neste sen-
tido,
40 Fabrina Moreira Silva
praticar uma cincia para o epistemlogo o mesmo que imitar a prtica do
cientista, por meio de uma familiarizao estudiosa com os textos originais, no
qual o produtor se explicou sobre a sua conduta. (Canguilhem 1977, p. 17)
Canguilhem reconhece que natural o interesse do cientista, pela cincia na sua
histria, porm, o interesse do epistemlogo um interesse de vocao. (Cangui-
lhem 1977, p. 18) Vocao essa, que gerada pelo carter inovador do esprito cien-
tco contemporneo, onde segundo Bachelard, a cincia suscita um mundo, no
mais por um impulso mgico, imanente realidade, mas antes por um impulso raci-
onal, imanente ao esprito (Bachelard 1990, p. 19).
A vocao cientca do epistemlogo representa um comprometimento com a
constante atualizao dos conceitos, tantos os novos, que so criados ou viro a ser,
como os que deixaram e deixaro de ter validade cientca, por motivos constantes
de reticaes.
A dinmica do processo de constituio das cincias obriga os cientistas e os his-
toriadores das cincias a se renovaremconstantemente no sistema conceitual no qual
esto inscritos. Porm, como nas prticas cienticas necessitam-se de uma constante
atualizao dos conceitos, a histria das cincias vtima de uma classicao que
ela aceita como fato de saber, tendo em vista que o problema o de saber de que
fato procede essa mesma histria (Canguilhem1977, p. 26). Ao ter conscincia desse
problema, o historiador teria que questionar de que histria feita a histria das cin-
cias, na inteno de faire comprendre dans quelle mesure des notions ou attitudes
ou des mthodes dpassesont t, leur poque, un dpassement (Canguilhem
1970, p. 14), pois, a histria das cincias no um progresso das cincias invertido. A
histria das cincias feito do esforo em pesquisar e compreender o que foi a cria-
o de umconceito no momento emque ele foi criado e, to importante como, expor
os motivos da sua destruio posterior.
Segundo Canguilhem, o conceito tem um papel importante na histria das cin-
cias, pois um conceito uma denominao e uma denio, um nome dotado de
um sentido capaz de interpretar as observaes e as experincias, portanto, atravs
do conceito que o discurso expressa a racionalidade que o caracteriza. A importncia
reconhecida ao conceito como expresso da norma de verdade do discurso cientco,
trata uma cincia em sua histria no como uma articulao dos fatos de verdade,
mas como uma puricao elaborada de normas de vericao (Canguilhem 1977,
p. 44). Assim, a histria epistemolgica que tematiza as interrelaes conceituais, no
se limita ao interior de uma cincia, ela deve relacionar os conceitos com as prticas
sociais e polticas.
Dans la mesure o elle saplique lobjet ci-dessus delimite, na ps seulement
rapport umgroup de science sans cohsion intrinsque mais aussi non-scien-
ce, ideologie, la pratique politique et sociale. (Canguilhem 1970, p. 18)
Porm, considerar uma relao contnua entre ideologia e cincia fere ao princ-
pio bsico de seu mestre, a ruptura entre o senso comum e a cincia. Assim, at que
Epistemologia como histria conceitual 41
ponto Canguilhem permanece dentro da teoria de Bachelard?
Encontram-se em Bachelard dois sentidos interrelacionais da expresso ruptura.
Em primeiro lugar ela designa a descontinuidade existente, em qualquer momento
da histria, entre a racionalidade cientca e o conhecimento comum, cotidiano. E
em segundo lugar, mesmo depois do seu nascimento, o progresso que a caracteriza
essencialmente, se realiza por rupturas sucessivas.
O aspecto da concrdia, concernente categoria do progresso descontnuo da
cincia bachelardiana, Canguilhemarma que pela elaborao progressiva da com-
preenso de um conceito cientco que a histria das cincias deve ser uma hist-
ria das liaes conceituais, mas essa liao tem um estatuto de descontinuidade,
de forma que le sens des ruptures et des liations historiques ne peut pas venir
lhistorien des sciences dailleurs que de son contact avec la science frache (Can-
guilhem 1970, p. 20). Desta forma, conrma-se a presena do conceito de ruptura
bachelardiano, na categoria de progresso do Canguilhem.
Porm, o ponto de discrdia consiste no primeiro sentido de ruptura,
3
pois, para
Canguilhem a ideologia cientca seria ao mesmo tempo obstculo e, por vezes,
condio de possibilidade da constituio da cincia (Canguilhem 1977, p. 36). Com
efeito, Canguilhemno exclui o senso comumdo processo de constituio da cincia,
mas observa que a ideologia cientca possui caractersticas conceituais prpria.
A ideologia cientca funciona de forma dupla, tanto ela pode estar dentro do
campo da cincia e vir a ser uma ideologia cientca por se tornar uma cincia ca-
duca, obsoleta, ou ela pode nascer em um campo que no pertena ao campo cient-
co e ocupar-se de umcampo paralelo que busca imitar e deseja pertencer ao campo
cientco. Entretanto, Canguilhem adverte que preciso distinguir o contedo da
funo (Canguilhem 1977, p. 35) de uma ideologia. O contedo se adquire com a
descrio justa da situao, sem alterao e sem quiasma (Canguilhem 1977, p. 35), e
a funo a iluso no sentido marxista de alienao. Por isso, a ideologia cientca se
distingue do conceito marxista por se ocupar somente do contedo.
Uma vez denido o contedo da ideologia cientca, Canguilhem se prope a
examinar a gnese de uma ideologia cientca do sc. XIX: o evolucionismo. Essa
escolha consiste justamente no fato de que esse exemplo abranger tanto a esfera
non-cientca de uma ideologia cientca, como tambm mostrar que quando uma
cincia vem ocupar um lugar que a ideologia parecia indicar, no na regio que se
esperava (Canguilhem 1977, p. 37).
Vejamos melhor este caso. Segundo Canguilhem, o autor Herbert Spencer cr po-
der formular uma lei mecnica do progresso universal, por evoluo do simples para
o complexo, atravs de sucessivas diferenciaes (Canguilhem 1977, p. 39), decla-
rando expressamente que obteve esta lei da evoluo dos princpios de embriologia
de Karl-Ernest von Baer (1828). A publicao da Origem das espcies (1859) conrma
a convico de Spencer de que o seu sistema de evoluo generalizada se desenvolve
sobre o mesmo plano de validade cientca que a biologia darwiniana.
O desejo de Spencer em validar a sua sociologia nos mtodos das cincias natu-
42 Fabrina Moreira Silva
rais, no alcanou o sucesso pretendido inicialmente.
A anidade entre os embriologistas e Darwin ligava-se de antemo ao fato de
que este tinha percebido em embriologia da poca um aspecto caracterstico da
nova dimenso segundo ao qual o prprio Darwin se esforava por compreen-
der a constituio do mundo vivo. Esta nova dimenso era o tempo e a histria.
(Canguilhem 1977, p. 95)
Porm, segundo Canguilhem,
a teoria cientca da evoluo no cou pelo darwinismo, mas o darwinismo
um momento integrado da histria da constituio da cincia da evoluo. Ao
passo que a ideologia evolucionista umresduo inoperante da histria das cin-
cias humanas do sc. XIX. (Canguilhem 1977, p. 40)
A escolha da ideologia evolucionista proporciona esclarecer como se forma uma
ideologia, cuja origem uma no-cincia. A preferncia de Canguilhem por falar em
no-cincia no lugar de anti-cincia ou falsa cincia, consiste no fato de que na ide-
ologia cientca h uma ambio explcita de ser cincia, imitao de qualquer mo-
delo de cincia j constituda. (Canguilhem 1977, p. 36) A ideologia cientca no
uma falsa cincia, para Canguilhem, na falsa cincia no existe estado pr-cientco
(Canguilhem1977, p. 36), pois, prprio de uma falsa cincia nunca descobrir o que
falso. Assim, este exemplo revela as bases pr-cientcas de uma ideologia cientca.
Canguilhemconclui assim, atravs do exemplo da evoluo e de outros exemplos
que no foram citados aqui, a necessidade de uma teoria da histria das cincias que
esclarea a sua prtica.
Uma histria das cincias que trata uma cincia na sua histria como uma pu-
ricao elaborada atravs de normas de vericao no pode deixar de cuidar
tambm das ideologias cientcas. O que Bachelard distinguia como histria das
cincias caduca e sancionada deve, por sua vez ser entrelaado. A sano de ver-
dade ou de objetividade j comporta em si a condenao do caduco. Mas se o
que mais tarde se tornar caduco no comear por se sujeitar s sanes, a ve-
ricao no ter oportunidade de fazer aparecer a verdade. (Canguilhem 1977,
p. 41)
Desta forma, a ideologia cientca faz parte do processo de constituio da cin-
cia e a histria das cincias no pode negar esse papel. Considerar a histria como
um processo privilegiar uma histria da constituio dos conceitos. Assim,a his-
tria conceitual como epistemologia histrica, realiza-se dentro de uma perspectiva
losca que traz histria das cincia umnovo estatuto, este de integrar a ideologia
cientca, no processo de constituio da cincia, proposto por G. Canguilhem.
Bibliograa
Bachelard, G. 1990. Materialismo Racional. Rio de Janeiro: Edies 70.
Epistemologia como histria conceitual 43
. 1977. Racionalismo Aplicado. Rio de Janeiro: Zahar.
Bourdieu, P. 2005. Esboo de auto-anlise. So Paulo: Companhia das Letras.
Canguilhem, G. 1970. tudes dhistoire et de philosophie des scinces. Paris: Vrin.
. 1977. Ideologia e racionalidade nas cincias da vida. So Paulo: Edies 70.
Debru, C. 2004. Georges Canguilhem, science et non-science. Paris: Editions Rue dUlm.
Machado, R. 1981. Cincia e saber: a trajetria da arqueologia de Foucault. 2.ed. Rio de Janeiro:
Graal.
Notas
1
Canguilhemdeniu o papel da histria das cincias como o de microscpio mental, tendo por efeito
revelador de introduzir atraso e desistncia na exposio habitual do saber cientco, pela meno das
diculdades encontradas e na propagao deste conhecimento. (Canguilhem 1970, p. 12)
2
No incio do texto Lobjet de lhistoire des sciences, Canguilhem adverte que: Considre sous las-
pect quelle offre dans le Recueil des Actes dum Congrs, lhistoire des science peut passer pour une
rubrique plutt que pour une discipline ou um concept. Une rubrique sene ou se distend presque
indniment puisquelle nest quune tiquette, au lieu quum concept, parce quil enferme une norme
opatoire ou judicatoire, ne peut varier dans son extension sans recticacion de as comprhension.
(Canguilhem 1970, p. 9) [Trad. Autor: Considerada sobre o aspecto que ela oferece na Compilao das
Atas de um Congresso, a histria das cincias pode passar por uma categoria antes que uma disciplina
ou umconceito. Uma categoria se incha ou se estende quase indenidamente, uma vez que apenas s
um rtulo em vez de conceito, por conter uma norma operatria ou judicatria, no podendo variar na
sua extenso sem reticao da sua compreenso. assim que por debaixo de uma categoria histria
da cincia podem ser inscritos tanto uma descrio de um roteiro recentemente reencontrado, como
uma anlise temtica da constituio de uma teoria fsica.]
3
Bachelard arma em seu livro Materialismo Racional que domnios de pensamentos que rompem
nitidamente com conhecimento vulgar e esta ruptura manifestada sempre em forma de progresso
cientco. (Bachelard 1990, p. 121)
HUME E OS ACADMICOS MODERNOS
FLVIO MIGUEL DE OLIVEIRA ZIMMERMANN
Universidade de So Paulo
aviozim@yahoo.com.br
Segundo Richard Popkin em sua Histria do ceticismo de Erasmo a Spinoza, uma
das principais armas contra o ceticismo ps-cartesiano foi a moderao nas propo-
sies loscas, que ele denominou de ceticismo construtivo ou mitigado. Por esta
espcie de ceticismo, Popkin entende uma teoria que possa aceitar a fora total do
ataque ctico possibilidade do conhecimento humano, no sentido de verdades ne-
cessrias sobre a natureza da realidade, e no entanto admitir a possibilidade de co-
nhecimento em um grau inferior, como verdades convincentes ou provveis acerca
das aparncias (Popkin 2000, p. 211). Entre os autores desta corrente losca Pop-
kin cita Mersenne e Gassendi. Neste trabalho mostraremos que alm destes lsofos,
Pierre-Daniel Huet e Simon Foucher, podem entrar nesta categoria, que geralmente
denida tambm de ceticismo acadmico,
1
promovendo em seguida uma compa-
rao com as crticas de David Hume, tambm adversrio do ceticismo pirrnico e
partidrio do ceticismo mitigado.
Huet foi um autor muito inuente e respeitado em seu tempo. De acordo com
suas memrias, durante vrios anos pertenceude corpo e alma ao cartesianismo, mas
depois passou a ser um dos maiores crticos deste sistema e de seus seguidores. A
obra dedicada a atacar os sistemas dogmticos tradicionais e a exaltar a crtica ao
conhecimento humano o Tratado losco da fraqueza do esprito humano.
Na primeira parte deste tratado, Huet apresenta treze razes para comprovar que
a verdade no pode ser conhecida com perfeita certeza pelo entendimento humano.
De forma semelhante aos tropos de Sexto Emprico, os argumentos de Huet procuram
enfatizar a insucincia de nossa capacidade cognitiva para conhecer com clareza e
distino, antes que provar a inexistncia da verdade e que esta no se encontre em
lugar oculto de ns. Uma de suas mais importantes provas a de que o homem no
pode saber se a imagem que parte do objeto exterior corresponde a sua verdadeira
imagem, uma vez que o nosso entendimento no tem meios de compar-la com o
prprio objeto em questo (Huet 1741, p. 33). E ainda que essa imagem possa ser
confrontada com a original, no pode representar todas as suas propriedades, tanto
internas quanto externas, pois preciso considerar o meio pelo qual ela passa at
chegar aos sentidos, que varivel. Huet cita alguns exemplos de variaes do meio
externo: a cor de um objeto que se v a tarde diferente da que se v ao meio-dia, o
remo quando mergulhado na gua parece estar quebrado ao olhar e as casas parecem
tremer quando observadas atravs da fumaa.
Ainda que essas imagens no sofressem alterao do meio externo, restaria ainda
a suspeita de indelidade dos nossos prprios sentidos e das disposies do nosso
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 4452.
Hume e os Acadmicos Modernos 45
comportamento. Se nossos sentidos no esto sos, julgamos as coisas de forma di-
ferente do que quando atuam em seu estado normal e na velhice rejeitamos muitas
coisas de que gostvamos na infncia. Os corpos dos homens tambm so desseme-
lhantes, e isso pode fazer com que eles concebam os objetos de modo diferente. Ora,
se os crebros seguem o tamanho de suas cabeas, os que tm o crnio redondo jul-
garo diferentemente do que os que tm longo (Huet 1741, p. 46).
Pierre Gassendi, cientista experimental e lsofo de grande erudio, tambm
ocupou-se seriamente destes problemas no segundo livro das Dissertaes em for-
ma de paradoxos contra os aristotlicos. NolivroII, DissertaoVI, a mde aumentar
a discusso coma losoa aristotlica, no s as provas dos cticos contra a conana
nos sentidos e na razo so apresentadas, como tambm as possveis objees e res-
postas a elas. Embora Gassendi tenha aceitado o adgio aristotlico de que no h
nada no entendimento que no tenha passado antes pelos sentidos, e que sempre
preciso apelar ao juzo dos sentidos para resolver qualquer questo que possa com-
portar alguma falsidade, duvidoso que as coisas se apresentem a ns como so em
si mesmas (Gassendi 1959, p. 388, 436). Consultando o prprio Aristteles, Gassendi
lembra do famoso exemplo da torre, que tem o formato superior quadrado, mas pa-
rece redondo quando visto de longe, e do basto, tambmapresentado por Huet, que
quando mergulhado uma parte na gua, parece estar quebrado ao olhar.
Olsofo e telogo MarinMersenne, que se apresentoucomo crtico do ceticismo
pirrnico, quando trata dos casos da torre e do basto na gua na voz da sua perso-
nagem crist, oferece uma resposta a esta objeo. Sempre que objetos parecerem
diferentes conforme sua distncia ou o meio em que se encontram, poderemos co-
nhecer o seu verdadeiro formato de alguma forma, aplicando uma regra ou instru-
mento para o caso em questo, no livro A verdade das cincias contra os cticos e
pirrnicos (Mersenne 1625, p. 147). Embora os olhos possamse enganar quando jul-
gam que o basto na gua no seja reto, a razo faz a devida correo, utilizando-se
das regras da diptrica (Mersenne 1625, p. 222). Argumentos semelhantes so apre-
sentados contra casos semelhantes. O estudo da tica tambm pode ser conveniente
para entendermos porque algumas cores se parecem diferenciadas a ns conforme o
meio externo em que se apresentam.
Mas Gassendi teria ainda outra objeo ctica. Pois ainda que tenhamos o racio-
cnio completamente so para medir e julgar, existem muitas pessoas com natureza
e temperamento mental bem diferente dos que julgam fazer bom uso do raciocnio.
Tais so os alienados e pessoas de disposies fsicas consideradas defeituosas pela
maior parte da humanidade pois, embora sejamminoria, no signica que percebem
de modo menos verdico que a maioria, desde que existem pessoas com decincia
visual que, emcertas ocasies, vemcoisas mais nitidamente do que aquelas que so
tidas como normais (Gassendi 1959, p. 460)). Ora, no podem essas pessoas percebe-
rem muitas coisas que a maioria no percebe?
Da mesma forma, Huet nota que os objetos que aparecem ao esprito no sonho
e na loucura so to convincentes quanto os que aparecem na viglia. As bras do
46 Flvio Miguel de Oliveira Zimmermann
crebro so to violentamente agitadas pela doena e pelo sonho, que o crebro re-
conhece diversas impresses, e o entendimento pensa ter sensaes que os rgos
dos sentidos no tiveram (Huet 1741, p. 80).
Contra a objeo de frenticos que imaginam sentir dores, ver fantasmas e coisas
semelhantes, Mersenne responde que falta de juzo apresentar a opinio dos que
nos levam a desacreditar na verdade, pois quando o esprito est livre de obscurida-
des e reete sobre os sonhos e fantasmas da imaginao pode julgar o quanto no
so verdadeiros (Mersenne 1625, p. 145). Alm disso, o que nos importa se a imagi-
nao de cegos e surdos seja diferente da nossa, uma vez que no podem discernir
cores e sons? Isso no signica que nossos rgos no sejamapropriados para discer-
nir os objetos exteriores. Pois, ainda que jamais pudssemos ver o sol e a terra, eles
subsistiriam assim mesmo (Mersenne 1625, p. 142).
Mersenne persiste, por meio da sua personagem crist, na falta de eccia dos
argumentos cticos. Mesmo que outras pessoas ou outros animais pensem e vejam
de forma diferente da nossa, no implica que no possamos conhecer algo e ter cin-
cia. Sua outra personagem contra o ctico nos dilogos, o alquimista, mostra que,
mesmo embora uns achem o mel doce e outros amargo e os bichos considerem bom
o que julgamos ser mal, os objetos dos sentidos so reais e no imaginrios (Mer-
senne 1625, p. 43). O alquimista, provavelmente o representante de Bacon nos di-
logos, acrescenta que a sua cincia experimental invarivel e, portanto, conhece as
coisas passageiras de modo infalvel (Mersenne 1625, p. 47). Essa armao, contudo,
no poderia ter a aprovao do cristo, isto , de Mersenne, que reprova o desgnio
de Bacon no captulo XVI, ao advertir que no podemos penetrar na natureza interna
dos indivduos e das coisas, j que nossos sentidos captam apenas a imagem externa
dos fenmenos (Mersenne 1625, p. 212).
As rplicas de Mersenne no parecem ter a nalidade de tirar completamente o
ctico de cena, mas apenas indicar que podemos conhecer alguma verdade e que o
conhecimento supercial do mundo exterior no impede que possamos desenvolver
alguma cincia. Podemos fazer suposies como Ptolomeu e Coprnico e adotar mi-
lhares de concepes dos fenmenos observando as aes da natureza, mas sem se
referir natureza secreta das coisas, pois para Mersenne no necessrio conhecer
todas as essncias do objeto em questo para saber algo (1625, p. 135, 213).
Gassendi, embora tenha concludo nas Dissertations que procurar a verdade no
mais que perseguir pssaros ao vo (Gassendi 1959, p. 502), na sua ltima obra,
Syntagma Philosophicum, argumenta de forma semelhante a Mersenne em alguns
tpicos contra o ctico. Quando se ocupa da questo sobre as diferentes percepes
que temos do mesmo objeto em momentos distintos em razo da sua distncia ou o
meio em que se encontra, chama a ateno para se levar em considerao o efeito da
luz que atua sobre ns e os objetos simultaneamente. A torre parece grande de perto
e pequena de longe para ns porque quanto mais raios alcanam os nossos olhos,
mais partes do objeto so descritas.
2
Da mesma forma, quando vista de perto, a torre
aparece com o cume quadrado porque os raios que vm das superfcies prximas
Hume e os Acadmicos Modernos 47
so numerosos e fazem os olhos perceberem suas diferenas nos intervalos e parece
redondo distncia porque retratam as partes que so separadas como se os seus
intervalos fossem suprimidos (Gassendi 1972, p. 3434).
Gassendi admite no duvidar das verdades manifestas, que so conhecidas por
si, como dia, o fogo quente e todas as aparncias externas que se impem au-
tomaticamente aos nossos olhos. Ora, se o pirrnico consente nas aparncias e se o
acadmico aceita o probabilismo, no podem negar que usam algum critrio para
conhecer o mundo exterior (Gassendi 1972, p. 28994). A conana e o assentimento
aos sentidos so a prova gassendiana contra o ctico que arma no ter nenhum cri-
trio para conhecer alguma coisa.
Da mesma forma, aps ter alcanado o nvel extremo da dvida com relao s
suas prprias faculdades, e embora tenha se esforado para mostrar que o homem
desprovido dos meios para conhecer a verdade comperfeita clareza e evidncia, Huet
reconhece no livro II do seu tratado ctico, que se pode conhecer a verdade de alguma
forma e que ela encontra-se fora de ns. Ele apenas indica que falta ao homem os
meios necessrios para adquiri-la. Na falta desse conhecimento absoluto das coisas,
o lsofo prope que adotemos as verossimilhanas e probabilidades no decorrer da
vida, a exemplo dos acadmicos; o que se apresentar contrrio probabilidade, deve
ser rejeitado como falso (Huet 1741, p. 205).
O critrio que o permite distinguir o que provvel do que no , diferente da
regra dos dogmticos, que intenta distinguir o verdadeiro do falso. Pois a regra de
probabilidade no nos oferece uma marca certa e evidente da verdade, apenas uma
aparncia externa do grau de verossimilhana que se encontra em um determinado
objeto, til aos nossos propsitos (Huet 1741, p. 2513). Por exemplo, os astrnomos
criam hipteses sobre globos celestes que podem ser falsas e at mesmo destrurem-
se umas s outras, mas cada um se serve utilmente da sua hiptese para explicar e
predizer os astros. Da mesma forma, emqualquer investigao ou experimento deve-
se supor o objeto a ser conhecido como verdadeiro, at que se possa conhecer re-
almente o que se procura. desta forma que progredimos para Huet, sugerindo e
arriscando hipteses e conjecturas, e no nos abstendo da prtica. Um viajante que
no sabe qual caminho tomar no pode parar na encruzilhada em que se encontra,
metaforiza (Huet 1741, p. 245).
Almda razo prtica, Huet apresenta a f como umdomdado por Deus para su-
plantar a fraqueza da razo. Ao reconhec-la, o homemconhece as coisas mais certa-
mente, embora ainda no perfeitamente, como Deus conhece. Sem o conhecimento
celeste, contudo, resta-nos a certeza humana, que Huet denomina de soberano grau
de certeza. Por meio dela, adquirimos conhecimentos evidentes, tais como os pri-
meiros princpios (por exemplo, que o todo maior que suas partes), os axiomas da
geometria, certezas de natureza fsica e moral, como a de que em Roma existiu um
imperador chamado Augusto e que o fogo esquenta.
Por divergir de certos pressupostos da dvida pirrnica, embora semoferecer um
meio para que a verdade absoluta possa estar ao alcance do ser humano, o mtodo
48 Flvio Miguel de Oliveira Zimmermann
huetiano apresenta-se como uma proposta moderada nos discursos, procurando se
aproximar somente do que possa lev-lo ao caminho da verdade. Certamente o pro-
psito de seguir a verossimilhana e de adotar a o mtodo probabilstico nas inves-
tigaes o aproxima mais do acadmico do que do pirrnico, embora o autor tenha
negado a diferena entre as seitas e procurado aperfeioar o procedimento dos anti-
gos em alguns aspectos.
Oabade Simon Foucher, procura conduzir-se por umrumo semelhante, julgando
necessrio voltar-se aos primeiros princpios no campo da losoa e seguir apenas as
verdades evidentes a maneira dos gemetras. Desta forma poderemos ao menos dis-
tinguir o que sabemos do que no sabemos, defende o autor das Dissertaes sobre
a procura da verdade, contendo a histria e os princpios da losoa dos acadmicos,
no livro I, cap. 1.
O autor divide as escolas dos lsofos da seguinte forma: os dogmticos positi-
vos ou dogmatistas, que se conduzem pela verossimilhana em matria de cincia
e armam sobre todas as coisas, seguindo a autoridade da sua seita; os dogmticos
negativos, que dizem que nada se pode saber e os dogmticos ou acadmicos, que se
pronunciam sobre algum assunto e formam dogmas por si mesmos (Foucher 1693,
p. 17882). Os acadmicos, como se percebe, no fazem parte da mesma classe dos
cticos, uma vez que admitem algumas verdades (Foucher 1693, p. 175).
O autor no nega que conhecemos algumas coisas, e conseqentemente, que co-
nhecemos a verdade em geral, como por exemplo, que dois e trs so maiores que
quatro e que o quadrado da hipotenusa de umtringulo retngulo igual aos quadra-
dos dos dois outros lados, mas ainda nos falta um meio de conceber distintamente
um critrio de verdade que possa ser reconhecido por todos os homens. Foucher
otimista em encontrar este critrio, pois julga que a idia geral de verdade se encon-
tra emnosso esprito, embora ela no se mostre emtoda sua pureza, pois se confunde
freqentemente coma verossimilhana e se perde nas contradies e volubilidade do
nosso entendimento, na falsa erudio e nos fantasmas dos sentidos (Foucher 1693,
pp. 1325).
A losoa acadmica sustentada por Foucher duvida das informaes apresen-
tadas pelos rgos dos sentidos, embora reconhea dogmas nas demonstraes pu-
ramente especulativas. Este modo de pensar, porm, no se deve propriamente aos
acadmicos, mas s primeiras verdades que Deus escreveu em todos os espritos
com sinais de luz (Foucher 1693, p. 04). Por esta razo, Foucher, assim como Huet,
entende que a losoa no deve se submeter a nenhum mestre em particular, nem
mesmo a Plato, que foi o criador da academia, mas mostra a necessidade de se pro-
curar reexes mais considerveis que as de Plato, Sexto Emprico e outros (Foucher
1693, p. 111).
A proposta moderada de ceticismo de Huet e Foucher tem anidades com a de
David Hume. Assim como Foucher, Hume no encontra argumentos racionais capa-
zes de provar a existncia do mundo exterior. Seus argumentos questionamas causas
que nos levam a crer na existncia dos corpos, embora no encontre razes para du-
Hume e os Acadmicos Modernos 49
vidar efetivamente que os corpos existam fora de ns (Hume 1978, p. 187). E ainda
os homens sejam levados por um instinto natural a supor um universo exterior inde-
pendente das suas percepes, nada se encontra emsuas mentes seno uma imagem
de algum objeto que recebem por meio das sensaes, no havendo nesta operao
qualquer contato imediato entre a mente e o objeto (Hume 1975, p. 152).
Apesar disso, Hume observa que, embora no possa defender a razo pela razo,
o ctico subsiste raciocinando e crendo, e mesmo sem argumentos loscos su-
cientes, continua a sustentar a sua existncia e a dos corpos externos (Hume 1978,
p. 187). Pois o ctico que duvida efetivamente da realidade externa no pode propi-
ciar nenhumbem sociedade nema si prprio. E, embora possa momentaneamente
perder-se emraciocnios abstrusos, o primeiro acontecimento da vida o deixar igual
aos demais mortais, determinado a agir, raciocinar e crer, tendo que encarar suas d-
vidas anteriores como nada mais que simples passatempo (Hume 1975, p. 15960).
Este recurso impede que a losoa de Hume se entregue depresso ctica causada
pela incapacidade da razo de resolver o problema por si s.
Apesar da fraqueza da razo, Hume, assim como Huet, entende que abandon-
la mais prejudicial do que aceit-la para conduzir a boa investigao. E da mesma
forma que Mersenne e Gassendi, Hume prope-se a derrotar argumentos cticos su-
perciais ou populares fazendo o uso adequado do raciocnio. Contra objees que
pretendem destruir a credibilidade das aparncias dos objetos que se apresentam de
forma diferente a ns a uma certa distncia e da aparente distoro do remo mergu-
lhado na gua ele julga ser possvel corrigir os erros pela razo e consideraes do
meio para que se tornem critrios apropriados de verdade e falsidade (Hume 1975,
p. 151). Quanto s opinies contraditrias em diferentes pocas e naes, das nossas
variaes de juzo na sade, na doena, na mocidade ou na idade avanada no ne-
cessrio tanta inquietao, tendo em vista que ns constantemente raciocinamos e
utilizamos crenas sobre os mais variados tpicos da vida comum (1975, p. 158).
Foucher entende que preciso corrigir nossos sentidos e perceber pela luz da ra-
zo as coisas insensveis que os nossos olhos no descobrem (Foucher 1693, p. 428
9). A razo natural, dada por Deus, quando bem utilizada pode nos oferecer alguns
indcios de verdade, conclui tambm o padre Mersenne. Embora tenhamos um co-
nhecimento nmo, tanto das coisas divinas quanto terrenas, a nossa luz universal
pode nos conceder algumas certezas evidentes em si, como no caso da matemtica e
geometria. Essa luz, aperfeioada pelo estudo e meditao, s poder ser completada
quando nos unirmos luz sobrenatural da glria eterna (Mersenne 1625, p. 1934).
Assim como Mersenne, Gassendi no julga razovel duvidar das inferncias da geo-
metria. O ctico no mximo questiona se esse conhecimento abstrato existe na reali-
dade (Gassendi 1972, p. 340), e Hume diz que as relaes entre as idias, isto , pro-
posies matemticas e geomtricas so descobertas pela simples operao do pen-
samento, independentemente de existirem ou no na natureza (Hume 1975, p. 25).
A conana de Hume no conhecimento claro e manifesto das operaes simples
da matemtica, bem como na evidncia do que aparece aos sentidos no nos per-
50 Flvio Miguel de Oliveira Zimmermann
mite consider-lo ctico de natureza pirrnica. Pois enquanto o pirrnico no ousa
armar dogmaticamente que o que lhe aparece verdadeiro,
3
Hume no considera
tarefa til para a losoa perguntar se h ou no corpos fora de ns (Hume 1978,
p. 187). Gassendi, mesmo nas Dissertations (Gassendi 1959, p. 436, 498, 504) acredita
na construo da cincia sobre as aparncias externas dos fenmenos e na teoria da
probabilidade. A questo que o incomoda diz respeito apenas natureza das coisas.
No Syntagma, considera uma bno se, no podendo entrar nos santurios inter-
nos da natureza, puder ter acesso ao menos aos altares externos (Gassendi 1972,
p. 327).
O ceticismo moderado de Huet tambm no parte do princpio de que sejamos
ignorantes de tudo, como se fssemos troncos de rvores (Huet 1741, p. 204), mas
que podemos nos guiar pela certeza soberana, donde podemos tirar as razes mais
slidas de que somos capazes, embora sem conhecer a verdade em seu estado puro
por causa de nossa fraqueza natural (Huet 1741, p. 201).
Hume era um apreciador da leitura de Huet e do ceticismo acadmico. Na carta
de um cavalheiro a seu amigo em Edimburgo, o autor fala dos cticos Scrates e C-
cero e comenta sobre Huet, o erudito bispo de Avranches, um celebrado religioso e
um dos responsveis pelo reaparecimento da doutrina dos cticos e pirrnicos, e nos
Dilogos sobre a religio natural, Hume o considera um homem de vasta erudio
que, alm de ter escrito uma demonstrao do cristianismo, comps um tratado que
incorpora todas as astcias do mais atrevido e deslavado pirronismo (Hume 1993,
p. 13). Embora panegrica, a interpretao de Hume parece levar em conta apenas o
ceticismo de Huet contido na primeira parte do Trait, provavelmente para defender-
se da acusao de seu prprio pirronismo, no caso da Letter, ou para polemizar com
o seu adversrio, no caso dos Dialogues, que aparece na fala de Cleanto.
Nas sees V e XII da Investigao, Hume tambmadota a posio de ctico mi-
tigado e acadmico, encontrando no academicismo uma losoa que no se ajusta
paixo desordenada, s decises apressadas e s armaes dogmticas. Este ceti-
cismo atenuado til, modesto, reservado em suas opinies e limitado aos assuntos
que se adaptamao entendimento humano, evitando o que remoto e extraordinrio.
Suas dvidas indiscriminadas so corrigidas pelo senso comume reexo, os precon-
ceitos infundidos pela educao e opinio precipitada so ajustados pela mente e as
exageradas pretenses e credulidade supersticiosa so contrrias s suas aspiraes.
A natureza mais forte do que qualquer princpio, diz Hume, e nos impe nor-
mas sobre seu prprio funcionamento, escondendo-nos, porm, a origem de suas
operaes. Se nos limitarmos ao que ela nos oferece, poderemos promover o avano
da nossa cincia. Ultrapass-la no nos trar nenhuma vantagem. Esse empreendi-
mento, atribudo ao ctico extravagante, s se desenvolve nas escolas e emambientes
restritos, onde seus argumentos so difceis ou impossveis de se refutar ou devem
ser encarados como simples passatempo aos que tendem a se ocupar dessa forma
(Hume 1975, p. 15960). O verdadeiro lsofo, por outro lado, aquele que encontra
tranqilidade no ceticismo moderado (Hume 1978, p. 224), e no perde a esperana
Hume e os Acadmicos Modernos 51
emencontrar a verdade, mesmo que esta se esconda emlugar muito profundo de ns
(Hume 1975, p. 12).
Comessa deciso, assemelha-se a Huet e Foucher, que admitemverdades convin-
centes ou provveis acerca das aparncias ou das concluses racionais, embora reco-
nheamque as verdades necessrias acerca da natureza e da realidade continuemem
questo. Mersenne, que julgou suciente para ns conhecer as coisas do modo como
nos so apresentadas, parece tambm ter se afastado tanto do ctico pirrnico, que
rejeita qualquer tipo de certeza, como tambm negou-se a resolver o problema com
uma soluo denitiva contra o ctico. Este procedimento do ceticismo atenuado
agradou, nalmente, a Gassendi, que decidiu tomar o caminho mdio (via media)
entre os cticos e dogmticos, pois enquanto os primeiros pensam que nenhum cri-
trio pode ser aceito na investigao, os decorrentes deles no podem apresentar um
critrio apropriado para determinar tudo o que existe na natureza (Gassendi 1972,
p. 326).
Referncias
Empiricus, S. 1976. Outlines of Pyrrhonism. Cambridge: The Loeb Cassical. V.1.
Foucher, S. 1693. Dissertations sur la Recherche de la vrit, contenant lhistoire et les principes
de la philosophie des acadmiciens. Paris: Royale.
Gassendi, P. 1959. Dissertations en forme de paradoxes contre les aristotliciens. Paris: J. Vrin.
. 1972. The selected works of Pierre Gassendi. Edited and translated by Craig B. Brush. New
York: Johnson Reprint Corp.
Huet, P.-D. 1741. Trait Philosophique de la Foiblesse de lEsprit Humain. Londres: J. Nourse.
Hume, D. 1993. A letter from a gentleman to his friend in Edinburgh. 2. ed. Imprenta Indiana-
polis: Hackett Pub. Co.
. 1978. A Treatise of Human Nature, Edit. Selby-Bigge, rev. P. H. Nidditch. Oxford: Claren-
don.
. 1993. Dialogues Concerning Natural Religion and the Natural History of Religion. Oxford:
Oxford University Press.
. 1975. Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Mo-
rals. Edit. Selby-Bigge, rev. P. H. Nidditch. Oxford: Clarendon.
Mersenne, M. 1625. La vrit des sciences contre les septiques ou Pyrrhoniens. Paris: Toussainct
du Bray.
Popkin, R. 2000. A Histria do Ceticismo de Erasmo a Espinosa. Trad. Danilo Marcondes de
Souza Filho. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
Notas
1
O termo deriva da academia de Plato, mas no resgataremos aqui suas origens e desdobramentos,
apenas lembrar que geralmente atribui-se a esta doutrina uma dvida mais moderada do que a pirr-
nica, uma vez que seus defensores adotam o critrio de verossimilhana e probabilidade para conduzir
a investigao (desenvolvido principalmente por Arcesilau e Carnades). Sobre a adoo do critrio de
probabilidade pelos acadmicos ver por exemplo os Acadmicos II, 32 de Ccero e Hipotiposes Pirr-
nicas I, 33 de Sexto Emprico.
52 Flvio Miguel de Oliveira Zimmermann
2
Gassendi era simpatizante da teoria atmica de Epicuro. Na fsica, explica que quando a luz passa por
um prisma, ela reetida na proporo do nmero de tomos que encontra no vidro (conforme nota
de Craig Brush). Para o caso da torre, a mesma explicao pode ser dada.
3
Ver cap. VII, Does the Sceptic Dogmatize?, do livro I de Outlines of Pyrrhonism de Sexto Emprico.
O FISICALISMO DE NEURATH E OS LIMITES DO EMPIRISMO
GELSON LISTON
Universidade Estadual de Londrina/Fundao Araucria
gelson@uel.br
Introduo
A posio sicalista, falibilista e antifundacionalista de Neurath no reducionista.
Para ele, o importante que a linguagem,
1
na qual a cincia unicada expressa,
permita fazer predies sobre qualquer tipo de evento que ocorre na natureza (con-
cepo enciclopdica da cincia unicada), sem, contudo, ter de ser reduzida a algum
tipo de nvel de objetos, por exemplo a objetos autopsicolgicos ou fsicos, como o
caso do sistema construcional fenomenalista / sicalista de Carnap. Tampouco Neu-
rath se refere a objetos no sentido carnapiano, pois o que realmente interessa, emseu
modo de tratar a cincia unicada, so as leis que possibilitam predizer algum tipo
de fenmeno cienticamente relevante. Apenas as predies devem ser redutveis a
enunciados
2
de observao. Para Neurath, um sistema fundacionalista reducionista
representa uma concepo pseudo-racionalista de cincia. Para ele, toda sentena
observacional temuma referncia espao-temporal e est sujeita reviso. Comisso,
Neurath se ope idia de sentenas de grau zero que possam servir de fundamento
para a cincia. Assim, podemos armar que Neurath antecipa a crtica de Quine ao
dogma reducionista do empirismo, ou seja, sobre a redutibilidade do sistema carna-
piano s sentenas protocolares, teoria vericacionista do signicado e idia de
primazia epistmica. Para Neurath, qualquer investigao emprica enfrenta o caos
e a ordem. O objetivo estabelecer algum tipo de ordem, mas no somente de fora,
a partir de princpios a priori (lgica da cincia), tampouco a partir de um conjunto
de enunciados com status epistemolgico privilegiado. Diante da multiplicidade de
possibilidades tericas, as decises prticas so fundamentais, e elas no podem ser
justicadas por razes lgicas. Aracionalidade cientca, se houver, deve ser demons-
trada pela prpria prtica cientca. Contamos com o conhecimento passado como
instrumento de investigao, dependente de condies histricas e sociais (cf. Neu-
rath 1930, p. 46). Enm, de acordo com nossa leitura, Neurath antecipou muitas das
crticas ao positivismo lgico, que posteriormente tornaram-se mais e mais contun-
dentes. Deste modo, seu holismo sicalista representa a autocrtica do positivismo
lgico, um conito travado contra uma perspectiva de reconstruo lgica fundacio-
nalista do conhecimento cientco.
Se a unidade sicalista for alcanada de forma bemsucedida, ento podemos ar-
mar que encontramos correlaes funcionais entre leis e fenmenos emestruturas no
espao e no tempo.
3
Criar condies para a unicao da cincia, com todas as suas
leis, a tarefa da concepo cientca do mundo.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 5367.
54 Gelson Liston
Um sistema de leis, a partir do qual eventos ou processos so deduzidos, em
outros termos, a cincia unicada, pode ser total ou parcialmente modicada
quando os resultados obtidos forem contraditos pela experincia ou observao.
(. . . ) Em um sentido, a cincia unicada fsica em seus mais amplos aspectos;
uma malha de leis que expressam suas conexes espao-temporais, ns a cha-
mamos: Fisicalismo. (Neurath 1931a, p. 49)
A partir da possibilidade de fazer predies sobre estados de coisas testveis, a
cincia emprica pode ser caracterizada e chamada de cincia unicada. As predies
so enunciados sobre objetos espao-temporais. Por esse motivo, Neurath chama de
unidade sicalista da cincia (cf. Neurath 1931c, p. 325). Deste modo, o sicalismo
de Neurath no mantm a tese reducionista de que todos os enunciados cientcos
podem e devem ser reduzidos (traduzidos) em enunciados sicalistas, mas que tais
enunciados permitem um controle espao-temporal sistemtico atravs da observa-
o e de articulaes lgicas. Os enunciados que no permitem tal controle so me-
tafsicos.
Para os que mantm uma atitude cientca, todos os enunciados signicam pre-
dies; todos os enunciados repousam em um plano individual, e podem ser
combinados como partes que compem uma mquina. O sicalismo no reco-
nhece profundidades; tudo est na superfcie. (Neurath 1931c, p. 326)
O modo pelo qual Neurath pensa a unidade lingstica da cincia unicada sem
reducionismo sustentado pela idia de que no necessria, e tampouco possvel,
a reduo dos sistemas de leis a uma nica linguagem tida como ideal, no caso, a
linguagem sicalista, mas que esta linguagem sirva para fazer predies sobre qual-
quer evento (cientco) da natureza. Para Neurath, a linguagem sicalista da cin-
cia unicada no est divorciada da linguagem ordinria. No podemos contar com
uma linguagem ideal, mas podemos trabalhar na puricao da linguagem ordi-
nria, eliminando gradualmente os componentes metafsicos, mesmo sabendo que
conglomeraes lingsticas vagas sempre permanecem de um modo ou de outro
como componentes do barco. Tambm podemos entender a metfora nutica de
Neurath como uma crtica idia de conhecimento cientco enquanto um sistema
ideal, completo e auto-suciente (cf. 1959a, p. 201).
O que esses sistemas de leis, de diversas reas, tm em comum uma espcie de
jargo universal [universal slang] que possibilita a comunicao, sem a necessidade
de traduo, mesmo que qualquer termo da linguagem ordinria sicalista possa ser
substitudo por termos da linguagem da cincia avanada, e esta, por sua vez, possa
ser formulada, ou explicada com o auxlio da outra. No jargo universal, no existem
sentenas irrevisveis.
A criao de um jargo universal uma das tarefas da cincia unicada, e nisso
Neurath reconhece o valor do trabalho de Carnap na construo da sintaxe lgica
da linguagem, mas defende que a linguagem unicada deva acompanhar o cons-
tante desenvolvimento da cincia, sendo, portanto, no apenas sinttica, mas tam-
bm pragmtica, ou seja, devido ao seu carter histrico, a linguagem est sujeita a
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo 55
mudanas. Deste modo, os enunciados protocolares, no que se refere possibilidade
de reviso, esto na mesma situao dos demais enunciados cientcos. Os enuncia-
dos protocolares possuem grande estabilidade, mas so sempre passveis de reviso.
Quanto anlise lgica, devemos reconhecer o seu valor na construo de um fra-
mework mais consistente para as cincias, e isso facilita a unicao; a anlise l-
gica torna o jargo universal mais efetivo. Contudo, a anlise lgica no suciente
na construo de qualquer sistema, tampouco na delimitao precisa entre cincia e
metafsica (cf. Cirera 1994, p. 1434).
Com isso, Neurath apresenta sua posio em relao linguagem sicalista e aos
fundamentos da cincia unicada, com a tese de que no h nada que possa gozar
de uma posio absoluta e conclusiva, pois qualquer enunciado, mesmo as senten-
as protocolares, que so sentenas factuais como quaisquer outras, passvel de re-
viso. Esta parece ser a mensagem de Neurath em sua famosa metfora do barco e
evidencia sua oposio postura de Carnap emrelao aos enunciados protocolares,
que, segundo este, no requerem vericao (isso j em sua fase sicalista).
Sobre esta questo, Neurath (1959a, p. 203) arma que qualquer lei e qualquer
sentena sicalista da cincia unicada ou de uma de suas subcincias est sujeita a
mudanas. E o mesmo se mantm para as sentenas protocolares.
A tarefa da cincia unicada estabelecer correlaes entre as leis de diversas
reas a m de alcanar predies bem sucedidas. Quanto mais bem sucedido for o
estabelecimento destas correlaes, maior ser a capacidade preditiva da cincia. Isto
o que justica, na prtica, o interesse na cincia unicada.
Certamente, uma variedade de leis pode ser diferenciada uma das outras: por
exemplo, leis qumicas, biolgicas ou sociolgicas. Entretanto, no se pode ar-
mar que uma predio de um processo individual concreto depende apenas de
um tipo denido de leis. (Neurath 1931d, p. 66)
Assim, uma das tarefas da concepo cientca do mundo, alm da eliminao
gradual dos elementos metafsicos, criar condies favorveis para a efetivao de
um sistema sicalista unicador, no qual apenas eventos espao-temporalmente
controlados pelo sucesso preditivo sejam cienticamente considerados. Um enun-
ciado cientco se for a descrio de um evento com tais caractersticas. Assim, o
sicalismo a unidade da cincia (1931c, p. 361). De acordo com esta concepo,
Neurath tenta mostrar que a eliminao da metafsica no se d por uma questo de
signicado, mas como resultado de uma deciso: a deciso de aceitar a tese sicalista
a tese da unidade da cincia (cf. Cirera 1994, p. 119). Segundo Cirera, a deciso de
adotar o sicalismo se justica mediante o objetivo de construo da cincia uni-
cada, cuja expresso deve ser entendida em dois sentidos:
De um lado, defender a cincia unicada simplesmente defender a tese do si-
calismo, ou seja, a cincia est unicada de tal forma que tudo pode ser expresso
em uma linguagem nica, a linguagem da fsica. (. . . ) Por outro lado, a cincia
unicada vista enquanto uma tarefa a ser construda, uma atividade de trans-
formao social e de realizao cientca cooperativa. (1994, p. 119)
56 Gelson Liston
A Enciclopdia Internacional da Cincia Unicada foi, de acordo com o segundo
sentido, uma tentativa de realizao deste objetivo por meio de um processo cons-
tante de educao cientca.
1. OCoerentismo de Neurath
Neurath entende que a cincia unicada deva ser construda em um sistema con-
sistente de protocolos e leis. Esta a posio coerentista que ele assume para seu
sistema, de modo que a verdade ou falsidade de uma sentena se torne apenas uma
questo de expediente.
Na cincia unicada, tentamos construir um sistema no-contraditrio de sen-
tenas protocolares e no-protocolares (inclusive as leis). Quando uma nova sen-
tena nos apresentada, ns a comparamos com o sistema que dispomos, e de-
terminamos se ela entra ou no emconito comeste sistema. Se a sentena con-
itar com o sistema, podemos rejeit-la como desnecessria (ou falsa) (. . . ). Por
outro lado, algum pode aceit-la e mudar o sistema de modo que este perma-
nea consistente aps sua incluso. A sentena pode ento ser chamada verda-
deira. (Neurath 1959a, p. 203)
Entretanto, a deciso de aceitar o novo enunciado, rejeitando o sistema, , para
Neurath (1931, p. 53), mais difcil e no pode ser tomada sem uma certa hesitao.
Mas no h outro conceito de verdade para a cincia. A denio correto e in-
correto aqui proposta, abandona a denio usualmente aceita no Crculo de Viena
que recorre a signicado e vericao (Neurath 1931d, p. 66).
Oberdan(1996, p. 269) apresenta o sicalismo como uma oposio ocial de Neu-
rath, Carnap e Hempel epistemologia fundacionalista e teoria correspondentista
da verdade do Crculo de Viena (Schlick, Waismann, Wittgenstein). Assim, o sica-
lismo prope o falibilismo, e este se apresenta como uma concepo oposta ao fun-
dacionalismo e ao correspondentismo. Sobre isso, dois comentrios devemser feitos,
no que diz respeito posio de Carnap: a) a posio sicalista inicial (1932) funda-
cionalista; alm disso, o sicalismo uma possibilidade alternativa do sistema cons-
trucional desenvolvido no Aufbau; b) o correspondentismo nunca foi abandonado.
Bem, se com Neurath podemos armar que nenhuma sentena dispe de uma
posio denitiva na cincia unicada, tambm podemos, de igual modo, armar
que qualquer sentena pode ser acomodada a algum sistema da cincia unicada.
Este sistema, assimcomo uma mquina, para lembrarmos de outra metfora de Neu-
rath, pode ser reconstrudo e cienticamente justicado.
4
Tais sentenas so compa-
radas entre si em um sistema previamente aceito, e armar que uma nova sentena
correta signica dizer que tal sentena pode ser incorporada na totalidade desse sis-
tema sem gerar conito (inconsistncia) (cf. 1959b, p. 291). Todavia, temos aqui uma
posio de Neurath que nos parece intrigante, na medida em que ela sugere que a
cincia unicada estaria fundamentada numa teoria coerentista em que a verdade
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo 57
confunde-se com a aceitabilidade de um determinado sistema, tornando difcil a de-
fesa do prprio empirismo.
Na verdade, a posio de Neurath pode ser vista como uma autocrtica ao em-
pirismo, pois a relao entre enunciados e fatos implica uma concepo metafsica,
embora a teoria correspondentista no implique, necessariamente, este tipo de rela-
o, pois quando Carnap se refere ao contedo objetivo das sentenas sintticas, en-
fatizando seu carter no-convencional, e menciona a importncia da primeira ope-
rao no teste de enunciados sintticos, ele fala da confrontao entre enunciados e
observaes factuais.
Neurath expressa sua crtica do seguinte modo:
Enunciados so comparados com enunciados, no com experincias, nem com
o mundo, nem com qualquer outra coisa. Todas essas duplicaes sem sentido
pertencem, mais ou menos, a uma metafsica renada e, portanto, devem ser
rejeitadas. Cada novo enunciado confrontado com a totalidade dos enuncia-
dos existentes que, at o momento, esto harmonizados uns com os outros. Um
enunciado chamado correto, se ele puder ser incorporado nesta totalidade. Se
no puder ser incorporado, rejeitado como incorreto. (Neurath 1931d, p. 66)
A concepo anticorrespondentista de Neurath nos deixa uma outra questo: que
razes teramos para revisar um sistema e ento aceitar uma nova sentena como
verdadeira ou correta? As razes parecem ser apenas de ordem pragmtica ou instru-
mental: aumentar o poder preditivo do sistema. Assim, o objetivo alcanar um sis-
tema autoconsistente que seja um instrumento para fazer predies bem sucedidas
(cf. 1959b, p. 286). Portanto, o coerentismo no apenas consistncia interna (lgica),
mas tambm capacidade preditiva (emprica).
O que, de fato, resta de problemtico o critrio a ser utilizado para a escolha
de um determinado sistema ou, ainda, de uma determinada sentena que no seja
circular: utilizar a noo de verdade (correo) para denir a coerncia, e a noo de
coerncia para denir a de verdade. Oque nos parece que algumtipo de recurso ex-
terno (correspondncia) tem que ser admitido. Este problema surge no pelo fato de
Neurath ser um coerentista, mas por defender uma posio anticorrespondentista.
Em nossa anlise, uma posio no exclui, necessariamente, a outra. Podemos, por
exemplo, armar, sem problemas, que Carnap defende o correspondentismo, sem
ser um anticoerentista. Estamos pressupondo, com base num questionamento de
Susan Haack,
5
que uma teoria (coerentista/correspondentista) no exclui, necessa-
riamente, a outra.
O ponto interessante deste raciocnio a crtica de Neurath ao atomismo lgico
6
e idia de uma linguagem ideal que, de certa forma, est relacionada com a teo-
ria correspondentista. Alm disso, no podemos testar uma sentena isoladamente,
porquanto que no possvel confrontar uma sentena com algum fato. Isto se deve
basicamente complexidade dos fenmenos e dependncia terica da experin-
cia. Contudo, no se resolve tal problema armando que a verdade de uma sentena
depende da verdade (consistncia) das demais, em um sistema organizado.
58 Gelson Liston
Ao comentar sobre os trabalhos de Neurath, Uebel v nestes uma antecipao da
epistemologia naturalizada muito mais do que uma forma de coerentismo (relacio-
nado, principalmente, com a metfora do barco). A posio de Uebel (1992, p. 304)
a de que Neurath rejeita a teoria correspondentista da verdade; mas, ao invs de
propor uma teoria alternativa da verdade, ele teria encaminhado o debate para uma
teoria da aceitao. Como Neurath identica a aceitao de um sistema, ou de um
enunciado, a partir da noo de verdade como ausncia de contradio, ento no
vemos problemas em identicar a aceitao com a coerncia. Contudo, precisamos
nos posicionar sobre a teoria coerentista de Neurath a mde saber se esta uma teo-
ria denicional ou criterial da verdade para, ento, podermos manter a posio de
que o coerentismo de Neurath , sim, uma teoria da verdade, uma teoria alternativa
ao correspondentismo.
Uma denio de verdade apresenta o signicado do termo verdadeiro. Um cri-
trio de verdade apresenta um teste por meio do qual podemos armar se um enun-
ciado verdadeiro oufalso. Aquesto que nos preocupa neste momento saber se a
teoria coerentista de Neurath criterial ou denicional. Como Neurath faz referncia
aceitao ou rejeio de um enunciado tendo como referncia (tambm podera-
mos dizer teste) a consistncia
7
deste com um sistema previamente aceito, estamos
inclinados a armar que seucoerentismo criterial, j que a relao entre enunciados
um teste que incide na aceitao ou rejeio de enunciados, ou do prprio sistema.
2. Os Limites do Convencionalismo
Desta forma, estaria Neurath se distanciando da epistemologia enquanto justicao
das cognies, ou propondo uma alternativa ao fundacionalismo, armando que os
enunciados protocolares so falveis como quaisquer outros enunciados cientcos e
que, portanto, a coerncia do sistema torna-se a base de escolha para a aceitao ou
no de novos enunciados? Esta, por exemplo, a posio de Schlick (1934, p. 69), que,
ao discutir a questo do critrio de verdade como o problema do fundamento de todo
o conhecimento, reconhece (e critica) em Neurath a teoria coerentista da verdade:
A introduo do termo enunciados factuais certamente ocorreu, de incio,
com a inteno de designar com ele certas proposies, luz de cuja verdade
guisa de critrio se possa aferir a verdade de todas as outras armaes. Se-
gundo opinio descrita, ter-se-ia constatado que este critrio to relativo como
todos os critrios da fsica. E essa opinio, justamente com suas conseqncias,
temsido exaltada como abolio do ltimo resduo de absolutismo nos arraiais
da losoa.
Que critrios nos restam ento para discernir a verdade?
Uma vez que no pode ocorrer que todas as armaes da cincia devam
orientar-se segundo enunciados factuais bem determinados, mas antes deve ser
assim que todas as proposies devem orientar-se segundo todas sendo que
cada uma delas considerada em princpio como reformvel , segue-se que a
verdade s pode consistir na concordncia das proposies entre si.
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo 59
Esta doutrina que , por exemplo, explicitamente formulada por O. Neu-
rath no mencionado contexto sucientemente conhecida na histria da lo-
soa recente.
Na Inglaterra, costuma-se designar a mencionada tese como coherence the-
ory of truth, sendo contraposta correspondence theory, mais antiga, impon-
do-se observar que o termo teoria aqui inadequado, pois observaes sobre a
natureza da verdade tm um carter inteiramente distinto de teorias cientcas,
que sempre se compem de um sistema de hipteses.
A oposio entre as duas teses mencionadas , via de regra, concebida nos
seguintes termos: segundo uma delas, a tradicional, a verdade de uma proposi-
o consiste na sua conformidade comos fatos, ao passo que, segundo a outra
a doutrina do contexto -, a verdade reside na concordncia da proposio com
o sistema dos demais enunciados.
A posio de Schlick contrria posio de Neurath em relao aos sistemas
sintticos que, segundo ele, almda coerncia interna, necessitamda coerncia com
armaes bem especcas e especiais, pois quem toma a srio a coerncia como
nico critrio da verdade, deve considerar as lendas poticas to verdadeiras quanto
um relato histrico ou as proposies de um manual de qumica
8
(1934, p. 701).
Contudo, a crtica de Neurath teoria correspondentista aponta para o fato de que
no apenas essa relao entre linguagem e mundo no possvel, assim como o co-
nhecimento no pode ter como base percepes subjetivas, ou uma linguagem fe-
nomenolgica. Para Neurath, s h uma linguagem para a cincia unicada, e essa
linguagem reconhece apenas enunciados com dados espao-temporais denidos.
A comparao de enunciados com outras entidades metafsica (1931, p. 545)
(cf. 1959b, p. 291). Segundo Rutte (1991, p. 176), Neurath duvida da possibilidade de
um conhecimento imediato, pois ele d a impresso de pensar que o conhecimento
sempre tem o carter de enunciados, e enunciados nunca so imediatos, mas impli-
camhipteses e teorias de todo o tipo. Percepes no podemservir como uma ponte
para esta comparao. De acordo comessa posio, no h observao neutra,
9
pois
todas as sentenas de observao esto teoricamente contaminadas.
Embora Schlick aceite que todas as proposies da cincia no passam de hip-
teses com relao ao valor de verdade, de modo que o fundamento inabalvel do co-
nhecimento no pode ser armado, ele reconhece a necessidade de pontos de re-
ferncia, dados pelas constataes (armaes empricas), a partir dos quais o co-
nhecimento estruturado e confrontado. So as constataes, observaes privadas,
imediatas e, portanto, estritamente irrevisveis, que possibilitamo contato, por assim
dizer, entre proposies e realidade, sendo, desse modo, as nicas proposies sint-
ticas que no so hipteses por no fazeremparte do sistema cientco de linguagem,
ocupando, portanto, algum tipo de status privilegiado.
Schlick defende a possibilidade de comparar proposies com fatos (entidades
no-lingsticas) emseu conhecido exemplo da catedral; para comparar o enunciado
Esta catedral tem duas torres, com a realidade, basta olhar para a catedral. Segundo
Schlick, essa comparao suciente para o convencimento de que o enunciado
60 Gelson Liston
verdadeiro ou falso e que no h nem um envolvimento metafsico neste processo
de conhecimento. Portanto, Schlick aceita a crtica, mas se defende do comprome-
timento metafsico: eu tenho comparado proposies com fatos; deste modo, no
tenho nenhuma razo para armar que isso no possa ser feito. Schlick apresenta
o exemplo da catedral e conclui: certamente, voc no pode armar que este um
processo impossvel e que h uma detestvel metafsica nele envolvida (Facts and
Proposition[1935], Philosophical Papers, vol. 2, p. 400), in Coffa 1995, p. 369. Para
Schlick, essa posio representa uma forma de assegurar a funo da experincia no
conhecimento cientco, enquanto que o coerentismo de Neurath representa o aban-
donando do empirismo e a relativizao do conceito de verdade, rumo a um conven-
cionalismo sem limites.
Mesmo que problemtica e aparentemente contraditria, a posio de Schlick
sobre a relao entre enunciados e fatos tem uma importncia fundamental nessa
discusso, por evidenciar a funo da experincia na aceitao de enunciados cient-
cos, pois no apenas Neurath, mas tambm Carnap, em sua fase sinttica, no dis-
cutem claramente esta questo. No caso de Carnap, trata-se da identicao da lo-
soa da cincia com a sintaxe lgica e da distino entre o modo material e o modo
formal de falar (cf. Carnap, The Logical Syntax of Language (1934)). No modo formal
de falar, que o mais correto, a verdade sinttica, no semntica. Posteriormente
ele reconhece esta limitao e inclui a pragmtica e a semntica, possibilitando uma
melhor anlise dos conceitos de verdade e conrmao. O conceito verdade in-
terpretado de forma atemporal, enquanto que o conceito conrmao pode ter duas
interpretaes: uma interpretao pragmtica, que dene o grau de conrmao de
um enunciado com base na observao que , portanto, temporal; e uma interpreta-
o semntica, que dene a conrmao de umenunciado emrelao a outros enun-
ciados de evidncia, sendo, deste modo, atemporal (cf. Carnap 1949, p. 119). Uma das
preocupaes de Schlick era que o convencionalismo da base emprica, aliado a uma
teoria coerentista da verdade, levasse a uma posio relativista.
Para Karl Popper, a teoria coerentista de Neurath implica um falibilismo hols-
tico semlimites, representando, portanto, umperigo para o empirismo. Popper, tam-
bm um defensor do falibilismo metodolgico, restringe o convencionalismo apenas
base emprica, e no ao sistema terico como um todo:
A doutrina de Neurath, de acordo com a qual as sentenas protocolares no so
inviolveis, corresponde, a meu ver, a notvel avano. Contudo, desconsidera a
substituio das percepes por enunciados-percepo, - mera traduo para o
modo formal de expresso a doutrina de que as sentenas protocolares ad-
mitem reviso seu nico progresso relativamente teoria (de Fries) acerca da
imediatidade do conhecimento perceptivo.
10
Trata-se de um passo na direo
certa; mas que a nada conduz, se no for acompanhado de outro passo: faz-se
necessrio um conjunto de regras para limitar a arbitrariedade na rejeio (ou
aceitao) de uma sentena protocolar. Neurath no nos apresenta essas regras
e, assim, involuntariamente, compromete o empirismo. Com efeito, sem essas
regras, os enunciados empricos deixam de ser distinguveis de qualquer outra
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo 61
espcie de enunciado. Se a todos se permitir (como se permite, segundo Neu-
rath) simplesmente rejeitar uma sentena protocolar que se mostre inconve-
niente, qualquer sistema torna-se defensvel. Dessa maneira torna-se possvel
salvar qualquer sistema, semelhana do convencionalismo. (. . . ) Neurath evita
uma forma de dogmatismo; porm abre caminho para que qualquer sistema ar-
bitrrio tenha pretenses a Cincia emprica. (Popper 1972, p. 1034)
A crtica de Popper falta de limites do convencionalismo, devastadora eminten-
o, esclarece a diferena de sua posio convencionalista para a posio holstica de
Neurath, mas no deixa de ser problemtica do ponto de vista puramente lgico, pois
a base de teste de uma teoria convencional e, portanto, so as convenes que deci-
dem a escolha entre sistemas tericos. Alm disso, devemos mencionar a importn-
cia que Neurath atribui ao sucesso preditivo,
11
de modo que seu convencionalismo
limitado pela prtica cientca, e no por uma atitude irresponsvel e arbitrria da
consistncia pela consistncia. Oobjetivo pragmtico da investigao cientca exige
que um sistema (emprico), alm de ser consistente, seja um instrumento de predi-
es bem sucedidas (relao inferencial do coerentismo), e estas predies podem
ento ser testadas por outros enunciados de observao (cf. Neurath 1931b, p. 53 e
1935b, pp. 1167).
Para Neurath (1959b, p. 285), a possibilidade da cincia demonstrada pela exis-
tncia da cincia. (. . . ) O sistema da cincia unicada utilizado para fazer predies
bem sucedidas. Sobre isso, uma reexo de Neurath, analisando algumas diculda-
des na formulao de predies em sociologia, pode nos auxiliar na compreenso
deste caso, atenuando a crtica. evidente que no contamos comummodelo de pre-
dio ideal para uma cincia como a sociologia, mas tambmno podemos compar-
la a uma co metafsica nos moldes do demnio de Laplace, pelo simples fato de
que uma co no est, em princpio, sujeita a qualquer teste emprico, tampouco
abrangente (cf. Neurath, in Cohen 1973, p. 404). Dentre as diculdades de predies
nas cincias sociais, est o fato de que elas podem alterar o comportamento social,
dicultando o controle. Um exemplo citado por Neurath so as predies na poltica
econmica, que podem alterar o comportamento do mercado. Isso no acontece em
cincias como a fsica e a qumica. Estas diculdades, porm, no impedem a cons-
truo de explicaes cientcas.
Todavia, certas regularidades (constantes, ou freqentes) observadas esto en-
volvidas. Mesmo que a incerteza seja uma caracterstica das explicaes cientcas,
ela muito mais acentuada no caso das cincias humanas. Neste ponto, Neurath e
Carnap esto de acordo que as diferenas entre as cincias (ou ramos da cincia) ex-
pressam apenas um grau de diculdade que, de modo algum, impede a aplicao do
mtodo experimental. O mesmo, por exemplo, acontece, embora por razes diferen-
tes, com a astronomia. Alm disso, a coerncia exigida por Neurath no est restrita
aos enunciados tericos; ela implica tambmos enunciados protocolares hipotetica-
mente aceitos.
62 Gelson Liston
Em sua resposta, Neurath (1934) rearma a posio falibilista de que todos os
enunciados empricos so selecionados convencionalmente e que, em princpio, po-
dem ser alterados. Aceitar isso no implica um relativismo radical, como armam
Russell (1995, p. 148) e Schlick (1934, p. 71), nem o abandono do empirismo, se-
guindo a crtica de Popper. Simplesmente no podemos identicar decises metodo-
lgicas com decises arbitrrias. Se aceitarmos tal identicao em Neurath, ento
todo o projeto de unicao da cincia est comprometido. E mais, seria um com-
pleto contra-senso o constante uso que Neurath faz da expresso empirismo cient-
co ou racionalismo emprico, referindo-se a um novo sistema, com pretenses de
unidade cientca, ou seja, que tipo de unidade cientca teramos se cada pesquisa-
dor, em sua rea de atuao, arbitrasse as regras de cienticidade? Com isso, Neurath
critica a posio de Schlick sobre a possibilidade das constataes por se tratar de
metafsica. Sobre a falta de um critrio emprico de deciso entre sistemas de enun-
ciados, Neurath arma que Schlick no deu a devida ateno aos enunciados pro-
tocolares sicalistas, com localizao espao-temporal, e a funo destes enquanto
enunciados de controle (os enunciados protocolares funcionam como enunciados
de teste para um determinado sistema (cf. Neurath 1935b, p. 123) e so enunciados
de grande estabilidade (cf. Neurath 1936e, p. 164)). Sobre tais enunciados, Neurath
(1936d, p. 151) arma: aumentamos a estabilidade de nossos enunciados de con-
trole, quando, em ltima instncia, nos referimos a enunciados de observao.
A questo que Schlick no aceita a proposta de confrontar enunciados com
enunciados (ademais, as constataes so enunciados de observao sacrossantos.
Mas possvel, na cincia emprica, estabelecer a verdade objetiva de algum enun-
ciado cientco, sema referncia de uma estrutura lingstica?). Omesmo vale para a
crtica de Russell de que a proposta de Neurath signicaria o completo abandono do
empirismo, uma vez que a verdade poderia ser determinada pela polcia:
Armar: A umfato emprico , de acordo comNeurathe Hempel, dizer: a pro-
posio A ocorre consistente com um certo conjunto de proposies aceitas.
Emumcrculo cultural diferente, outro conjunto de proposies pode ser aceito;
devido a este fato, Neurath est exilado. Ele percebe que a vida prtica logo ser
reduzida ambigidades, e que ns podemos ser inuenciados pela opinio de
nossos vizinhos. Emoutros termos, verdades empricas podemser determinadas
pela polcia. Esta doutrina, de forma evidente, representa o completo abandono
do empirismo. Portanto, a verdadeira essncia que apenas as experincias po-
dem determinar a verdade ou falsidade das proposies no-tautolgicas. (Rus-
sell 1995, p. 148)
Para Russell, enunciados protocolares (proposies bsicas) so subclasses de
premissas epistemolgicas, causadas, to imediatamente quanto possvel, por expe-
rincias perceptivas (Russell 1995, p. 137). Tais enunciados so conhecidos, indepen-
dentemente de qualquer inferncia feita a partir de outros enunciados.
De acordo com Russell (1995 p. 138), um enunciado protocolar possui duas pro-
priedades fundamentais:
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo 63
(1) Ele deve ser causado por alguma ocorrncia sensvel;
(2) Ele deve ser de tal forma que nenhumoutroenunciadobsicopossa contradiz-
lo.
Segundo Russell, estes enunciados e aqui se localiza o ponto de desacordo com a
posio holista falibilista de Neurath encontram na percepo imediata a evidn-
cia de que so verdadeiros. Alm disso, para Russell, no h como construir conhe-
cimento emprico a partir de uma construo lingstica auto-suciente. Discorda,
portanto, da tese central de Neurath de que enunciados so comparados com enun-
ciados, no com a experincia. Na tentativa de evitar uma metafsica perniciosa, a
teoria de Neurath torna-se ultra-emprica (Russell 1995, p. 149).
Emoutro artigo (1936d), Neurath novamente critica as posies de Schlick e Pop-
per, e o mesmo vale para Russell.
Nunca podemos armar que certas frmulas so inabalveis, denitivamente
livres de contradies, absolutamente verdadeiras, nem que so aproxima-
es gradativas, como se houvesse algo determinado ou determinvel. (Neurath
1936d, p. 145)
Assim como Schlick, Carnap tambm defende que a coerncia, embora necess-
ria, no suciente para um sistema que pretende qualquer tipo de conhecimento
a posteriori; pois, do ponto de vista formal, no h qualquer diferena entre um sis-
tema cientco e um conto de fadas. Contudo, a discusso sobre protocolos e de-
nio de verdade na dcada de 30 representa a disputa entre a epistemologia falibi-
lista de Neurath e Carnap
12
e a epistemologia fundacionalista de Schlick. No caso de
Carnap, importante notar a inuncia da anlise metalingstica, transformando os
problemas loscos emquestes de linguageme, no caso das sentenas bsicas, em
questes sintticas sobre a funo epistemolgica. Portanto, temos uma alterao da
concepo carnapiana, motivada pela aplicao do princpio de tolerncia na anlise
dos enunciados protocolares. Este processo representa o abandono das pretenses
de construir o conhecimento sobre uma base segura e incorrigvel, rumo a uma in-
terpretao falibilista e anti-fundacionalista do conhecimento em todo seu processo.
3. Concluso
Na viso de Neurath, na cincia unicada, o que h de mais importante so as leis e
a utilizao que fazemos delas para predies de eventos. Deste modo, num sistema
consistente, assim concebido, todas as leis podem, sob certas circunstncias, man-
ter relaes entre si, possibilitando predies bem sucedidas por meio de indues
sicalistas. esta correlao de um sistema unicado de leis com eventos fsicos que
dene o sicalismo (cf. 1959b, p. 286). Assim, os diferentes ramos da cincia compar-
tilham de um mesmo mtodo, de observao e experimento, sem um acesso episte-
molgico privilegiado.
64 Gelson Liston
Se algo pode ser expresso emuma estrutura espao-temporal, ento h a possibi-
lidade de predio e controle cientco. Essa a idia de uma concepo cientca do
mundo. dessa forma, segundo Neurath, que devemos entender no s as cincias
naturais, mas tambm as cincias humanas. Para isso, fundamental assumirmos
a tese de que todo nosso conhecimento est sujeito a erros. Contamos apenas com
hipteses cuja variao de controle se resume a uma questo de grau. Assim, pode-
mos integrar os vrios ramos da cincia, semo ideal de uma unicao por reduo e
sem o abandono do empirismo. Neurath defende a unidade da cincia enquanto um
trabalho cooperativo que se desenvolve gradualmente, aumentando a integrao
13
na busca de melhores resultados para a cincia e, conseqentemente, para a vida. O
que possibilita a integrao entre as cincias (disciplinas) o uso de uma linguagem
cientca universal.
Desta forma, Neurath arma a importncia da unicao da cincia enquanto
uma atitude cientca universal capaz de reunir diversas reas doconhecimentocien-
tco a partir de uma posio emprica, com o auxlio formal da anlise lgica da
linguagem cientca.
14
Essa atitude, que envolve contedo emprico e conexes lgi-
cas consistentes, promovendo a integrao das cincias, o objetivo da cincia uni-
cada. As diculdades de anlise conceitual, incluindo diferentes ramos da cincia,
ou mesmo no interior de uma determinada cincia, sero superadas pela unicao
da linguagem cientca, a base da cincia unicada. Mesmo que diculdades dessa
natureza sempre apaream, o importante manter uma atitude cientca crtica, mas
tolerante; pois, arma Neurath (1938, p. 23), questes abertas e incompletas surgem
em todas as partes deste trabalho, mas o enciclopedismo mantm, todavia, que a in-
tegrao das cincias uma parte inevitvel da atividade cientca humana.
Assim, a Enciclopdia Internacional da Cincia Unicada estabelece seus objeti-
vos com base na cooperao cientca, tendo como fundamento o empirismo cien-
tco e a unidade metodolgica. Deste modo, as diculdades que surgem devido a
um nmero cada vez maior de especializaes em determinados ramos da atividade
cientca podem ser minimizadas e, de certa forma, superadas, sem, contudo, a exi-
gncia de uma traduo radical, difcil e desnecessria, pois a base lingstica si-
calista, e esta, por sua vez, suciente para promover a integrao do conhecimento
cientco.
Referncias Bibliogrcas
Ayer, A. J. 1952. Language, Truth and Logic. New York: Dover Publication.
. 1959. Logical Positivism. New York: The Free Press.
. 1959a. Editors Introduction. In: Ayer 1959.
. 1959b. Verication and Experience. In: Ayer 1959.
Carnap, R. 1932. The Unity of Science. Bristol: Thoemmes Press.
. 1932a. On Protocol Sentences. Nos 21 (1987): 45770.
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo 65
. 1949 [1936]. Truth and Conrmation. In: Feigl, H. and Sellars, W. (eds.): Reading in Philo-
sophical Analysis. New York: Appleton-Century-Crofts.
. 1934. The Logical Syntax of Language. New Jersey: Littleeld, Adams & Company.
Cirera, R. 1994. Carnap and the Vienna Circle: Empiricism and Logical Syntax. Amsterdam,
Atlanta: Rodopi.
Coffa, J. A. 1995. The Semantic Tradition from Kant to Carnap. Cambridge: Cambridge Uni-
versity.
Cohen, R. S. and Neurath, M. (eds.) 1973. Empiricism and Sociology. Boston: D. Reidel Pu-
blishing Company.
Giere, R. N. and Richardson, A. W. (eds.) 1996. Origins of Logical Empiricism. Minnesota Stu-
dies in the Philosophy of Science. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Haack, S. 1995. Evidence and Inquiry. Oxford: Blackwell.
. 1998. Filosoa das Lgicas. So Paulo: Unesp.
Kornblith, H. (org.) 1994a. Naturalizing Epistemology. Cambridge, Massachusetts: The MIT
Press.
Neurath, O. 1973. On The Psychology of Decision. In: Neurath 1983.
. 1916. On The Classication of Systems of Hypotheses. In: Neurath 1983.
. 1930. Ways of The Scientic World-Conception. In: Neurath 1983.
. 1931a. Physicalism: The Philosophy of The Viennese Circle. In: Neurath 1983.
. 1931b. Physicalism. In: Neurath 1983.
. 1931c. Empirical Sociology. In: Neurath 1973.
. 1931d. Sociology in The Framework of Physicalism. In: Neurath 1983.
. 1934. Radical Physicalism and The Real World. In: Neurath 1983.
. 1935a. Pseudorationalism of Falsication. In: Neurath 1983.
. 1935b. The Unity of Science as a Task. In: Neurath 1983.
. 1936a. Individual Science, Unied Science, Pseudorationalism. In: Neurath 1983.
. 1936c. An International Encyclopedia of Unied Science. In: Neurath 1983.
. 1936d. Encyclopedia as Model. In: Neurath 1983.
. 1936e. Physicalism and The Investigation of Knowledge. In: Neurath 1983.
. 1937b. Unied Science and Its Encyclopedia. In: Neurath 1983.
. 1937e. The New Encyclopedia of Scientic Empiricism. In: Neurath 1983.
. 1937/38a. The Departmentalization of Unied Science. In: Neurath 1983.
. 1939/40. The Social Science and Unied Science. In: Neurath 1983.
. 1941. Universal Jargon and Terminology. In: Neurath 1983.
. 1946a. The Orchestration of Science by The Encyclopedism of Logical Empiricism. In:
Neurath 1983.
. 1946b. Prediction and Induction. In: Neurath 1983.
. 1959a. Protocol Sentences. In.: Ayer 1959.
. 1959b. Sociology and Physicalism. In: Ayer 1959.
. 1931. Physicalism. In: Sarkar 1996.
. 1938. Unied Science as Encyclopedic Integration. In: International Encyclopedia of Uni-
ed Science. Chicago: University of Chicago.
. 1973. Empiricism And Sociology. Ed. by Robert S. Cohen & Marie Neurath, (Vienna Circle
Collection, vol. 1). Dordrecht: Reidel.
. Philosophical Papers 1913-1946. Ed. and transl. by Robert S. Cohen & Marie Neurath,
(Vienna Circle Collection vol. 16). Dordrecht: Reidel, 1983.
Oberdan, T. 1993. Protocols, Truth and Convention. Amsterdam, Atlanta: Editions Rodopi.
66 Gelson Liston
. 1996. Postscript to Protocols: Reections on Empiricism. In: Giere and Richardson 1996.
Popper, K. R. 1995. The Logic of Scientic Discovery. London and New York: Routledge.
. 1972. A Lgica da Pesquisa Cientca. So Paulo: Cultrix.
Russell, B. 1995 [1940]. An Inquiry into Meaning and Truth. London and New york: Routledge.
. 1996 [1918]. The Philosophy of Logical Atomism. Chicago and La Salle: Open Court.
Rutte, H. 1991. On Neuraths Empiricism and his Critique of Empiricism. In: Uebel, 1991.
Schlick, M. 1930. The Turning Point in Philosophy. In: Ayer, 1959.
. 1988 [1932]. Positivismo e Realismo. So Paulo: Abril Cultural, Os Pensadores.
. 1988 [1934]. O Fundamento do Conhecimento. So Paulo: Abril Cultural, Os Pensadores.
Uebel, T. 1992. Overcoming Logical PositivismFromWithin. Amsterdam, Atlanta: Editions Ro-
dopi B. V.
. (ed.). 1991. Rediscovering the Forgotten Vienna Circle. Austrian Studies on Otto Neurath
and the Vienna Circle (Boston Studies in the Philosophy of Science). Dordrecht: Kluwer.
Zolo, D. 1989. Reexive Epistemology: The Philosophical Legacy of Otto Neurath. London: Klu-
wer Academic Publisher.
Notas
1
Para Neurath, a linguagem unicada a linguagem das predies (cf. 1959b, p. 291).
2
Neste artigo, no trataremos da discusso sobre os portadores de verdade, de modo que proposies,
sentenas e enunciados sero, indistintamente, tomados como verdadeiros ou falsos.
3
Para Neurath, isso explica a possibilidade de estudar a sociologia (assim como a psicologia e a pol-
tica econmica) enquanto uma parte da estrutura fsica, comeventos espao-temporalmente denidos;
com enunciados empiricamente controlados, ou seja, testados pelo sucesso preditivo, como qualquer
outra cincia (biologia, fsica. . . ).
4
A justicao de umsistema cientco dada pela ausncia de contradio deste comas sentenas de
observao (protocolos). Contudo, tal sistema tem que ser preditivamente til. Disso se segue a grande
importncia que Neurath atribua s leis.
5
SusanHaack (1998, p. 130) questiona se as teorias da coerncia e da correspondncia precisamser en-
caradas como rivais entre as quais se obrigado a escolher, ou como suplementando-se mutuamente.
6
Estamos nos referindo idia de uma congruncia estrutural entre proposio e fato.
7
Como veremos mais adiante, alm da consistncia, uma teoria cientca deve contar com a ampli-
tude ou abrangncia. Alm disso, a aceitao de um novo enunciado ou a reviso do sistema precisa, de
alguma forma, de uma justicao mais robusta, que v alm da simples consistncia. Neurath apre-
senta uma importante razo que justicaria qualquer uma das opes: aumentar o poder preditivo do
sistema.
8
A crtica de Schlick ser examinada nas pginas seguintes, onde apresentaremos a funo da relao
inferencial do coerentismo de Neurath.
9
Isso indica a inexistncia do empirismo ingnuo no positivismo lgico.
10
No podemos deixar de mencionar, neste momento, que a identicao que Popper faz das sentenas
protocolares de Neurath e Carnap com o chamado psicologismo da base emprica a doutrina de
acordo com a qual enunciados podem encontrar justicao no apenas em enunciados, mas tambm
na experincia perceptiva (Popper 1972, p. 100) um equvoco no que se refere concepo de
Neurath.
11
Na estrutura da cincia unicada, todos os tipos de classicaes de enunciados so possveis. De-
cidimos, por exemplo, se certos enunciados so enunciados de realidade, enunciados de alucinaes,
ou mentiras, de acordo com o grau com que estes enunciados podem ser utilizados para deduzir con-
cluses acerca de eventos fsicos alm do simples movimento labial (Neurath 1931d, p. 66).
12
No caso de Carnap, a partir de 1934.
O Fisicalismo de Neurath e os Limites do Empirismo 67
13
Este era um dos objetivos da Enciclopdia Internacional da Cincia Unicada. Se algum fala de
uma concepo cientca do mundo, em contradio a uma viso losca do mundo, mundo no
est indicando um todo denido, mas um contnuo desenvolvimento na esfera da cincia. Esta con-
cepo deduzida a partir do trabalho cientco individual, com o desejo de ser incorporado cincia
unicada. Isso diferente na losoa tradicional, que alcana suas concluses sobre o mundo a partir
de consideraes fundamentais (Neurath 1930, p. 32).
14
O que caracteriza a moderna concepo cientca do mundo a interconexo de fatos empricos
individuais em uma estrutura de toda a seqncia de eventos e no tratamento lgico uniforme de toda
sucesso de pensamento, a m de criar uma cincia unicada que possa servir, com sucesso, em ativi-
dades de transformao (Neurath 1930, p. 42).
LAS CONSTRICCIONES DESENVOLVIMIENTALES COMO CAUSAS REMOTAS DE
LOS PROCESOS EVOLUTIVOS
GUSTAVO CAPONI
Universidade Federal de Santa Catarina
caponi@cfh.ufsc.br
Visto desde la perspectiva de la teora clsica de la evolucin, y denido en su forma
ms general, un hecho evolutivo es siempre un cambio, o una sucesin acumulativa
de cambios, en la frecuencia de dos, o ms, formas o variantes alternativas al interior
de una poblacin; y, bajo ese mismo punto de vista, puede decirse que la condicin
de posibilidad de ese hecho es la existencia de por lo menos dos ms formas alterna-
tivas para algn rasgo morfolgico, funcional o comportamental. Dndose siempre
por supuesto, claro, que esas variaciones son hereditariamente trasmisibles.
As, si hacemos abstraccin de esas otras fuerzas del cambio evolutivo que son
la deriva gentica, la mutacin y la migracin, y slo pensamos en la seleccin natu-
ral, es obvio que para que sta pueda ser citada como factor de cambio, o aun como
factor de estabilidad, debe cumplirse la condicin de que existan alternativas sobre
las que ella pueda operar. O dicho de un modo ms general: para que una fuerza del
cambio evolutivo pueda operar deben existir variaciones de un rasgo o caracterstica
cuyas frecuencias relativas puedan ser alteradas o preservadas; y esto vale tanto para
la seleccin natural como para los otras posibles fuerzas evolutivas, con excepcin,
claro, de la propia mutacin.
Pero pensemos ahora en una situacin no contemplada en el caso anterior: pen-
semos en el caso de una caracterstica, o conjunto de caractersticas, cuya frecuencia
al interior de la poblacin, o conjunto de poblaciones, se mantiene siempre invarian-
te; es decir: nunca surge, en ninguna generacin, cualquier mnimo desvo en rela-
cin a ella. Tal podra ser el caso, por ejemplo, del numero de segmentos en alguna
especie o gnero particular de ciempis. En este caso, es obvio, la seleccin no tiene
nada que hacer: no hay alternativas cuya frecuencia alterar o mantener. Tal vez ella
estuvo involucrada en el proceso que llevo a esa situacin: podra ser un caso de lo
que Waddington llam seleccin natural canalizadora (cfr. Maynard Smith et al. 1985,
p. 270). Pero, sea cual sea la causa de ese estado de cosas, lo cierto es una vez llega-
do a ese punto, para ese rasgo particular, no hay proceso selectivo posible; a no ser,
claro, que por mutacin se cree una nueva variante. Pero, mientras eso no ocurra, lo
cierto es que, para esa caracterstica especca, ya no hay materia prima de variacin
sobre la cual la seleccin pueda actuar; y, por lo tanto, no hay fenmeno evolutivo a
explicar.
Si no hay forma alternativa para un rasgo; entonces, su permanencia no tiene por
qu ser explicada (cfr. Amundson 2001, p. 318). Una vez instalada, se dir, la perma-
nencia de esa constancia morfolgica no precisa de ninguna explicacin porque all
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 6874.
Las constricciones desenvolvimientales como causas remotas de los procesos evolutivos 69
no puede ocurrir ninguna divergencia: no hay alternativas cuya frecuencia relativa
debamos explicar; y, en ese sentido, no hay fenmeno evolutivo posible. Lo que hay
es slo un fenmeno hereditario: un asunto para la teora que explique la transmi-
sin de las caractersticas orgnicas de padres para hijos; pero no se trata de nada
que represente un fenmeno a ser explicado por las fuerzas de cambio previstas por
la propia teora de la evolucin. Esto puede parecer extrao, pero es lo que se des-
prende de considerar al fenmeno evolutivo como alteracin o preservacin de las
frecuencias relativas de formas alternativas al interior de una poblacin; y es as es
como la teora neodarwiniana de la evolucin trata a los resultados de los procesos
evolutivos pasados que hoy limitan el margen de maniobra de la seleccin natural
(cfr. Amundson 2005, pp. 2289).
Ellos aparecen como meros constraints o constricciones cuya permanencia no
constituye un asunto a ser discutido por la propia teora. Si en el pasado de una po-
blacin esa constriccin no exista, la teora podr explicar cmo fue que la selec-
cin natural y otros factores del cambio evolutivo acabaron por producirla; pero una
vez instalada, la permanencia de esa limitacin escapar al campo de aplicacin de
la teora. Ella, al nal de cuentas, es una teora del cambio entendido precisamen-
te como una opcin entre dos, o ms, alternativas efectivamente presentes en una
poblacin. Desde esa perspectiva, todo cambio evolutivo de gran escala deber ser
entendido como una suma de esas opciones producidas por la seleccin natural; y es
por eso que para el darwinismo la variabilidad de todas las poblaciones es un presu-
puesto central, un dato poblacional primitivo. Sin esa variabilidad, sin esa oferta de
alternativas, no hay fenmeno evolutivo posible; y decir esto es lo mismo que repetir
aquello sobre lo cual Darwin (1859, p.127) y Wallace (1891, p. 158) tanto insistieron:
la variacin es condicin de la evolucin (Sterelny 2000, S373).
O para decirlo de otro modo: no habiendo alelos cuya ecacia biolgica pueda
cambiar, no hay alteracin o constancia posible de sus frecuencias relativas que me-
rezca explicacin. Un rasgo que no vara no puede evolucionar porque la evolucin
no es otra cosa que la preservacino alteracinde la proporcinde las variantes de un
rasgo al interior de una poblacin. All ni siquiera la estabilidad de la poblacin me-
rece ser explicada porque no haba ningn cambio que pudiese ocurrir; y es por eso
que puede decirse que, en ese caso, no se cumplen las condiciones de posibilidad del
fenmeno evolutivo tan claramente explicitadas por el Principio de Hardy-Weinberg.
El grado cero del fenmeno evolutivo al que ste tcitamente alude es un estado en
donde ya existen variantes alternativas en una determinada proporcin que podra
ser alterada; y por eso tampoco puede confundirse esa situacin con el efecto de la
seleccin natural estabilizadora o con la mutua neutralizacin de diversas fuerzas de
cambio.
Cuando hablamos de un rasgo invariante estamos hablando de aquello a lo que
Darwin (1859, p. 206) aluda con la expresin Unidad de Tipo; y esa Unidad de Tipo
no se explica por ninguna fuerza que, por denicin, acte, preservando o alterando,
la frecuencia de variantes alternativas. La Unidad de Tipo simplemente se explica por
70 Gustavo Caponi
comunidad de descendencia; es decir: como el arrastre hereditario de una forma an-
cestral resultante de procesos evolutivos anteriores pero que ahora, en la medida en
que permanezca invariante, quedar excluida de esos procesos (cfr. Sterelny & Grif-
ths 1999; Amundson 2005, p. 206). Para ella no habr fenmeno evolutivo posible;
y es por eso que puede decirse que, bajo la perspectiva del darwinismo ortodoxo, la
Unidad de Tipo, la ausencia de variantes alternativas, es solo un factor limitante y no
un factor positivamente actuante en la evolucin (cfr. Amundson 2001, p. 318 y 2005,
p. 8).
Claro, esa discriminacin entre un puro lmite y factor positivamente actuante no
es en absoluto neutral: ella est comprometida con el presupuesto de que los hechos
evolutivos son desvos o divergencias a partir a partir de una forma o estado inicial.
Nadie puede negar, sin embargo, que esas constricciones o limitaciones a las que nos
estamos reriendo inciden de hecho en el curso de la evolucin. sta, en deniti-
va, tendr que tomar los caminos que esas constricciones no le prohban o aquellas
que stas le propongan. Por lo tanto, la pregunta por qu es lo que determina que
esas constricciones se establezcan y la pregunta por qu es lo que determina que en
algunas circunstancias esas constricciones sean abolidas, puede resultar altamente
relevante para entender la senda y la secuencia de los procesos evolutivos.
El darwinismo clsico siempre nos llev a preguntarnos por el por qu de la di-
vergencia; pero tambin puede ser interesante que nos preguntemos por aquello que
determina y establece el espacio de las divergencias posibles (cfr. Amundson 2001,
p. 317). Y no se trata solamente de una interrogacin por los factores que limitan el
cambio sino tambin de una pregunta por los factores que abren o crean nuevas al-
ternativas de cambio. Se trata, en sntesis, de la pregunta por aquellos factores que
determinan, obturando o abriendo, las trayectorias posibles de los fenmenos evolu-
tivos. Muchos de esos factores tienen que ver con constricciones puramente fsicas:
lo biolgicamente posible est siempre antes determinado por lo fsicamente posible.
Otras son constricciones de ndole siolgica que pueden recordarnos a las leyes de
coexistencia de los rganos postuladas por Cuvier: hasta donde sabemos la evolucin
nunca podra producir un animal de sangre caliente con respiracin branquial.
Pero estas constricciones son puramente negativas: nos informan slo sobre lo
que nunca podra ocurrir y nos dicen muy poco sobre las sendas posibles de la evo-
lucin. No parece ocurrir lo mismo, sin embargo, con las constricciones desenvolvi-
mientales (developmental constraints) que hoy ocupan a la Biologa Evolucionaria
Desenvolvimiental: en ese caso se trata de factores cuyo estudio podra contribuir a
explicar la direccin y la secuencia de los cambios evolutivos (Hall 1992, p. 77; Wil-
kins 2002, p. 383). Los constraints desenvolvimientales seran constraints positivos y
no meramente negativos o limitantes: seran genuinas fuerzas evolutivas que, conco-
mitantemente con otros factores como la seleccin natural, iran pautando el curso
de la evolucin (Sterelny 2000, S374; Gould 2002, p. 1028; Wilkins 2002, p. 384).
Para entender esas constricciones debemos pensar en lo siguiente: toda innova-
cin evolutiva posible, toda variacin que pueda ofrecerse al escrutinio de la selec-
Las constricciones desenvolvimientales como causas remotas de los procesos evolutivos 71
cin natural, tiene que poder corporizarse antes en una alteracin ontogentica via-
ble (Amundson 2001, p. 314; Schwenk & Wagner 2003, p. 59). Para que una variacin
fenotpica surja y pueda entrar en competencia darwiniana con otras, algo en el pro-
ceso de la ontognesis tiene que ser atroado o hipertroado, agregado o suprimido,
transpuesto o deformado, postergado o anticipado; y es ah en donde encuentra su
relevancia aquello que Ron Amundson (2005, p. 176) ha llamado Principio de Com-
pletud Causal: Para producir una modicacin en la forma adulta, la evolucin debe
modicar el proceso embriolgico responsable por esa forma. Por eso, para compren-
der la evolucin es necesario comprender el desarrollo.
Pero, sea cual sea la ndole de esa alteracin, ella tiene que cumplir con dos re-
quisitos fundamentales: en primer lugar ella tiene que ser accesible para el sistema en
desarrollo (Maynard Smith1985, p. 269; Raff 2000, p. 78), es decir, tiene que tratarse de
una alteracinpasible de ser producida eny por ese mismo proceso ontognetico (cfr.
Arthur 1997, p. 48; Azkonobieta 2005, p. 118); y, en segundo lugar, ella tiene que ser tal
que, ni aborte ese proceso, ni genere un monstruo totalmente inviable (Amundson
2001, p. 320). Adems de fsica o siolgicamente posible, un cambio evolutivo tiene
que ser ontogenticamente posible (cfr. a, 2005, p. 231; Azkonobieta 2005, p. 118): la
ontognesis puede o no recapitular a la lognesis; pero con seguridad la limita y la
orienta (cfr. Hall 1992, p. 11; Wilkins 2002, p. 384).
La limita estableciendo cules modicaciones son viables y cules no; pero al ha-
cer eso tambin la orienta: si un rasgo A puede cambiar a la forma A o a la forma A,
pero la viabilidad de Adepende de que simultneamente a ella se d otra serie com-
pleja de cambios en otros rasgos y la viabilidad de A no depende de esa coincidencia
feliz; entonces ste ser un cambio ms probable que aqul. Para la evolucin, para
decirlo de algn modo, el estado A ser ms accesible que el estado A; y esto puede
explicar que A se d, y no A, aun cuando nosotros pudisemos imaginar que ste se-
ra darwinianamente ms ecaz que aqul. Una innovacin puede ser muy til pero
si es muy difcil de ser incorporada al proceso de desarrollo; entonces es muy posible
que ella nunca ocurra y que en su lugar ocurra otra innovacin, tal vez un poco me-
nos ecaz entrminos adaptativos, pero que exige una reformulacinmenor y menos
improbable de la ontognesis.
La seleccin natural, ya lo sabemos, siempre opera sobre una oferta previa de al-
ternativas viables (si no fuesen viables no podran entrar en competicin y no cabra
hablar de seleccin natural); y el estudio de las constricciones ontogenticas puede
permitirnos explicar la composicin de esa oferta (Amundson 1998, p. 108 y 2001,
p. 326). Una constriccin desenvolvimiental, tal como ya fue denida en el consensus
paper organizado por Maynard Smith, Dick Burian y Stuart Kauffman en 1985, sera
justamente un sesgo en la produccin de variantes fenotpicas o una limitacin de
la variabilidad fenotpica, causada por la estructura, carcter, composicin, o din-
mica del sistema desenvolvimiental(Maynard Smith et al. 1985, p. 266); y ese sesgo,
obviamente, denira el margen de juego de la seleccin natural. En cierta forma esto
parece lo de siempre: la variacin propone y la seleccin natural dispone; pero s-
72 Gustavo Caponi
ta slo dispone dentro de un abanico restricto de alternativas que aqulla insiste en
proponer (cfr. Arthur 2004, p. 131 y p. 195).
Decir, entonces, que la seleccin natural es la nica fuerza que, en ese caso, es-
t guiando la evolucin sera como creer que cuando optamos entre uno de los dos
nicos caminos posibles para llegar a otra ciudad, somos nosotros los que estamos
trazando la ruta. O peor: sera como creer que cuando el voto popular consagra uno
entre dos candidatos a presidentes, sonlos ciudadanos los que estnpautando el des-
tino de la repblica. No se trata, claro, de decretar que Brian Goodwin tenga razn. No
se trata de armar que la seleccin natural no sea ms que una ilusin semejante a
navegar en un barquito de Disneylandia (cfr. Dennett 2000, p. 338). Se trata de aceptar
la posibilidad de que la evolucin, a la manera de los barcos del Mississippi de Mark
Twain, deba restringirse a ciertos canales fuera de los cuales la propia navegacin se
hace imposible.
Pero, adems de permitirnos explicar la oferta de variaciones que pueden darse
en una determinada poblacin, el estudio de los procesos de desarrollo tambin pue-
de permitirnos entender la secuencia de las innovaciones evolutivas. La ontognesis
es un proceso necesariamente secuencial: una estructura solo surge cuando existen
otras estructuras previas que le sirven de base; y el estudio de esas etapas puede per-
mitirnos determinar cules fueron los pasos que sigui la propia evolucin. Si en la
ontognesis, un rgano A surge por la diferenciacin de las clulas que componen el
tejido de un rgano B ya parcialmente conformado; entonces, podemos inferir que
A es una innovacin evolutiva posterior a B. La lognesis puede hacer muchas co-
sas con A y con B; pero si las clulas de A son una especializacin de las clulas de
B, ella necesariamente tuvo que producir a B antes que a A. La ontognesis, lo vemos
otra vez, pauta y ordena los pasos de la lognesis (Hall 1992, p. 11; Amundson 2005,
p. 90).
De modo semejante, si descubrimos que en el desarrollo de los animales segmen-
tados, el surgimiento y la separacin de estos segmentos es anterior a su diferencia-
cin morfolgica y funcional; podremos concluir que la evolucin primero produjo
seres modulares, fragmentando o repitiendo una estructura preexistente, y luego co-
menz a trabajar esos segmentos por separado. Y ser el propio estudio del desarrollo
el que nos permitir saber si lo que hubo fue la fragmentacin o la repeticin de una
estructura preexistente. La seleccin natural, claro, habr de ser siempre el tribunal
que juzgar la conveniencia y la oportunidad de cada una de esas innovaciones; pero
ella no podr alterar su secuencia.
En sntesis: la seleccin natural, y las otras fuerzas evolutivas, operan siempre so-
bre unmenlimitadode alternativas y de loque se trata es de saber cmose congura
y se altera ese men que, forzosamente, empuja a la evolucin en unas direcciones y
no en otras. La variacin posible de la informacin hereditaria puede ser isotrpica
como Wallace (1891, p. 158) quera; pero, de hecho, la oferta de alternativas a ser se-
leccionadas ciertamente no lo es (Arthur 1997, p. 251 y 2004, p. 90). Entre la variacin
gentica y la seleccin natural parece estar operando otro ltro: aqul que discrimi-
Las constricciones desenvolvimientales como causas remotas de los procesos evolutivos 73
na entre alteraciones viables y alteraciones no viables de la ontognesis. De lo que se
trata es de comprender cmo es que ese ltro funciona (Arthur 1997, p. 218 y 2004,
p. 122); y de eso se estn ocupando los investigadores que trabajan en Evo-Devo.
Pero, si lo que nos interesa es una caracterizacin epistemolgica general de la
naturaleza de esos ltros, creo que la propuesta que al respecto ha hecho Wallace
Arthur est particularmente bien encaminada. Para caracterizar ese ltro al que aca-
bo de aludir, este autor nos propone volver al concepto de seleccininterna propuesto
por Lancelot Law Whyte en la primera mitad de los aos sesenta (Arthur 2000, p. 54;
2004, p. 121). Segn Whyte (1965, pp. 78) la seleccin interna o desenvolvimiental
(developmental) podra denirse de dos formas complementarias: una sera como
seleccin interna de mutantes a nivel molecular, cromosmico y celular en funcin
de su compatibilidad con la coordinacin interna de un organismo; y la otra sera co-
mo restriccin de las direcciones hipotticamente posibles del cambio evolutivo por
factores organizacionales internos. Enel primer caso, me atrevo decir, la seleccinde-
senvolvimiental parece tomada como una causa prxima que acta en los procesos
ontogenticos individuales abortando o revirtiendo modicaciones inviables; y en el
segundo caso ella parece considerada como una causa remota que actuara sobre la
evolucin ltica.
As, del mismo modo en que la seleccin natural darwiniana puede ser considera-
da como el efecto transgeneracional de ciertos factores ecolgicos que actan sobre
una poblacin; la seleccin desenvolvimiental; en cuanto que fuerza evolutiva, puede
ser considerada como el efecto logentico de factores organizacionales que actan
sobre los procesos ontogenticos. Pero, si las poblaciones, o grupos de poblaciones,
son el medio en donde se propaga la causalidad evolutiva clsica, las constricciones
desenvolvimientales pueden ser descriptas como actuando sobre todos los rdenes
taxonmicos que compartan un mismo plano corporal; y, en este sentido, ellas pue-
den ser pensados como causas remotas de un nivel superior a las causas de cambio
previstas en la teora de la seleccin natural.
Referencias
Amundson, R. 1998. Two concepts of constraint: adaptationism and the challenge from deve-
lopmental biology. In Hull, D. & Ruse. M. (eds.) The Philosophy of Biology. Oxford: Oxford
University Press: 93116.
. 2001. Adaptation and Development: on the lack of a common ground. In Orzack, S. &
Sober, E. (eds.) Adaptationism and Optimality. Cambridge: Cambridge University Press:
30334.
. 2005. The Changing Role of the Embryo in Evolutionary Thought. Cambridge: Cambridge
University Press.
Arthur, W. 1997. The origin of animal body plans. Cambridge: Cambridge University Press.
. 2000. The concept of developmental reprogramming and the quest for an inclusive theory
of evolutionary mechanisms. Evolution & Development 2(1): 4957.
. 2004. Biased Embryos and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
74 Gustavo Caponi
Azkonobieta, T. 2005. Evolucin, desarrollo y (auto)organizacin. Un estudio sobre los princi-
pios loscos de la Evo-Devo. San Sebastin: Universidad del Pas Vasco [Tesis Doctoral].
Darwin, C. 1859. On the origin of species. London: Murray.
Dennett, D. 2000. With a little help form my friends. In D. Ross; A. Brook; D. Thompson (eds.)
Dennetts Philosophy. Cambridge: MIT Press: 32788.
Gould, S. 2002. The Structure of Evolutionary Theory. Cambridge: Harvard University Press.
Hall, B. 1992. Evolutionary Developmental Biology. London: Chapman & Hall.
Maynard Smith, J.; Burian, R.; Kauffman, S.; Alberch, P.; Campbell, B.; Goodwin, B.; Lande,
R.; Raup, D.; Wolpert, L. 1985. Developmental Constraints and Evolution. The Quarterly
Review of Biology 60(3): 26587.
Raff, R. 2000. Evo-devo: the evolution of a new discipline. Nature Reviews Genetics 1: 749.
Schwnenk, K. & Wagner, G. 2003. Constraint. In Hall, B. & Olson, W. (eds.) Keywords and Con-
cepts in Evolutionary Developmental Biology. Cambridge: Harvard University Press: 5260.
Sterelny, K. 2000. Development, Evolution, and Adaptation. Philosophy of Science 67 (Procee-
dings, Part II): S369S387.
Sterelny, K. & Grifths, P. 1999. Sex and Death. Chicago: The Chicago University Press.
Wallace, A. R. 1891. Creation by law. In Wallace, A. Natural Selection and Tropical Nature. Lon-
don: Macmillan: p. 14166
Wilkins, A. 2002. The evolution of developmental pathway. Sunderland: Sinauer.
Whyte, L. 1965. Internal Factors in Evolution. New York: Braziller.
REALISMO E ANTI-REALISMO:
O QUE PODEMOS APRENDER A PARTIR DA HISTRIA DO SPIN
GUSTAVO RODRIGUES ROCHA
Fundao Educacional do Vale do Jequitinhonha UEMG
grr2001@hotmail.com
A formulao de questes loscas a respeito da natureza da realidade, ou seja, das
suas entidades e propriedades fundamentais, ou a respeito das condies de possi-
bilidade deste discurso pertence, geralmente, ao domnio da ontologia ou da metaf-
sica, ou, colocando de outra forma, concepo realista do conhecimento cientco.
Alternativamente, h a via anti-realista que, ao abandonar por completo a formula-
o destas questes, e at mesmo consider-las irrelevantes, centra-se no papel que
os experimentos e a tecnologia, por um lado, e as teorias e as crenas, por outro, de-
sempenhamna construo de umdiscurso, ou de uma rede de signicados, capaz de
prover uma realidade operacional s entidades e propriedades fsicas.
Oobjetivo deste trabalho mostrar como que a histria do spin, considerado uma
destas propriedades fundamentais da matria, pode contribuir para este debate en-
tre realismo e anti-realismo. Para tanto, vamos confrontar a perspectiva do trabalho
de Margaret Morrison, History and Metaphysics: On the Reality of Spin (Morrison
2001, p. 42549), o qual bastante centrado na histria terica do spin, com o empi-
rismo construtivo de van Fraassen apresentado na sua obra A Imagem Cientca (van
Fraassen 1980). Assim, primeiramente vamos introduzir os elementos chaves da his-
tria do spin e, em seguida, apontar algumas nuanas sobre como a sua realidade
foi estabelecida.
A explicao do espectro atmico atravs da teoria de Bohr exigiu uma tripla
quantizao expressa pelos nmeros qunticos n (principal), l (azimutal) e m (mag-
ntico), todos associados rbita do eltron. Contudo, j no incio da dcada de 20
estes trs nmeros qunticos no eram mais sucientes. Os estudos sobre o efeito
Zeeman
1
revelaram que havia mais componentes do que aquelas que os trs nme-
ros qunticos podiam explicar, como nos relata Tomonaga, no seu livro The Story of
Spin:
Como vocs sabem, Bohr publicou uma teoria para o espectro do tomo de
hidrognio em 1913. Segundo a sua teoria, o termo espectral do tomo de hi-
drognio pode ser dado pelo nmero quntico principal n, o nmero quntico
subordinado l , e o nmero quntico magntico m. (. . . )
Logo se descobriu, contudo, que os termos determinados por l e m no so
nicos, mas compostos de vrios nveis muito prximos, ou seja, eles possuem
uma estrutura mltipla. Por exemplo, os termos dos tomos alcalinos, exceto
para os termos S, so todos compostos por dois nveis muito prximos. (. . . )
2
Assim, se h uma multiplicidade nos termos do espectro, est claro que os
nmeros qunticos n, l e m so insucientes para se explicar todos os nveis.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 7582.
76 Gustavo Rodrigues Rocha
Foi ento que Sommerfeld introduziu o quarto nmero quntico j , em 1920, e
usou os quatro nmeros n, l , m e j . Ele chamou este nmero extra de nmero
quntico interno. (Tomonaga 1997, p. 13).
Entre 1922 e 1925, como nos mostra Tomonaga, trs teorias concorrentes surgi-
ram a m de se introduzir os nmeros qunticos internos e se explicar o efeito Zee-
man. Estas teorias foram elaboradas por Sommerfeld, Land, e Pauli. Cada um deles
introduziu nmeros qunticos internos diferentes. O quarto nmero quntico foi
chamado de nmero quntico interno justamente pelo fato de no se poder cons-
truir uma imagem associada a ele para se explicar o desdobramento excedente das
linhas espectrais.
Contudo, em 1925, dois fsicos holandeses, Samuel Goudsmit (1902-1978) e Ge-
orge Uhlenbeck (1900-1988), zeramuma proposta ousada. Eles sugeriramque o n-
mero quntico adicional, ao invs de ser descrito pela rbita do eltron, poderia ser
descrito pelo prprio eltron. O eltron, at ento, era visto como um ponto caracte-
rizado somente pela sua massa e pela sua carga eltrica. Porm, os fsicos holandeses
sugeriram que pensssemos o eltron como um pequeno corpo eletricamente carre-
gado rodando ao redor do prprio eixo. O nome spin, que signica giro em ingls,
teria surgido desta idia de se caracterizar a natureza do quarto nmero quntico.
Assim, como qualquer carga em movimento rotacional, o eltron deveria possuir um
certo momento angular e umcerto momento magntico. As diferentes orientaes na
rotao do eltron, ou, como se diria, os seus diferentes spins, comrelao ao plano
de sua rbita seriam responsveis pelas diferentes componentes adicionais na linha
do espectro. Surpreendentemente, observou-se que a proposta funcionava e que, ao
atribuir ao eltron um certo momento angular e um certo momento magntico, po-
deria se explicar todas as linhas adicionais encontradas experimentalmente.
Porm, no demorou muito para se descobrir a impropriedade de se conceber o
spin emtermos clssicos, ou seja, como resultado de uma pequena esfera girante car-
regada. Ehrenfest, por exemplo, observou que a combinao dos nmeros qunticos
com esta imagem clssica do eltron seria incompatvel com a relatividade restrita.
Pois, caso assumssemos que o eltron um objeto extenso, e, ainda assim, manti-
vssemos as relaes entre os momentos magnticos orbital e de spin do eltron e
os seus respectivos fatores g
s
, seramos levados a concluir que a velocidade de rota-
o do eltron cerca de dez vezes maior que a velocidade da luz. Alm disto, Kronig
mostrou, posteriormente, que a frmula da estrutura na do hidrognio, encontrada
atravs deste tratamento clssico do eltron, seria duas vezes o valor dado pela obser-
vao. Goudsmit e Uhlenbeck no derivaram esta frmula e, portanto, no tomaram
conhecimento deste problema. Heisenberg, logo depois, enviou uma carta aos fsicos
holandeses apontando o mesmo problema.
Vrias tentativas foramfeitas no sentido de se livrar destas diculdades. Contudo,
somente em 1928, quando Dirac publicou seu famoso artigo The Quantum Theory
of the Electron, o problema recebeu uma nova orientao. A mecnica quntica at
Realismo e Anti-realismo 77
aproximadamente esta poca havia sido bemsucedida emdiversas aplicaes, como,
por exemplo, a espectroscopia. Entretanto, a teoria apresentava vrias questes em
aberto, sendo uma delas a sua relao coma teoria da relatividade restrita. Para que a
mecnica quntica fosse mesmo uma teoria fundamental do microcosmo ela deveria
ser consistente tambm com a teoria da relatividade restrita. O prprio Schrdinger
j havia elaborado uma verso relativstica da sua equao de onda. Oskar Klein, Wal-
ter Gordon e vrios outros fsicos tambm zeram o mesmo por volta de 1926 e 1927.
Todavia, esta equao, conhecida como equao Klein-Gordon, no resultou no valor
correto para a estrutura na do hidrognio. No seu artigo, Dirac, alm de chegar ao
valor correto para a estrutura na, apresenta uma equao de onda relativstica para
o eltron que, sem introduzir previamente o seu valor de spin, o incorpora automati-
camente de maneira dedutiva. A teoria de Dirac foi rapidamente aceita e, alm de ter
sido uma bela vitria para a teoria da relatividade, colocou o spin do eltron dentro
de uma slida estrutura terica ao evidenciar a sua relao com a relatividade.
Assim, uma vez introduzido estes elementos bsicos da histria do spin, dese-
jamos agora evidenciar como a sua realidade foi estabelecida por etapas, atravs
de diferentes atores e por diferentes razes. Nos orientaremos a partir de agora pelo
trabalho de Margaret Morrison. A natureza fsica do spin ainda pouco entendida,
muito embora hoje no se negue que esta seja uma propriedade real do eltron e
de outras partculas elementares. A conexo entre o spin e a teoria da relatividade,
por exemplo, parece um pouco ambgua. Dirac armou que ele havia mostrado que
o spin era uma conseqncia da relatividade, porm, isto parece pouco provvel se
levarmos emconsiderao que existempartculas relativsticas comspin igual a zero.
Por isto esta conexo ainda motivo de muitos debates (embora no seja incomum
encontrarmos livros didticos referindo ao spin como uma conseqncia da teoria
da relatividade).
No seu trabalho supracitado Margaret Morrison aponta diversos fatores que fo-
ram responsveis pela aceitao do spin como uma propriedade real do eltron.
Atravs da histria terica do spin a autora nos mostra como o seu status ontolgico
se desenvolveu ao longo do tempo. No houve um momento decisivo marcando o
nascimento do spin ou estabelecendo a sua aceitao. Bohr, por exemplo, foi con-
vencido da realidade do spin, segundo Margaret, devido sua convico mais ge-
ral a respeito da relao entre a fsica clssica e a teoria quntica. Em 1926, Bohr e
Uhlenbeck publicaram um artigo na Nature no qual Bohr armava que a hiptese
do spin abria uma perspectiva muito promissora de entendermos mais extensiva-
mente as propriedades dos elementos por meio de modelos mecnicos, pelo menos
na maneira qualitativa caracterstica das aplicaes do princpio de correspondn-
cia (Morrison 2001, p. 435). O spin era uma idia clssica apresentada no esquema
terico da mecnica quntica que resolvia problemas qunticos. Para Bohr isto repre-
sentava o exemplo perfeito de como as fsicas clssica e quntica poderiam se fundir
atravs do princpio de correspondncia. No caso de Heisenberg a situao foi dife-
rente. Depois de ter sido persuadido por Bohr e ter falhado na tentativa de se obter
78 Gustavo Rodrigues Rocha
atravs da mecnica quntica a estrutura complexa do espectro, Heisenberg se resig-
nou hiptese do spin. Para ele a hiptese do spin se apresentava como a melhor
base para a aplicao das idias qunticas ao problema do espectro atmico.
Assim, para Bohr, foi ultimamente a conexo com a teoria quntica que mudou
o status do spin de um instrumento de clculo para uma propriedade real, en-
quanto para Heisenberg, foi o sucesso experimental emexplicar a estrutura com-
plexa do espectro. Seria um erro dizer que Heisenberg abraou a realidade do
spin da mesma maneira que Bohr. O ltimo entendeu o spin como tendo cone-
xes tericas profundas que explicavam o que era signicante sobre o princpio
de correspondncia. Heisenberg por outro lado viu a sua utilidade instrumental,
uma utilidade que se traduziu na sua aceitao como real (Morrison2001, p. 436).
J para Pauli, a sua objeo contra o spin era tanto o seu carter clssico quanto
o seu conito com a relatividade. Ele nunca aceitou completamente a idia dinmica
de um eltron em rotao e para ele nenhuma explicao sobre a natureza funda-
mental do spin tinha sido dada. O seu argumento contra a hiptese do spin era que,
uma vez que os renamentos relativsticos eram feitos, ela se mostrava incompat-
vel com a experincia. Contudo, Thomas mostrou, em 1926, que as duas teorias no
eram incompatveis e, assim, Pauli se tornou mais simptico idia do spin. Porm,
embora o trabalho de Thomas tenha sido importante para a aceitao do spin por
parte de Pauli, foi, segundo Margaret, a sua convico de que o spin era essencial-
mente uma propriedade da mecnica quntica que o levou a aceitar a sua validade
sem uma imagem dinmica satisfatria. Assim, foi uma atitude losca sobre a na-
tureza terica da mecnica quntica que permitiu Pauli a nalmente aceitar o spin
como algo real. Para Pauli a realidade do spin estava intimamente ligada ao seu sta-
tus como um fenmeno puramente quntico. Assim,
por volta de 1926 parecia no haver dvida de que o spin era real apesar da ques-
to problemtica a respeito da sua natureza fsica. O que losocamente inte-
ressante sobre esta histria at esta poca no somente as diferentes atitudes
a respeito da realidade do spin, mas tambm o fato de ter sido possvel aceitar
algo como real sem o tipo de entendimento terico tpico da maioria das en-
tidades clssicas. Mesmo para aqueles que atualmente interpretam a mecnica
quntica comuma teoria instrumentalista ou como ummecanismo de clculo,
difcil negar que propriedades como o spin so caractersticas essenciais e reais
das partculas elementares, caractersticas que somente fazem sentido nos ter-
mos da mecnica quntica (Morrison 2001, p. 439).
Embora a relao entre o spin e a relatividade tenha voltado tona atravs do
trabalho de Dirac de 1928 e recebido, assim, um maior esclarecimento terico, no
se obteve, com isto, um melhor entendimento a respeito da sua natureza fsica. No
obstante, para Dirac, a realidade do spin se tornou evidente quando a sua equao
de onda relativstica o elevou de uma hiptese ad hoc a uma propriedade que emerge
naturalmente da ligao da fsica com a matemtica. Deste modo, podemos concluir
Realismo e Anti-realismo 79
que diferentes fatores foramresponsveis para se entender o spin enquanto uma pro-
priedade real do eltron e que, alm disto, os problemas conceituais ao redor da sua
natureza fsica no foram, na dcada de 20, assim como continuam no sendo agora,
sucientes para abalar a convico de que o spin uma caracterstica fundamental
do eltron e das outras partculas elementares.
Finalmente, apresentados estes pontos a respeito da histria da aceitabilidade do
spin como uma propriedade real da matria, podemos avanar, conforme deline-
ado no incio, e defrontarmos esta histria como arcabouo conceitual do empirismo
construtivo de Van Fraassen. Segundo este autor, a aceitao de uma teoria envolve,
como crena, apenas que ela seja empiricamente adequada, entendendo, com isto,
que ela salve os fenmenos, ou seja, que tal teoria possua pelo menos um modelo tal
que todos os fenmenos reais a ele se ajustem. Para entendermos o que se pretende
dizer com modelo citamos o prprio autor:
Apresentar uma teoria especicar uma famlia de estruturas, seus modelos; e,
emsegundo lugar, especicar certas partes desses modelos (as subestruturas em-
pricas) como candidatos representao direta dos fenmenos observveis. As
estruturas que podemser descritas emrelatos experimentais e de medio pode-
mos chamar de aparncias; a teoria empiricamente adequada se possui algum
modelo tal que todas as aparncias sejam isomrcas a subestruturas empricas
daquele modelo. (van Fraassen 1980, p. 122)
Deste modo, Van Fraassen distingue os fenmenos das aparncias. Tal distino
ca clara quando nos remetemos ao exemplo da Astronomia. As aparncias, como
acabamos de citar, so as estruturas que podem ser descritas em relatos experimen-
tais e de medio. O que seria, no caso da Astronomia, o exemplo da medio dos
movimentos retrgrados dos planetas. Os fenmenos, por outro lado, seriam os me-
canismos reais que se ajustam aos modelos das teorias. O que seria, neste caso, o
modelo heliocntrico de Coprnico.
A m de ilustrar estas noes cruciais do empirismo construtivo, Van Fraassen
se utiliza, em A Imagem Cientca, do caso da mecnica newtoniana (van Fraassen
1980, pp. 89-94). Baseando-se neste exemplo, vamos tentar fazer o mesmo, a partir de
agora, com a histria do spin.
Assim, primeiramente, devemos nos perguntar quais seriam, neste caso, os fen-
menos que desejamos salvar. Podemos responder a esta pergunta escolhendo dois
exemplos preeminentes: o efeito Zeeman, ou seja, a medida do desdobramento das
linhas espectrais de um conjunto de tomos submetidos a um campo magntico ex-
terno uniforme, e a experincia de Stern-Gerlach, a saber, a constatao de duas com-
ponentes discretas numa placa detectora aps o envio de um feixe de tomos atravs
de um campo magntico no uniforme.
Em segundo lugar, devemos deixar claro qual a teoria que esperamos que salve
estes fenmenos. Acredito que podemos expressar esta teoria da seguinte maneira: o
eltron tem um momento de dipolo magntico intrnseco que uma conseqncia
80 Gustavo Rodrigues Rocha
da existncia de um momento angular intrnseco, o qual denominamos spin e asso-
ciamos ao nmero quntico j .
Aqui surge, aparentemente, a primeira diculdade na aplicao, ao nosso exem-
plo, dos conceitos do empirismo construtivo. Com isto, estou me referindo impos-
sibilidade de se fazer, no nosso caso, a mesma distino entre fenmenos e aparn-
cias que zemos no exemplo da Astronomia. Como vimos, nem o modelo do eltron
como um pequeno corpo eletricamente carregado girando ao redor do prprio eixo
nem nenhum outro modelo foi capaz de retratar um mecanismo consistente que se
ajuste de maneira biunvoca s aparncias descritas pelos relatos experimentais e de
medio. Dizemos, contudo, que a diculdade aparente por que, segundo o em-
pirismo construtivo de Van Fraassen, embora as teorias cientcas devam ser inter-
pretadas literalmente, ou seja, devemos de fato conceber um mecanismo causal por
detrs das aparncias, no objetivo da cincia representar tal mecanismo, mas to
somente salvar as aparncias. Portanto, muito embora a idia de objetividade esteja
presente, esta uma concepo claramente anti-realista, pois nela no se exige que
uma teoria seja verdadeira para que ela seja aceita. Assim, no nosso exemplo, e, como
Van Fraassen parece enfatizar, na maioria dos exemplos da fsica do sculo XX, salvar
os fenmenos o mesmo que salvar as aparncias.
Finalmente, para salvar as aparncias, devemos especicar uma famlia de estru-
turas, ou seja, modelos, de forma a podermos escolher, entre estes modelos, aquele
cujas subestruturas empricas sejam isomrcas a todas as aparncias. A partir deste
ponto nos parece que, de fato, surgem algumas diculdades em conciliar, de uma
forma harmoniosa, os conceitos mencionamos at agora com os tpicos da hist-
ria do spin levantados por Morrison. Espervamos, a partir destes conceitos, que a
aceitao da teoria do spin envolvesse, como crena, to somente que ela fosse em-
piricamente adequada, entendendo, com isto, que tal teoria possusse pelo menos
um modelo tal que todos os fenmenos reais a ele se ajustassem. Contudo, se tornou
difcil entender esta historia sob esta tica.
Em primeiro lugar, no houve, na aceitao do spin, uma escolha, por parte dos
cientistas envolvidos, por um nico modelo. Cada autor, motivado por um ou mais
modelos diferentes, aceitou, de forma realista ou no, o spin como uma propriedade
fundamental do eltron. Em segundo lugar, tampouco os modelos escolhidos tive-
ram adequao emprica com todos os fenmenos. O modelo do eltron girante, por
exemplo, incompatvel coma relatividade restrita e, almdisto, leva a umvalor para
o momento angular de rotao que no nem sequer razovel. Tambm o modelo,
baseado em consideraes semnticas ao redor da equao de Dirac, que entende
o spin como um efeito relativstico, , igualmente, empiricamente inadequado, uma
vez que, como mencionamos, h partculas relativsticas com spin nulo. Finalmente,
como ltimo exemplo, lembramos do modelo adotado por Bohr, para quemo spin foi
considerado umexemplo paradigmtico do seu princpio de correspondncia. Como
sabemos, quase todos os fsicos que adotaramexplicitamente a interpretao de Bohr
ou tiveramuma certa convivncia comele ou foramvisitantes do seu instituto emCo-
Realismo e Anti-realismo 81
penhague. Ainda assim, nem mesmo todos os estudantes de Bohr se converteram
sua losoa, como o caso de Christian Mller, que permaneceu no instituto de 1926
a 1932 sem deixar nenhum trao dos argumentos do princpio de correspondncia
nos seus trabalhos.
Contudo, todos estes modelos foram sucientemente apelativos para que, a des-
peito de suas inadequaes empricas, houvesse uma concordncia quase unnime,
emcurto espao de tempo, a respeito da realidade do spin. Portanto, podemos con-
cluir esta exposio resumindo em trs pontos o que pudemos aprender sobre a dis-
cusso entre realismo e anti-realismo a partir da histria do spin.
1
) O ideal realista que espera que uma teoria cientca seja um relato sobre o
que realmente existe, ou seja, que uma teoria cientica seja verdadeira ou falsa e o
critrio de deciso seja externo atividade cientca inadequado ao nosso objeto
de estudo. Alm do mais, e pela mesma razo, tambm pareceu inadequada, neste
caso, a separao entre fenmenos e aparncias.
Contudo, o abandono do realismo no signica o abandono do ideal de objeti-
vidade. O positivismo lgico e o convencionalismo, por exemplo, so alternativas ao
realismo, como nos lembra van Fraassen no seu primeiro captulo, que no aban-
donam, como fazem, por outro lado, algumas abordagens sociolgicas e construti-
vistas, o ideal de objetividade. Alm do mais, uma atitude anti-realista tambm no
precisa abandonar, como j fazem o positivismo lgico e o convencionalismo, uma
interpretao literal das teorias cientcas. O empirismo construtivo um exemplo
de posio anti-realista que entende que as teorias cientcas devem ser literalmente
interpretadas. Para tanto, o empirismo construtivo se utiliza do conceito de adequa-
o emprica, sobre o qual faremos agora algumas observaes, o que nos levar aos
dois ltimos pontos.
2
) O ideal de adequao emprica, para comportar o presente caso, precisaria,
como notamos, ser um pouco enfraquecido. A teoria deveria poder ser empirica-
mente adequada mesmo se nem todas as aparncias fossem isomrcas s subes-
truturas empricas de um de seus modelos. Como vimos, nenhum dos modelos que
levaramos cientistas mencionados a aceitarema teoria do spin foramtotalmente iso-
mrcos com as aparncias. O problema, neste caso, seria que, se assim fosse, corre-
ramos o risco de ter que aceitar outros critrios, almda adequao emprica, envol-
vidos na aceitao de uma teoria.
3
) A idia de adequao emprica, para comportar o presente caso, no poderia
ser entendida de maneira unvoca, mas precisaria comportar uma multiplicidade de
sentidos. Para Bohr, por exemplo, adequao emprica signicaria uma conexo entre
os conceitos ordinrios da fsica clssica com aqueles da teoria quntica. Este era,
para Bohr, o papel do princpio de correspondncia e, como nos mostra Margaret
Morrison, foi baseado neste modelo que ele aceitou a teoria do spin. Por outro lado,
no caso do Heisenberg, adequao emprica seria algo mais prximo do que ordina-
riamente se entende, ou seja, para ele a teoria do spin era simplesmente a melhor
base para a aplicao das idias qunticas ao problema do espectro atmico.
82 Gustavo Rodrigues Rocha
Para nalizar, gostaria de enfatizar que estas so apenas reexes iniciais, e, por-
tanto, no conclusivas, que tm me incitado a um estudo e a uma anlise mais por-
menorizada tanto do empirismo construtivo quanto do objeto histrico em questo.
Referncias
Morrison, M. 2001. History and Metaphysics: On the Reality of Spin. In Buchwald, J. Z. &
Warwick, A. (eds) Histories of the Electron The Birth of Microphysics. Cambridge: The
MIT Press, p. 42549.
Tomonaga, S. 1997. The Story of Spin. Chicago: The University of Chicago Press.
van Fraassen, B. C. 1980. A Imagem Cientca. So Paulo: Editora Unesp.
Notas
1
O efeito Zeeman o desdobramento das linhas centrais espectrais dos tomos ao serem submetidos a
um forte campo magntico.
2
O chamado termo S corresponde ao l 0.
CONFIGURAES ARQUEOLGICAS DAS CINCIAS HUMANAS
JANANA RODRIGUES GERALDINI
Universidade Federal de Santa Catarina
jgeraldini@yahoo.com.br
Atravs da arqueologia do saber, Foucault aborda o processo de construo hist-
rica das epistemes, perguntando-se o que torna possvel determinado saber (Motta
2005). Focalizando mltiplas transformaes que ocorremno campo do saber atravs
de anlises de textos jurdicos, documentos loscos, literrios e cientcos, este au-
tor estuda o conjunto de saberes, procurando regularidades discursivas que perpas-
semos diferentes discursos de uma poca. Assim, constri-se uma nova periodizao
epistmica do saber ocidental onde o tempo do saber, ou o tempo do discurso, no
est disposto da mesma forma que o tempo vivido, mas apresenta descontinuidades
e transformaes especcas (Foucault 2005).
Pensando o sculo XIX como uma episteme que se congura no campo do saber,
surge nesta poca uma nova forma de se perceber e pensar que inaugura o homem
como objeto do saber (Foucault 1987; 1999). Na episteme moderna, o homem nasce
num duplo movimento, compondo um ser emprico e transcendental. Emprico no
sentido de se dar ao conhecimento, de se permitir enquanto um objeto de estudo,
experimentado e analisado como tal. Transcendental no sentido de ser aquele que
produz o conhecimento sobre si prprio atravs de um movimento de afastamento
do seu objeto para ser o sujeito que detm este saber.
O homem moderno do conhecimento chamado por Foucault (1999) de duplo-
emprico-transcendental. A duplicidade encontrada por este autor nesta nova cons-
tituio do saber diz respeito a duas formas de anlises que surgem a partir do s-
culo XIX, ambas compreendendo, como o prprio nome revela, aspectos empricos
e transcendentais. A primeira quer desvendar a natureza do conhecimento humano
atravs dos contedos empricos da mesma. Pode-se dizer que se trata das anlises
voltadas para a funo desempenhada pelos rgos do corpo, e para as adaptaes do
mesmo, caracterizando-se, assim, uma espcie de anlise esttica transcendental do
corpo do homem. Aqui, o homem objeto do saber.
A outra anlise refere-se historicidade do conhecimento humano, que tanto
pode constituir o saber emprico quanto ditar suas formas. Compreende-se, comisso,
que existemcondies histricas, sociais e econmicas que oatravessame soforma-
das a partir das relaes estabelecidas pelos homens. Em outras palavras, trata-se de
uma espcie de dialtica transcendental, cuja base dada atravs dos estudos das
iluses da humanidade. Aqui, o homem o sujeito que fabrica o conhecimento sobre
si mesmo.
Surge, assim, o homem enquanto um ser que tem sua existncia pautada na vida,
no trabalho e na linguagem. Ele objeto de estudo operado pelas investigaes do seu
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 8387.
84 Janana Rodrigues Geraldini
organismo, dos objetos e das palavras que fabrica. Ele prprio um ser vivo, um ins-
trumento de produo e um veculo para as palavras que pronuncia (Foucault 1999).
O homem surge na biologia, na economia poltica e na lologia enquanto inveno
recente desses saberes, como um objeto que tem um corpo fsico com estrutura e
funcionamento que devem ser explorados; como um ser que trabalha, sendo as con-
dies que circulam neste espao pensadas como constitutivas dele prprio; como
um ser que se constitui tambm atravs da fala, sendo a linguagem parte desta busca
por entender qual homem esse.
Alm de considerar que a episteme moderna constri um novo modelo de pen-
samento pautado na cienticidade, importante destacar uma outra caracterstica
marcante deste perodo, que servir tambmcomo base para a formao das cincias
humanas: a losoa moderna que caracterizada enquanto antropologia analtica
(Machado 1981). Antropologia, no sentido de inaugurar a problemtica do homem,
sendo ele prprio o sujeito que legisla e constitui o objeto. Analtica, pela repetio
feita a partir da identidade e diferena entre o emprico e o transcendental. Com o
estudo do sujeito de Kant, a losoa sai da metafsica da representao operada por
Descartes e pelos Idelogos, e traz o tema do transcendental para a modernidade. A
partir da analtica kantiana, surgema analtica positivista comComte, as reexes di-
alticas com Hegel, e a fenomenologia de Husserl (Machado 1981). Na modernidade,
os domnios empricos dialogam com as reexes loscas sobre a subjetividade
e o ser humano (Foucault 1999). Tanto os contextos empricos quanto os loscos
encontram-se no mesmo processo de formao do saber.
Foucault (1999) aponta a congurao epistemolgica da modernidade como
sendo composta pelo triedro dos saberes. Esta gura tem trs dimenses onde cada
plano ocupado pelas cincias empricas (biologia, anlise das literaturas e dos mi-
tos, e lologia), pelas cincias dedutivas (matemtica e fsica), e pelas reexes lo-
scas. Estas dimenses encontram-se denidas entre si num plano comum. Assim,
existe um plano de aplicao das matemticas nas cincias da vida, da linguagem,
da produo e das riquezas, bem como um plano dedutvel na biologia, na lings-
tica e na economia. O plano comum da reexo losca com as cincias exatas, por
sua vez, dene-se atravs da formalizao do pensamento e, comrelao biologia,
lingstica e economia, este campo comumdiz respeito s formas da vida, s formas
simblicas e do homem alienado, respectivamente.
Para este autor, as cincias humanas no encontram um espao para se situar
neste triedro, sendo disciplinas de fronteira j que as faces dessa gura esto todas
preenchidas pelas trs dimenses acima citadas. Por elas no teremumlugar prprio,
estas disciplinas formam-se nas imediaes, nas relaes com outros campos de sa-
beres: o espao que lhes resta o das conuncias e dos interstcios, permanecendo
espremidas entre as losoas, as cincias empricas e uma regio de matematizao
(Prado Filho 2005, p. 81).
Em sntese, pode-se dizer que as cincias humanas so excludas deste triedro
no sentido de no se encontrarem em nenhuma destas trs dimenses e, ainda, em
Conguraes Arqueolgicas das Cincias Humanas 85
nenhum dos planos comuns delineados entre as cincias dedutivas, empricas e lo-
scas. No entanto, para Foucault (1999) as cincias humanas podem ser includas
no triedro se considerarmos o volume denido por suas trs dimenses. Explicando
melhor, ao relacion-las com as outras formas de saber, ocorrem possibilidades no
mbito epistemolgico para as cincias humanas tais como: ter o projeto (. . . ) de
se conferirem ou (. . . ) de utilizarem (. . . ) uma formalizao matemtica; proceder
segundo modelos ou conceitos tomados biologia, economia e s cincias da lin-
guagem; enderear-se a esse modo de ser do homem que a losoa busca pensar
ao nvel da nitude radical, enquanto elas pretendem percorr-lo em suas manifes-
taes empricas (Foucault 1999, p. 480).
O homem, enquanto objeto das cincias humanas, est ligado biologia, lo-
logia e economia. Assim, ele vive, fala e produz, e institudo como o homem das
cincias humanas, ou seja, um ser vivo que constitui atravs da linguagem seu uni-
verso simblico, e que produz, consome e se v, ele prprio, como objeto de troca.
neste sentido que podemos dizer que as cincias humanas reduplicam os conceitos
das cincias empricas e loscas, transferindo conceitos e mtodos inclusive das
cincias dedutivas, a m de se constiturem e se rmarem enquanto disciplinas.
As cincias humanas so constitudas em termos das representaes feitas pelo
homem. Neste sentido, no basta analisar somente as caractersticas constituintes
no homem no mbito da vida, da linguagem ou da economia, preciso incluir as
representaes. Na episteme moderna, quando se diz que o homem representado
atravs da sua vida, das palavras que ele fala e do trabalho que executa, se quer dizer
que o homem enquanto ser, enquanto objeto deste novo saber, estar sempre vin-
culado (representado) aos aspectos que o constituem enquanto homem. Em outras
palavras, no se pode constituir uma cincia do homemsemconsiderar algumdestes
trs aspectos (vida, trabalho e linguagem) como intrnsecos do ser do homem.
O homem elabora representaes sobre sua vida, vive atravs destas represen-
taes e ainda capaz de representar tal vida. Pensando ainda sobre as representa-
es, um estudo sobre fontica, semntica ou origem das palavras no diz respeito
s cincias humanas. Mas, a partir do momento que se passa a investigar como os
indivduos ou os grupos se representamas palavras, utilizamsua forma e seu sentido,
compem discursos reais, mostram e escondem neles o que pensam (. . . ) (Foucault
1999, p. 488), pode-se, ento, constituir uma cincia humana.
Ao considerar produo, distribuio e consumo de bens como caractersticas
prprias do homem, assim como o acmulo de capital, custos de produo, busca
de lucro, etc. no se pode dizer que tais conhecimentos referem-se s cincias huma-
nas. Por outro lado, s haver cincia do homem se nos dirigirmos maneira como
os indivduos ou os grupos se representam seus parceiros na produo e na troca, o
modo como esclarecem, ou ignoram, ou mascaram esse funcionamento e a posio
que a ocupam (. . . ) (Foucault 1999, p. 487).
Assim, a matriz psicolgica pode ser encontrada nos estudos das representaes
referentes ao ser vivo funcional, siolgico e neuromotor. Da mesma forma a matriz
86 Janana Rodrigues Geraldini
que abrange mitos, literaturas e analisa os vestgios verbais e escritos deixados pelo
homem sobre si e sobre sua cultura pode ser encontrada no estudo das representa-
es feitas sobre leis e formas de uma determinada linguagem. Finalmente, a matriz
sociolgica pode ser situada naquele espao emque as representaes sociais so fei-
tas atravs do trabalho, da produo e do consumo dos grupos e dos indivduos, bem
como atravs dos rituais e crenas em que se baseiam esta sociedade.
Diante das anlises histricas acerca da formao das cincias humanas na esfera
do saber moderno, o percurso arqueolgico nos permite inferir sobre dois aspectos. O
primeiro deles diz respeito multiplicidade de saberes que fazem parte das cincias
humanas. O entrecruzamento que ocorre no processo de constituio dessas cin-
cias, onde no possvel delimitar rigorosamente suas fronteiras, implica no atraves-
samento de diferentes mtodos, tcnicas, conceitos e objetos, no demarcando um
espao nico, mas uma multiplicidade em sua composio. No podemos falar em
uma unidade dentro da psicologia, sociologia, ou antropologia. As cincias humanas,
ao transitarem por outros espaos, so fabricadas de diferentes formas, inauguram
novas abordagens e objetos, aproximam-se ou se afastam de acordo com diferentes
posturas e prticas, transferindo e reduplicando conceitos de diferentes reas, desde
o incio de sua formao. Comisso possvel perceber no umprogresso dessas cin-
cias, ou uma evoluo na compreenso acerca do homem ao longo do tempo, mas
uma composio de espaos e discusses mltiplos, dinmicos e no estanques.
Um outro aspecto que a anlise arqueolgica pode levantar refere-se descons-
truo dos essencialismos, das verdades universais, tomando a produo de conhe-
cimento acerca do homem como construo histrica. Apesar de no estender nossa
discusso para outros momentos histricos, e apesar de ter como foco de anlise a
formao das cincias humanas, entendemos que nossa trajetria possibilita inter-
rogar sobre aquilo que se arma verdadeiro, formar um pensamento crtico que per-
cebe o conhecimento como fabricado pelo homem, passvel de erros, que se modica
atravs das culturas, das prticas sociais, e da prpria histria, numa uidez temporal
de seres e saberes.
Referncias
Foucault, M. 1987. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitria.
. 1999. As palavras e as coisas: uma arqueologia das cincias humanas. Trad. Salma Tannus
Muchail. 8. ed. So Paulo: Martins Fontes.
. 2005. Michel Foucault explica seu ltimo livro. In: Arqueologia das cincias e histria dos
sistemas de pensamento / Michel Foucault. Coleo Ditos &Escritos Vol. II. Trad. Elisa Mon-
teiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria.
Machado, R. 1981. Cincia e saber: a trajetria da arqueologia de Michel Foucault. Rio de Ja-
neiro: Edies Graal.
Motta, M. B. da. 2005. Apresentao. In: Arqueologia das cincias e histria dos sistemas de
pensamento / Michel Foucault. Coleo Ditos & Escritos Vol. II. Trad. Elisa Monteiro. 2. ed.
Conguraes Arqueolgicas das Cincias Humanas 87
Rio de Janeiro: Forense Universitria.
Prado Filho, K. 2005. Para uma arqueologia da psicologia (ou: para pensar uma psicologia em
outras bases). In: Guareschi, N. M. F.; Hning, S. M. (orgs.) 2005. Foucault e a psicologia.
Porto Alegre: Abrapso Sul.
O PAPEL DA EVOLUO BIOLGICA NA COMPREENSO DA REPRESENTAO
EM FRED DRETSKE
KARLA CHEDIAK
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
kachediak@yahoo.com.br
1. Introduo
A importncia e o papel da evoluo na compreenso da gerao de crenas um
ponto bastante controverso nas anlises loscas de cunho naturalista. Entre os au-
tores que tratam contemporaneamente do tema da cognio de modo naturalista,
levando em conta o conhecimento da cincia, no h praticamente dvida de que
a mente evoluiu, havendo, porm, bastante discusso sobre at que ponto a prpria
evoluo relevante para o fenmeno da produo de crenas e de conhecimento.
As posies discordantes em relao a essa questo no so observadas apenas
na considerao de diferentes autores, como por exemplo, Dretske, Dennett, Milli-
kan, Fodor, mas tambm no interior de uma nica abordagem. Alguns autores con-
sideram que Dretske no manteve uma nica posio sobre o assunto. Cummins,
por exemplo, observa que Dretske, em seu artigo The explanatory role of content, te-
ria conferido seleo natural um papel causal, associado ao contedo semntico,
na explicao do comportamento instintivo de animais, tendo, no entanto, em sua
obra Explaining behavior rejeitado explicitamente essa perspectiva (Cummins 1991,
p. 104).
Nesse artigo, analisaremos o papel explanatrio da teoria da evoluo na compre-
enso naturalizada da representao em Fred Dretske.
2. Representao e informao
Dretske defende uma teoria representacional naturalista da mente e sustenta que
toda representao formada a partir da combinao do conceito de funo, com-
preendido de modo teleolgico, com a teoria da informao. Pode-se ver a unidade
desses elementos na prpria enunciao da representao, que diz: um sistema (ou
um estado) S representa a propriedade P se e somente se S tem a funo de indicar,
ouseja, de prover informao sobre P relativa a certo domnio de objetos (1995b, p. 4).
Desse modo, no existe representao semfuno, embora haja informao semfun-
o. A fumaa de uma chamin, por exemplo, carrega informao sobre a velocidade
do vento, embora essa no seja sua funo.
Essa denio de representao no se aplica apenas s atividades mentais, pois
no h apenas representaes mentais. As representaes mentais so naturais, mas
tambmexistemrepresentaes no naturais. Os artefatos, por exemplo, tmo poder
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 8895.
O Papel da Evoluo Biolgica na Compreenso da Representao em Fred Dretske 89
de representar algo e esse poder deriva daqueles que os criarame os utilizam, ou seja,
esse poder deriva de agentes intencionais, humanos, que possuem mente. A m de
naturalizar a mente, Dretske acredita poder encontrar na natureza formas originais
de representao, naturais, no derivadas, que, de algum modo, fornecem base para
a compreenso naturalista da mente. Isso feito recorrendo-se ao conceito de funo
natural, que signica que um elemento de certo sistema possui a tarefa de carregar
informao sobre algo que lhe externo.
A funo prpria de toda representao , segundo o autor, a indicao, a veicula-
o de informao. O conceito de funo que Dretske incorpora sua reexo sobre
a representao origina-se da anlise feita por Godfrey-Smith em seu artigo, de 1994,
sobre a histria moderna da teoria de funo. Dretske arma que no defende uma
teoria prpria de funo natural por ser suciente que haja teorias fortes armando
a existncia das funes naturais, uma vez que essas so requeridas para sustentar a
tese da existncia de representaes naturais:
desde que haja funes naturais qualquer que possa ser sua correta interpre-
tao isso o suciente para meu projeto naturalista. No entanto, vou assu-
mir neste trabalho que as funes naturais so sempre adquiridas por meio de
umprocesso histrico como a seleo natural (para os sistemas) e o aprendizado
(para os estados) (Dretske 1995b, p. 170).
Desse modo, existem funes que so adquiridas naturalmente e se distinguem
das funes convencionais por serem independentes das intenes ou propsitos de
um agente humano. O conceito de funo natural aplica-se a rgos, como corao
e rim, mas do mesmo modo que dizemos que o corao tem a funo de bombear o
sangue, podemos dizer que os sentidos tm a funo de prover informao sobre o
ambiente.
H, para Dretske, duas fontes de funo natural, o processo logentico e o on-
togentico. O primeiro responde pela formao dos comportamentos instintivos e o
segundo pelo aprendizado, atravs da experincia individual. Em ambos os casos, o
processo de aquisio de conhecimento de natureza histrica, e o que deve ser ex-
plicado, o comportamento.
3. A causa do comportamento
A explicao do comportamento remete causa estruturante (structuring cause) que
explica por que C (representao) (causa) M (movimento), enquanto a explicao
da ocorrncia de M (o output) remete causa disparadora (triggering cause). Como
bem sintetiza Cummins:
se Cs causam Ms em S porque a ocorrncia dos Cs em S covariam com a ocor-
rncia de Fs (no ambiente ou emoutro lugar de S), ento, de acordo comDretske,
(1) em S, Cs tm a funo de indicar Fs, e (2) Cs so representaes em S de Fs,
e podemos dizer (3) que ns temos uma conexo entre C e M porque C tem o
contedo semntico que tem (Cummins 1991, p. 104).
90 Karla Chediak
O importante notar que o contedo semntico tem papel causal na explicao
do comportamento C M. Ele adquire esse papel quando a causa estruturante, ou
seja, quando o contedo semntico que nos permite compreender a conexo exis-
tente entre C e M num certo sistema S e isso ocorre por causa da funo indicadora
de C. M uma resposta a F, causada por C, porque C indica F.
Oprocesso logentico responsvel pelo comportamento instintivo ouinato, ou
seja, no adquirido por meio de aprendizagem. Presente em plantas e em animais,
a sua estrutura mais ou menos simples, segundo o modelo de Dretske. Plantas e
animais desenvolveram mecanismos de indicao, ou seja, de deteco de estados
de coisas do ambiente informacionalmente relevantes para a sua sobrevivncia e re-
produo. Por exemplo, algumas plantas carnvoras possuemplos sensitivos na face
interna de suas folhas modicadas. Ao detectarem a presena de um inseto se movi-
mentando, elas se fecham, prendendo-o. A causa disparadora de M (fechamento das
folhas) o movimento do inseto, pormo que est emquesto a causa estruturante.
ela que explica por que a presena do inseto causa o fechamento da folha, por que
C M. Como se trata de um processo logentico gerando funo, natural que se
considere que a evoluo por seleo natural responda pela causa estruturante. o
fato de C (representao interna da presena do inseto) indicar F (inseto comestvel)
que fez com que esse mecanismo (C M) tenha sido selecionado e xado ao longo
de geraes. Como observa Dretske, no foi M (fechamento das folhas) que foi sele-
cionado, j que Ms interessante na presena de F, o que foi selecionado foi C M,
em que C indica F:
Porque M benco para a planta quando ocorre em condies F (e geralmente
no em outras condies) que foi dado a alguns indicadores de F a tarefa de pro-
duzir M. este fato sobre C que explica, via seleo natural, o seu papel atual no
controle do movimento da folha, do mesmo modo que o fato correspondente so-
bre a ta bi-metlica no termostato explica, via propsito de seus planejadores,
seu papel causal na regulao da fornalha (Dretske 1995a, p. 91).
Tudo parece indicar que a seleo natural responde pela causa estruturante, uma
vez que seu papel anlogo ao do planejador que concebeu o termostato, que cer-
tamente a causa estruturante do instrumento. Oprocesso que ocorre na planta carn-
vora semelhante ao que ocorre comos animais e o exemplo que Dretske fornece o
da mariposa que desenvolveu mecanismos para evitar o morcego. O seu sistema au-
ditivo, diz-nos ele, foi projetado a partir de sua relao com o seu principal predador,
o morcego, pois ele capta a freqncia de onda emitida por esse animal. Tambmaqui
parece razovel considerar que a seleo natural responda pela causa estruturante do
comportamento da mariposa de evitar o morcego.
Como observa Cummins, em seu artigo Mental Meaning in Psychological Expla-
nation, essa a posio que Dretske assume :
Como poderia o contedo de C entrar na explicao da conexo entre C e M
em S? Parece haver uma nica possibilidade: organismos com uma conexo en-
tre C e M foram selecionados porque C indica (ou indicou em algum momento)
O Papel da Evoluo Biolgica na Compreenso da Representao em Fred Dretske 91
F e a capacidade de responder a F com M conferiu uma vantagem seletiva aos
ancestrais de S. Dretske pensou que esse tipo de explicao selecionista deve-
ria ser vista como um caso da explicao causal do comportamento por meio do
contedo. Em Explaining Behavior, no entanto, ele rejeita essa viso. (Cummins
1991, p. 104).
De fato, emseu artigo Explanatory Role of Content, Dretske defende que sua idia
central a de que estados internos adquiremcontrole de movimentos, gerando com-
portamentos, graas s suas qualidades representacionais, ou seja, emvirtude do que
signicam, da informao que eles contm sobre as circunstncias externas. Pode-se
recorrer s representaes para explicar o comportamento, porque o seu contedo
semntico possui poder causal. E assinala que, excluindo-se os casos que envolvem
agentes humanos, h dois modos de o contedo adquirir poder causal: pelo processo
evolutivo, em que o comportamento se xa nas populaes e por meio de aprendi-
zado, que ocorre nos indivduos. Diz ele: A seleo natural desempenha, nos meca-
nismos cognitivos dos organismos, o papel que ns desempenhamos nos mecanis-
mos de controle de um termostato (Dretske 1987, p. 41). Em outra passagem ele nos
esclarece sobre qual o papel que nos atribudo no caso do termostato: no caso
do termostato, esta eccia alcanada por meio de intermedirios causais (agentes
humanos) que projetam (design), constroem e instalam tais dispositivos com vrios
propsitos, crenas e intenes (Dretske 1987, p. 40).
Fica claro atravs dessas passagens que Dretske atribuiu evoluo, particular-
mente seleo natural, um papel relevante nas explicaes dos comportamentos
inatos, ainda que ele reconhea, j nesse artigo, que no possvel recorrer evolu-
o quando se trata de explicar a arquitetura funcional do organismo individual.
No entanto, em Explaining Behavior, Dretske recusa-se a atribuir papel relevante
evoluo na explicao dos comportamentos inatos, como bem assinalou Cum-
mins. Nesse texto, Dretske nos diz que o processo evolutivo falha ao explicar os siste-
mas de controle para o comportamento inato nos animais, ou seja, falha ao explicar
porque C M.
O que requerido (. . . ) que as propriedades indicadoras da estrutura gurem
na explicao de suas propriedades causais, que o que ela diz (sobre ocorrncias
externas) ajude a explicar o que ela faz (na produo do output). Isso o que falta
no caso dos reexos, tropismos e outros comportamentos instintivos. O sentido
[meaning], embora esteja l, no est relevantemente engajado na produo do
output. (Dretske 1995a, p. 94).
A evoluo produziu vrios sistemas com a funo de indicar, ou seja, de repre-
sentar as condies internas e externas ao organismo, como temperatura, presso,
movimento. Esses indicadores esto relacionados com diversos sistemas de regula-
o do equilbrio da siologia e provvel que se tenhamxado graas aos benefcios
trazidos ao organismo. O comportamento instintivo seria semelhante, pois, tanto em
umquanto emoutro, o contedo da representao no assume umpapel importante
92 Karla Chediak
na explicao de por que este organismo se comporta da forma que o faz. Tanto na
funo siolgica como, por exemplo, o controle da taxa de acar no sangue
quanto no comportamento instintivo, o programa gentico que explica por que ele
se comporta da forma que faz. ele que parece responder pela causa estruturante (ou
talvez no haja causa estruturante):
o que explica a coordenao entre M e E neste animal ademais, em qualquer
animal no o fato de que exista algo no animal que signique M (em um
ambiente atual alterado pode no haver nada no animal que tenha esse sentido),
mas o programa gentico (Dretske 1991, p. 206).
De fato, toda representao, seja ela natural seja convencional, possuiu contedo
semntico. O que Dretske argumenta que, nos comportamentos naturais instin-
tivos, embora haja representao, portanto, contedo semntico, esse irrelevante
para explicar o comportamento. A razo por que certo comportamento se xou evo-
lutivamente pode desaparecer e ainda assim a planta ou o animal continuar com-
portando-se do mesmo modo. Organismos com fototropismo positivo dirigem-se
para a luz, independentemente do que isso signica. Em geral, numa situao natu-
ral, esse comportamento signica algo benco, local de alimento ou de reproduo,
refgio de predador, mas mesmo que isso mude, ele vai continuar se comportando
do mesmo modo, pois o que est determinando o seu comportamento o plano ge-
ntico a que est submetido e no o contedo da representao:
Se atravs de um capricho recente da natureza (recente o suciente para que as
presses seletivas no tenhamtempo de operar) a ocorrncia de C nas mariposas
no sinalizem a aproximao de um morcego faminto, mas de um macho recep-
tivo, C ainda produziria M ainda produziria as mesmas manobras de vo de
fuga. O que C indica nas mariposas de hoje nada tem a ver com a explicao so-
bre os movimentos que ajudou a produzir (Dretske 1995a, p. 93).
Dretske no ignora o papel da evoluo na formao das estruturas que tm fun-
o. ela que responde por que a estrutura X, com sentido M que causa E existe
neste animal: Certamente, as propriedades extrnsecas das estruturas (a informao
que elas carregam) fazem diferena no mundo (Dretske 1991, p. 207). Porm, isso
no seria o bastante para dar-lhe o poder de explicar o comportamento do animal
por meio do contedo, ou seja, por meio de crenas. Neste sentido, o comportamento
instintivo produz funo natural, sistemas de indicao, representao, mas no gera
crenas.
Se todo comportamento possui causa estruturante, que remete a razes, e causa
disparadora, que remete a uma descrio fsica do que provocou o movimento, no
comportamento instintivo a causa estruturante seria dada por uma explicao do de-
senvolvimento e no por explicao seletiva. A argumentao de Dretske de que a
seleo natural apenas seleciona entre variveis disponveis, no respondendo pela
criao de nada. Ela no explica o comportamento (C M), por no ser a respons-
vel pelo seu aparecimento, no podendo, por isso, ser a causa estruturante:
O Papel da Evoluo Biolgica na Compreenso da Representao em Fred Dretske 93
A explicao de por que este C est causando este M, por que a mariposa est
executando manobras evasivas, nada tema ver comisto queC indica sobre o am-
biente da mariposa. A explicao repousa nos genes da mariposa (Dretske 1995a,
p. 92).
O argumento de Dretske est baseado na anlise que Cummins faz no seu artigo
Functional analysis (1975). Nesse artigo, Cummins critica o conceito teleolgico
de funo e o papel que seus defensores atribuem seleo natural. Para ele, explicar
a presena de um rgo, como o corao dos vertebrados, apelando para a funo
que ele exerce apelar para fatores que no so causalmente relevantes para a sua
presena (Cummins 1975, p. 748). Ele segue dizendo que aparentemente razovel
considerar que a seleo natural fornea a ligao entre a funo de algo (rgo ou
comportamento) em um organismo e sua presena nesse organismo, pelo fato de
que ele, por causa da funo que exerce, contribuiu para a sobrevivncia e reprodu-
o desses organismos. Para Cummins, isso no uma boa interpretao da teoria
evolutiva, pois a incorporao de algo em um organismo depende de seu plano ge-
ntico e as alteraes nesse plano devem-se s mutaes. Se h alterao no plano,
ela ser herdada a despeito da funo e do valor dessa alterao para a sobrevivncia
e reproduo. O papel da seleo natural ser apenas o de aumentar ou diminuir o
nmero de organismos com a alterao dentro da populao, porque elas fornecem
alguma vantagem em termos de sobrevivncia e reproduo aos seus possuidores,
mas ela no tem nenhum poder de ao sobre o plano:
as caractersticas dos organismos responsveis pelo seu sucesso relativo so de-
terminadas por seus planos genticos e as caractersticas desses planos so in-
teiramente independentes do sucesso relativo dos organismos que a possuem
(Cummins 1975, p. 750).
No processo evolutivo, o aparecimento de fatores inovadores xados biologica-
mente deve-se s mutaes e s recombinaes genticas. Desse modo, o processo
evolutivo como um todo criativo, mas no a seleo natural. As variaes surgem
sem levar em conta as necessidades dos organismos e, neste sentido, so aleatrias.
A origem de uma funo dada pelo processo de xao do trao na populao,
atravs das geraes. Durante esse processo de xao do comportamento, de fato,
um trao X, porque possua o contedo M, conectou-se causalmente com E. Se no
fosse assim, ele no teria sido selecionado, portanto, a conexo entre M e E no teria
se xado. Porm, uma vez xado geneticamente, ela no mais modicvel e, por
isso, a conexo entre M e E pode deixar de existir que o organismo vai se compor-
tar do mesmo modo. No entanto, embora o contedo semntico no seja suciente-
mente relevante para explicar o comportamento instintivo dos organismos atuais, ele
foi relevante para que o comportamento se xasse:
podemos supor que os organismos de hoje, cujo X causa E, possuem um X in-
terno que causa E, no porque seu X interno (seja tipo [type] ou exemplar in-
dividual [token]) signique M (eles podem no signicar M), mas porque um X
correspondente em seus ancestrais signicou M. (Dretske 1991, p. 206)
94 Karla Chediak
necessrio, portanto, recorrer-se ao contedo semntico para explicar a xao
evolutiva de certo comportamento e, uma vez xado, ele passa a estar inscrito no pro-
cesso de desenvolvimento do organismo, associado ao programa gentico. Tudo leva
a crer que esse programa que responde pela causa estruturante do comportamento
dos organismos atuais, embora Dretske no seja claro com relao a esse ponto.
4. Discusso
Oproblema est emcomo justicar a armao de que, embora no se possa recorrer
ao contedo semntico de X para explicar o comportamento instintivo dos organis-
mos atuais, pode-se recorrer a um correspondente de X presente em seus ancestrais
remotos que signicou M para explicar a xao de certo comportamento. Parece-me
ser um problema considerar que o contedo semntico s foi relevante para o com-
portamento dos ancestrais dos animais atuais. Seria preciso mostrar por que esses
organismos estavam em uma situao diferente da dos atuais. Se o contedo semn-
tico s relevante para explicar os comportamentos que envolvem aprendizado, en-
to, no poderia ter sido relevante para explicar o comportamento dos ancestrais dos
animais atuais. Esses animais no estavam em uma situao biolgica distinta dos
atuais, tambm eles se comportavam de acordo com o seu programa gentico. Desse
modo, se a causa estruturante do comportamento dos organismos atuais dada pelo
seu programa de desenvolvimento, o mesmo teria de ocorrer com os seus ancestrais.
Sua causa estruturante no poderia ser diferente da causa estruturante do compor-
tamento dos animais atuais. Porm Dretske arma que: um X correspondente, nos
seus ancestrais, signicou [meant] M (Dretske 1991, p. 206). Quer dizer que se pode
recorrer ao contedo semntico para explicar o comportamento instintivo dos indi-
vduos que viveram no passado.
Dretske parece considerar que o contedo semntico foi relevante durante o tem-
po emque a seleo esteve atuando para xar o trao, mas ainda assim, , semdvida,
difcil delimitar esse tempo e determinar a partir de quando ele deixou de ser rele-
vante. Alm disso, em geral, quando se admite que a seleo natural responde pela
existncia de traos funcionalmente relevantes nos organismos, admite-se tambm
que a manuteno desses traos , possivelmente, tambm fruto da ao da seleo.
Aceita-se que a perda da funo tenderia a provocar o desaparecimento ou a dimi-
nuio do trao. Desse modo, difcil se compreender como o contedo semntico
possa ter tido um papel relevante para os ancestrais dos animais atuais e no tem
mais para os organismos atuais.
Parece-me que uma forma de resolver esse problema pode ser encontrada em
uma nota de Naturalizing the mind, onde Dretske observa, ao discutir o papel cria-
dor da seleo natural, que a seleo natural no torna o pescoo da girafa mais longo,
mas torna os pescoos das girafas mais longos, admitindo, portanto, num certo sen-
tido seu papel criador, pois ela responde pela criao do tipo (type) (Dretske 1995,
p. 186, nota 21). Ao explicar por que as girafas tm pescoo longo, poder-se-ia res-
O Papel da Evoluo Biolgica na Compreenso da Representao em Fred Dretske 95
ponder recorrendo funo que ele cumpre para os organismos que o possuem. No
caso da representao, o que selecionado o sistema capaz de carregar informao
til para o organismo. Uma vez selecionado, ele passa a ter uma funo de indicar
e uma vez que tem a funo de indicar, ele representa algo. Da mesma maneira que
no caso do pescoo da girafa pode-se recorrer funo para explicar por que so do
jeito que so, poder-se-ia tambm recorrer ao contedo semntico (fator identica-
dor da representao) para explicar por que h aquele tipo de representao emtais
organismos.
O que no se pode recorrer ao contedo semntico quando se trata de explicar
a representao que ocorre no comportamento instintivo de um indivduo (token).
Desse modo, Dretske considera que a evoluo relevante para a xao do compor-
tamento instintivo, que ca registrado no programa gentico, mas no o quando se
considera somente o comportamento isolado de um organismo especco. Por isso,
no seria adequado falar de crenas quando se trata dessa forma de comportamento.
Embora o contedo semntico esteja presente e responda pela constituio de um
tipo nos comportamentos instintivos, ele no tem papel causal independente, por-
que no pode ser destacado do suporte biolgico ao qual est associado. Isso faz toda
a diferena entre o comportamento instintivo e o aprendizado, impedindo que se fale
de crenas ao lidarmos com este tipo de comportamento, pois s h crenas quando
o contedo semntico da representao adquire um poder causal independente e
autnomo, que o torna capaz de explicar por que C M e no apenas M: Tudo o
que se consegue com uma explicao via seleo natural por que h hoje tantas
mquinas sintticas [syntactic engines] de certo tipo o tipo no qual algo que sig-
nica M causa E (Dretske 1991, p. 207). No entanto, ela no capaz de separar o
elemento sinttico do semntico e dar a esse ltimo um papel relevante e autnomo
na explicao do comportamento.
Referncias
Cummings, R. 1975. Functional analysis.The Journal of Philosophy 72: 74165.
. 1991. The role of mental meaning in psychological explanation. In McLaughlin, B. (ed.)
Dretske and his critics. Cambridge: Basil Blackwell, pp. 10217.
Drestske, F. Dretskes replies. 1991. In McLaughlin, B. (ed.) Dretske and his critics. Cambridge:
Basil Blackwell, pp. 180221.
. 1995a. Explaining Behavior. Reasons in a world of causes. Cambridge: MIT Press.
. 1995b. Naturalizing the mind. Cambridge: MIT Press.
. 2000. Perception, knowledge and belief. Selected essays. Cambridge: Cambridge University
Press.
. 1988. In Merrill, D. D. & Grimm, R. H. (eds.) Contents of thought. Tucson: University of
Arizona Press, pp. 1736.
Godfrey-Smith, P. 1994. A modern history theory of function. Nos 28(3): 34462.
EL REQUISITO DE GENERALIDAD Y EL SISTEMA SUBPERSONAL DE
PROCESAMIENTO LINGUSTICO:
MS CONCEPTOS DE LOS QUE CREAMOS
MARIELA DESTFANO
Universidad de Buenos Aires/CONICET
mariela.destefano@gmail.com
El requisito de generalidad es una propuesta acerca de cmo estn estructurados
nuestros pensamientos (Evans 1982). Segn este requisito, los pensamientos estn
estructurados no por estar compuestos por distintos smbolos atmicos de un len-
guaje del pensamiento, sino por ser el resultado del ejercicio de distintas habilidades
conceptuales.
As, si a un sujeto se le atribuye el pensamiento que a es F, entonces, debe tener
los recursos conceptuales para tener el pensamiento que a es G, para cualquier
propiedad de ser G de la cual tiene una concepcin. (Evans 1982, p. 104)
Por ejemplo, los pensamientos Mara es feliz y Juan es austero estn estructu-
rados en el sentido de que involucran la habilidad de pensar MARA, FELIZ, JUAN y
AUSTERO,
1
y nos compromete con la habilidad de pensar Mara es austera y Juan
es feliz. Parte de lo que signica poseer un concepto es tener este complejo de habi-
lidades, esta capacidad de combinarlo con otros conceptos. En este sentido, el requi-
sito de generalidad es una propuesta acerca de qu es poseer un concepto.
En otros trabajos he intentado mostrar que fenmenos propios del procesamien-
to de la informacin lingstica, como el priming semntico, la rapidez en el reco-
nocimiento oral de las palabras, y otros, se explicaran sosteniendo que el mecanis-
mo que procesa la informacin lingstica en las etapas tempranas posee conceptos
(Destfano 2006). Si el requisito de generalidad es una propuesta acerca de qu es po-
seer conceptos y si considero que el sistema subpersonal de procesamiento temprano
de la informacin lingstica posee conceptos, entonces sera interesante estudiar si
el requisito de generalidad se aplica a los estados subpersonales del procesamiento
temprano de la informacin lingstica.
2
Sostener que el mecanismo que procesa la
informacin lingstica en las etapas tempranas posee conceptos, en el sentido en
que el requisito de generalidad lo establece, de alguna manera, es defender la idea
de que este mecanismo tiene conceptos en el sentido en que lsofos como Evans
(1982) o Peacocke (1992) han venido sosteniendo. Para ellos poseer un concepto es
tener ciertas capacidades mentales y esto es algo que no todos los lsofos estaran
dispuestos a armar.
3
Apesar de crticas como las de Fodor (1999), creo que esta pers-
pectiva es atrayente. Lo es en tanto que rescata la idea de que para evaluar la posesin
de conceptos ha de atenderse a una cierta clase de saber-cmo, lo cual sera fructfero
para la investigacin cognitiva porque permitira testear empricamente la posesin
de conceptos a partir del desempeo cognitivo concreto.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 96107.
El Requisito de Generalidad y El Sistema Subpersonal de Procesamiento Lingustico 97
En la primera parte de este trabajo intento mostrar que la posibilidad de aplicar
el requisito de generalidad a los estados subpersonales del procesamiento temprano
de la informacin lingstica est abierta. Esta posibilidad est abierta dado que el re-
quisito sera neutral respecto de la distincin personal-subpersonal, en el sentido de
que podra aplicarse tanto a estados y procesos personales como a estados y procesos
subpersonales. Como el requisito de generalidad establece que poseer un concepto,
en parte, es ejercer ciertas habilidades conceptuales, para defender que su aplicacin
es indiferente a que los estados y procesos sean personales o subpersonales ser til
analizar nociones como habilidad (Ryle 1949) y capacidad cognitiva (Cummins
1983).
En la segunda parte del trabajo me ocupo de argumentar contra dos posibles ob-
jeciones a la idea de que el requisito de generalidad pueda aplicarse a los estados
subpersonales del procesamiento temprano de la informacin lingstica. La prime-
ra objecin hace referencia a que el requisito de generalidad es constitutivo de los
estados personales de actitud proposicional y no as de los estados subpersonales del
procesamiento de la informacin (Evans 1982). De esta manera el sistema de proce-
samiento lingstico no poseera conceptos y sus contenidos seran no conceptuales.
En respuesta a ello intentar mostrar no slo que esta idea es insuciente para cerrar
la posibilidad de que el requisito de generalidad pueda aplicarse a los estados subper-
sonales del procesamiento lingstico, sino tambin que hay razones para creer que
esta idea es incorrecta.
La segunda objecin alude a que el requisito de generalidad solamente tiene va-
lor cuando los conceptos combinados se aplican apropiadamente de acuerdo a cmo
es el mundo (Evans 1982; Peacocke 1992; Strawson 1963). Como la aplicacin apro-
piada de conceptos es llevada a cabo por el sujeto, en tanto sistema cognitivo global,
de manera conciente, podra considerarse que la posesin de conceptos slo es un
fenmeno del nivel personal. As, el requisito slo admitira la posesin de concep-
tos personales (involucrados, ms especcamente, en las actitudes proposicionales)
cerrando la posibilidad de que haya conceptos en los sistemas subpersonales de pro-
cesamiento de la informacin. En respuesta a ello intentar mostrar que la aplicacin
del requisito de generalidad no ve restringida su aplicacin a los casos donde los con-
ceptos estn correctamente combinados, razn por la cual no sera correcto armar
que el requisito slo admitira la posesin de conceptos en el nivel personal.
I
Segn el requisito de generalidad, parte de lo que signica poseer un concepto es te-
ner ciertas habilidades conceptuales, ms especcamente, es tener la capacidad de
combinarlo con otros conceptos. En lo que sigue intentar mostrar que estas habili-
dades conceptuales pueden ejercerse tanto por una persona, en tanto sistema cog-
nitivo global, como por un sistema subpersonal de procesamiento de la informacin.
De esta manera mostrara que el requisito de generalidad es neutral respecto de quin
98 Mariela Destfano
o qu posee estas habilidades conceptuales. Si el requisito es neutral en este sentido,
no habra problema en aplicarlo a los estados subpersonales del procesamiento de la
informacin lingstica.
I.1
En primer lugar intentar mostrar que siguiendo el anlisis conceptual que Ryle hizo
de la nocin de habilidad, no quedara excluida la idea de que tanto las personas
como los sistemas subpersonales de procesamiento de la informacin ejercen habi-
lidades conceptuales. Mi planteo es conceptual dado que slo pretendo exponer la
geografa lgica (Ryle 1949, p. 14) de conceptos como el de habilidad y extraer con-
secuencias a partir de ello. Segn Ryle, las habilidades, sean conceptuales o no, son
propiedades disposicionales. Una propiedad disposicional no se encuentra en un es-
tado particular, sino que es susceptible de encontrarse en un estado particular cuan-
do se da determinada condicin (Ryle 1949, p. 41). Por ejemplo, que algo sea frgil no
consiste en que est actualmente roto, sino que consiste en que, si fuese sometido a
golpes o forcejeos, se romper. En el caso especco de la posesin de conceptos, te-
ner un concepto es desempearse en ciertas habilidades conceptuales, y si se acepta
que las habilidades son disposiciones, entonces tener un concepto no es un asunto
de lo que efectivamente se hace, sino de lo que se es capaz de hacer con ese concepto
(Fodor 1998, p. 19).
Por lo visto las disposiciones son propiedades que pueden actualizarse bajo de-
terminadas condiciones. Es cierto que para cada disposicin hay actualizaciones que
parecen ser tpicas. Parece que la manera tpica en que se actualiza la fragilidad de
un objeto es rompindose cuando se lo somete a golpes. Pero quiz haya maneras
menos tpicas de actualizacin de la disposicin de ser frgil. Someter a un objeto
a determinadas condiciones de calor que traigan como consecuencia una alteracin
en su estructura, tal vez sea una manera de actualizar su fragilidad. Tal como sostiene
Ryle, los lsofos caen en la trampa de suponer que las disposiciones poseen actua-
lizaciones uniformes cuando, en realidad, las actualizaciones pueden presentarse en
una amplia e ilimitada variedad de formas (Ryle 1949, p. 412). Las habilidades, par-
ticularmente las habilidades conceptuales, en tanto disposiciones son susceptibles
de mltiples actualizaciones. La manifestacin tpica de una habilidad conceptual
es aquella donde el sujeto, a raz de ciertas necesidades del pensamiento, combina
determinados conceptos. En este caso es la persona la que ejercita dicha habilidad
conceptual y, en este sentido, es la persona la que posee los conceptos en cuestin.
Pero la actualizacin tpica de la habilidad conceptual no excluye otras actualizacio-
nes menos tpicas pero igualmente posibles. La manifestacin menos tpica de una
habilidad conceptual sera aquella donde un sistema de cmputo de la informacin
(como el lenguaje), bajo ciertas condiciones de procesamiento, realizara combinacio-
nes de conceptos. En este caso es el sistema subpersonal el que ejercita la habilidad
conceptual y as, es el sistema subpersonal el que posee los conceptos. No hay nada
El Requisito de Generalidad y El Sistema Subpersonal de Procesamiento Lingustico 99
en la nocin de habilidad en tanto disposicin que excluya este tipo de actualizacio-
nes.
Pero qu quiere decir, con mayor exactitud, que un sistema subpersonal de pro-
cesamiento de la informacin ejerce habilidades conceptuales? El anlisis de la no-
cin de habilidad no alcanza para aclarar este punto. En lo que sigue intentar ha-
cerlo. He dicho que las habilidades son propiedades disposicionales. Los enuncia-
dos que reeren a propiedades disposicionales son enunciados disposicionales. Ryle
entiende que los enunciados disposicionales son autorizaciones para las inferencias
(Ryle 1949, p. 10711). Esto quiere decir que un enunciado disposicional en s mismo
no nos informa acerca de nada en el mundo, sino que funciona como una licencia
para pasar inferencialmente de un tem a otro. Por ejemplo, el enunciado disposicio-
nal Este objeto es frgil constituye una licencia para armar que Si pongo el objeto
en un lavarropas, se rompe, Si se rompe en el lavarropas, este ltimo tambin pue-
de sufrir daos, etc. En este sentido, un enunciado disposicional es como una regla
que rige ciertas transiciones inferenciales. Creo que la idea de que un sistema sub-
personal de procesamiento ejerce habilidades conceptuales debera entenderse en
el sentido de que tiene ciertas reglas que guan las transiciones inferenciales.
4
Parte
de esas reglas podra ser la que permite realizar combinaciones de tems. Cuando el
sistema realiza transiciones inferenciales, utiliza esta regla, y en este sentido, se po-
dra decir que, en parte, el sistema est ejerciendo habilidades conceptuales, esto es,
posee conceptos.
I.2
En segundo lugar, teniendo en cuenta que las habilidades conceptuales son capaci-
dades cognitivas, intentar mostrar que adoptando ciertos aspectos de la nocin de
capacidad cognitiva propuesta por Cummins (1983), no quedara excluida la idea de
que tanto las personas como los sistemas subpersonales de procesamiento de la in-
formacin tienen capacidades cognitivas conceptuales. Una capacidad cognitiva se
especica a travs de una ley que conecta ciertos outputs a la luz de ciertos inputs
(Cummins 1983, p. 53). Si se tiene en cuenta que las capacidades cognitivas son sus-
ceptibles de ser caracterizadas inferencialmente, entonces la ley que conecta los in-
puts con los outputs es una regla de inferencia, y la conexin se da en el sentido de
que el output se inere a partir del input de una manera especicada por la regla
(Cummins 1983, p. 534). Ahora bien, Cummins hace la distincin entre capacida-
des cognitivas y capacidades cognitivas* sosteniendo que mientras que las primeras
son inteligentes, las segundas, en cambio, no son inteligentes (Cummins 1983, p. 57
8). Una capacidad cognitiva susceptible de caracterizacin inferencial es inteligente
porque la transicin inferencial que lleva de los inputs a los outputs involucra una
eleccin fundamentada (informed choice) (Cummins 1983, p. 57). En otras palabras,
la conexin entre inputs y outputs se da por un proceso transformacional que ha si-
do elegido. Una capacidad cognitiva* susceptible de caracterizacin inferencial no es
100 Mariela Destfano
inteligente porque la transicin inferencial que lleva de los inputs a los outputs no
involucra eleccin alguna (Cummins 1983, p. 57). La conexin entre inputs y outputs
se da por un proceso transformacional tonto en el sentido de que no es el producto
de una eleccin deliberada. Teniendo en cuenta esta distincin, las personas tienen
capacidades cognitivas y los sistemas subpersonales de procesamiento de la infor-
macin tienen capacidades cognitivas*. Las personas son las que conectan inferen-
cialmente los inputs con los outputs de manera inteligente a partir de sus elecciones.
En cambio, los sistemas subpersonales de procesamiento de la informacin conectan
inferencialmente los inputs con los outputs de manera tonta sin atender a eleccin
alguna. Sin embargo, esta distincin no inuye en la idea de que una capacidad cog-
nitiva, sea inteligente o no, es un proceso inferencial, razn por la cual podra pen-
sarse que tanto las personas como los sistemas subpersonales de procesamiento de
la informacin ejercen capacidades cognitivas, entre ellas, la posesin de conceptos.
He defendido la idea de que las habilidades combinatorias pueden ser ejercidas
tanto por una persona, en tanto sistema cognitivo global, como por un sistema sub-
personal de procesamiento de simplemente haciendo anlisis conceptual. Sin em-
bargo, podra pensarse que la tarea de la psicologa, de hecho, es ocuparse de la ex-
plicacin del fenmeno de que las personas tienen ciertas habilidades (conceptuales
o no), dejando a un lado la explicacin de si los sistemas subpersonales de procesa-
miento tienen habilidades (conceptuales o no). Para muchos sera anti-intuitivo que
entre los explananda de la psicologa se hiciera referencia a fenmenos relacionados
con mecanismos computacionales subpersonales. Pero creo que esta observacin es
propia de un interlocutor poco atento. No es cierto que las habilidades (conceptua-
les o no) de los sistemas de procesamiento no puedan ser fenmenos susceptibles de
explicacin psicolgica. Cuando hablo de psicologa me reero, especcamente, a la
psicologa cognitiva computacional, la cual se ocupa de dar cuenta de los procesos
mentales que subyacen a las capacidades cognitivas (Skidelsky 2003, p. 40). Tal co-
mo lo arma Fodor, las mismas herramientas conceptuales empleadas por una cien-
cia determinan la clase de fenmenos que dicha ciencia tiene la misin de explicar
(Fodor 1968, p. 37). Los fenmenos que caen dentro del dominio explicativo de una
teora se especican haciendo referencia al mismo entramado conceptual de la teo-
ra en cuestin. En este sentido, si la psicologa cognitiva computacional se enfoca en
los mecanismos mentales de procesamiento de la informacin, entonces el mismo
aparato terico de la psicologa cognitiva permitira que entre los fenmenos que ella
tenga que explicar se incluyan las habilidades propias del procesamiento subperso-
nal de la informacin. Creo que esta aclaracin es importante porque tengo la inten-
cin de que mi propuesta tenga relevancia en el campo emprico de la investigacin
psicolgica.
Hasta aqu he intentado mostrar que si el requisito de generalidad es neutral res-
pecto de la distincin personal-subpersonal, en el sentido de que las habilidades
combinatorias que se requieren para que se cumpla el requisito pueden ser ejerci-
das tanto por una persona, en tanto sistema cognitivo global, como por un sistema
El Requisito de Generalidad y El Sistema Subpersonal de Procesamiento Lingustico 101
subpersonal de procesamiento de la informacin, entonces no habra problema en
aplicarlo a los estados subpersonales del procesamiento temprano de la informacin
lingstica.
II
En este apartado me propongo dar respuesta a dos objeciones que obstaculizan la
conclusin de que no habra problema en aplicar el requisito de generalidad a los
estados subpersonales del procesamiento temprano de la informacin lingstica.
II.1
La primera objecin arma que el requisito de generalidad, tal como lo presenta
Evans, es constitutivo de los estados personales de actitud proposicional y no as de
los estados subpersonales del procesamiento de la informacin (Evans 1982, p. 104).
De esta manera, el sistema subpersonal de procesamiento lingstico no poseera
conceptos y sus contenidos seran no conceptuales. Podra preguntarse por qu
Evans sostiene esta tesis. Dado que Evans es bastante escueto en sus razones, creo
que se puede encontrar la pista de la respuesta en el anlisis que hace Davies (1989)
del requisito de generalidad. Davies sostiene que es factible que el requisito de ge-
neralidad sea extensivo a los estados de un sistema subpersonal de procesamiento.
Mientras que el requisito sera constitutivo de los estados de actitud proposicional,
los estados subpersonales de procesamiento de la informacin podran satisfacerlo
de manera contingente (Davies 1989, p. 148). Esto quiere decir que es posible ima-
ginar sistemas de procesamiento donde sus estados puedan combinarse entres s de
acuerdo a dicho principio. Esta es una posibilidad que tienen los sistemas, pero no es
necesario que todos los sistemas de procesamiento satisfagan el requisito. El punto
que tanto Davies como Evans intentan subrayar es que el requisito se aplica de ma-
nera esencial a los estados personales de actitud proposicional y no as a los estados
subpersonales de procesamiento de la informacin.
Teniendo en cuenta esto, parecera que Evans no aplica este principio a los esta-
dos subpersonales de un sistema de procesamiento porque cuando aborda la nocin
de sistema de procesamiento siempre est pensando en el sistema perceptivo (Evans
1982) y es cierto que este sistema no satisface, ni an contingentemente, el requisi-
to de generalidad. Por ejemplo, la representacin de la distancia y la velocidad slo
pueden combinarse con la representacin de un sonido percibido y no as con la re-
presentacin de una luz percibida (Evans 1982, p. 104). Las combinaciones represen-
tacionales en el sistema perceptivo estn altamente restringidas. Sin embargo, esto
no sucede en el sistema de procesamiento lingstico. Sean los tems mentales PEZ,
DONCELLA y TENEDOR, el sistema de procesamiento de la informacin lingstica
ensus etapas tempranas tiene la capacidadde combinarlos entre s. Nohay restriccio-
nes que impidan combinar el temPEZ con el temDONCELLA, o el temDONCELLA
con el tem TENEDOR, por ejemplo. En este sentido los estados subpersonales del
102 Mariela Destfano
procesamiento lingstico satisfaran contingentemente el requisito de generalidad.
Es decir que este es un sistema donde el requisito se hara efectivo no necesariamen-
te, sino que por una cuestin de hecho. Por lo expuesto creo que aunque, con Evans
y Davies, se sostenga que el requisito de generalidad es constitutivo de los estados
personales de actitud proposicional y no as de los estados subpersonales del pro-
cesamiento de la informacin, ello no es suciente para cerrar la posibilidad de que
el requisito de generalidad pueda aplicarse (aunque, de manera contingente) a los
estados subpersonales del procesamiento temprano de la informacin lingstica.
Con todo, creo que no es correcto el criterio segn el cual el requisito de gene-
ralidad es constitutivo de los estados personales de actitud proposicional y no as de
los estados subpersonales del procesamiento de la informacin. Filsofos como Ri-
chards (1994) proponen argumentos en contra de la idea de que todos los estados
de creencia deban satisfacer el requisito de generalidad. Hay muchos tipos de creen-
cia y algunas de ellas se conforman al modelo oracional, no en el sentido de que su
estructura es lingstica, sino en el sentido fuerte de que estn lingsticamente rea-
lizadas. Sea Juan un sujeto que domina el espaol y el ingls, supngase que Juan
posee el concepto l realizado lingsticamente en espaol pero no lo posee realizado
lingsticamente en ingls y, a su vez, posee el concepto Z realizado lingsticamen-
te en ingls pero no lo posee realizado lingsticamente en espaol. Lo cierto es que
aunque Juan tenga los conceptos l y Z, como se realizan en lenguajes distintos no
puede tener la creencia lingsticamente realizada de que algunos l son Z (Richard
1994, p. 3123). El hecho de que estos dos conceptos que posee el sujeto no puedan
ser combinados, mostrara que las creencias lingsticamente realizadas no siempre
satisfacen el requisito de generalidad. Con Richard se hace evidente que el requisito
no se cumple de manera esencial en todos los tipos de creencias. Entonces, el criterio
de Evans, segnel cual el requisito es constitutivo de los estados personales de actitud
proposicional como las creencias, y no es constitutivo de los estados subpersonales
del procesamiento de la informacin, no es correcto.
Quiz se pudiera aceptar, en defensa de Evans, que el requisito se cumple, de
manera constitutiva, en algunas creencias, pero que sigue sin cumplirse de mane-
ra constitutiva en los estados subpersonales de procesamiento. Pero si se cumple en
algunas creencias ya no es un requisito esencial de los estados personales de actitud
proposicional, sino que se da contingentemente en ciertos estados personales de ac-
titud proposicional (quiz en la mayora de ellos). As, el requisito se cumplira tan
contingentemente en los estados personales de actitud proposicional como en los
estados subpersonales del procesamiento de la informacin. Es una cuestin emp-
rica a resolver qu estados, personales o subpersonales, responden a dicho principio.
La manera en que los humanos estamos hechos parece mostrar que el requisito no
se cumple en el caso de ciertos estados personales de creencia y en los estados sub-
personales del procesamiento de la informacin perceptiva. Asimismo, la manera en
que estamos hechos parece mostrar que de hecho, el requisito se cumple en otros
estados personales de actitud proposicional y en los estados subpersonales del pro-
El Requisito de Generalidad y El Sistema Subpersonal de Procesamiento Lingustico 103
cesamiento temprano de la informacin lingstica. Resumiendo, el cumplimiento
del requisito no parece ser esencial a los contenidos conceptuales de cualquier rea
de la cognicin. Su cumplimiento depende de la manera en que estamos hechos. Y es
por la manera en que estamos hechos que el requisito se aplica a los estados subper-
sonales del procesamiento temprano de la informacin lingstica.
II.2
La segunda objecin sostiene que el requisito de generalidad solamente tiene valor
cuando los conceptos combinados se aplican apropiadamente de acuerdo a cmo
es el mundo (Evans 1982; Peacocke 1992; Strawson 1963). El requisito de generali-
dad admite combinaciones de conceptos tales como la del pensamiento Csar es
un nmero primo? Hay un nmero de lsofos de la mente que responderan a esta
pregunta de manera negativa. Ello se debe a que consideran que el requisito de gene-
ralidad se aplica a una serie limitada de pensamientos (Camp 2004, p. 4). Solamente
se aplica a los pensamientos cuyos conceptos soncombinados respetando sus aplica-
ciones apropiadas. El concepto NMEROPRIMOpuede combinarse con el concepto
NUMERO 5 respetando la aplicacin apropiada del mismo porque dicha combina-
cin entra en el campo de signicatividad del concepto NMERO PRIMO (Camp
2004,p. 4). El concepto NMERO PRIMO puede combinarse con el de CSAR, pero
no respeta la aplicacin apropiada del mismo, dado que dicha combinacin no entra
en el campo de signicatividad del concepto NMERO PRIMO.
Parecera que la aplicacin apropiada de conceptos es una condicin que restrin-
ge las combinaciones conceptuales que caen bajo el requisito de generalidad. Desde
esta perspectiva, la aplicacin apropiada de conceptos nos compromete con un cier-
to conocimiento de los objetos referidos por esos conceptos. Nos compromete con el
conocimiento de qu es lo que diferencia a un objeto de otro, y nos compromete con
el conocimiento de que el objeto de hecho posee esas propiedades diferenciado-
ras (Evans 1982, p. 1068; Peacocke 1992, p. 2314). Esta perspectiva liga la aplicacin
apropiada de conceptos con alguna nocin de identicacin y reidenticacin de ob-
jetos (Lievres 2005, p. 172). El concepto NMERO PRIMO se aplica apropiadamente
al concepto NMERO 5 y se aplica de manera inapropiada al concepto CESAR por-
que el objeto referido por NMERO PRIMO se identica y reidentica de tal manera
que admite relacionarse, en la realidad, con los objetos referidos por NMERO 5 y
no admite relacionarse, en la realidad, con objetos referidos por CESAR. En este sen-
tido, la tarea conceptual de determinar el campo de signicacin de un objeto est
estrechamente ligada con la tarea metafsica de determinar cmo estn divididos los
objetos en la realidad (Camp 2004, p. 7).
Ahora bien, aplicar apropiadamente un concepto parece ser una actividad per-
sonal. Como la aplicacin apropiada de conceptos se lleva a cabo por el sujeto, en
tanto sistema cognitivo global, de manera conciente, esta habilidad pertenecera al
nivel personal. As, el requisito de generalidad slo se aplicara a las actitudes propo-
sicionales y no a los estados de procesamiento de la informacin tanteen virtud de
104 Mariela Destfano
que las actitudes proposicionales son representaciones prototpicamente personales
y los estados de procesamiento de la informacin son subpersonales. De modo que
se podra pensar que el requisito slo admitira la posesin de conceptos personales
involucrados en las actitudes proposicionales.
En respuesta a esto, creo que es errado sostener que este requisito se aplica sola-
mente a los pensamientos cuyos conceptos se combinan respetando sus aplicaciones
apropiadas. A mi entender, el requisito de generalidad se aplica a cualquier combi-
nacin conceptual. Si este requisito se aplicara solamente a las combinaciones de
conceptos apropiadamente aplicados y dijimos que desde esta perspectiva los con-
ceptos estn correctamente aplicados a partir de cmo son los objetos descritos por
esos conceptos (es decir, respetando las partes en que estn divididas las cosas en el
mundo), entonces como la aplicacin apropiada de conceptos descansa en cuestio-
nes metafsicas, el requisito de generalidad tambin descansara en cuestiones meta-
fsicas. Sin embargo, en lo que sigue intentar mostrar que el requisito de generalidad
nopuede descansar encuestiones metafsicas, raznpor la cual no se aplica solamen-
te a los pensamientos donde se combinan conceptos apropiadamente aplicados.
En primer lugar, el requisito de generalidad expresa la propiedad de la sistemati-
cidad de los pensamientos (Camp 2004, p. 1). Los pensamientos sonsistemticos por-
que la habilidad para tener cualesquiera de ellos implica la habilidad para tener mu-
chos otros pensamientos que estn relacionados (Fodor 1998, p. 489). Si una men-
te puede pensar que Juan ama a Mara, tambin puede pensar que Mara ama a
Juan (Fodor 1998, p. 139). Asimismo si una mente puede pensar que Mara es feliz
y Juan es austero, tambin puede pensar que Mara es austera y Juan es feliz. El
requisito de generalidad hace referencia a las mismas habilidades conceptuales in-
volucradas en la sistematicidad. Es cierto que existe una diferencia entre el requisito
y la sistematicidad. El primero es una propuesta conceptual acerca de cmo deben
estar estructurados nuestros pensamientos. Evans entiende que es un principio ideal
al cual los sistemas de pensamiento slo se ajustan de manera aproximada (Evans
1982, p. 105). El segundo, en cambio, est planteado como un hecho emprico acerca
de los pensamientos de las mentes humanas. Parece conceptualmente posible que
haya mentes que an pensando que Juan ama a Mara no tengan la capacidad de
pensar que Mara ama a Juan. Sin embargo, tener la habilidad de pensar el segun-
do pensamiento a partir del primero es un rasgo de la vida mental de los humanos
(Fodor 1998, p. 49). Esta diferencia no elimina el hecho de que el principio exprese la
propiedad de sistematicidad.
En segundo lugar, la sistematicidad es una propiedad sintctica del pensamiento
(Fodor y Pylyshyn 1988, p. 120). Tal como sostiene Fodor: la sistematicidad es una
de las (muy pocas) propiedades organizacionales de la mente a la que nuestra cien-
cia cognitiva actualmente le da algn sentido (Fodor 1998, p. 140). Es una propiedad
sintctica en tanto que es formal, se expide solamente acerca de la estructura de los
pensamientos. Es cierto que los pensamientos no estn sistemticamente estructura-
dos de manera arbitraria desde un punto de vista semntico (Fodor y Pylyshyn 1988,
El Requisito de Generalidad y El Sistema Subpersonal de Procesamiento Lingustico 105
p. 124). La capacidad para pensar Mara es feliz y Juan es austero est conectada
con la capacidad para tener otros pensamientos, como Mara es austera y Juan es
feliz, porque estn semnticamente relacionados en el sentido de que estos concep-
tos contribuyen con el mismo contenido en los pensamientos en los que participan.
No podra armarse que la capacidad para pensar Mara es feliz y Juan es auste-
ro est relacionada con la habilidad para pensar Dos ms dos es cuatro. Esto es as
porque los contenidos de pensamientos como Mara es austera y Juan es feliz no
son los mismos que los de pensamientos como Dos ms dos es cuatro, razn por la
cual Mara es austera y Juan es feliz no estn semnticamente relacionados con
Dos ms dos es cuatro.
Parecera que la sistematicidad implica ms que meras combinaciones sintcti-
cas (Werning 2005, p. 300). Implica que esas combinaciones sintcticas sean sensi-
bles al contenido que es combinado. Pero aunque se acepte que la sistematicidad es
una propiedad formal que tiene ciertas restricciones semnticas, ello no tiene por
qu llevar a pensar que tambin tiene restricciones metafsicas. La sistematicidad no
se ve afectada por el hecho de que los contenidos combinados sintcticamente ha-
gan referencia a individuos, propiedades, u otra categora metafsica. Segn Fodor
y McLaughglin estas cuestiones abstrusas no son relevantes para la sistematicidad
(Fodor y McLaughlin 1990, p. 219). Las propiedades formales de la mente, como la
sistematicidad, no tienen por qu acomodarse a las partes en las que est dividido
el mundo. Las combinaciones sintcticas no tienen que tener ninguna correspon-
dencia con cmo es la realidad. Los mecanismos combinatorios que subyacen a los
pensamientos no se desenvuelven mejor si respetan cmo es el mundo. Con esa idea,
ilusiones pticas como las estudiadas por Muller-Lyer, al no corresponderse con c-
mo es la realidad, seran el resultado de mecanismos psicolgicos que funcionan mal
y, sin embargo, son el producto del sistema visual cuando opera de manera normal
(Jackendoff 1991, p. 4167). En este sentido, las constricciones metafsicas acerca de
cmo es el mundo no tienen ningn papel en la estructuracin de los pensamientos.
El requisito de generalidad es un principio acerca de la sintaxis de los pensamien-
tos. Al dar cuenta de la estructura de los pensamientos este requisito es pertinente
para la forma de ciertas representaciones. Por lo que expuse no es obvio que un prin-
cipio acerca de la sintaxis de los pensamientos se vea compelido por restricciones
metafsicas acerca de cmo es el mundo. Esto no quiere decir que los pensamien-
tos no tengan ningn tipo de efecto en el mundo o que el mundo no afecte nuestros
pensamientos. Las propiedades sintcticas tienen ecacia causal porque son propie-
dades fsicas de segundo orden (es decir, son propiedades de propiedades fsicas).
Si los pensamientos son sistemticos y la sistematicidad es una propiedad sintcti-
ca, entonces los pensamientos tienen poder causal en el mundo. Sin embargo, tener
ecacia causal no es lo mismo que acomodarse a las partes en que est dividida la
realidad.
Si estoy en lo cierto y se puede liberar el requisito de generalidad de la condicin
de signicatividad, la cual opera en el nivel personal, quedara abierta la posibilidad
106 Mariela Destfano
de que el requisito se cumpla en los sistemas subpersonales de procesamiento (como
el lenguaje) con lo cual, se abrira la posibilidad de que dichos sistemas, en parte,
posean conceptos.
III
El anlisis de nociones como habilidad y capacidad cognitiva me ha permitido
concluir que el requisito de generalidad es neutral respecto de la distincin personal-
subpersonal, razn por la cual podra aplicarse a los estados subpersonales del pro-
cesamiento temprano de la informacin lingstica. Ninguna de las dos objeciones
presentadas parece poder invalidar esta conclusin. Como el requisito de generali-
dad es una propuesta acerca de qu es poseer conceptos, este trabajo abrira la po-
sibilidad de armar que el mecanismo que procesa informacin lingstica, en sus
etapas tempranas, tiene conceptos. Pero mi estrategia argumentativa no es sucien-
te. Habra que estudiar qu otros requisitos deberan satisfacer los estados subperso-
nales del procesamiento temprano de la informacin lingstica para poder armar
con mayor solidez que poseen conceptos. En la literatura losca se han propuesto
varios principios que caracterizan la posesin de conceptos. Esta capacidad no slo
est ligada al requisito de generalidad, sino que tambin puede estar ligada al requi-
sito de distancia o a la posibilidad del error (Dann 2007). Para evitar que el tema de
la posesin de conceptos a nivel subpersonal se transforme en una mera disputa ter-
minolgica acerca de qu es poseer conceptos habra que pensar cules de los princi-
pios propuestos por los lsofos habra que tomar en cuenta. Desde esta perspectiva,
entiendo que el requisito de generalidad es impostergable. Esto es as, porque, tal co-
mo mencion, el cumplimiento de este requisito permitira testear empricamente la
posesin de conceptos a partir del desempeo cognitivo concreto.
Bibliograa
Bermudez, J. L. 1995. Nonconceptual Content: From Perceptual Experience to Subpersonal
Computational States. Mind & Language 10(4): 33369.
Camp, E. 2004. The Generality Constraint: Nonsense and Categorial Restrictions. Philosophi-
cal Quarterly 54(2): 20931.
Cummins, R. 1983. The Nature of Psychological Explanation. Cambridge, MA: MIT Press.
Danon, L. 2007. Habilidades identicatorias y conceptos en animales sin lenguaje. (manus-
crito)
Davies, M. 1989. Tacit Knowledge and Subdoxastic States. En George, A. (ed.) Reections on
Chomky. Oxford: Blackwell.
Dennett, D. 1969. Content and Consciousness. London: Routledge & Kegan Paul.
Destfano, M. 2006 Estados subpersonales con contenido conceptual y lenguaje. La rapidez
y la ecacia en los procesos de comprensin oral de las palabras. (manuscrito de tesis de
licenciatura)
Evans, G. 1982. Varieties of Reference. Oxford: OUP.
El Requisito de Generalidad y El Sistema Subpersonal de Procesamiento Lingustico 107
Fodor, J. 1968. La explicacin psicolgica. Introduccin a la losofa de la psicologa. Madrid:
Ctedra.
. 1998. Conceptos. Barcelona: Gedisa
Fodor, J. y McLaughlin, B. P. 1990. Connectionismandthe Problemof Systematicity: Why Smo-
lenskys Solution doesnt Work. En McDonald, C. & McDonald, G. (eds.) 1995. Connectio-
nism. Cambridge, Mass.: Blackwell, p. 199222.
Fodor, J. y Pylyshyn, Z. W. 1988. Connectionismand Cognitive Architecture: a Critical Analysis.
en McDonald, C. & McDonald, G. (eds.) 1995. Connectionism. Cambridge, Mass.: Black-
well, p. 90163.
Frege, G. 1892. Sobre el sentido y la denotacin. En Moro Simpson, T. (ed.) 1973. Semntica
losca: problemas y discusiones. Buenos Aires: Siglo XXI, p. 327.
Jackendoff, R. 1991. The Problem of Reality. Nos 25: 41133.
Lievers, M. 2005. The Structure of Thoughts. en Werning, M., Machery, E. & Schurz G. (eds.)
The Compositionality of Meaning and Content. vol. I. Frankfurt: Ontos Verlag, p. 16988.
Peacocke, C. 1992. A Study of Concepts. Cambridge, MA: MIT Press.
Richards, M. 1994. What Isnt a Belief. Philosophical Topics 22: 291318.
Ryle, G. 1949. El concepto de lo mental. Buenos Aires: Paids.
Skidelsky, L. 2003. Representaciones mentales eslabn entre el individuo y el mundo?. (ma-
nuscrito doctoral)
Strawson, P. F. 1963. Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. Garden City, NJ: Anchor
Books.
Werning, M. 2005. Right and Wrong Reasons for Compositionality. En Werning, M., Machery,
E. &Schurz G. (eds.) The Compositionality of Meaning and Content. vol. I. Frankfurt: Ontos
Verlag, p. 285309.
Notas
1
Utilizar la tipografa mayscula para indicar que se trata de conceptos.
2
Aunque la distincin personal-subpersonal originariamente hace referencia a distintos niveles de ex-
plicacin (Dennett 1969), existen desarrollos que tienden a entenderla ontolgicamente, en el sentido
de que existen representaciones y procesos mentales pertenecientes al nivel personal y subpersonal
(Peacocke 1992; Bermdez 1995). En trminos generales, las representaciones y procesos personales
son propios de la persona en tanto sistema cognitivo global y el contenido de los estados personales es
accesible al sujeto que lo posee. Las representaciones y procesos subpersonales, en cambio, son los que
poseen los sistemas de procesamientos de la informacin y ambos son inaccesibles al sujeto.
3
Poseer conceptos tambin puede entenderse como tener particulares mentales, en tanto elementos
constituyentes del contenido de un estado mental (Fodor 1999) o como aprehender un sentido, conce-
bido como aquello que se capta cuando se comprende una expresin (Frege 1892).
4
La nocin de proceso inferencial es lo sucientemente amplia como para abarcar tanto transiciones
lgicas como algortmicos computacionales.
ADECUACIN EMPRICA Y COMPROMISOS METAFSICOS
NLIDA GENTILE
Universidad de Buenos Aires
nelgen@lo.uba.ar
1. Introduccin
En The Scientic Image (1980), Bas van Fraassen presenta su visin de la ciencia co-
mo una alternativa al realismo cientco. Conforme a su caracterizacin, el realismo
cientco puede describirse bajo la tesis de que las teoras cientcas procuran ofre-
cernos un relato literalmente verdadero de cmo es el mundo; y la aceptacin de una
teora cientca conlleva la creencia de que ella es verdadera (van Fraassen 1980,
p. 8). En contra de esta posicin, van Fraassen formula su propuesta antirrealista a
la que denomina empirismo constructivo: La ciencia se propone ofrecernos teoras
que son empricamente adecuadas; y la aceptacin de una teora involucra solamen-
te la creencia de que ella es empricamente adecuada (van Fraassen 1980, p. 12). Van
Fraassen no niega, por cierto, que las teoras tengan valor de verdad, esto es, no las
considera como meros instrumentos o formulaciones metafricas; por lo contrario,
sostiene que el lenguaje de la ciencia debe interpretarse de manera literal. Pero el re-
conocimiento por parte de van Fraassen del sentido literal de las teoras cientcas
no lo conduce a asumir que aceptar una teora equivale a comprometerse con su ver-
dad en lo que atae a las porciones inobservables del mundo. En efecto, el empiris-
ta constructivo se mantiene agnstico respecto de cualquier compromiso ontolgico
que vaya ms all de los fenmenos observables. De manera que la aceptacin de una
teora se restringe solamente a la creencia de que es empricamente adecuada, esto
es, que lo que dice acerca de las cosas y sucesos observables en el mundo es verdade-
ro, que salva los fenmenos. En la medida en que se muestra agnstico respecto de
las creencias que van ms all de lo que sera posible confrontar directamente con la
experiencia si se dieran las circunstancias apropiadas, el empirismo constructivo de
van Fraassen pretende brindar una visin de la ciencia depurada de todo componen-
te metafsico: Adios a la metafsica! como expresa el slogan que formula en algunos
de sus textos (van Fraassen 1991, p. 480).
En lo que sigue se procura demostrar que a pesar de su reticente actitud respec-
to de cualquier aspecto que trascienda el mundo de lo observable, van Fraassen no
puede evitar la presencia de suras en los lmites que traza para dejar fuera la me-
tafsica. Ms especcamente, se sostiene que en su intento de restringir el objetivo
de la ciencia a la bsqueda de teoras que sean slo empricamente adecuadas, aca-
ba asumiendo un compromiso ms fuerte que el que conlleva el reconocimiento de
la prosecucin de la verdad: el empirismo constructivo no consigue desvincularse
completamente de una platnica ontologa poblada de entidades abstractas.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 108113.
Adecuacin emprica y compromisos metafsicos 109
2. Enfoque semntico y adecuacin emprica
Van Fraassen caracteriza la adecuacin emprica, el concepto que introduce frente a
la imposibilidad de establecer la verdad de las teoras cientcas, en el marco de una
presentacin no axiomtica de las teoras. De acuerdo con la concepcin heredada
(received view) desarrollada por los empiristas lgicos y sus continuadores, las teo-
ras propias de las ciencias fcticas son sistemas axiomatizados, de tal manera que
los axiomas correspondientes a cada teora pueden reconocerse por sus caracters-
ticas sintcticas. En contraste con esa perspectiva sintctica, van Fraassen apoya el
enfoque semntico introducido por Patrick Suppes. Conforme a esta propuesta, una
teora se presenta directamente como una clase de modelos, sin atender a aspectos
tales como la axiomatizacin de la teora dentro de un lenguaje formal.
En la terminologa de van Fraassen, tales modelos son estructuras matemticas
llamadas modelos de una teora dada slo en virtud de pertenecer a la clase deni-
da de los modelos de esa teora (van Fraassen 1989, p. 366n). Asimismo, los modelos
son concebidos como representaciones de una variedad de mundos que seran po-
sibles de acuerdo con la teora; mientras que el mundo real, a su turno, se identica
con uno de esos posibles mundos (van Fraassen 1989, p. 226). En trminos de la snte-
sis expresada por Ronald Giere, de acuerdo con la concepcin semntica, una teora
consiste de a) una denicin terica que caracteriza determinada clase de sistemas y
b) una hiptesis terica que arma que ciertas clases de sistemas reales son miembros
de esa clase.
De ese modo, para quienes adoptan la concepcin semntica, el contenido em-
prico de la teora corresponde a la especicacin de ciertas partes de estos modelos,
las subestructuras empricas, que ocian como candidatos para la representacin de
los fenmenos observables (van Fraassen 1980, p. 64). La diferencia entre esta con-
cepcin y la versin tradicional de las teoras cientcas se maniesta tambin, en-
tonces, en cuanto a la cuestin del contenido emprico de las teoras. Pues, mientras
en la concepcin sintctica el contenido emprico de una teora se cristaliza en un
conjunto de las consecuencias lgicas de sus axiomas, a saber, el subconjunto forma-
do por aquellas oraciones que se deducen de los axiomas y pueden formularse en un
lenguaje observacional, los partidarios del enfoque semntico se veran liberados
de las complicaciones que origina el problema del signicado de los trminos te-
ricos. Cualquier alusin al lenguaje puede considerarse ajena en la medida en que el
contenido emprico de la teora aparece ahora como una propiedad vinculada con los
modelos considerados como entes matemticos y no como entidades lingsticas.
De modo consecuente, el concepto de adecuacin emprica caracterstico de la
concepcin heredada queda ahora redenido de manera muy simple: la teora es
empricamente adecuada si tiene algn modelo tal que todas la apariencias sean iso-
mrcas con las subestructuras empricas de ese modelo (van Fraassen 1980, p. 64).
Las apariencias, los fenmenos, el mundo observable, se identican con las estruc-
turas o modelos del mundo que pueden ser discernibles a travs de registros expe-
110 Nlida Gentile
rimentales e informes de medicin. Por lo tanto, aceptar una teora implica slo la
creencia de que lo que dice acerca de los fenmenos es correcto.
Pero cabe subrayar que la expresin todas las apariencias no reere solamente
a aquellas realmente observadas sino ms bien a las que seran en principio observa-
bles. De acuerdo con van Fraassen, que una entidad sea observable no implica que
estn actualmente dadas las condiciones para observarla: X es observable si hay cir-
cunstancias tales que, si X est presente ante nosotros bajo esas circunstancias, en-
tonces lo observamos (van Fraassen 1980, p. 16). De este modo, la adecuacin em-
prica abarca no slo la totalidad de los fenmenos presentes y pasados sino tambin
los futuros; va necesariamente ms all de lo que podemos conocer en un momento
dado, pues no todos los resultados de las mediciones estn incorporados y nunca po-
drn estarlo, ya que no podemos medir todo lo que podra ser medido (van Fraassen
1980, p. 69). Aun as, van Fraassen enfatiza que la exigencia de la adecuacin emprica
es mucho ms dbil que la exigencia de la verdad, y restringirnos a la aceptacin de
las teoras nos libra de la metafsica.
3. Entidades abstractas y compromisos ontolgicos
Hemos visto que, de acuerdo con las explcitas armaciones de van Fraassen, la no-
cin de adecuacin emprica nos permite alejarnos de la metafsica y atenernos sola-
mente a lo que es directamente confrontable con la experiencia. Pero, si bien ha de-
jado atrs las complicaciones inherentes a la concepcin lingstica, el costo que ha
decidido pagar es su reemplazo por la entronizacin de ciertas estructuras abstractas.
Podemos preguntarnos, pues, si la actitud de van Fraassen resulta totalmente cohe-
rente o s, por el contrario, el empirismo constructivo no puede evitar traspasar los
lmites que demarcan el mundo constituido por lo que es directamente observable. A
n de responder este interrogante, ser conveniente que analicemos brevemente las
distintas posiciones que histricamente se han ofrecido en relacin con el estatus de
las entidades matemticas y veamos cules son sus consecuencias para la evaluacin
de la postura de van Fraassen.
El siglo XX ha sido escenario del desarrollo de tres concepciones clsicas en torno
de la fundamentacin de la matemtica: el logicismo, el intuicionismo y el forma-
lismo. Cada una de estas doctrinas reedita de algn modo, como seala Quine, las
tpicas posturas medievales a propsito del problema de los universales, a saber, el
realismo, el conceptualismo y el nominalismo. Asimismo, si analizamos estas doc-
trinas a la luz del criterio de compromiso ontolgico formulado por Quine, esto es,
que ser es ser el valor de una variable, puede observarse que el desacuerdo entre las
distintas posiciones reside de modo explcito en el tipo de entidades que se admiten
como objetos de referencia de las variables ligadas (Quine 1948, p. 33).
De acuerdo con la doctrina del realismo, los universales existen independiente-
mente de la mente, tienen existencia real. En su forma absoluta o extrema, cuyo m-
ximo exponente encontraramos en la losofa de Platn, los universales son inde-
Adecuacin emprica y compromisos metafsicos 111
pendientes de los individuos que los ejemplican, esto es, se trata de universales ante
rem. La moderna manifestacin del realismo en el mbito de la matemtica, el logi-
cismo representado por Frege, Russell, Whitehead y Church, se maniesta por medio
de la utilizacin de variables ligadas para referirse a entidades abstractas tales como
nmeros, clases, innitos actuales, y dems.
El conceptualismo, por su lado, sostiene que los universales o entidades abstrac-
tas no son cosas reales; existen slo en tanto conceptos de la mente.
1
Su representan-
te ms reciente en la fundamentacin de la matemtica es el intuicionismo suscripto,
entre otros, por Poincar, Brouwer y Weyl. No se puede garantizar la existencia de en-
tidades matemticas a menos que se sepa cmo se construyen: a la manera de Kant,
las verdades de la aritmtica y con ellas las de la matemtica toda constituyen verda-
des sintticas a priori derivadas de la intuicin, una aprehensin de la mente de lo
que ella misma ha construido.
El nominalismo, por otra parte, slo atribuye existencia real a los individuos; los
universales no sonconceptos sino simplemente nombres (nomina) o vocablos (voces)
que poseen nicamente un estatus lgico: son el requisito necesario del pensamiento
y la comunicacin. En el reino de las matemticas, el formalismo comparte con el
intuicionismola actitudde rechazohacia la demanda de universales caracterstica del
logicismo. Pero en contra del intuicionista, el formalista ni siquiera los admite como
entidades producidas por la mente. El formalismo concibe las matemticas como un
mero sistema puramente sintctico, un juego de notaciones sin signicacin.
4. Adis a la metafsica?
Retomemos ahora el criterio quineano de compromiso ontolgico y pasemos luego
a examinar la nocin de adecuacin emprica tal como la formula van Fraassen en
trminos de la visin semntica de las teoras. Si ser es ser el valor de una variable,
entonces como arma Quine al decir que hay nmeros primos entre 1000 y 1010
nos estamos comprometiendo con una ontologa que contiene nmeros; cuando de-
cimos que hay centauros estamos obligados a sostener una ontologa que contiene
centauros; y cuando decimos que algunas especies zoolgicas son capaces de repro-
ducirse entre s nos vemos obligados a reconocer comoentidades las especies mismas
por ms abstractas que stas sean (Quine 1948, p. 2832).
Hemos visto que de acuerdo con van Fraassen una teora es empricamente
adecuada si tiene algn modelo tal que todas la apariencias son isomrcas con las
subestructuras empricas de ese modelo. En este caso, el dominio de valores de las va-
riables que pueden gurar en el alcance del cuanticador existencial son los modelos
tericos y las correspondientes subestructuras empricas de los modelos. Luego, la
armacin de que una teora es empricamente adecuada no parece dejar lugar para
evitar el compromiso con las entidades abstractas.
En su defensa y a n de morigerar sus compromisos, el empirista constructivo
quiz podra argir que slo est obligado a reconocer una ontologa de subestructu-
112 Nlida Gentile
ras empricas, las estructuras que son isomrcas con los fenmenos. Esta parece ser,
por otra parte, la tesis que van Fraassen deende en uno de sus ltimos trabajos. En
efecto, enStructure: its ShadowandSubstance (2006), aboga enfavor de unenfoque
al que denomina un estructuralismo empirista. La clave de su nueva postura reside
en su intento de dar cuenta de ciertos aspectos que juzga acertados de la posicin
de Worrall, la idea de que a pesar de los cambios conceptuales la ciencia exhibe una
acumulacin del conocimiento. Segn van Fraassen, intuitivamente diramos que los
fenmenos parecen tener tanto cualidades intrnsecas como una estructura matem-
tica. Pero mientras la naturaleza de las cualidades intrnsecas que se atribuyen a los
fenmenos depende de cada teora y varan por tanto de una a otra, las leyes de bajo
nivel, aquellas expresadas por medio de ecuaciones simples y que describen precisa-
mente la estructura fenomnica perduran, al menos como casos lmite, en las teoras
sucesoras. As, los colores, para citar uno de los ejemplos ofrecidos por van Fraassen,
fueron primeramente concebidos por Newton como cualidades de los rayos de luz y
ms tarde en trminos de longitud de onda. Hubo en este caso un importante cambio
conceptual; sin embargo, las leyes de reexin y refraccin de la ptica geomtrica
son descripciones matemticas simples de ciertos aspectos de los fenmenos que se
mantienen en el pasaje de una teora a otra. Es la estructura supercial de la ciencia,
la estructura fenomnica, la que se mantiene estable frente al contenido terico que
se altera rpidamente (van Fraassen 2006, p. 304).
Admitamos, por mor de la discusin, que las subestructuras empricas sonestruc-
turas matemticas de bajo nivel, ecuaciones relativamente simples, isomrcas con
la estructura del mundo observable. Sin embargo como el propio van Fraassen lo
reconoce siguen siendo estructuras matemticas que, aun cuando son isomr-
cas con las apariencias no se identican estrictamente con ellas (van Fraassen 2006,
p. 304). Y si a esta situacin agregamos que lo nico que podemos conocer de los
fenmenos es su estructura, va isomosmo con los modelos empricos de la teora,
entonces el mundo revelado por la ciencia ha quedado poblado de una pltora de
estructuras matemticas que comprometen al empirista constructivo con una meta-
fsica platonizante de entidades abstractas.
Podra replicarse, por cierto, que el recurso de apelar a entidades abstractas no lle-
va a comprometerse ontolgicamente con ellas. En otros trminos, podra no acep-
tarse el criterio ontolgico de Quine y asumir, como lo hace van Fraassen respecto
de las entidades tericas postuladas por las teoras cientcas, una actitud agnstica,
esto es, aceptar el lenguaje de las matemticas sin admitir que las entidades abstrac-
tas existen. No obstante, en este caso, ms que adoptar una posicin agnstica, el
empirista constructivo sucumbira, en un escepticismo radical. Pues, en la medida
en que las estructuras empricas constituyen subestructuras de los modelos tericos
que denen la clase de modelos de la teora, si se suspende el juicio con respecto a la
existencia de los modelos tericos, entonces debe suspenderse el juicio, tambin, en
relacin con los submodelos que describen los fenmenos.
A n de eludir la necesidad de optar entre el platonismo o el escepticismo, el sim-
Adecuacin emprica y compromisos metafsicos 113
patizante del empirismo constructivo podra imaginar que su fundador deende una
posicin ccionalista respecto del lenguaje de las matemticas, una postura cercana,
en algn sentido, al formalismo. Pero esta interpretacin parece incompatible con la
concepcin semntica de las teoras, a menos que se considere que los modelos y
submodelos son meras inscripciones, conjuntos de manchas de tinta trazadas sobre
un papel. Y si algn otro ferviente devoto ensayara la posibilidad de conciliar el parti-
cular empirismo de van Fraassen con el moderno intuicionismo, podramos replicar
que dada la fuerte ligazn que esta posicin mantiene con el apriorismo kantiano re-
sulta difcil imaginar cmo podra compatibilizarse conla postura del empirista cons-
tructivo.
Las razones que ofrece van Fraassen a favor del enfoque semntico, y en con-
secuencia de su necesidad de hablar de modelos, son de naturaleza pragmtica: la
diferencia con otros enfoques sostiene es una cuestin de actitud, orientacin y
tcticas ms bien que de doctrinas o tesis (van Fraassen 1989, p. 217). Pero, por otro
lado, en su explcito propsito de hacer justicia a la armacin de Worrall respecto
de que la ciencia exhibe una acumulacin de conocimiento, van Fraassen ha hecho
una concesin al realista al incorporar en su empirismo el componente estructural.
As, el estructuralismo empirista que ahora nos presenta parece conducirlo, aun sin
reconocerlo, a postergar su intencin de despedirse de la metafsica.
Bibliografa
Ladyman, J. 2000. Whats Really Wrong with Constructive Empiricism?: Van Fraassen and the
Metaphysics of Modality. The British Journal for the Philosophy of Science 51: 83756.
McMullin, E. 2003. Van Fraassen Unappreceated Realism. Philosophy of Science 70(3): 45578.
Rosen, G. 1994. What is Constructive Empiricism? Philosophical Studies 74: 14378.
van Fraassen, B. C. 1980. The Scientic Image. Oxford: Oxford University Press.
. 1989. Laws and Simmetry. Oxford: Oxford University Press.
. 2001. Constructive Empiricism Now. Philosophical Studies 106: 15170.
. 2003. On Mac Mullins Appreceation of Realism concerning the Sciences. Philosophy of
Science 71(1): 47992.
. 2006. Structure: its Shadowand Substance. The British Journal for the Philosophy of Scien-
ce 57(2): 275307.
Notas
1
En el debate acerca de los universales el conceptualismo adopta una variedad de matices de modo
que a veces se lo caracteriza como una forma de realismo moderado y en otras ocasiones se lo identica
con el nominalismo. Asimismo, los neoescolsticos ubican la concepcin Kant y algunos neokantianos
como Cassirer dentro del conceptualismo. Pareciera que es a posiciones de este ltimo tipo a las que
Quine alude cuando establece una correspondencia con el intuicionismo en matemticas.
SCIENTIFIC PROGRESS AS EXPRESSED BY TREE DIAGRAMS
OF POSSIBLE HISTORIES
OSVALDO PESSOA JR.
University of So Paulo
opessoa@usp.br
1. Two Modern Views on Scientic Progress
Almost everyone agrees that there is progress in science: theories explain larger do-
mains of reality with increasing precision, resulting in a constant appearance of new
technological applications. But what is the nature of this progress?
Karl Popper (1963, pp. 2313) assumes that, as time goes by, scientic theories
increasingly approximate a true description of the world. In his convergent realism,
in which scientic theories steadily increase their degree of verisimilitude, there is an
unchanging reality which acts as an attractor for the evolution of science. The real
natural world serves as a pre-xed aim towards which science is directed.
In contrast to this view, Thomas Kuhn compares the progress of scientic ideas
with the evolution of biological organisms.
[The] resolution of revolutions is the selection by conict within the scientic
community of the ttest way to practice future science. [. . . ] And the entire pro-
cess may have occurred, as we now suppose biological evolution did, without
benet of a set goal, a permanent xed scientic truth, of which each stage in the
development of scientic knowledge is a better exemplar (Kuhn 1962, pp. 1723).
Even if Kuhns particular analogy with natural selection is considered unsatisfac-
tory, there remains the interesting idea that there might be progress in science even
if this does not happen in a prexed direction. He returned to this notion in his Re-
ections on my Critics (Kuhn 1970, p. 264). A scientic revolution is the moment in
which progress in science is highly sensitive to external inuences, but in the long run
the new paradigm is clearly superior to the former, according to usual criteria, such
as precision of predictions and number of solved problems. So, in a sense, Kuhn is
not a relativist in his notion of progress, since he conceives that the successor theory
is superior in many aspects to the predecessor. On the other hand, he is close to rel-
ativism, since for him what makes a theory better than another is not its proximity to
truth, as in Popper, but the fact that it is considered by the scientic community a bet-
ter tool for the practice of normal science. This relativismwould apply to transitions
between paradigms, but not within a paradigm, during the normal science activity of
puzzle solution.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 114122.
Scientic Progress as expressed by Tree Diagrams of Possible Histories 115
2. Possible Histories of the Universe
One way of clarifying the concept of progress without an attractor (without a pre-
xed truth towards which science would converge), defended by Kuhn, is to consider
possible histories of science (Pessoa 2001, 2005).
Let us suppose that ona certaindate, say 1800, one hundredcopies of the universe
were created, and that the evolution of these different worlds were not determinis-
tic, so that the history of each Earth would follow a different path. We would there-
fore have a hundred possible scenarios, one consisting of our actual history (which in
fact occurredinour universe) and99 counterfactual histories (i.e., possible histories
that did not occur).
One might ask how long it would take, in the different worlds, for the molecular
structure of DNA to be discovered, for example, and which paths would be followed.
It is plausible to assume that the times would be different, and that there would be
more than one basic path. Notice that we are assuming that the discovery of DNA
would sooner or later take place in every one of the worlds, except maybe in a world
destroyed by a world war. Now, although we feel safe to say that the discovery of DNA
wouldhappeninall copies made in1800 (except for a cataclysm), the analogous ques-
tion about what biological theories would have been developed in these universes is
more complicated. Theories involve sets of explicit and implicit theses, the formula-
tion of which depends on slight changes in language, in perspective, etc. Such theo-
ries would account for objective facts which are possibly the same in all universes, but
the theories themselves could be different from world to world, to a greater or lesser
extent.
What constrains should be imposed on the abstract generation of possible uni-
verses? How should one build possible worlds? First of all, we are not considering
logically possible worlds, as is usually done in metaphysical and semantical discus-
sions, but what might be called causally possible worlds. Consider a time t
0
, such as
this present instant, and consider all the future possibilities of the universe. A scien-
tist may decide to pursue a line of investigation, or he might choose another. Acertain
lottery ticket might be drawn, or maybe another. An earthquake might happen in ten
minutes, or in ten days. Assuming, for the sake of the argument, that the future is
to a certain degree open, i.e. that the precise evolution of the whole universe is not
strictly deterministic, then it is meaningful to say that there are many different future
causally possible scenarios of the world.
A possible history (which includes counterfactual histories as well as the actual
one) is simply an evolution of the universe that, at some time t
0
of the past (of our
actual world), was a future causally possible scenario. As a consequence of this de-
nition, any counterfactual history must be indexed by a certain time t
0
(of our actual
history), when it was a future possibility.
One recipe for constructing possible histories is to suppose that at the index
time t
0
the universe is slightly shaken with a certain dispersion S. For this pur-
116 Osvaldo Pessoa Jr.
pose one could invoke a ?tychist demon? from the pantheon of demigods used in the
philosophy of physics (the most famous of which are the Laplace and the Maxwell
demons). To make matters simple, one could suppose that the universe evolves in a
deterministic way, while it is not shaken. With this situation, we won?t have much
problem with Leibniz?s principle of the identity of indiscernibles, since each copy
of the universe produced by shaking is supposed to be slightly different from the
other. We would thus have a moment of stochasticity when creating possible uni-
verses, which would be followed by a period of deterministic evolution.
1
Figure 1: Representation of six possible histories of the universe, which would evolve
deterministically in time t, starting from slightly different initial conditions.
Fig. 1 represents this situation qualitatively, for six possible histories of the uni-
verse. One might suppose, due to the notion of sensibility to initial conditions pre-
sent in chaos theory, that the various universes which start out in slightly different
states might end up diverging radically. If one also imposes the restriction of reversi-
bility, two different possible histories would never evolve so as to converge to an exact
same state.
If the universe were completely deterministic, it would follow that our future is
not open, and strictly speaking there would be only one possible history of the uni-
verse and of science. Our analysis of counterfactual histories would therefore lose its
ontological import, and would only express our ignorance concerning the details of
the evolution of science. On the other hand, if the universe were truly indetermin-
istic, then not only would possible histories have ontological import, but our shak-
ing procedure (which would have the effect of a randomizing oracle in deterministic
computations) could be applied at different moments of time. One consequence of
this would be that a precise state of the universe could be attained by more than one
possible histories.
3. Possible Histories of Science
In the previous section, we considered the evolution of the universe in microscopic
detail, and considered a set of possible histories arising at a certain time t
0
by shak-
Scientic Progress as expressed by Tree Diagrams of Possible Histories 117
ing the universe to a certain degree S of dispersion. Small differences in micro-
scopic detail in general would not lead to immediately noticeable differences at a
macroscopic level.
As an illustration, consider the effects a very small earthquake might have in the
lives of people living in a certain city. The daily routine would be changed a little,
but there would be no immediate effects on the progress of science. But a boy who
would become an important scientist might, because of the earthquake, have arrived
late in science class, and received a reprimand from the teacher, and this could ulti-
mately inuence his decision later in life to become a musician instead of a scientist.
If the boys name were Albert Einstein, what consequences would that have for the
development of science?
In this example, the effects of the earthquake would in most cases not affect Ein-
steins career choice, but in a smaller number of possible worlds it might. Fig. 2 com-
pares the evolution of six possible universes with the coarse grained evolution of
science in these six worlds (the latter supervenes on the former). In most of the
worlds considered, Einstein might have arrived at the theory of general relativity, but
in the world in which he chose to become a musician, he would not. What would be
the consequences for physics of this scenario in which Einstein becomes a violinist?
Figure 2: (a) Six possible universes generated in 1890. It is assumed that Einstein be-
comes a musician in on of them. (b) Possible histories of science, that supervene on
the possible universes. In ve of these, Newtonian theory of gravitation is replaced by
general relativity, but in the sixth, a nonrelativistic Machian theory supersedes New-
tonian theory.
It is plausible to suppose that the seminal ideas of Einsteins three great papers
of 1905 would have appeared within a few years, possibly by other paths. The prin-
ciples of the special theory of relativity were being studied by Lorentz and Poincar;
the theory of Brownian motion could have arisen with Smoluchowski; and the real-
ization that light has a granular aspect had already been suggested by J. J. Thomson
118 Osvaldo Pessoa Jr.
in 1904, and the concept of the quantum of light could have probably arisen before
1922, which is roughly the date that Einsteins theory was actually accepted.
However, there is a certain consensus among cosmologists that the general the-
ory of relativity, concluded in 1916, would not have appeared so quickly in a world
in which Einstein had not become a physicist. It is plausible to speculate that, in
this case, it would take around half a century for general relativity to be formulated.
What would have happened in this period of time? Would Newtonian theory of grav-
ity remain the best available theory? Probably not: at the turn from the 19th to the
20th centuries, many physicists were exploring nonrelativistic Machian theories
(see Barbour &Pster 1995), which introduces a velocity-dependent gravitational po-
tential and implements Machs idea that only relative distances should be used in me-
chanics (no absolute space). Such theories have a larger explanatory power than clas-
sical theory, and probably would have been used to account for different effects, such
as the advance of Mercurys perihelion, until the appearance of the general theory of
relativity or another equivalent theory.
Counterfactual conjectures, such as the one just given, are seen with suspicion
by historians of science, but they are just another way of stating causal claims. In
the present example, one could say that the appearance of general relativity in 1916
had, as a necessary condition, Einsteins genius and his profound understanding of
the principle of relativity.
4. Conceptions of Progress expressed in Trees of Possible Histories
In the previous section, we described a bifurcation of possible histories of science,
obtained after shaking the universe at a certain time. Possible histories of science
would initially follow the same path, but then most of the worlds would diverge, one
after the other, from the main branch. In such diagrams, the horizontal axis repre-
sents qualitatively different theories or different formulations of theories (see further
discussion in section 5).
The notion of a bifurcation of possible histories (Fig. 3a) is consistent with both
the views of Popper and Kuhn, in spite of the differences in their overall viewof scien-
tic progress. The distinction between these views is expressed in a direct way with
tree diagrams of the possible evolution of science,
The objectivist view is characterized by the claim that there is a convergence
of scientic theories in most of the possible histories of science (Fig. 3b). This in-
cludes Poppers realist conception, but it is a broader view than realism, as will be
discussed in section 8. Kuhns conception of evolution as the selection of the ttest
theory is represented, in Fig. 3c, as an open tree of possible histories of science. As
stressed by Kuhn (1970, p. 264), there is progress if one considers different points of a
same branch, but in principle science could follow diverging paths in different possi-
ble worlds.
Scientic Progress as expressed by Tree Diagrams of Possible Histories 119
Figure 3: Trees of possible histories of science. (a) The pattern of bifurcation of Fig. 2
is consistent with different views on the progress of science. (b) Objectivist views of
scientic progress, such as Poppers, would claim that possible histories of science
end up converging. (c) Kuhns view is that the possible histories diverge, lacking an
attractor.
With such tree diagrams, one may express different views on the progress of sci-
ence. Fig. 4, for example, would be a situation in which the initial bifurcation places
the scientic eld in a denitive paradigm. An illustration of this possibility could
be a choice between an atomistic view of the physical world or an oscillatory (wave-
motion) view. Needham (1962, pp. 314) has claimed that within the ancient Taoist
worldview in China the oscillatory paradigm was dominant, and not the atomistic
one, prevalent in Europe. If we assume that modern science could have arisen within
the oscillatory paradigm (this is just an illustration, I wouldnt want to commit myself
to this hypothesis), we could imagine that DNA could be conceived not as a bunch of
atoms, but as a set of resonant oscillations. Fig. 4 represents the viewthat there would
be convergence of possible histories only within each paradigm.
Figure 4: Alternative hybrid model for the progress of science, with convergence of
possible histories only within each general paradigm.
120 Osvaldo Pessoa Jr.
5. Distance between Scientic Theories
In the trees of possible histories of science (Fig. 3), the horizontal axes represent qual-
itatively the distance between theories. If at a certaintime two possible worlds arrive at
very different theories (such as a nonrelativist Machian theory and general relativity),
their branches will be represented far apart; but if the theories in the two worlds are
similar, then their branches will be put close together. But how should one measure
quantitatively the distance between theories?
One suggestion would be to compare the empirical adequacy of the theories, i.e.
the extension and precision with which each theory predicts the experimental data.
But that is not what we want to capture, since different theories, built in different
ways, could end up accounting for the same set of data. A better solution would be to
compare the theses that compose each theory. If they share many theses, then they
would be close, if not, then they would be distant. If the theories are axiomatized,
then one might compare their postulates. If they are analyzed according to Lakatos
(1979) methodology of scientic research programmes, then one could compare the
theses in each hard core and protection belt, giving greater weight to the rst. How-
ever, sucha comparisonmight be difcult for two theories that are considered incom-
mensurable. The problemof comparing the distance between theories is difcult and
interesting, and will be left open.
The semantical approach to scientic theories chooses to dene a theory as the
associated class of models, so that a same theory may have many different formula-
tions. Thus, inthe language of the semantical conception, our concernis to dene not
only the distance between different theories but also the distance between different
formulations of theories.
One should also remark that science doesnt consist only of theories, but also of
instruments, experiments, data, laws, explanations, and any other class of advances.
Each of these aspects is important for science, and for each of them one could ask
whether the different possible histories of science are more or less similar.
6. Possible Paths
The history of science only happens once on Earth, so we have no direct access to
counterfactual histories. However, within our actual history, scientists work in com-
petition, following similar or distinct paths in the search of laws, in the construction
of instruments, or the attainment of any other advance. Darwin and Wallace followed
similar paths towards the independent discovery of the principle of natural selection,
Heisenberg and Schrdinger followed dissimilar paths to reach quantum mechanics.
Paths towards discovery may happen in a complete way in independent discov-
eries, or they may be aborted by a certain research group when another group makes
the discovery. Hindsight allows the historian to conjecture about possible paths that
Scientic Progress as expressed by Tree Diagrams of Possible Histories 121
were initiated but remained incomplete in the past, or even about possible paths that
were not even initiated.
Each actual or counterfactual path can be considered part of a possible history
of science. Thus, the study of actual independent paths is a valuable step towards
conjecturing possible histories, besides being an interesting topic of study in itself.
7. Degree of Dispersion of Possible Histories or of Paths
When one postulates possible paths or possible histories of science, howwide should
the range of possibilities be taken? For example, if one starts with the actual situation
of biology in 1830, one could imagine possibilities that are closer to factual history,
or possibilities that are farther removed fromactuality (such as the situation in which
Mendelian genetics would be accepted before the theory of natural selection). This
distinction reects what might be called the degree of dispersion or degree of uc-
tuation H of possible histories of science. Such a concept would not apply directly
to a single possible history (which, by itself, has null dispersion), but to a set of them,
and should be connected to the dispersion S of possible universes.
On the other hand, one might consider the degree of dispersion of paths P with-
in a history of science. In our actual history, such a dispersion might depend on po-
litical divisions, which tend to isolate research communities (such as the division be-
tween science in the Soviet Union and in the West), and on other social and institu-
tional factors. If well dened, the dispersion of paths P may be measurable in actual
history.
8. Objectivist Theories
The analysis of scientic progress terms of possible histories has led to the denition
of an objectivist point of view, that conceives of possible histories of science as con-
verging in the future, in opposition to the relativist position of Kuhn, which would ad-
mit an open tree of possible histories. Objective views might be formulated as stating
that there is an attractor for the progress of science, but there are different possibil-
ities for such an attractor.
Scientic realism argues that such an attractor is constituted by the existence of
an unchanging reality which science attempts to represent. Different varieties of real-
ismdisagree on the exact relation between theory and reality. Strong forms of realism
conceive of science as mirroring nature ina faithful way, while weaker forms postulate
only a one to one (or many to one) relation between reality and theory (see example
in Pessoa 2006, pp. 1779).
Objectivismis also consistent with the notion that science converges not because
of the unchanging nature of reality, but because of the way that knowledge is con-
structed. This might include Kants objective constructivism and Poincars conven-
tionalism, in which scientists choose the simplest of conventions. An analogy with
122 Osvaldo Pessoa Jr.
this mode of constructivism may be drawn with the notion of convergent evolution
in biology, a tendency for living beings to occupy specic ecological niches (Pessoa
2006, pp. 1757).
We hope to have shown that the general consideration of possible histories of sci-
ence can help to clarify different points of view in the philosophy of science.
References
Barbour, J. B. &Pster, H. (eds.) 1995. Machs Principle. EinsteinStudies 6. Boston: Birkhuser.
Kuhn, T. S. 1962. The Structure of Scientic Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
. 1970. Reections on my Critics. In Lakatos, I. & Musgrave, A. (eds.) Criticism and the
Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, p. 23178.
Lakatos, I. 1970. Falsication and the Methodology of Scientic Research Programmes. In
Lakatos, I. &Musgrave, A. (eds.) Criticismand the Growth of Knowledge. Cambridge: Cam-
bridge University Press, p. 91196.
Needham, J. 1962. Science and Civilization in China, vol. 4: Physics and Physical Technol-
ogy, part I: Physics, in collaboration with W. Ling & K.G. Robinson. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Pessoa Jr., O. 2001. Counterfactual Histories: The Beginning of Quantum Physics. Philosophy
of Science 68 (Proceedings): S519S530.
. 2005. Causal Models in the History of Science. Croatian Journal of Philosophy 5: 26374.
. 2006. Progresso Cientco visto da Perspectiva das Histrias Contrafactuais. In Stein, S.
I. A. & Kuiava, E. A. (eds.). Linguagem, Cincia e Valores: sobre as representaes humanas
do mundo. Caxias do Sul: Educs, p. 16581.
Popper, K. R. 1963. Conjectures and Refutations. London: Routledge and Kegan Paul.
Notas
1
The problem of whether the universe is deterministic or not is an open question. In general, given an
indeterministic model of a physical system, it is always possible to construct an equivalent determin-
istic model, introducing hidden parameters (this is also valid for quantum mechanics, as David Bohm
showed in 1952). This equivalence allows that systems that are usually treated as stochastic be refor-
mulated in a deterministic way, if this brings any advantage for the analysis or any satisfaction to our
intuition. This is what we have chosen to do here.
O PROGRAMA METAFSICO DE PIERRE DUHEM:
ANALOGIA ENTRE A TERMODINMICA GERAL E A FSICA ARISTOTLICA
OSWALDO MELO SOUZA FILHO
Academia da Fora Area Pirassununga-SP
melosf.oswaldo@gmail.com
Um dos mais interessantes e surpreendentes resultados da reexo losca de
Pierre Duhem, emque concorre a sua experincia como lsofo e historiador da cin-
cia e fsico terico,
1
a analogia entre a Termodinmica Geral ou Energtica e a Fsica
Aristotlica. Afora o aspecto losco e metodolgico no qual ele procura aproximar
o seu ponto de vista com o de Aristteles,
2
Duhem aponta uma semelhana ou pa-
ralelismo, no desprezvel, entre a fsica peripattica e a Termodinmica Geral. Esta
semelhana, mais apropriadamente uma analogia, anunciada por ele, pela primeira
vez, no seu ensaio de 1896, intitulado Lvolution des Thories Physiques e publi-
cado no Revue des Questions Scientiques. Diz Duhem (1896, p. 498) nesse ensaio:
Esta cincia [a Termodinmica Geral ou Energtica], cuja construo parece ser
a grande obra dos fsicos do sculo XIX, como a construo da dinmica foi a
grande construo dos fsicos do sculo XVIII, verdadeiramente a Fsica na qual
Aristteles esboou as grandes linhas; mas a fsica de Aristteles desenvolvida
e aperfeioada pelos esforos dos experimentadores e dos gemetras, esforos
continuados sem descanso desde perto de trezentos sculos.
A base principal de comparao reside em uma das mais importantes caracte-
rsticas da Energtica, responsvel por deni-la como a Fsica da Qualidade. Essa
caracterstica encontra-se na noo, fornecida pela experincia, de qualidades pri-
meiras.
3
As qualidades primeiras so umas espcies de ncora emprica que, uma vez re-
presentadas simbolicamente por meio de grandezas matemticas, fornecem os ele-
mentos bsicos na constituio das leis experimentais e hipteses tericas da con-
cepo duhemiana de teoria fsica e justicam a sua designao de Fsica da Quali-
dade que a torna prxima da Fsica aristotlica.
Em outra passagem do Lvolution des Thories Physiques diz ainda Duhem
(1896, p. 4978) sobre isso:
Mas convm que esta cincia, mais ampla que a antiga mecnica, cesse de ser
consagrada somente ao estudo do movimento local, para abarcar as leis gerais de
toda transformao das coisas materiais, as leis do movimento fsico entendido
no sentido amplo de Aristteles; convm que ela trate no somente de mudana
de lugar no espao, mas tambm de todo movimento de alterao, de gerao e
de corrupo. Ora, esta cincia no est mais para ser criada; as grandes linhas
esto desde j marcadas; elas esto sendo traadas pelos fsicos desse sculo que,
buscando reduzir o calor ao movimento, foramconduzidos a condensar os ramos
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 123132.
124 Oswaldo Melo Souza Filho
mais diversos da fsica em uma cincia nica que eles denominaram a Termodi-
nmica, que Rankine, armando pela primeira vez seu novo papel, denominou
Energtica.
Assim, a Fsica da Qualidade muito mais ainda um programa de pesquisa que
pretende indicar os rumos a serem seguidos pela fsica terica.
No seu livro de 1903, Lvolution de la Mcanique, Duhem rearma o paralelo en-
tre a Termodinmica Geral, entendida como Fsica da Qualidade, e a Fsica aristot-
lica, colocando-a como um modelo de teoria fsica capaz de evitar as quimeras e
as complicaes das teorias reducionistas de tipo mecanicista. Diz Duhem (1992,
p. 1978) sobre isso:
Tentar reduzir gura e ao movimento todas as propriedades dos corpos
parece um empreendimento quimrico, seja porque tal reduo ser obtida ao
preo de complicaes que apavoram a imaginao, seja mesmo porque ela es-
tar em contradio com a natureza das coisas materiais.
Somos ento obrigados a aceitar em nossa Fsica outra coisa que os elemen-
tos puramente quantitativos de que trata o gemetra, de admitir que a matria
tm qualidades; ao risco de nos censurar o retorno s virtudes ocultas, somos
forados a considerar como uma qualidade primeira e irredutvel esta pela qual
um corpo aquecido, ou iluminado, ou eletrizado, ou imantado; em uma pala-
vra, renunciando s tentativas renovadas sem interrupo desde Descartes, con-
vm vincular nossas teorias s noes mais essenciais da Fsica peripattica. [grifo
nosso]
Este paralelismo entre a Termodinmica Geral e a Fsica aristotlica apresen-
tado, com maiores detalhes, por Duhem no ensaio de 1905, intitulado Physique de
croyant. Nesse ensaio ele discute e questiona com bastante rigor a natureza e o al-
cance dessa apreenso das similaridades, ou analogias, entre uma teoria fsica mo-
derna e uma teoria fsica antiga. Duhem (1989c, p. 144, 149) deixa claro que essa ana-
logia resultado no do mtodo positivo (experimental ou matemtico) utilizado pe-
los cientistas, mas sim da metafsica. Portanto, como metafsico e no como fsico
que Duhem se pronuncia a esse respeito, rearmando no Physique de croyant as
principais teses loscas contidas em seus trabalhos anteriores tais como o Physi-
que et Metaphysique e o Lcole Anglaise, ambos de 1893.
Sendo assim, no contexto do essencialismo metafsico duhemiano (ver nota 2)
que se pode apreciar o alcance e a natureza da analogia entre a Termodinmica Geral
e a Fsica aristotlica.
H trs aspectos desse essencialismo que so fundamentais nesta apreciao feita
por Duhemno Physique de croyant. Oprimeiro, o que caracteriza o objeto da me-
tafsica como legtimo tanto quanto o da fsica. Esta legitimidade garantida pela
tese ontolgica (Duhem 1989b, p. 42) apresentada no Physique et Metaphysique e
que arma existir uma essncia das coisas materiais, causa eciente dos fenmenos.
Duhem desenvolve a partir da uma concepo de investigao metafsica que per-
mite ao lsofo, legitimamente, empreender a construo de um sistema metafsico,
O Programa Metafsico de Pierre Duhem 125
chamado de cosmologia (Duhem 1989b, p. 42) ou losoa da natureza (Duhem
1989c, p. 147): o estudo da essncia das coisas materiais ou da natureza da mat-
ria bruta, causa dos fenmenos e razo de ser das leis fsicas. O segundo aspecto
o conceito de classicao natural, tal como desenvolvido no La Thorie Physique
de 1903. Neste livro (Duhem 1981, p. 35), o conceito de classicao natural possui
duas caractersticas fundamentais: a primeira, seu carter ontolgico, pois, dizer
que a teoria fsica tende a ser uma classicao natural equivalente a armar que
a ordem lgica da teoria reete uma ordem ontolgica fundamental; a segunda, a
sua historicidade, implcita na armao sobre a tendncia objetiva da teoria fsica
tornar-se uma classicao natural, isto , em aproximar-se da forma perfeita e ideal
cuja vericao s possvel em um contexto histrico de sucesso de teorias fsi-
cas, vistas no seu aspecto matemtico-representacional. Esta tendncia independe
das decises metodolgicas dos fsicos. Oterceiro aspecto o conceito de teoria ideal
e perfeita enquanto uma teoria nica e coerentemente ordenada, conforme exposto
no Lcole Anglaise como umprincpio axiolgico de tendncia perfeio (Duhem
1989d, p. 79). Este princpio axiolgico de perfeio da cincia operacionaliza, emum
nvel metodolgico, a aproximao da teoria fsica em direo ordem ontolgica
fundamental,
4
mediante a construo de uma teoria fsica nica de carter axiom-
tico. Estes trs aspectos fundamentamorealismometafsicoe convergente de Duhem
que d plausibilidade analogia. Analisemos o sentido dessa plausibilidade.
Antes de qualquer coisa, cabe ressaltar uma distino muito importante que no
ca muito clara na discusso realizada por Duhem (1989c, p. 1449) na seo 8 do
Physique de Croyant. Por um lado, temos a convergncia entre a teoria fsica ideal e
perfeita e a explicao metafsica que se justica plenamente no mbito do essencia-
lismo metafsico duhemiano. Sendo assim, deve existir analogia, diz Duhem(1989c,
p. 147), entre a explicao metafsica do mundo inanimado e a teoria fsica perfeita,
que tendesse ao estado de classicao natural. Nessa citao, Duhem atribui ao
termo analogia umsentido metafsico, justicvel pelas teses de seuessencialismo.
certo que uma explicao metafsica completa da natureza das coisas materiais nos
forneceria, ipso facto, a mais perfeita das teorias fsicas, diz Duhem (1989b, p. 48) no
Physique et Metaphysique. Por outro lado, Duhem (1989c, p. 147) admite no Phy-
sique de Croyant que ningum possui, nem jamais possuir a teoria fsica perfeita.
Certamente, a teoria fsica perfeita uma teoria fsica ideal que se justica por meio
de argumentos axiolgicos e ontolgicos. Porm, como lidar com a questo de bus-
car analogias entre uma teoria fsica real, necessariamente imperfeita e provis-
ria (Duhem1989c, p. 147), e uma doutrina cosmolgica, necessariamente hipottica
como todo sistema metafsico (Duhem 1989b, p. 77)?
nesse ponto que podemos entender o outro sentido em que o termo analogia
empregado e que nos esclarecer acerca do alcance e natureza da similaridade en-
tre a Termodinmica Geral e a Fsica peripattica. Assim, a distino, por ns referida
no incio, entre esses dois sentidos do termo analogia: o primeiro, enquanto parte
constitutiva das teses metafsicas e, conseqentemente, justicado por elas como um
126 Oswaldo Melo Souza Filho
horizonte ideal; o segundo, enquanto atividade do cosmlogo envolvendo a avaliao
de uma teoria fsica atual e umsistema metafsico e cujo resultado, permanece sem-
pre problemtico em alto grau e nunca se impe razo de maneira inexpugnvel
(Duhem 1989b, p. 77). O primeiro sentido do termo analogia torna possvel o exer-
ccio do segundo, pois fundamentalmente arma que uma teoria fsica, no sendo
um simples sistema de smbolos criados de forma arbitrria e articial, mas tendo a
classicao natural das leis experimentais como forma limite, se corresponde cada
vez mais com o sistema metafsico que se prope a organizar a essncia do mundo
inanimado.
Enquanto atividade do cosmlogo, ou metafsico, a busca de analogias coerente
coma precedncia epistemolgica da fsica perante a metafsica, pois graas a essa
analogia que os sistemas da fsica terica podem vir em auxlio do progresso da cos-
mologia e tambm pode sugerir ao lsofo todo um conjunto de interpretaes
(Duhem 1989c, p. 146). Duhem aponta duas limitaes dessa investigao e, para
enfrent-las, sugere as respectivas prescries metodolgicas que ele se refere como
precaues (Duhem 1989c, p. 148).
A primeira limitao refere-se incapacidade demonstrativa da analogia, con-
seqncia de serem as proposies, respectivamente, da cosmologia e da fsica te-
rica, concernentes a termos de natureza diferente. Portanto, os juzos da cosmologia
no podem provar, como verdadeiros ou falsos, os teoremas da fsica terica e vice-
versa.
A segunda limitao consiste no fato de que a teoria fsica ideal que guarda ana-
logia com o sistema metafsico e no a teoria fsica tal como praticada pelos fsicos.
Ora, mas ningum tem nem ter posse da teoria fsica ideal e perfeita, entendida, no
quadro da prtica do fsico terico, como um conceito regulador. Isso obriga, ento,
que se tome uma determinada teoria fsica, tal como professada efetivamente pelos
fsicos, e, base de uma hiptese
5
sobre suas partes essenciais, faz-la desempenhar
o papel da teoria fsica ideal. S desse modo pode-se efetuar a analogia. Portanto,
deve-se necessariamente penetrar em um terreno de conjecturas no qual o metaf-
sico dever, contentar-se com pressentimentos no analisveis sugeridos pelo esp-
rito de nesse [grifo nosso], que o esprito geomtrico se declarar incapaz de justi-
car. (Duhem 1989c, p. 147)
Vejamos agora as respectivas prescries metodolgicas sugeridas por Duhem
(1989c, p. 147) no Physique de Croyant com extrema prudncia e extrema pre-
cauo para se invocar essa analogia.
Do mesmo modo que as limitaes, as prescries so tambm duas, a saber:
1
a
) conhecer exata e minuciosamente a teoria fsica a ser posta em analogia com
um determinado sistema metafsico;
2
a
) conhecer a evoluo das teorias fsicas, ou seja, conhecer no s as teorias fsi-
cas atuais, mas tambm as passadas.
O Programa Metafsico de Pierre Duhem 127
A primeira prescrio procura evitar o conhecimento vago e supercial que, se
deixar lograr por semelhanas de detalhes, por aproximaes acidentais, e mesmo
por assonncias de palavras, que tomar como marcas de uma analogia real e pro-
funda. (Duhem 1989c, p. 148)
A segunda prescrio mostra como Duhemv no contexto histrico uma fonte de
sugestes capaz no s de gui-lo na escolha efetiva de hipteses, mas tambm no
discernimento da tendncia evolutiva da fsica terica. O esprito de nesse, que diz
Duhem, no Physique de Croyant (1989c, p. 147), ser suscetvel de sugerir pressen-
timentos no analisveis, nutre-se no conhecimento histrico e, atravs dele, pode,
muito melhor doque aqueles que no otomamemconsiderao, prognosticar acerca
dos rumos da teoria fsica. Diz ele (1989c, p. 148) sobre isso:
No se trata, pois, para o lsofo, de comparar sua cosmologia a fsica tal como
ela , congelando, de alguma forma, a cincia em um instante preciso de sua
evoluo, mas de apreciar a tendncia da teoria, de adivinhar o m para o qual
ela se dirige. Ora, nada pode gui-lo seguramente nesta adivinhao da rota que
seguir a fsica, a no ser o conhecimento do caminho que ela j percorreu. (. . . )
Assim, a histria da fsica nos deixa suspeitar alguns traos da teoria ideal qual
tende o progresso cientco, da classicao natural que ser como uma imagem
da cosmologia.
Essa teoria, sobre a qual convergem todas as tendncias legtimas e fecundas
das teorias anteriores (Duhem 1989c, p. 151), a Termodinmica Geral que, sem ser
a teoria fsica ideal, a que melhor dela se aproxima, segundo Duhem.
nesse conjunto de consideraes que Duhem efetiva a analogia da Termodin-
mica Geral com a Fsica peripattica; uma analogia que tanto mais surpreendente
quanto menos visada, mais marcante pelo fato de que os criadores da termodinmica
eram estranhos losoa de Aristteles. (Duhem 1989c, p. 151)
Antes de proceder apreciao das similaridades apresentadas por Duhem entre
a Energtica e a Fsica de Aristteles,
6
gostaramos de enfatizar que essa analogia
efetuada por ele tomando da primeira indicaes apenas esquematizadas (1989c,
p. 150), e da segunda, as suas doutrinas essenciais (1989c, p. 151). Portanto, Duhem
(1989c, p. 147) no dissimula, nem tenta diminuir o carter altamente hipottico e
a imensa fragilidade desse exerccio, uma vez que ele se pe a realizar duas ordens
de interpretao: uma relativa Termodinmica Geral como prxima da teoria fsica
ideal, e a outra relativa Fsica peripattica como a cosmologia que reete a realidade
ontolgica fundamental. nessa base que Duhem estabelece quatro analogias entre
essas duas doutrinas.
A primeira analogia aquela que proporcionou a identicao da Termodin-
mica Geral como Fsica da Qualidade coma Fsica aristotlica, anunciada por Duhem
desde 1896. Tanto a Termodinmica Geral como a Fsica de Aristteles concedem
noo de quantidade e qualidade uma igual importncia: a primeira, representando
igualmente por meio de smbolos numricos as diversas grandezas das quantidades e
128 Oswaldo Melo Souza Filho
as diversas intensidades das qualidades e a segunda considerando igualmente as ca-
tegorias de qualidade e quantidade. Os smbolos numricos da Termodinmica Geral
se correspondem com as noes fsicas dos fatos observados e as categorias aristo-
tlicas de quantidade e qualidade se correspondem com os atributos da substncia.
Assim, a Termodinmica Geral, enquanto teoria fsica, permanece dentro de sua atri-
buio de estudar os fenmenos e a Fsica aristotlica, enquanto cosmologia, procura
estudar a essncia das coisas materiais.
A segunda analogia relativa ao conceito de movimento. A noo de movimento
na Energtica uma concepo de alterao geral das grandezas qualitativas ou
quantitativas que representam as propriedades dos fenmenos fsicos tais como a
mudana de lugar no espao, a variao de temperatura, a mudana de estado el-
trico, de imantao, concentrao etc.
A Termodinmica Geral no concebe nenhum programa que vise reduzir, a pri-
ori, uma forma de movimento outra ou ao movimento local especicamente. Do
mesmo modo, a Fsica peripattica no concebe nenhum reducionismo de uma for-
ma de movimento a outra, tratando as diferentes formas do movimento geral como
uma modicao dos atributos de uma substncia.
A terceira analogia abarca uma outra ordem de transformaes, mais profunda
do que aquela tratada pelo conceito de movimento. No que diz respeito Termodin-
mica Geral essa transformao penetra os compostos qumicos bsicos, e, no que diz
respeito Fsica aristotlica ela atinge a substncia e no s os seus atributos. Aris-
tteles fala de um tipo de transformao, denominada gerao, que cria uma nova
substncia; ao mesmo tempo, ocorre uma outra transformao, designada corrup-
o, que aniquila uma substncia j existente. Em uma das mais importantes partes
da Termodinmica Geral, a Mecnica Qumica, atual Fsico-Qumica, representa-se
simbolicamente diversos corpos ou compostos, dotados de massa, que podem ser
criados ou aniquilados em uma reao qumica. Sobre isso, Duhem (1989c, p. 151)
diz ainda no Physique de Croyant que no seio da massa do corpo composto, as
massas dos componentes no subsistem seno em potncia. Acerca da noo aris-
totlica de potncia, Duhemno acrescenta qualquer outra informao no texto para
que possamos apreciar melhor a sua interpretao e a prpria analogia.
A quarta e ltima analogia das mais interessantes, envolvendo os conceitos ter-
modinmicos de equilbrioestvel e entropia. ATermodinmica Geral concebe a con-
dio de um sistema fsico, chamada de estado do sistema, como caracterizada pelos
valores assumidos pelas grandezas macroscpicas, tais como presso, temperatura,
massa, etc.
Um estado de equilbrio do sistema aquele no qual nenhuma mudana ocorre
em suas grandezas. Um estado de equilbrio estvel aquele que uma vez o corpo
seja retirado desse estado, a ele sempre retorna.
Tomando-se umsistema fsico qualquer, isolado, pode-se associar a ele uma gran-
deza chamada entropia. O estado de equilbrio estvel desse sistema corresponde ao
mximo valor da entropia. isso exatamente o que estabelece a segunda lei da Ter-
O Programa Metafsico de Pierre Duhem 129
modinmica, ou princpio de Carnot e Clausius como Duhem a denomina: em um
sistema isolado os fenmenos sempre ocorrem no sentido do crescimento da entro-
pia, conduzindo-o, portanto, a seu estado de equilbrio (Duhem 1989c, p. 154).
Para comparar com a Termodinmica Geral, Duhem (1989c, p. 1523) toma da
Fsica aristotlica a teoria do lugar natural dos elementos.
Segundo Aristteles existem cinco elementos na natureza que se podem colocar
na seguinte ordem, indo do mais pesado ao mais leve: terra, gua, ar e fogo. O quinto
elemento no tem peso e forma as esferas celestes e os astros. As esferas celestes so
dispostas em crculos concntricos indo da esfera mais externa, que envolve as estre-
las, at a de menor raio, que envolve a Lua, passando pelas esferas de Saturno, Jpiter,
Sol, Mercrio, Marte e Vnus. O elemento ter no pode ser gerado nem corrompido,
permitindo-se somente o movimento circular das esferas que carregam consigo os
astros correspondentes.
Abaixo da esfera da Lua, no chamado mundo sublunar, ocorrem as transforma-
es de gerao e corrupo, indicativos da transformao, uns nos outros, dos qua-
tro elementos. Para cada um deles, alm das qualidades caractersticas, h um lu-
gar natural onde a permanecemem repouso, podendo ser somente retirados da por
uma fora. To logo essa fora cesse, o elemento retorna, por movimento natural, ao
seu lugar natural.
A terra, o elemento mais pesado, tende sempre para o centro do universo aris-
totlico. O fogo, o mais leve dos elementos, dirige-se violentamente para fora desse
centro emdireo concavidade da esfera lunar, e a permanece. Oar situa-se abaixo
do fogo e a gua abaixo do ar e acima da terra. Segundo Duhem (1989c, p. 153), a f-
sica aristotlica arma que todo ser tende sua perfeio e nesse lugar natural que
a forma substancial de cada elemento atinge a sua perfeio.
Qual a analogia, perguntamo-nos, entre a teoria do lugar natural da Fsica aris-
totlica e as noes de equilbrio estvel e entropia da Termodinmica Geral? Como
Duhem (1989c, p. 147) mesmo admitiu onde o pensador v uma analogia, um outro,
mais vivamente tocado pelos contrastes dos termos comparados que por suas seme-
lhanas, pode perfeitamente ver uma oposio. Sendoassim, levado muitomais pelo
desejo de persuaso do que pela pretenso de convencer pelo esprito lgico, Duhem
empreende uma interpretao dos termos da Fsica aristotlica, adequando-a aos ter-
mos da Energtica. Diz ele ento, referindo-se Fsica peripattica:
Encontramos a armao de que se pode conceber um estado em que a ordem
do universo seria perfeita; que esse estado seria, para o mundo, um estado de
equilbrio, e ainda mais, um estado de equilbrio estvel. Retirado desse estado,
o mundo tende a voltar a ele, e todos os movimentos naturais, todos os que se
produzementre os corpos semnenhuma interveno de ummotor animado, so
produzidos por essa causa. Todos eles tem por objeto conduzir o universo a esse
estado de equilbrio ideal, de modo que essa causa nal , ao mesmo tempo, sua
causa eciente. (Duhem 1989c, p. 1534)
Fica claro que o conceito de lugar natural na Fsica peripattica desempenha o
130 Oswaldo Melo Souza Filho
mesmo papel que o conceito de equilbrio estvel na Termodinmica Geral, e, embora
no o diga explicitamente, podemos depreender do texto acima citado que Duhem
associou a tendncia perfeio dos seres de Aristteles ao princpio de crescimento
da entropia da Energtica.
digno de nota, a esse respeito, o trabalho de Katalin Martins (1991, p. 285303),
apresentado recentemente em uma conferncia sobre histria e losoa da Termo-
dinmica, analisando as similaridades entre a Fsica aristotlica e a moderna Termo-
dinmica dos Processos Irreversveis. Nesse ensaio a autora mostra em vrias tabelas
(ver Martins 1991, p. 289, 290, 2948) essa similaridade sugerindo interpretar a fsica
aristotlica como uma fenomenologia geral ou ainda como uma termodinmica
antiga. Cabe notar que Martins no menciona em sua bibliograa o Physique de
croyant de Duhem. Em compensao cita o Lvolution de la Mcanique que su-
ciente para Martins (1991, p. 287) apontar a profunda relao da Fsica da Qualidade
ou Nova Mecnica duhemiana e a Fsica aristotlica.
So fundamentais os pontos de coincidncia do ensaio de Martins coma anlise
de Duhem no Physique de croyant.
Assim, Martins (1991, p. 290) estabelece, no que diz respeito s variveis de es-
tado, a correspondncia das noes aristotlicas de quantidade e qualidade comas de
variveis extensivas e intensivas; a correspondncia do conceito de lugar natural com
o de estado de equilbrio da Termodinmica (Martins 1991, p. 290); e, nalmente,
a noo aristotlica de movimento em direo ao lugar natural correspondendo ao
processo termodinmico que almeja contrabalanar distribuies no homogneas
(Martins 1991, p. 294). Nessa ltima analogia Duhem (1989c, p. 154) no Physique
de Croyant fala simplesmente em crescimento da entropia.
Outras similaridades apontadas por Martins conrmam a adivinhao inni-
tamente delicada e aleatria (1989c, p. 150) de Duhem a respeito dos rumos, no
da fsica terica como um todo, mas da Termodinmica fenomenolgica como uma
teoria geral dos sistemas irreversveis.
7
Sem dvida, a Termodinmica Geral de Duhem pode ser considerada como um
antecedente da moderna Termodinmica dos Processos Irreversveis (ver de Groot e
Mazur 1984, p. 1 e Glansdorff 1987, p. 658). No entanto, cumpre-nos assinalar que
por almejar um escopo dos mais amplos, contido no problema geral da estabili-
dade e equilbrio dos sistemas fsicos e por apresentar uma base matemtica das mais
avanadas, representada pelos trabalhos em equaes diferenciais de Poincar, Lia-
pounov e Hadamard - Duhem orientava a sua Termodinmica Geral em um sentido
que mais se aproximava da perspectiva formal contida atualmente na teoria matem-
tica dos sistemas dinmicos (Thom1985, p.27; Ruelle 1993, p.63; Abrahame Marsden
1978, p. XIX).
O Programa Metafsico de Pierre Duhem 131
Referncias
Abraham, R. e Marsden, J. E. 1978. Foundations of Mechanics. Reading, Mass.: The Benjamin/
Cummings Publishing Company, Inc.
Casimir, H. B. G. 1945. On Onsagers Principle of Microscopic reversibility. Reviews of Modern
Physics 17(23): 34350.
De Groot, S. R. e Mazur, P. 1984. Non-Equilibrium Thermodynamics. New York: Dover Publi-
cations, Inc.
Duhem, P. 1896. Lvolution des thories physiques du XVII
e
sicle jusqu nos jour. Revue des
Questions Scientiques, 2
e
srie, t.V, : 46299.
. 1917. Notice sur le titres et travaux scientiques de Pierre Duhem redige par lui-mme
lors de sa candidature lAcademie des Sciences (mai 1913). Mmoires de la Socit des Sci-
ences Physiques et Naturelles des Bordeaux, 7
e
sr., Tome I, Paris: Gauthier-Villars, pp.71
169.
. 1954. The Aim and Structure of Physical Theory. Princeton, N.J.: Princeton University
Press.
. 1980. The Evolution of Mechanics. Netherlands: Sijthoff & Noordhoff. [Lvolution de la
Mcanique. Paris: A. Joanin, 1903.]
. 1981. La Thorie Physique: son objet sa structure. da 2a edio francesa de 1914 (Paris:
Marcel Rivi & Cie), revista e aumentada, Paris: J. Vrin; 1906, Paris: Chevalier et Rivire.
. 1989a, Algumas Reexes sobre as Teorias Fsicas. Cincia e Filosoa 4: 1337. FFLCHUSP.
[Quelques rexions au sujet des thories physiques. Revue des Questions Scientiques, t.I,
XXXI, pp. 13977, 1982].
. 1989b. Fsica e Metafsica. Cincia e Filosoa 4: 4159. FFLCHUSP. [Physique et Metaphy-
sique. Revue des Questions Scientiques, t.II, XXXIV, pp. 5583, 1893.]
. 1989c. Fsica do Crente. Cincia e Filosoa 4: 12154. FFLCHUSP. [Physique de Croyant.
Annales de Philosophie chrtienne, t.I, pp. 4467 e pp. 13359, 1905.]
. 1989d. AEscola Inglesa e as Teorias Fsicas. Cincia e Filosoa 4: 6384. FFLCHUSP. [Lco-
le Anglaise et les Thories Physiques. Revue des Questions Scientiques, t.II, XXXIV, pp. 345
78, 1893.].
. 1992. Lvolution de la Mcanique. Paris: J. Vrin. 1903, A. Joanin, Paris.
Eckart, C. 1940. The Thermodynamics of Irreversible Processes. I. The Simple Fluid. Physical
Review 58: 26769; II. Fluid Mixtures, idem, p. 26975; III. Relativistic Theory of the Simple
Fluid, idem, p. 91924.
Glansdorff, P. 1987. Irreversibility in Macroscopic Physics: From Carnot Cycle to Dissipative
Structures. Foundations of Physics 17(7): 65366.
Martins, K. 1991. AristotelianThermodynamics. InThermodynamics: History and Philosophy
(Veszprm, Hungary, 23-28 july, 1990), Eds. K. Martins, L. Ropolyi & P. Szegedi, World
Scientic, p. 285303.
Meixner, J. 1941. Zur Thermodynamik der Thermodiffusion. Annalender Physik 39(5): 33356.
Onsager, L. 1931. Reciprocal Relations in Irreversible Processes, I. Physical Review 37: 40526;
II. Physical Review 38: 226579.
Prigogine, I. 1947. Etude Thermodynamique des Phnomens Irreversibles. Lige: Desoer.
Ruelle, D. 1993. Acaso e Caos. So Paulo: Editora UNESP.
Souza Filho, O. M. 1996. Os Princpios da Termodinmica e a Teoria da Cincia em Pierre
Duhem, Tese de Doutorado defendida junto ao Departamento de Filosoa da FFLCH-USP.
No publicado.
132 Oswaldo Melo Souza Filho
Thom, R. 1985. Parbolas e Catstrofes. Lisboa: Publicaes Dom Quixote.
Notas
1
O empenho losco de Duhem inteiramente voltado para justicar o seu projeto cientco. Acres-
centaramos que o mesmo sucede com o seu programa historiogrco. Desse modo, a construo da
Termodinmica Geral ou Energtica a atividade central de Duhem. Convidado a ocupar a cadeira de
Histria da Cincia na Universidade de Paris em1913, Duhemrecusou-a alegando ser umfsico terico:
no quero entrar em Paris pela porta dos fundos, disse ele (Duhem 1917), em uma resposta indignada
com o no reconhecimento de sua atividade principal.
2
no Physique et Metaphysique de 1893 que Duhem (1989b, p. 51) mostra a concordncia entre
suas teses ontolgicas e epistemolgicas, constitutivas do que denominamos essencialismo metafsico
duhemiano (Souza Filho 1996, p. 62), e a losoa aristotlica.
3
As qualidades primeiras representam propriedades dos fenmenos fsicos, podendo aparecer na for-
ma de propriedades qualitativas (calor, eletrizao, magnetizao, iluminao, etc.) ou quantitativas
(fora, distncia, tempo etc.). Essas propriedades que constituem as qualidades primeiras no se redu-
zem, a priori, umas s outras, e nemsignica que novas propriedades, qualitativas ou quantitativas, no
possam ser acrescentadas a estas.
4
Ora, se sabemos poucas coisas sobre as relaes que possuem entre si as substncias materiais, isso
se deve a pelo menos duas verdades das quais estamos seguros; a saber, que essas relaes no so nem
indeterminadas, nem contraditrias; (. . . ) ao fazer desaparecer as incoerncias da teoria, teremos al-
guma chance de aproxim-la dessa ordem, de torn-la mais natural e, portanto, mais perfeita. (Duhem
1989d, p. 79)
5
Ora, para quemconhece somente o que , como difcil adivinhar o que deve ser!, diz Duhem(1989c,
p. 147) no Physique de Croyant sobre o carter altamente especulativo dessa hiptese. Todavia, se por
um lado, Duhem reconhece a diculdade de adivinhar qual deve ser a teoria fsica ideal, por outro, ele
no tem dvidas em admitir, com toda suspeio que isso possa acarretar, que a Energtica ou Termo-
dinmica Geral aproxima-se desse ideal de perfeio.
6
No nosso objetivo avaliar a interpretao duhemiana da Fsica de Aristteles, mas to somente
exp-la e situ-la no quadro de sua losoa da cincia. Observamos que Duhem (1989c, p. 152) men-
ciona os livros que contm a Fsica aristotlica Physica, De Generatione et Corruptione, De Caelo e os
Meteoros sem, no entanto, preocupar-se em detalhar a sua anlise associando as teorias aristotlicas
ao texto respectivo.
7
Sobretudo a partir dos trabalhos de L. Onsager (1931), C. Eckart (1940), J. Meixner (1941), H. B. G.
Casimir (1945) e de I. Prigogine (1947) os conceitos termodinmicos foram desenvolvidos e aprimora-
dos para descrever mais adequadamente os processos irreversveis. O conceito de produo de entro-
pia como o produto das anidades ou foras generalizadas, relacionadas com a no uniformidade do
sistema, pelo uxo, relacionada com a derivada de um parmetro extensivo, aprofunda o quadro das
analogias estabelecidas por Duhem e que foi explorada por Martins.
DETERMINISMO, INDETERMINISMO E TEORIA QUNTICA EM POPPER
RAQUEL SAPUNARU
Pontifcia Universidade CatlicaRJ
raquel.anna@ig.com.br
Logo na primeira edio da Lgica da Pesquisa Cientca, de 1934, e, posteriormente,
emsua Autobiograa Intelectual, de 1975, Karl Popper confrontou uma interpretao
freqentista contra uma interpretao subjetivista da probabilidade. A primeira, for-
mulada por Richard Von Mises, armava, resumidamente, que se pudssemos repetir
ou observar um experimento um grande nmero de vezes e registrar quantas vezes
um evento A ocorreria, ento, a probabilidade de A, P(A), seria igual ao nmero de
vezes emque A ocorre dividido pelo nmero total de repeties do experimento (Na-
gel 1969, p. 1926). Na segunda, a probabilidade era interpretada como uma medida
de grau de convico ou como uma quanticao de um ponto de vista particular
(Popper 1974, p. 161) e isto denotava que no seria preciso que umexperimento fosse
no-repetitivo para considerar sua probabilidade de ocorrer subjetivista.
Em linhas gerais, a interpretao subjetivista alegava que uma proposio verda-
deira seria redutvel ao sentimento de aprovao, e uma proposio falsa, ao senti-
mento de desaprovao. Explicando de outro modo, o verdadeiro ou o falso, depen-
deria da mente. No entanto, para a interpretao objetivista, o conhecimento poderia
ser caracterizado como algo acerca de uma realidade independente da mente, que
se exprimiu atravs de juzos que continham proposies verdadeiras e estas pro-
posies seriam verdadeiras, e no falsas, porque representariam com preciso uma
realidade. Por m, Popper se decidiu, neste primeiro momento, pela interpretao
freqentista e justicou sua escolha armando (Popper 1974, p. 1669):
A probabilidade criou-me problemas, assim como o trabalho, levando-me a
estudo agradvel e estimulante. O problema fundamental, examinado na Lgica
da Pesquisa Cientca, era o de prova de enunciados probabilsticos da Fsica. Esse
problema era um desao importante para minhas concepes gerais acerca da
Epistemologia e eu o resolvi com o auxlio de uma idia que fazia parte integral
dessa epistemologia e no, penso, de uma idia ad hoc.
(. . . )
Na Lgica da Pesquisa Cientca, eu sublinharia que havia muitas interpre-
taes possveis para a noo de probabilidade, ressaltando que somente uma
teoria das freqncias (como a proposta por Von Mises) seria aceitvel nas Cin-
cias Fsicas. (. . . ) (Popper 1977, p. 1078)
Posteriormente, aventarei, de modo sucinto, a interpretao da propenso substi-
tuta de Popper da interpretao objetiva de probabilidade em termos de freqncia.
Esta interpretao, criada por Popper, seria uma nova interpretao objetiva, forte-
mente relacionada com a teoria freqentista anteriormente mencionada: nas pala-
vras do prprio autor, ela seria (. . . ) uma teoria de probabilidades, em termos de
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 133140.
134 Raquel Sapunaru
teoria freqencial (modicada) (Popper 1974, p. 164). Por enquanto, vale lembrar a
letra de Popper sobre a interpretao objetiva das teorias, idia que acompanhou o
lsofo por toda sua vida: Manifesto, assim, a f que tenho numa interpretao ob-
jetiva, acima de tudo por acreditar que somente uma teoria objetiva capaz de expli-
car a aplicao dos clculos de probabilidades em cincia emprica. (Popper 1974,
p. 164).
Historicamente falando, o interesse de Popper na questo da probabilidade ad-
vinha de duas fontes distintas, a saber: (1) dos problemas da Fsica, mais especica-
mente da Teoria Quntica em plena ascenso e (2) de sua crtica tese do Crculo de
Viena de que a vericao das teorias cientcas poderia ser medida via clculo de
probabilidades.
1
Lembro que para Popper o vericacionismo no seria o bom m-
todo de ajuizar teorias e, portanto, nosso lsofo estaria amarrado crtica ao uso
do clculo da probabilidade para asseverar sua tese falseacionista: segundo Popper
a falsicao deveria substituir a vericao enquanto critrio de cienticidade de
teorias. Na letra do autor:
Todavia, para poder abordar, em toda a sua generalidade, o problema dos enun-
ciados probabilsticos, era preciso desenvolver umsistema axiomtico para o cl-
culo da probabilidade. Isso era tambm necessrio para outro propsito o de
estabelecer minha tese, proposta na Lgica da Pesquisa Cientca, de que a cor-
roborao no uma probabilidade, no sentido do clculo de probabilidades. Em
outras palavras, era preciso desenvolver o sistema axiomtico para estabelecer
que certos aspectos intuitivos da corroborao tornavamimpossvel identica-la
com a probabilidade, tal como esta aparece no clculo de probabilidades. (Pop-
per 1977, p. 108)
Complementando, decididamente, o lsofo no acreditava no vericacionismo
do Crculo de Viena, pois, como seguidor da corrente realista do pensamento, nos
disse que: Nossas falsicaes, deste modo, indicam os pontos onde ns tocamos a
realidade, como ela seria. (Popper 2002, p. 156)
Deste modo, percebo que Popper estava ciente do fato que era preciso desen-
volver um sistema axiomtico para o clculo da probabilidade para provar que sua
teoria falseacionista, ou tese corroborativa, no era uma probabilidade no sentido
usual do clculo de probabilidades. Concomitantemente, Popper, como feroz crtico
da disseminao do positivismo entre os fsicos, estava muito interessado em alguns
problemas de interpretao da ento emergente Teoria Quntica.
Nesta linha de ao, o lsofo criticou duramente Werner Heisenberg pela defesa
das relaes que levamcertos limites medio de certas grandezas fsicas, o que em
outras palavras, na explanao do fsico Jos Leite Lopes, seria: Heisenberg prope
que a teoria s introduza grandezas ou variveis construdas a partir de dados expe-
rimentais e assim capazes de serem sicamente observadas. (Lopes 1993, p. 13).
Essas relaes, conhecidas como Relaes de Heisenberg mostram, de fato, que
impossvel localizar uma partcula quntica numponto preciso do espao como mo-
mentum denido ou medir, simultaneamente, a energia e o tempo de sua durao.
Determinismo, Indeterminismo e Teoria Quntica em Popper 135
Em outras palavras, impossvel traar a trajetria bem determinada de uma part-
cula quntica. Estas partculas so corpsculo e onda, simultaneamente, diferentes
das partculas mecnicas que so somente corpsculos. Para completar, as ondas da
Mecnica Quntica tambmso diferentes das ondas da Mecnica Clssica: essas so
ondas de probabilidade de achar a partcula, ou melhor, as ondas que nos permite
calcular a realizao de um estado nal a partir de um estado inicial (Lopes 1993,
p. 13).
Popper armou que as relaes de Heisenberg, assim como a interpretao es-
tatstica da funo de onda da Teoria Quntica proposta por Max Born expressavam
somente uma disperso estatstica de um conjunto de dados experimentais. Esta vi-
so, apesar de compatvel com a teoria freqentista da probabilidade defendida por
Popper, inicialmente, era diferente da posio da Escola de Copenhague, para a qual
indeterminismo quntico no signicaria jamais acaso ou impreciso, mas era algo
fundamental, inerente natureza. Contudo, Popper no tinha esta viso do inde-
terminismo quntico: para o lsofo este indeterminismo seria sinnimo de utilita-
rismo. Acredito que o indeterminismo popperiano com relao s teorias fsicas teria
tomado seu maior vulto, no logo de incio quando o lsofo comeou a se interes-
sar pelas interpretaes dos problemas da Teoria Quntica, mas somente a partir da
segunda metade da dcada de 50, quando Popper comeou a perceber a verdadeira
dimenso da Mecnica Quntica. Em sua Autobiograa Intelectual, Popper nos diz
que:
A luz comeou a fazer-se quando percebi a importncia da interpretao estats-
tica da teoria, devida a Born. De incio, a interpretao de Born desagradou-me:
a interpretao original de Schrdinger me parecia mais apropriada, quer sobre
um ngulo esttico, quer na condio de explicao do assunto. Ao notar, porm,
que a interpretao de Schrdinger no era sustentvel e que a de Born era bem
sucedida, perlhei esta ltima e no compreendia como algumque aceitasse as
idias de Born podia defender a interpretao que Heisenberg atribua s suas
frmulas de indeterminao. (Popper 1977, p. 108)
De acordo com o lsofo era evidente que se a Teoria Quntica teria que ser, a
fortiori, interpretada estatisticamente, as frmulas de Heisenberg teriam que ser en-
tendidas como funes de ondas ou relaes de espalhamento como queria Born.
Ressalto que Born formulou a bem aceita interpretao da densidade da probabili-
dade da equao de Schrdinger na Mecnica Quntica (Lopes 1993, p. 14) e esta
interpretao estava em perfeita sintonia com o conjunto do pensamento popperi-
ano, pois se tratava de um pensamento objetivo que imprimia uma quase realidade
Mecnica Quntica, ao contrrio das vises de Heisenberg e Niels Bohr. Segundo
Popper:
Essa interpretao encara o princpio da incerteza como um limite imposto a
nosso conhecimento; por conseguinte ela subjetiva. A outra interpretao pos-
svel, objetiva, assevera ser inadmissvel, ou incorreto, ou metafsico atribuir
136 Raquel Sapunaru
partcula algo como uma posio cum momentum ou uma trajetria clara-
mente denida: a partcula simplesmente no tem trajetria, mas apenas ou
uma posio exata, combinada comummomento inexato, ou ummomento exa-
to, combinado com uma posio inexata. (Popper 1974, p. 243)
Todavia, a interpretao aludida por Popper, a freqentista de Von Mises, no
resolvia totalmente uma questo-chave: saber se as relaes de Heisenberg tinham
signicado quando aplicadas a fenmenos singulares.
2
Esta questo Popper s re-
conheceu quando formulou a j mencionada interpretao das propenses. Grosso
modo, as teorias freqentista e da propenso normalmente armavam que se pode
aplicar o conceito de probabilidade de modo cienticamente objetivo apenas a even-
tos ou classes de objetos, diferentemente das teorias subjetiva e lgica. Lembro que
na teoria subjetiva a probabilidade um grau de crena e na lgica ela mede uma re-
lao entre duas proposies de uma linguagem objeto; e mais ainda, tratando-se da
Teoria Quntica, subjetividade no signica necessariamente falta de objetividade: s
vezes, o que est em jogo, no o grau de crena, mas sim, a falta de conhecimento
do estado do sistema. Esta interpretao, em particular, chamada de interpretao
epistmica.
3
Popper props, ento, a interpretao probabilstica da propenso, segundo a
qual seria possvel quanticar o grau com o qual certas condies geradoras teriam a
propenso de produzir um evento que pertencesse a uma seqncia cuja freqncia
seria determinvel por essas condies geradoras. Na interpretao probabilstica da
propenso, diferentemente da freqentista, termos tericos como condies e dispo-
sies so denidos a priori, apesar de o resultado depender do arranjo experimental
correspondente. A probabilidade como propenso indicaria uma tendncia na natu-
reza de que determinado acontecimento ocorresse seguindo-se a determinadas cau-
sas fsicas. Trata-se de uma probabilidade que relativa ao tempo, pois medida que
o tempo no qual o evento previsto para ocorrer se aproxima, a probabilidade de sua
ocorrncia pode mudar, aumentando ou diminuindo a propenso do mesmo ocorrer.
Mesmo que, na dcada de 30, Popper tenha assumido um papel de destaque nos
meios loscos analticos, principalmente devido s suas pertinentes crticas ao po-
sitivismo lgico do Crculo de Viena, infelizmente, o mesmo no ocorreu em relao
aos acalorados debates sobre a interpretao da Teoria Quntica. Em sua Autobio-
graa Intelectual, o lsofo admite ter cado assaz desencorajado com o erro que
cometera ao julgar precipitada e indevidamente a interpretao indeterminista da
Mecnica Quntica de Heisenberg e Bohr, e confessa:
No que diz respeito Fsica Quntica, senti-me assaz desencorajado por vrios
anos. No conseguia esquecer o erro do meu experimento conceptual. Hoje, to-
davia, embora ache natural lamentar qualquer engano, penso que atribu dema-
siada importncia a essa falha. (Popper 1977, p. 1012)
Porm, Popper reavaliou na sua Autobiograa Intelectual os erros cometidos na
Lgica da Pesquisa Cientca e em outros textos, escritos principalmente ao longo
Determinismo, Indeterminismo e Teoria Quntica em Popper 137
dos anos 50, como, por exemplo, arma: O instrumentalismo adotado por Bohr e
Heisenberg somente para se livraremdas diculdades especiais que a teoria quntica
tem. (Popper 2002, p. 153) Nessa autocrtica, Popper chegou a concluses interes-
santes, a saber: (1) sobre o determinismo e o indeterminismo, no haveria nada na
Mecnica Quntica que depusesse contra o determinismo, pois, ela seria uma teoria
estatstica e no-determinista. Recordo que a equao de Schrdinger uma equao
diferencial e, portanto, uma vez resolvida, ela fornece os possveis estados futuros e
suas probabilidades. Isto pode ser chamado de determinismo quntico, que difere
do determinismo clssico produtor de certezas ao invs de probabilidades. Indo um
pouco mais alm: no haveria nada que provasse tambm que o determinismo ti-
vesse uma base slida na Fsica e a teoria newtoniana, j refutada seria a maior prova
disso e (2) sobre a probabilidade, no que tange a Mecnica Quntica, esta deveria
ser, tout court, fsica, objetiva e realista; e mais ainda: passvel de provas estatsticas,
aplicveis aos casos singulares e relativas aos experimentos (Popper 1977, p. 1012). A
dureza desta autocrtica pode ser percebida nas palavras de Popper escritas a respeito
de um encontro com o fsico Bohr:
Isso me levou a cogitar da compreenso. Bohr armava, de certa maneira, que a
Mecnica Quntica era apenas em parte compreensvel e, mesmo assim, s atra-
vs da Fsica clssica. Parte da compreenso era alcanada por via do clssico
modelo de partculas e por via do clssico modelo ondulatrio; os dois mo-
delos eram incompatveis e constituam o que Bohr chamava de complementa-
ridade. No havia esperanas de chegar a uma compreenso mais completa ou
mais direta da teoria; exigia-se renncia a qualquer tentativa de compreenso
mais cabal. (Popper 1977, p. 101)
No entanto, ao olhar mais cuidadosamente, numa perspectiva histrica, o con-
texto no qual Popper cometeu os erros de interpretao citados, isto , nos anos 40-
50, concluo que o desconforto de Popper expressava tambm algo de obscuro com
relao aos aspectos poltico-intelectuais daquela poca. Argumento que a Escola
de Copenhague, por falta de teorias concorrentes fortes, tomou conta, de modo di-
tatorial, da inteligncia que sustentava a Teoria Quntica, impondo a complemen-
taridade como uma espcie de mandamento divino. A seu turno, nos anos 20-30,
quando ainda havia opositores de calibre grosso, a ento emergente Teoria Quntica,
em fase de consolidao, como Einstein, de Broglie, entre outros, Popper aliou-se
abertamente a estes fsicos, cujas interpretaes realistas e deterministas encontra-
vam-se em perfeita harmonia com sua losoa. Em 1956, provavelmente um pouco
antes de perceber seus erros de interpretao com relao Teoria Quntica, Popper
criticou severamente os dogmas interpretativos de Bohr nas seguintes passagens:
Ento, a losoa instrumentalista fez uso de hipteses ad hoc em vez de for-
necer uma sada para as contradies que ameaavam a teoria [quntica]. Esta
losoa tem sido usada de maneira defensiva para resgatar a teoria existente;
e o princpio da complementaridade tem (eu acredito que por esta razo) per-
manecido completamente estril com relao fsica. Em vinte e sete anos, esta
138 Raquel Sapunaru
teoria no produziu nada alm de discusses loscas, e alguns argumentos
para a confuso dos crticos (especialmente Einstein). (Popper 2002, p. 135)
Se teorias so meros instrumentos ns no precisamos descartar nenhuma
teoria em particular, mesmo que ns acreditemos que nenhuma interpretao
fsica consistente dos formalismos desta teoria em questo exista.
Resumindo, podemos dizer que o instrumentalismo incapaz de dar conta
da importncia da cincia pura que testa severamente at a mais remota impli-
cao de suas teorias, pois ele [o instrumentalismo] incapaz de dar conta do
puro interesse cientco no que verdadeiro ou falso. Em contraste com a mais
alta atitude crtica requisitada pela cincia pura, a atitude do instrumentalismo
(como o da cincia aplicada) complacente com o sucesso das aplicaes. Logo,
ele [o instrumentalismo] pode ser responsvel pela recente estagnao da teoria
quntica. (Popper 2002, p. 1523)
Finalizando, compreender o processo cientco que induziu transformao do
panorama da discusso sobre os fundamentos e a interpretao da Teoria Quntica
ser sempre um desao para os lsofos e historiadores da cincia, principalmente,
se eles analisarem este perodo sob a luz da epistemologia popperiana. As preocupa-
es com esta teoria, somada a interpretao da Teoria das Probabilidades, acompa-
nharam quase toda a vida poltico-intelectual de Popper e, muitas vezes, os historia-
dores e lsofos da cincia a tomaram como o mesmo evento: um belo fruto de sua
viso cientca absolutamente original, porm compatvel com o discurso cientco
da poca. Em face do que procurei mostrar anteriormente, ca claro que foram as
exigncias de interpretao da Teoria Quntica que levaram Popper formulao da
interpretao probabilstica da propenso.
Como argumentei ao longo deste trabalho, Popper foi umdos mais proeminentes
protagonistas, entre os anos 30 e 50 do sculo XX, nos debates sobre as interpreta-
es da Teoria Quntica. Sem dvida, foi Popper que legitimou estes debates como
debates de cunho cientco-losco. Seu realismo aliado a um grande prestgio nos
meios loscos contribuiu para o desenvolvimento de uma viso realista da Mec-
nica Quntica, mesmo que inicialmente Popper tenha encarado esta nova e estranha
viso da Fsica como puro utilitarismo. Em suas prprias palavras:
Eu acredito que os fsicos iro brevemente dar-se conta de que o princpio da
complementaridade ad hoc e (o que mais importante) que sua nica funo
evitar crticas e prevenir discusses sobre interpretaes fsicas; embora a crtica
e as discusses sejam urgentes e fundamentais para reformular qualquer teoria.
Eles [os fsicos] iro em breve acreditar que o instrumentalismo lhes est sendo
imposto pela estrutura da fsica terica contempornea. (Popper 2002, p. 153)
Contudo, a histria nos mostra o retumbante sucesso da Teoria Quntica que,
num primeiro momento, fora mal interpretada por Popper. Esta interpretao equi-
vocada lhe custou uma dolorosa autocrtica. Porm, a principal contribuio cient-
co-losca genuinamente popperiana para o debate sobre a Teoria Quntica e pela
qual prero me referir a este brilhante lsofo, foi tanto a recusa da interpretao
Determinismo, Indeterminismo e Teoria Quntica em Popper 139
freqentista quanto da interpretao subjetivista como possveis de serem utilizadas
nas Cincias Fsicas para os enunciados probabilsticos, mesmo que sua proposta es-
tivesse mais prxima da interpretao freqentista. Na busca de uma alternativa que
realmente respondesse altura as demandas da Teoria Quntica, Popper props a
adoo da interpretao emtermos de propenses para estes enunciados probabils-
ticos.
Destarte, considerando o fato de que as disputas sobre a interpretao da Teoria
Quntica ainda no esto totalmente decididas, a simples existncia de uma possibi-
lidade interpretativa no deve, de modo algum, ser desprezada. No posso tambm
ignorar o fato que a interpretao em termos de propenses de Popper teria sido, no
mnimo, muito til para ns heursticos.
4
Referncias
Hume, D. 2000. Tratado da Natureza Humana. So Paulo: Unesp.
Lopes, J. L. 1993. A Estrutura Quntica da Matria. Rio de Janeiro: UFRJ.
Monnerat, M. S. R. 2003. Possibilidades Discursivas do e umconector coringa. Linguagemem
(Dis)curso, p. 185204. Disponvel em:
http://www3.unisul.br/ paginas/ensino/pos/linguagem/0401/v4n1.pdf.
ltimo acesso: 4 de julho de 2007.
Nagel, E. 1969. Principles of the Theory of Probability. Chicago: The University of Chicago
Press.
Popper, K. R. 1977. Autobiograa Intelectual. So Paulo: Cultrix e Edusp.
. 1974. A Lgica da Pesquisa Cientca. So Paulo: Pensamento e Cultrix.
. 2002a. Three Views Concerning Human Knowledge. In: Popper, K. R. (ed.) Conjectures
and Refutations. Londres: Routledge, p. 13060.
. 2002b. Truth, Rationality, and the Growth of Knowledge. In: Popper, K. R. (ed.) Conjectures
and Refutations. Londres: Routledge, p. 291338.
Notas
1
Neste artigo no me aprofundarei na anlise da questo vericao x falsicao de teorias neste texto.
Contudo, ressalto que para Popper quanto maior o contedo emprico, maior a testabilidade da teo-
ria. Sobre esta armao, Popper exemplicou: Seja a a sentena Chover na sexta-feira; b a sen-
tena O tempo estar bom no sbado; e ab a sentena Chover na sexta-feira e o tempo estar bom
no sbado: obvio que o contedo informativo da ltima sentena, a conjuno ab, ser maior que
sua componente a e tambm que sua componente b. E tambm a probabilidade de ab (ou, o que
d no mesmo, a probabilidade de ab ser verdadeira) ser menor que cada um de seus componen-
tes. (. . . ) Ct (a) Ct (ab) Ct (b) contrasta com a lei correspondente do clculo de probabilidade,
p(a) p(ab) p(b) (. . . )? (Popper 2002, p. 295).
2
Ateoria freqentista de Von Mises diz que se pode chegar probabilidade de umdado atributo ocorrer
em uma classe de indivduos, por exemplo, a proporo de gatos que morrem de Aids felina, mas no
de um evento singular, ou seja, a probabilidade do gato de meu vizinho morrer de Aids felina.
3
Na interpretao epistmica, a negao signica literalmente que aquilo que est sendo negado no
conhecido ou no acreditado. A interpretao epistmica tem a vantagem de poder ser combinada
muito simplesmente com a negao clssica para formalizar sentenas como o contrrio no pode ser
140 Raquel Sapunaru
mostrado, onde contrrio a negao classica e que no pode ser mostrado a interpretao epist-
mica da negaopor falha. Ver: Monnerat, Possibilidades Discursivas doe umconector coringa. 2003,
p. 185-204. Disponvel em: http://www3.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/0401/v4 n1.pdf. l-
timo acesso: 4 de julho de 2007.
4
Dedico esse artigo aos professores Penha Maria Cardozo Dias do Intituto de Fsica-UFRJ e Carlos Al-
berto Gomes dos Santos do Departamento de Filosoa PUC-Rio.
A ONTOLOGIA ANALTICA: CRTICAS E PERSPECTIVAS
SOFIA INS ALBORNOZ STEIN
Universidade de Caxias do Sul/CNPq
siastein@mac.com
. . . nonsense can come in the same form as wisdom.
Form is nowhere near enough.
Empirical Stance, p. 16
1. Introduo
Conforme van Fraassen (The Empirical Stance, 2002), o artigo de Van Quine On What
there is seria o texto inaugural da ontologia analtica. A proposta de Quine seria
ainda um projeto metafsico de extenso da cincia por meio do esclarecimento l-
gico dos compromissos ontolgicos assumidos pelas cincias. Nessa empreitada, os
seguidores de Quine teriamsucumbido, assimvan Fraassen, aos apelos da metafsica
tradicional. No necessrio armar, como o zeram os positivistas, que o discurso
no vericvel ou no falsevel no tenha sentido para criticar a ontologia analtica.
Mesmo supondo a impossibilidade de distino entre metafsica e cincia por meio
de critrios rigorosos de vericao ou falsicao, ainda restam, para almdos crit-
rios lgicos de consistncia, critrios relacionados evidncia emprica e utilidade
que permitem, sim, fazer distino entre cincia e metafsica (cf. Van Fraassen 2002,
p. 123). Mesmo os critrios, portanto, de extenso signicante da cincia no es-
tabelecem para a ontologia analtica um espao do discurso justicvel em termos
epistemolgicos. As explicaes da cincia no so as mesmas da metafsica. Assim
tambmas conseqncias do estabelecimento de crenas falsas na cincia so distin-
tas do estabelecimento de crenas falsas na metafsica. O mesmo ocorre em relao
s crenas verdadeiras. As crenas verdadeiras da cincia trazem ganhos, propiciam,
por exemplo, segurana, alimento, abrigo, comunicao. E os riscos dessas mesmas
crenas tambmfazema diferena: podemdestruir, envenenar, etc. Emrelao me-
tafsica: Omaior risco precisamente o de adquirir crenas falsas (2002, p. 15), pois,
segundo van Fraassen, no podemos armar que os benefcios trazidos pela metaf-
sica compensemas iluses s quais somos submetidos, j que a metafsica no parece
propriamente trazer qualquer benefcio. Aracionalidade da argumentao metafsica
no garante a relevncia do discurso.
Uma denio possvel de losoa seria a daquele empreendimento pelo qual
ns, todo sculo, interpretamo-nos novamente. lamentvel, segundo van Fraassen,
que esta empresa resulte em um jogo de meras formas. Parte do credo empirista de
van Fraassen sua armao de que no devemos perder de vista a percepo que
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 141148.
142 Soa Ins Albornoz Stein
temos de que o mundo tem uma signicao crucial para ns. Segundo o autor, a
metafsica analtica teria perdido de vista justamente o que h de mais importante
para ns e se tornado um exerccio meramente formal. A construo racional meta-
fsica do mundo, mesmo que possa servir de explicao por vezes do prprio mundo
real, por inclusive seu processo de elaborao apresentar analogias com a maneira
como os cientistas elaboram teorias, pode provocar estragos em nossa compreenso
do mundo, pois no est submetida, diz van Fraassen, mesma seleo natural
qual as teorias cientcas esto.
A partir da descrio feita por van Fraassen de sua posio empirista em loso-
a, que seria uma posio empirista renovada, e a partir de sua crtica metafsica
(emespecial ontologia analtica) e ao positivismo, questionaremos a pertinncia de
uma investigao ontolgica como a de Quine, que busca explicar a maneira como
so estabelecidos objetos nas cincias naturais. Para tanto, abordaremos a questo
de at que ponto a proposta ontolgica quiniana incide na elaborao de discursos
metafsicos e at que ponto a sua proposta pode resgatar, se levarmos em considera-
o o que diz van Fraassen, sua posio ontolgica da suspeita de ser um mero jogo
de palavras ou faz de conta.
2. Posio empirista de van Fraassen
2.1. Estruturalismo
A crtica de van Fraassen perspectiva ontolgica de Quine certamente est relacio-
nada sua viso estruturalista da conhecimento cientco. Como lemos em Struc-
turalism(s) about science, conferncia de van Fraassen apresentada na Joint Session
of the Aristotelian Society em julho de 2007 em Bristol, van Fraassen arma que seria
possvel pensar em uma linguagem cientca que apenas faria descries de eventos
e no de objetos. Porm, para van Fraassen, mais interessante para um empirista
como ele enfocar na metodologia cientca e no na ontologia. O estruturalismo de
van Fraassen no depende da armao de que a cincia postula entidades. Diz ele:
A auto-orientao de umusurio comrespeito a ummodelo cientco ela mes-
ma um evento, que pode ser localizado no mundo retratado pela cincia. Esta
retrataotomaria a forma de representaopor meiode uma estrutura matem-
tica, e poderia ser, em princpio, perfeitamente acurada, no excluindo nenhum
detalhe relevante concernente aos fatos. (2007, p. 52)
Aestrutura, no entanto, temde ser suplementada por umcontedo emprico para
evitar o problema da indiscernabilidade de estruturas idnticas de objetos ou even-
tos.
Van Fraassen concorda, pois, comReichenbach emque possvel, metodologica-
mente, escolher ou uma linguagem sobre objetos ou uma linguagem sobre eventos.
Lemos:
A Ontologia Analtica: Crticas e Perspectivas 143
Reichenbach (1956) apresenta um exemplo seminal de como essa questo [acer-
ca das descries equivalentes] pode ser transposta da ontologia para a meto-
dologia. Em um nvel muito fundamental de objetos substanciais persistentes
versus estruturas de eventos, ele oferece uma dualidade entre duas formas de
discurso que so aproximadamente, apesar de no completamente, tradutveis
entre si, pormpodemoferecer representaes diferentes, ainda que adequadas,
da natureza. (p. 57)
E conclui que seria uma melhor opo para o lsofo empirista transpor, como
o faz Reichenbach, a questo acerca das alternativas descritivas de um nvel onto-
lgico para um nvel metodolgico (pragmtico). Ou seja, descrever utilizando uma
linguagemque fala de objetos ou uma que fala de eventos seria melhor abordada pelo
empirista se fosse abordada como uma questo metodolgica.
2.2. Empirismo construtivo
A viso empirista-pragmtica de van Fraassen pode ser resumida pelo seguinte par-
grafo:
Essa teoria delineia uma imagem do mundo. Porm a cincia ela mesma designa
certas reas nessa imagemcomo observveis. Ocientista, ao aceitar a teoria, est
armando que a imagem acurada nessas reas. Isto , de acordo com o anti-
realista, a nica virtude que diz respeito relao da teoria como mundo. Quais-
quer outras virtudes a serem armadas diro ou respeito estrutura interna da
teoria (como consistncia lgica) ou sero pragmticas, isto , relacionadas ex-
clusivamente com preocupaes humanas. (1980, p. 57)
E continua: . . . eu considero aquilo que observvel como uma questo indepen-
dente de teoria (theory-independent) (1980, p. 57).
Para van Fraassen, uma teoria:
a. especica uma famlia de estruturas;
b. seus modelos;
c. especica partes desses modelos (as sub-estruturas empricas), que represen-
tam diretamente o fenmeno observvel;
d. empiricamente adequada se as aparncias, estruturas descritas emrelatos ex-
perimentais e medies, so isomrcas a sub-estruturas empricas do modelo.
(1980, p. 64).
Segundo, portanto, van Fraassen, uma teoria no corresponde quilo descrito pe-
los empiristas lgicos, ou seja, no corresponde ou no pode ser reconstruda por um
conjunto de axiomas e um dicionrio parcial que relacione o jargo terico ao fen-
meno observado que relatado (1980, p. 64).
1
144 Soa Ins Albornoz Stein
2.3. Naturalismo epistemolgico
Alm do estruturalismo em relao cincia, Van Fraassen (2002) sustenta que o
pragmatismo e o existencialismo apontam para uma direo correta na rea da epis-
temologia. Devemos, segundo ele, abandonar as falsas esperanas da epistemologia
tradicional e nos abrir para uma nova viso da razo (2002, p. 110). Essa nova viso
passa pela valorizao do papel das emoes na anlise do desenvolvimento cien-
tco e pela anlise da deliberao subjetiva, relacionada a valores assumidos pelo
cientista.
E, por causa de sua viso da epistemologia como uma losoa no estritamente
racional, mas parte de um desenvolvimento histrico humano do qual participam
decises concernentes a valores e opinies, van Fraassen critica tambm a proposta
naturalista de Quine. Para van Fraassen, o principal problema da epistemologia na-
turalizada o de que ela falha em nos apresentar uma viso do conhecimento que
seja invariante frente a revolues conceituais e cientcas que devemos esperar que
ocorram tambm na epistemologia (agora cientca). Os epistemlogos naturalistas,
que fazem o que Van Fraassen chama de epistemologia objeticante, segundo Van
Fraassen:
. . . supem que buscar epistemologia em descries cientcas do mundo atu-
almente aceitas seja ser racional, cientco ou intelectualmente respeitvel. (. . . )
isto realmente a nica coisa a fazer se voc pensa que, por exemplo, a episte-
mologia tenha que ser cincia cognitiva se voc supe que o projeto da epis-
temologia seja o de escrever uma teoria da cognio. (2002, p. 80)
Van Fraassen se ope tentativa de explicar o conhecimento desde uma pers-
pectiva psicologista ou naturalizada. O empirismo aceitvel tem que registrar algo de
invariante na histria do conhecimento. A epistemologia deve registrar o empreen-
dimento do conhecimento, sem elaborar propriamente uma teoria sobre ele (2002,
p. 82). No pode depender apenas de conhecimentos cientcos/empricos falveis.
3. Ontologia emWillard Quine
Na losoa de Quine, a ontologia est diretamente relacionada a questes de ordem
semntica. a anlise do discurso que permite a Quine desenvolver uma posio
ontolgica. Logo, para ele, no podemos, de um ponto de vista exterior anlise do
discurso, perguntar quais so os objetos cientcos. Sua tese da inescrutabilidade da
referncia, que ele considera equivalente tese da relatividade ontolgica, sustenta
que no possvel estabelecer, de um ponto de vista exterior ao discurso, a quais ob-
jetos termos, palavras, fazem referncia, ou qual exatamente a referncia de termos
presentes em frases. Apesar disso, segundo Quine, assumimos compromissos onto-
lgicos por meio de nossa linguagem, do uso que dela fazemos, sem que, com isso,
estejam, de um ponto de vista exterior a esse uso, a partir de critrios empricos, por
exemplo, estabelecidos comquais objetos exatamente nos comprometemos. Algum
A Ontologia Analtica: Crticas e Perspectivas 145
poderia, segundo exemplo de Quine, ter presente em sua ontologia gatos, ou pode-
ria ter presentes totalidades de cosmos menos gatos, e ambas seriamempiricamente
indistinguveis:
Ns estabelecemos que duas ontologias, se explicitamente correlatas uma ou-
tra, so empiricamente iguais; no h razo emprica para escolher uma em de-
trimento outra. O que empiricamente signicante em uma ontologia justa-
mente sua contribuio com pontos neutros estrutura da teoria. (1990, p. 33)
Logo, exterior ao discurso signica, em parte, de um ponto de vista emprico. De
um ponto de vista emprico, no h razes para distinguir entre gatos e totalida-
des de cosmos menos gatos se efetuarmos de forma competente a reinterpretao
de predicados: se traduzirmos todas as frases que contm o primeiro predicado em
frases que contmo segundo, adaptando, ao mesmo tempo, o restante da linguagem,
nova formulao predicativa. Assim, para Quine, a experincia no ummotivo de-
terminante na escolha que podemos fazer entre duas estruturas tericas com com-
promissos ontolgicos diversos.
Quando predicamos, assimQuine, iniciamos a postulao de objetos. E a sobre-
posio de predicaes (funes sentenciais), cujas variveis esto todas ligadas pelo
mesmo quanticador existencial, que postula, na linguagem, um objeto.
A chamada por Quine relatividade ontolgica sugere que podemos, enquanto -
lsofos, reinterpretar ontologias, podemos traduzir predicados, por exemplo, sobre
objetos fsicos, em predicados que falam de nmeros. Isso signica, para Quine, que,
de um ponto de vista exterior ao discurso, no possvel estabelecer com quais ob-
jetos os falantes se comprometem. Podemos, sim, determinar com quais objetos eles
se comprometemdurante o discurso, determinando a quais variveis de funes sen-
tenciais (predicados) eles assentiriam em ligar por meio do quanticador existencial.
4. Crtica a Quine
No apndice A de Atitude Emprica, van Fraassen conclui:
. . . se o mundo existe no est estabelecido pelo sucesso ou aceitao da cosmo-
logia fsica, exceto relativamente a certos pontos de vista loscos. O corolrio
perturbador para a ontologia analtica o de que no h nunca umsimples trazer
luz de compromissos ontolgicos de nossas teorias. Na melhor das hipteses,
ela o faz relativamente a algumas perspectivas loscas mais bsicas que so
consideradas corretas. Compromissos ontolgicos da cincia existem somente
aos olhos do observador [contemplador] losco. (2002, p. 200)
Van Fraassen, a partir de sua perspectiva empirista prpria, compreende a pers-
pectiva ontolgica de Quine como metafsica. Por qu? Quine, pelo menos aparen-
temente, parece estar se restringindo, na sua anlise ontolgica, que inclui descrio
de exemplos cientcos, o estabelecimento de critrios ontolgicos, de identidade de
146 Soa Ins Albornoz Stein
objetos e para compromissos ontolgicos, a umnvel de anlise semntica: (a) da lin-
guagem cientca; (b) do discurso cientco; (c) dos conceitos cientcos. O que leva
van Fraassen a armar o carter metafsico da ontologia de Quine?
Van Fraassen acredita que o critrio de compromisso ontolgico de Quine, um
critrio lgico-semntico, no seja to inocente quanto algumas interpretaes fa-
zem crer. Quine no estaria, assim como van Fraassen, apenas apresentando um cri-
trio para identicar armaes da cincia acerca de objetos; ele estaria armando
que, de fato, existiriam para a comunidade cientca aqueles objetos dos quais se
fala emenunciados aparentemente existenciais. Logo, Quine estaria fazendo arma-
es semelhantes aos dos realistas metafsicos. O refgio em um mbito de anlise
lgico-semntica no evitaria a queda de Quine em um discurso metafsico.
Estranhamente, Quine, assim como Carnap nos anos 1950, quer evitar, ele pr-
prio, o compromisso losco com posies metafsicas. Pelo contrrio, a restrio
anlise apenas lgico-semntica pretende manter-se nos limites estabelecidos lo-
soa pela losoa analtica e, eventualmente, epistemologia naturalizada. Carnap
(1950) tambm armou, ao liberar o discurso cientco de restries de ordem lo-
sca, que a cincia tem a liberdade de escolher seus objetos; e isto signicava para
ele permitir, desde um ponto de vista losco, o discurso sobre qualquer tipo de
objetos, desde que teis (pragmaticamente relevantes) para determinados mbitos
da cincia. De forma semelhante, como reconhece Quine em sua correspondncia
com Carnap, Quine, nos anos 1950, arma ser desnecessrio estipular restries on-
tolgicas para a cincia (a no ser a necessidade de critrios rigorosos de identidade).
As cincias teriam a liberdade de escolher, desde sua perspectiva lgico-semntica,
seus objetos, isto , a losoa no estabeleceria restries a armaes de existncia
de objetos nas cincias, como o zeram os nominalistas e alguns lsofos analticos
(como Nelson Goodman e Bertrand Russell); cada cincia poderia armar a existn-
cia daqueles objetos que considerasse importantes para suas prticas e conhecimen-
tos. O lsofo da linguagem poderia, sim, tentar identicar os objetos estabelecidos
pelas cincias por meio de anlises lingsticas, observando (no caso de Quine, que
um behaviorista) a prtica discursiva dos cientistas. Quando os cientistas concor-
darem em armar a existncia de certos objetos, poder-se-ia dizer, desde um ponto
de vista losco, que eles esto comprometidos com aquelas entidades que so os
valores das variveis da quanticao existencial. Isso metafsica?
5. Concluso
Van Fraassen critica, por um lado, a tentativa de Quine de estabelecer um critrio
ontolgico, e, por outro lado, de sustentar uma postura naturalista na epistemologia.
Quine, portanto, no poderia simplesmente armar, emsua defesa, que sua descrio
do modo como discursa a cincia sobre seus objetos corresponde ao modo como
a cincia funciona (desde uma perspectiva, ela prpria, cientca). Pois, segundo
van Fraassen, no seria apropriado descrever o conhecimento cientco por meio de
teorias, elas prprias, cientcas.
A Ontologia Analtica: Crticas e Perspectivas 147
O que resta a Quine?
Primeiramente, importante frisar que o critrio de compromisso ontolgico de
Quine:
a. lingstico;
b. arma que apresentado, por parte de quem enuncia, por meio de certas es-
truturas lingsticas, um compromisso com a existncia de entidades;
c. porm esse critrio de compromisso ontolgico no necessariamente metaf-
sico, pois arma uma existncia emprica (no real em sentido forte), para uma
certa teoria.
Essa armao de existncia comparvel, eu diria, armao de existncia de
sub-estruturas empricas. Os fatos de van Fraassen so comparveis aos fatos ma-
teriais (facts of the matter) de Quine. Ambos se mantm nos limites do empirismo. A
questo central , no nal das contas, se a losoa teria algo a dizer acerca dos objetos
cientcos alm daquilo que diz a prpria cincia, as prprias teorias cientcas.
Podemos defender Quine dos ataques de van Fraassen armando: 1. Que seu cri-
trio de compromisso ontolgico lgico-semntico e no pretende armar a reali-
dade metafsica dos objetos postulados pela cincia; 2. Que a proposta de uma episte-
mologia naturalizada ainda poderia ser sustentada mesmo que tenhamos conscin-
cia da nitude de suas explicaes de conhecimento. (Cf. argumento de van Fraassen
2002, p. 79).
Van Fraassen tampouco estaria atingindo Quine ao criticar a separao feita pelos
empiristas lgicos entre objetos tericos e observveis, pois Quine arma que o que
importa para quaisquer objetos, concretos ou abstratos, no o que eles so, mas
como eles contribuem para nossa teoria global do mundo enquanto pontos [ns]
neutros na sua estrutura lgica. (1995, p. 745), ou O que empiricamente signi-
cante em uma ontologia somente sua contribuio de pontos [nodes] neutros
estrutura da teoria. (1990, p. 33).
Creio que a losoa ainda teria a contribuir para a discusso acerca das estruturas
e dos objetos cientcos, esclarecendo justamente emque consistem, de umponto de
vista meta-cientco, essas estruturas e objetos, que classicao pode ser feita deles
e quais as propriedades gerais atribuveis a eles. Tambm pode auxiliar no esclare-
cimento da evoluo cientca e da inovao conceitual e referencial no interior das
cincias.
Isso no signica a sustentao de posies metafsicas (realistas ou no). Pode
signicar, por vezes, a teorizao acerca daquilo que seria necessrio reexo sobre
teorias e suas estruturas ou objetos, pormseria, ento, uma metafsica transcenden-
tal (crtica), uma reexo mais sobre as condies de possibilidade e os limites do
conhecimento que de acrscimo ao que j dito pelas cincias. O prprio van Fra-
asen arma (2007): ao empirismo hoje deveria tambm ser cara a crtica de Kant, e
no deveria deixar-se envolver pelas Iluses da Razo que Kant desmascara. (p.53).
2
148 Soa Ins Albornoz Stein
Referncias
Carnap, R. 1950. Empiricism, semantics, and ontology. Revue Intern. De Phil., 4: 20828.
Quine, W. V. O. 1961. On what there is. In From a logical point of view: nine logico-philo-
sophical essays. 2.ed. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, p. 119.
. 1990. Pursuit of Truth. Cambridge e London, Harvard University Press.
. 1995. From stimulus to science. Cambridge, Massaschusetts: Harvard University Press.
Reichenbach, H. 1956. The Direction of Time. Berkeley: University of California Press.
van Fraassen, B. 1980. The Scientic Image. Oxford: Claredon Press.
. 2002. The Empirical Stance. New Haven e London: Yale University Press.
. 2007. Structuralism(s) about Science: some common problems. The Aristotelian Society,
Suplementary Volume LXXXI: 4561.
Notas
1
Na introduo A Imagem Cientca, van Fraassen arma Os positivistas lgicos, e seus herdeiros,
foram muito longe nessa tentativa em transformar problemas loscos em problemas sobre a lingua-
gem. Em alguns casos, sua orientao lingstica teve efeitos desastrosos na losoa da cincia. (1980,
p. 4). E mais adiante continua: . . . mesmo se a observabilidade no tem nada a ver com a existncia (,
de fato, muito antropocntrica para tanto), pode ainda ter muito a ver coma atitude epistmica prpria
em relao cincia. (1980, p. 19). Em outra passagem, van Fraassen arma: . . . uma tentativa de es-
tabelecer uma linha conceitual entre os fenmenos e o trans-fenomenal por meio de uma distino de
vocabulrio teve sempre que ser visto como muito simples para ser bom. (1980, p. 56). Porm, parece
concordar com Carnap (1951), quando arma que para encontrar os limites do que observvel no
mundo descrito pela teoria T, ns temos que investigar emT ela prpria e nas teorias utilizadas como
auxiliares no teste e na aplicao de T. (1980, p. 57).
2
Este artigo resultado parcial de pesquisa nanciada pelo CNPq (2006-2007).
BAS VAN FRAASSEN E O PROBLEMA DA INFERNCIA PARA A MELHOR
EXPLICAO
THIAGO MONTEIRO CHAVES
Universidade Federal de Minas Gerais
thiagochaves@yahoo.com.br
O principal argumento em que se baseia a chamada defesa explicacionista do rea-
lismo cientco uma espcie de reduo ao absurdo: se as teorias de que dispe a
cincia so meros instrumentos conceituais, como explicar ento seu sucesso de in-
corporao de novos fenmenos? O realismo cientco seria assim a melhor explica-
o para fenmenos como o sucesso explicativo das teorias cientcas. Mas deve esse
tipo de argumento fazer de ns todos realistas cientcos? A defesa explicacionista do
realismo responde essa questo armativamente, e a razo para isso seria dizer que o
tipo de inferncia usado no argumento acima, a inferncia abdutiva (Peirce) ou infe-
rncia para a melhor explicao (Gilbert Harman) (daqui em diante IME), representa
um cnone de racionalidade. Ou seja, se usamos esse tipo de inferncia na prpria
prtica cientca, assim como na vida comum, no h razes para no o usarmos em
argumentos loscos. Podemos dizer assim que a defesa explicacionista uma es-
pcie de meta-abduo: ela faz uso do mtodo mesmo usado na cincia para explicar
seu estatuto cognitivo.
O objetivo de van Fraassen em The Scientic Image fornecer uma interpretao
empirista da cincia. Dessa forma ele ter que mostrar que h uma outra opo alm
do realismo. Mas para dizer isso, preciso mostrar antes que, ao contrrio do que a
defesa explicacionista diz, ns no somos obrigados racionalmente a acreditar na tese
realista. O modo para se fazer isso justamente atacar as pretenses epistmicas do
modelo da IME. O objetivo deste artigo ser o de analisar as crticas de van Fraassen
IME, mostrando sua coerncia. Iniciaremos com uma resposta s crticas de Psillos
(1996) a um possvel ceticismo seletivo ad hoc na postura de van Fraassen. Feito isso
mostraremos que a idia mesma de um modelo inferencial para a IME ambgua,
devido ao carter contextual determinante para a avaliao da melhor explicao,
ou seja, a competio entre explicaes se d sempre relativa a outras consideraes
de pano de fundo. Por mfaremos algumas consideraes acerca da possibilidade de
um modelo no-ampliativo, bayesiano, para a IME.
1. As crticas a van Fraassen: duas formas de IME, uma realista e outra
empirista?
Alguns lsofos como Psillos (1996)
1
tm acusado van Fraassen de um certo tipo de
ceticismo seletivo. Ou seja, van Fraassen aceitaria como legtimos processos inferen-
ciais, a partir de virtudes como poder explicativo, emcontextos ordinrios ou contex-
tos cientcos em que guram somente entidades e processos observveis; embora
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 149158.
150 Thiago Monteiro Chaves
julgasse ilegtimo o uso desses mesmos padres inferenciais em contextos cient-
cos em que gurassem entidades inobservveis. A pergunta seria pelo porqu dessa
restrio um tanto quanto ad hoc.
A passagem que inspira as crticas de Psillos a seguinte:
Argumenta-se que seguimos esta regra [a IME] em todos os casos ordinrios. . .
E com certeza h muitos casos ordinrios a serem considerados: ouo um ar-
ranhar na parede, o sapateado de pequenos ps meia noite, meu queijo de-
saparece e inro que um camundongo veio morar comigo. No acho apenas
que estes sinais aparentes da presena de um camundongo vo continuar, nem
apenas que todos os fenmenos observveis vo ser como se houvesse um ca-
mundongo; mas que realmente h um camundongo. (. . . ) O realista cientco
simplesmente algum que segue consistentemente as regras de inferncia que
todos ns seguimos nos contextos mais ordinrios? (. . . ) Pois o camundongo
uma coisa observvel: portanto, h um camundongo no lambri e todos os
fenmenos observveis indicamque haveria umcamundongo no lambri so in-
teiramente equivalentes, cada uma delas [das duas proposies] implica a outra.
(van Fraassen 2006, p. 468)
Psillos conclui dessa passagem que van Fraassen aceita a IME como regra de infe-
rncia em contextos em que a adequao emprica de uma hiptese coincide com
sua verdade, ou seja, quando as entidades a que se refere a hiptese so observveis.
Mas essa equivalncia entre adequao emprica e verdade s pode ocorrer quando a
experincia atual,
2
ou seja, todos os fenmenos so como se houvesse umcamun-
dongo e h um camundongo somente so equivalentes quando no h nenhum
processo inferencial ampliativo, quando os fenmenos referidos so justamente a ex-
perincia mesma do camundongo! Nesse exemplo dado por van Fraassen h clara-
mente um passo inferencial ampliativo. Isso se torna claro quando pensamos em hi-
pteses diferentes para os fenmenos observados (que no so a experincia mesma
do camundongo!), e Psillos fornece uma boa hiptese: meu gato Tompoderia ter per-
cebido que eu iria coloc-lo na rua, e comeou a realizar todos aqueles fenmenos (o
barulho no lambri, o desaparecimento do queijo . . . ) para que eu pensasse que se tra-
tava de um rato, e o mantivesse na casa. Segundo Psillos, eu concluo pela existncia
do rato porque essa hiptese melhor qua explicao para os fenmenos observados
do que a hiptese sobre meu gato Tom (Psillos 1999, p. 214).
Assim, a partir dessa passagem, Psillos conclui que van Fraassen aceitaria tacita-
mente a IME como regra de inferncia em contextos ordinrios (ou contextos cient-
cos emque guramsomente entidades observveis). De fato, o erro de van Fraassen
seria supor que, pelo fato de o camundongo ser uma coisa observvel, ento h um
camundongo no lambri e todos os fenmenos observveis so como se houvesse
um camundongo no lambri so totalmente equivalentes, um implica o outro. Acon-
tece que o primeiro acarreta o segundo, mas o contrrio no se d. preciso, para
derivar a primeira proposio da segunda, um passo inferencial, e esse passo seria
fornecido pela regra da IME.
Bas van Fraassen e o problema da inferncia para a melhor explicao 151
No entanto, como j argumentado por van Fraassen e colaboradores (Ladyman
et al. 1997), essa passagem de The Scientic Image no deve ser compreendida dessa
forma. Anteriormente passagem citada, o argumento que van Fraassen combatia
consistia no seguinte: se o caso que seguimos a IME emcontextos ordinrios e cien-
tcos, ento somos compelidos racionalmente a aceitar o realismo cientco. Pois
se a IME uma regra de inferncia, e o realismo a melhor explicao para os fen-
menos da atividade cientca, ento devemos inferir a tese realista como verdadeira.
Uma das formas que van Fraassen rebate esse argumento consiste justamente em
atacar a primeira premissa se o caso que seguimos esta regra [a IME] em contextos
ordinrios . . . . O que signica dizer que seguimos essa regra? Uma possibilidade se-
ria dizer que essa uma hiptese psicolgica acerca do comportamento inferencial
de pessoas tidas como racionais. Poderamos ento fazer uma pesquisa estatstica,
que coletaria dados acerca do uso ou no da IME por pessoas racionais. Bem, antes
de se dar ao trabalho, van Fraassen lana uma outra hiptese psicolgica acerca do
comportamento inferencial das pessoas: elas seguem no a IME, mas a *IME, que
consiste justamente em inferir a adequao emprica da melhor explicao (van Fra-
assen 1980, p. 21).
H dois pontos importantes nesse argumento. O primeiro consiste em mostrar o
fato de que as prticas inferenciais ordinrias prima facie no lhes fornecem a elas
mesmas um estatuto normativo. O segundo consiste no fato de que os ditos casos or-
dinrios no favorecem a hiptese da IME contra a *IME, pois, como no exemplo do
camundongo, h um camundongo no lambri e todos os fenmenos observveis
so como se houvesse um camundongo no lambri so totalmente equivalentes, um
implica o outro. Acredito que a primeira considerao no levanta problemas, mas a
segunda sim. Como vimos, essa equivalncia falsa. No entanto a pergunta legtima
aqui seria se isso invalida o argumento de van Fraassen. claro que a hiptese do
gato Tom alternativa hiptese da existncia do camundongo; mas dado o que sa-
bemos sobre camundongos (van Fraassen 1980, p. 201), inferimos a partir daqueles
fenmenos a existncia de um. Perceba que essa inferncia condicionada a um
conhecimento de fundo. Os eventos como barulho no lambri, o desaparecimento do
queijo, so condies sucientes para a crena na existncia do camundongo, dado o
que sabemos sobre camundongos. Oque devemos perceber aqui que talvez no haja
nesse caso um processo inferencial ampliativo, mas um grau de crena condicionado
evidncia (uma probabilidade posterior).
3
Discutiremos esse ponto mais adiante.
A discusso se a IME representa um padro normativo de inferncia uma ques-
to sria para a epistemologia, e deve ser respondida. Mas simplesmente apontando
para prticas inferenciais ordinrias no solucionaremos o problema. esse o ponto
de van Fraassen na passagem citada. Se h a possibilidade de uma hiptese alterna-
tiva IME, ento devemos fazer um estudo de caso. No tenho nada a dizer aqui se
a epistemologia deva se naturalizar ou no, mas a acusao de um ceticismo seletivo
critica de van Fraassen IME parece decorrer imediatamente da desconsiderao
dessa questo.
152 Thiago Monteiro Chaves
2. Ummodelo inferencial para a IME
Se quisermos pensar em um modelo inferencial para a IME, devemos mostrar nesse
modelo como se d a inferncia da verdade ou verdade aproximada da melhor ex-
plicao. Em seu artigo inaugural de 1965, Gilbert Harman diz que essa inferncia se
d a partir do fato de uma explicao ser a melhor dentre suas alternativas (Harman
1965, p. 89). Temos ento que o modelo inferencial da IME parte de uma premissa
comparativa. Podemos escrev-lo como:
O fenmeno E observado
H, H
t
, H
tt
, H
ttt
. . . explicam E
H a melhor explicao para E
Logo H verdadeira (ou ao menos aproximadamente verdadeira).
Devemos entender aproximadamente verdadeiro aqui como muito provvel. Opro-
cesso inferencial da IME se localiza ento na passagem do fato de uma hiptese ser a
melhor explicao de um fenmeno para o aumento de sua probabilidade.
H duas coisas importantes para serem consideradas nesse modelo. A primeira
que ele ampliativo, no sentido em que ele nos permite formar novas crenas. A
segunda que, por ser ampliativo, a concluso pode ser anulada. Isso se daria tam-
bm ao descobrirmos novas hipteses que abalariam a premissa que contm a com-
parao e a candidata melhor explicao. Esse fato coloca diculdades para um
modelo topicamente neutro (que despreza o contexto) para a IME (tal como o apre-
sentado acima). Se as consideraes acerca da comparao entre hipteses depen-
dem fundamentalmente das hipteses que pudemos formular (ou seja, do contexto
de descoberta), a concluso da verdade (ou do aumento da probabilidade) da hip-
tese emquesto condicionada a uma varivel indeterminada, pois justamente essas
outras hipteses ainda no foramformuladas. esse o ponto que os argumentos pre-
sentes emLaws and Symmetry pretendemcapturar (os chamados argumento da bad
lot, e o argumento da indiferena) (van Fraassen 1989, p. 1423; 146).
No entanto algum poderia argumentar, como o faz novamente Psillos (Psillos
1999, p. 21227), que o carter mesmo ampliativo da IME que a torna irresist-
vel como processo inferencial que nos permite formar novas crenas. Nesse caso, se
o prprio empirista construtivo abrisse mo de processos inferenciais ampliativos,
como ele justicaria sua crena na adequao emprica de uma teoria? Pois aquilo
que observvel pode ainda no ter sido observado (lembremos: a experincia so-
mente nos informa daquilo que observvel e atual, ao restante chegamos atravs
de inferncias). Esse o problema de Hume. Mas novamente esse tipo de argumento
no fornece o estatuto epistmico que o realista pretende dar IME, pois, novamente,
simplesmente listar prticas inferenciais prima facie no lhes garante um estatuto
normativo.
Bas van Fraassen e o problema da inferncia para a melhor explicao 153
Um outro aspecto ambguo no modelo acima a considerao da probabilidade
da hiptese inferida. Essa considerao feita a partir somente do fato de ela ser a
melhor explicao? No difcil imaginar que consideraes acerca das crenas de
pano de fundo ajudaro a determinar esse valor.
4
Mas onde guram esses outros fa-
tores no modelo acima?
A idia de um modelo inferencial para a IME parece ser sabotada de incio pelo
carter extremamente contextual envolvido na anlise de explicaes. Mas h ainda
uma sada para a IME. Talvez a idia de um modelo inferencial seja ingnua. Como
observa Peter Lipton, a idia por trs da IME o fato de que consideraes explanat-
rias guiamnossas inferncias (Lipton 2000; 2001; 2004). Nessa prxima seo faremos
algumas consideraes acerca da possibilidade de enquadrarmos a IME nummodelo
bayesiano de ajuste de crenas. Concluiremos que as crticas de van Fraassen a essa
possibilidade so coerentes, bastando olhar para sua teoria pragmtica da explicao.
3. IME como regra para ajuste de crenas
Uma outra forma de pensarmos num modelo para a IME a idia de que conside-
raes explanatrias acerca de uma hiptese podem guiar a crena em sua verdade.
Um dos problemas encontrados no modelo inferencial discutido acima a questo
de como podemos avaliar a probabilidade da melhor explicao. Dado um evento E,
H seria uma melhor explicao que H
t
se:
Pr ob(H) >Pr ob(H
t
)
ou
Pr ob(E/H) >Pr ob(E/H
t
) (likelihood de H maior que de H
t
)
No primeiro caso, analisamos a probabilidade inicial de H. No segundo caso ana-
lisamos o quanto de probabilidade H confere evidncia E (a likelihood de H). Um
modo de determinarmos essas quantidades seria interpretarmos as probabilidades
como probabilidades pessoais, ou graus de crena, conforme os bayesianos (van Fra-
assen 1980, p. 22).
Bayesianos vem o clculo de probabilidades como uma extenso da lgica. As-
sim, da mesma forma que uma pessoa se diz irracional por no ajustar suas crenas
utilizando-se de regras de inferncia como um modus tollens, por exemplo, ela tam-
bmse diz irracional se no ajustar suas crenas de acordo como clculo de probabi-
lidades. O teorema de bayes se mostra assim como um recipiente lgico (normativo)
para essa coerncia. Se quisermos um modelo de ajuste de crenas para a IME, esse
modelo deve ento estar de acordo com o modelo bayesiano.
Em Laws and Symmetry, van Fraassen lana um argumento tcnico que mostra
que se algum segue a IME como regra para ajuste de crenas, esse algum se v sus-
ceptvel a uma espcie de dutch bookie. Um dutch bookie uma espcie de teorema
154 Thiago Monteiro Chaves
que, partindo da teoria das probabilidades pessoais baseada em jogos de azar (Ram-
sey, de Finneti), prova que uma pessoa que no segue o clculo de probabilidades no
ajuste de suas crenas susceptvel, a partir de um conjunto de apostas aparente-
mente justas, a uma perda inexorvel (um saldo sempre negativo). Muitas tm sido
as crticas ao modo como van Fraassen encaixa a IME no modelo bayesiano. Longe
de pretender a uma anlise aprofundada desse tema, tentarei argumentar antes de
tudo que a crtica de van Fraassen coerente, partindo de sua teoria pragmtica da
explicao (van Fraassen 1980, cap. 5).
3.1. Explicaes so respostas a questes por que?
Van Fraassen entende por explicao uma resposta a uma pergunta do tipo por
que . . . ?. H dois fatores contextuais que determinam essa resposta: (a) a relao de
relevncia entre a resposta e a pergunta, e (b) a classe de contraste implicitada pela
pergunta. Podemos escrever o seguinte modelo para sua teoria:
Q (P, X, R)
A uma resposta para Q se A mantm relao R com P e X
emque Q a pergunta; P o tema da pergunta (o fato a que ela se refere); X a classe de
contraste, R a relao de relevncia; e A uma resposta a Q.
A relao de relevncia e a classe de contraste, que determinaro a pergunta, so
especicadas no contexto de enunciao, considerando-se a inteno do locutor e
fatos brutos do contexto (como crenas de fundo, ambiente perceptivo . . . ). O ponto
que quero ressaltar para nossa defesa da crtica de van Fraassen IME que uma
resposta para uma questo Q selecionar fatores salientes de uma descrio causal
j existente como pano de fundo (pertencente a teorias aceitas ou outras crenas de
pano de fundo). Chamemos K o conjunto de teorias aceitas mais crenas de pano de
fundo. K fornecer o conjunto de descries das quais a resposta selecionar uma,
apontado para fatores salientes dessa descrio. Nesse sentido, uma explicao, en-
quanto resposta a uma questo, um uso de uma descrio, e no uma virtude irre-
dutvel, uma relao irredutvel entre hiptese e evidncia. Mas como avaliar qual a
resposta mais adequada? Qual a melhor descrio para o evento emquesto? Empri-
meiro lugar deve-se preencher o quesito da relevncia (e isso se d contextualmente).
Em segundo lugar, deve-se avaliar a resposta ela mesma e em comparao a outras
possveis respostas: se provvel, se favorece o tema da questo, se mais provvel
que e se favorece mais o tema da questo que outras possveis respostas. Perceba que,
assim como no modelo da IME, h um passo comparativo aqui. Mas o que eu quero
ressaltar que aquilo que torna ou no uma resposta em uma boa resposta, ou, uma
explicao em uma boa explicao, uma anlise da resposta qua descrio. As in-
formaes de pano de fundo fornecero as probabilidades dessas descries. O link a
que Lipton se refere entre poder explicativo e probabilidade se inverte nessa nossa
Bas van Fraassen e o problema da inferncia para a melhor explicao 155
anlise: so as consideraes das probabilidades das respostas (explicaes) que as
tornam boas ou ms respostas, e no o contrrio.
Esse breve esboo da teoria da explicao de van Fraassen nos ser til adiante.
Passemos agora para a anlise de sua crtica IME enquanto regra para mudana de
crenas.
3.2. A IME como regra que leva incoerncia
Voltemos agora ao ataque de van Fraassen IME (van Fraassen 1989, cap. 7). O modo
como van Fraassen encaixa a IME no modelo bayesiano tem sido vtima de muitos
ataques. Ele consiste em dar bnus probabilidade posterior de uma hiptese dado
que essa hiptese tida como a melhor explicao. Ouseja, aps umagente (o baye-
siano Pedro) condicionar a probabilidade de uma hiptese evidncia utilizando-se
do teorema de bayes, ele aumenta sua probabilidade posterior utilizando-se da IME.
Essa estratgia causa uma incoerncia no conjunto de crenas desse agente. Podemos
pensar emuma descrioextremamente simplicada de seuargumento. Imagine que
tenhamos duas hipteses para explicar o fenmeno descrito por e, e que a hiptese h
tida como a melhor explicao para e. Ento:
P(h/e)
P(h) P(e/h)
P(h) P(e/h) +P(h) P(e/h)
(condicionalizao)
P(h/e) +IME P(h/e) (bnus para P(h/e), visto que
h a melhor explicao para e)
Algum que siga essa regra estar sujeito a um dutch bookie diacrnico, ou seja,
uma srie de apostas ao longo do tempo em que o prejuzo ser certo desde o prin-
cpio. Como diria van Fraassen, algum que use da IME como regra para mudana
de crenas sabota suas possibilidades de vindicao desde o incio.
5
O dutch boo-
kie diacrnico porque envolve o processo de condicionalizao da nova evidn-
cia (o conjunto de apostas feito ao longo do tempo em que novas evidncias sur-
gem), e embora as apostas tomadas individualmente paream justas no tempo t em
que elas so oferecidas, tomadas em conjunto elas garantem um saldo negativo. A
IME violaria assim um modo normativo (um cnone de racionalidade) de atualiza-
o de crenas frente a novas evidncias, expresso pelo princpio de condicionaliza-
o P
atual
(X) P
anterior
(X condicionada evidncia total E).
6
Muitas tm sido as criticas ao modo como van Fraassen enquadra a IME ao mo-
delo bayesiano. Psillos e Kvanvig entendem sua estratgia como algo retrico, que
pretende antes de tudo induzir o interlocutor (algum simptico IME) a pensar
na IME num modelo bayesiano, e em seguida utilizar de uma maneira especca
que leva incoerncia (Psillos 2003; Kvanvig 1994). No entanto, como vimos acima,
quando h solicitao de explicao, devemos separar dois tipos de desideratos: um
por informao e outro por informao verdadeira. O link que se d entre conside-
raes explanatrias e probabilidade (nos termos de Lipton, entre loveliness e likeli-
156 Thiago Monteiro Chaves
ness) se d justamente porque sempre queremos informaes relevantes e verdadei-
ras. Mas o que bloqueia a trivialidade dessa distino o fato de que, aps termos em
mos a informao relevante, devemos conrm-la, e isso se d numoutro momento,
ou seja, no h uma inferncia que tem a informao relevante como premissa e sua
conrmao como concluso.
Vimos como van Fraassen articula uma teoria pragmtica da explicao. H duas
distines que podem agora ser feitas e que, acredito, deixaro claro o ponto que
quero ressaltar. Podemos pensar em duas virtudes para uma explicao: uma infor-
macional e outra conrmacional. A primeira diz respeito ao tanto de esclarecimento
que a resposta A fornece questo Q. Isso ser medido se A satiszer os critrios,
dados no contexto, de relevncia. Mas dada a resposta A, deveremos analisar se ela
verdadeira ou no. Mas esse segundo passo j no tem nada a ver com o primeiro,
no sentido de que, dada a resposta A que o locutor da questo Q desejava, a sua con-
rmao ou no j no estabelece link inferencial com seu valor informativo. Temos
ento que explicaes apresentam virtudes informacionais (satisfazem o desejo por
informao); sua conrmao ou no j umaspecto da anlise mesma da descrio
selecionada pela explicao dada.
Tendo em vista essas duas distines, podemos dizer que o modo como van Fra-
assen enquadra a IME no modelo bayesiano coerente, pois algumque entenda que
virtudes informacionais sejam tambm conrmacionais, ao julgar que uma hiptese
H apresenta mais informao que H
t
, ou mais simples que H
t
(poderamos aqui
traar vrios aspectos que podem fazer com que uma hiptese contribua mais para a
compreenso do explanandumemquesto, ou seja, os fatores que fazemcomque ela
seja a melhor explicao
7
), ao descobrir que uma hiptese a melhor explicao, ele
deve aumentar sua probabilidade. A incoerncia causada no argumento esboado
acima se d justamente pela confuso entre o que faz uma hiptese ser explicativa
e o que conrma essa hiptese aumenta sua probabilidade de ser verdadeira (no
caso acima, a evidncia). esse o modo como compreendo a idia de Peter Lipton de
que, no modelo da IME, tem-se que as consideraes explanatrias so anteriores
inferncia. Na abordagem que privilegio, consideraes explanatrias so anteriores
aceitao, pois esta ltima se d a partir da avaliao conrmacional da hiptese
que gura na anlise das respostas possveis. Porm, como tentamos mostrar,
consideraes informacionais no interferem de forma inferencial nas conrmacio-
nais. Mais uma vez, o link a que Lipton se refere entre loveliness e likeliness no se
d atravs de uma inferncia que tem a primeira como premissa e a segunda como
concluso; mas se d somente no momento em que o desejo por informao vem
acompanhado com o desejo por informao verdadeira.
As crticas ao argumento de vanFraassense baseiamna idia de que, se queremos
enquadrar a IME ao modelo bayesiano, ento devemos fazer isso de um modo em
que a IME faa parte desse modelo, e no seja algo fora ou adicional a ele. Haveria
duas formas de se fazer isso: ou consideraes explanatrias gurariam na escolha
das probabilidades iniciais (priors probabilities), ou na likelihood da hiptese can-
Bas van Fraassen e o problema da inferncia para a melhor explicao 157
didata melhor explicao. A segunda opo se mostra mais problemtica, devido
ao problema da falcia da probabilidade de base. Suponhamos, por exemplo, que eu
chegue em casa e perceba que todas as minhas coisas esto reviradas e alguns de
meus pertences desapareceram (chamemos de evidncia e). Ento eu formulo duas
hipteses:
(a) H = um ladro esteve em minha casa
(b) H
t
= um amigo me pregou um susto
Se pensarmos que a melhor explicao a de maior likelihood, ento H seria a
melhor explicao se P(e/H) > P(e/H
t
). No entanto essa anlise negligencia a pro-
babilidade de base, ou seja, a probabilidade inicial de H e H
t
. Se eu morar em um
condomnio de segurana mxima, por exemplo, ento P(H) ser muito baixa, ou se
eu s tiver amigos muito srios, P(H
t
) ser tambm baixa, e nesses casos a probabi-
lidade posterior de H ou H
t
, dado E, sero baixas mesmo se suas likelihoods forem
altas. Se a melhor explicao para e for assim a hiptese de maior likelihood, jus-
tamente a melhor explicao poder ter assim uma probabilidade posterior baixa!
8
Consideraes explanatrias deveriam ento gurar na escolha das probabilidades
iniciais. H um ltimo ponto que quero comentar aqui. Uma coisa dizermos que a
IME possa ser um constrangimento nas probabilidades iniciais. Isso seria algo difcil
de provar, mas ainda h uma chance. . . Outra coisa dizer que consideraes expla-
natrias sugerem, mas no constrangem, a escolha das probabilidades iniciais. Esse
seria um modo gentil de terminarmos o debate entre o valor epistmico da IME. E
justamente essa a postura de van Fraassen. Termino citando o nosso lsofo:
Algum que mantenha uma crena por t-la achado explanatria no se torna
irracional. Ele se torna irracional, no entanto, se comea a adotar isso como uma
regra, e nos v como racionalmente compelidos a ela. (van Fraassen 1989, p. 142)
Bibliograa
Churchland, P. M. 1985. The ontological Status of Observables: In Praise of the Superempirical
Virtues. In Churchland, P. &Hooker [INICIAIS?] (orgs.) Images of Science: Essays on realism
and empiricism, with a reply fromBas C. van Fraassen. Chicago: The University of Chicago
Press, p. 3547.
Earman, J. 1992. Bayes or Bust? ACritical Examination of BayesianConrmationTheory. Cam-
bridge, MA: MIT Press.
Harman, G. 1965. The Inference to the Best Explanation Philosophical Review 74(1): 8895.
Kvanvig, J. L. 1994. A Critique of van Fraassens Voluntarist Epistemology Synthese 98(2): 325
48.
Ladyman, J; Douven, I; Horsten, L; And Van Fraassen. 1997. A Defense of Van Fraassens Criti-
que of Abductive Inference: Reply to Psillos. Philosophical Quarterly 47: 305-321.
Lipton, P. 2000. Inference to the Best Explanation. In Newton-Smith, W. H. (ed.) A Companion
to the Philosophy of Science. Oxford: Blackwell, p. 18493.
158 Thiago Monteiro Chaves
. 2001. Is Explanation a Guide to Inference?. In Hon, G. and Rackover, S. (eds.) Explanation:
Theoretical Approaches and applications. Dordrecht: Kluwer, p. 93120.
. 2004 Inference to the best explanation. London: Routledge.
Niiniluoto, I. 1999. Defending abduction. Philosophy of Science 66 (Proceedings): S436S451.
Psillos, S. 1996. On van Fraassens Critique of Abductive Reasoning. The Philosophical Quar-
terly 46: 3147.
. 1999. Scientic Realism: How Science Tracks Truth. London: Routledge.
. 2003. Inference to the Best Explanation and Bayesianism. In Stadler, F. (ed.) Vienna Circle
Institute Yearbook, Vol. 10. Dordrecht: Kluwer.
Van Fraassen, B. C. 1980. The Scientic Image. Oxford: Clarendon Press.
. 1989. Laws and Symmetry. Oxford: Clarendon Press.
. 2006. A Imagem Cientca. Traduo de Luiz Henrique de Arajo Dutra. So Paulo: Edi-
tora Unesp.
Notas
1
Paul Churchland faz uma crtica semelhante de Psillos em Churchland, 1985.
2
Em outras palavras, ns s sabemos diretamente que aquilo que j foi ou est sendo observado de
tal maneira a experincia pode nos dar informaes somente daquilo que observvel e atual (van
Fraassen 1989, p. 253).
3
Rero-me aqui ao problema da descrio de inferncias ampliativas. As crticas de van Fraassen IME
atacam no s suas pretenses normativas, mas tambm descritivas.
4
difcil de imaginar, por exemplo, onde guraria nesse modelo inferencial a likelihood da hiptese
o quanto de probabilidade uma hiptese confere evidncia P(E/H).
5
Cf. o no self-sabotage principle (van Fraassen 1989, p. 157).
6
Para uma exposio crtica do uso do argumento do dutch bookie para justicao do princpio de
condicionalizao ver Earman 1992.
7
G. Harman lista alguns fatores em seu artigo de 1965.
8
Se P(h/e) P(h) P(e/h)/P(e), ento a probabilidade posterior pode equivaler a um valor baixo se
tambm esse for o caso para P(h).
II
LGICA
UM CONFLITO ENTRE ONTOLOGIA E LGICA:
QUINE A FAVOR DE V L E CONTRA
ANTNIO MARIANO NOGUEIRA COELHO
Universidade Federal de Santa Catarina
acoelho@cfh.ufsc.br
Consideremos as seguintes operaes sobre conjuntos:
F
1
(x, y) o par no ordenado cujos elementos so x e y.
F
2
(x, y) o produto cartesiano de x e y.
F
3
(x, y) o conjunto dos pares ordenados u, v tais que u elemento de x e v
elemento de y e u elemento de v.
F
4
(x, y) a diferena x y.
F
5
(x, y) a unio de x.
F
6
(x, y) o conjunto das primeiras componentes dos pares ordenados que por-
ventura sejam elementos de x.
F
7
(x, y) o conjunto das triplas ordenadas u, v, w tais que u, w, v seja ele-
mento de x.
F
8
(x, y) o conjunto das triplas ordenadas u, v, w tais que v, w, u seja ele-
mento de x.
Sejam agora o conjunto dos nmeros naturais e M um conjunto qualquer. Fa-
amos
W
0
M
W
n+1
W
n
{F
i
(x, y) : x W
n
, y W
n
, i 1, 2, . . . , 8} para n
Seja W
_
n
W
n
W dito o fecho de Gdel de M e denotado por cl(M)
Podemos denir def(X), o conjunto dos conjuntos denveis a partir de X, da se-
guinte maneira:
def(X) cl(X {X}) P(X),
(onde P(X) o conjunto das partes de X)
Com isso denimos a chamada hierarquia construtvel.
L
0
0
L
+1
def(L
)
L
<
L
, se um ordinal limite.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 161164.
162 Antnio Mariano Nogueira Coelho
Seja On a classe dos ordinais. Fazemos L
_
On
L
.
A classe L o chamado universo construtvel e seus elementos so ditos conjun-
tos construtveis. Seja V {x : x x} a classe universal. O enunciado V L (i.e., todo
conjunto construtvel) o chamado axioma da construtividade. A classe L mo-
delo de ZF e do axioma da construtividade. Alm disso, trabalhando em ZF podemos
mostrar que V L implica o axioma da escolha e a hiptese generalizada do cont-
nuo. Foi justamente para mostrar a consistncia desses dois ltimos enunciados com
vrios sistemas de teoria dos conjuntos que Gdel desenvolveu, nos anos 30 do s-
culo passado, a noo de conjunto construtvel. Como na passagem de L
para L
+1
usamos apenas a parte denvel do conjunto das partes de L
, podemos entender o
universo construtvel como uma restrio da ontologia geral da teoria dos conjuntos
ZF. Formalmente dizemos que L um modelo interno.
Os nmeros so especicados da seguinte maneira:
1)
0
0
2)
+1
= cardinal do conjunto das partes de
3)
sup{
: <} para limite
Essa denio faz sentido em ZFC. Alm disso, a hiptese generalizada do cont-
nuo equivale a dizer que
para todo ordinal .
Quine, em uma rplica a Parsons, escreveu que
Pure mathematics, in my view, is rmly imbedded as an integral part of our sys-
tem of the world. Thus my view of pure mathematics is oriented strictly to appli-
cation in empirical science. Parsons has remarked, against this attitude, that pure
mathematics extravagantly exceeds the needs of application. It does indeed, but
I see these excesses as a simplistic matter of rounding out. We have a modest ex-
ample of the process already in the irrational numbers: no measurement could
be too accurate to be accommodated by a[n] [ir]rational number, but we admit
the extras to simplify our computations and generalizations. Higher set theory
is more of the same. I recognize indenumerable innites only because they are
forced on me by the simplest known systematizations of more welcome matters.
Magnitudes in excess of such demands, e.g.,
or inaccessible numbers, I look
upon only as mathematical recreation and without ontological rights. Sets that
are compatible with V L in the sense of Gdels monograph afford a conve-
nient cut-off. (Quine 1986, p. 400)
Essa passagem mostra que Quine, em um certo sentido, aceita a teoria ZF+V L
e, no entanto, nega direitos ontolgicos a
cuja existncia pode ser demonstrada
nessa teoria. a esse conito entre Ontologia e Lgica (notado, por exemplo, por Pe-
nelope Maddy emseu Naturalismin Mathematics, p. 106), que o ttulo deste trabalho
se refere. Tal conito, considerado em si mesmo, torna a posio de Quine menos
plausvel. Para superar esta queda de plausibilidade, deveramos apresentar um qua-
dro terico que pudesse acomodar, sistematicamente, a atitude de subordinar a con-
cesso de direitos ontolgicos participao nos domnios da matemtica aplicada.
Um Conito entre Ontologia e Lgica 163
O naturalismo quineano simplesmente decreta esta subordinao, mas, por si s no
a acomoda de forma sistemtica. Sugeriremos, a seguir, um caminho para enfrentar
este problema.
Seja T uma teoria de primeira ordem. Se T possui um modelo innito, ento T
no categrica. Assim, ZFC e ZF+V L, se consistentes, no so categricas. Entre-
tanto, acreditamos, nos domnios da matemtica aplicada tudo se passa como se ZFC
e ZF+V L fossemcategricas. A existncia de modelos no isomorfos dessas teorias
no se manifesta nas aplicaes. Muito diferente, por exemplo, a situao da teoria
dos grupos. Nessas condies diramos que ZFC e ZF+V L so pragmaticamente
categricas.
Se T uma teoria pragmaticamente categrica e M um modelo de T que de
algum modo aparece nas aplicaes, dizemos que, a menos de isomorsmo, M o
modelo pragmtico de T. Dentre os elementos do universo de M chamemos de reais
aqueles que aparecem nas aplicaes e de ideais os restantes. Essa diviso dos obje-
tos do domnio de M emreais e ideais, claro, relativa s aplicaes da teoria T feitas
em um certo perodo de tempo. Para evitar esta dependncia temporal explcita, po-
deramos relativizar a diviso a uma dada teoria cientca, ou, mais precisamente, a
uma dada formulao de uma dada teoria cientca. Assim, sendo, por exemplo, T a
teoria ZF+V L e sendo o domnio M o universo construtvel L (falemos de modelo,
aqui, num sentido menos estrito, que engloba classes prprias) diramos que esse ou
aquele elemento de L real ou ideal comrespeito, por exemplo, mecnica quntica,
tal como formulada por Mackey emseu livro Mathematical Foundations of Quantum
Mechanics.
Um dos aspectos estranhos da negao quineana de direitos ontolgicos a
ela estar, em parte, baseada,como mostra a citao acima, em consideraes sobre
cardinalidade. Isso estranho porque a noo de cardinalidade no absoluta, mas
esse aspecto deixa de ser relevante quando passamos a trabalhar com algo que ,
essencialmente, o modelo pragmtico de ZF+V L.
Em ZF+V=L a cardinalidade do conjunto dos nmeros reais
1
. O conjunto dos
nmeros reais, claro, aparece nas formulaes usuais de vrias teorias cientcas im-
portantes ( irrelevante, para os nossos propsitos, que as necessidades matemticas
dessas teorias cientcas possam ser atendidas por teorias formais bem mais fracas
que ZFC). Assim,
1
seria umelemento real de L comrespeito a tais formulaes des-
sas teorias cientcas. J
(isto , , visto que em L vale a hiptese generalizada
do contnuo) por no aparecer, tanto quanto saibamos, nas formulaes usuais de
teorias cientcas importantes, seria um elemento ideal de L relativamente a essas
formulaes.
Por m, dado o universo de um modelo, os elementos desse universo que fossem
reais com respeito a alguma formulao usual de teoria cientca relevante, teriam
direitos ontolgicos, os demais no. Esse um esboo de sistematizao da posio
quineana. Com certeza ele insuciente para explicar de modo satisfatrio essa po-
sio. A acomodao sistemtica a que nos referimos acima seguramente no nele
164 Antnio Mariano Nogueira Coelho
alcanaada. H, contudo, uma perspectiva de detalhar substancialmente esse esboo,
por meio do uso da noo de verdade pragmtica, cujas aplicaes losoa da cin-
cia vm sendo desenvolvidas nos ltimos anos por Newton C. A. da Costa, Steven
French e Otvio A. S. Bueno (ver, por exemplo, Oconhecimento cientco, de da Costa,
Science and Partial Truth: A Unitary Approach to Models and Scientic Reasoning, de
da Costa e French, e The Logic of Pragmatic Truth, de da Costa, Bueno e French.).
A idia seria especicar, rigorosamente, a noo de teoria formal pragmaticamente
categrica, com base na noo de teoria cientca pragmaticamente verdadeira. Ou-
tros aspectos potencialmente relevantes para uma losoa da matemtica aplicada
talvez possam ser estudados sob esse mesmo ponto de vista. Por exemplo, uma teo-
ria formal T seria pragmaticamente completa, relativamente a uma certa formulao
de teoria cientca, precisamente quando para toda sentena S da linguagem de T,
que aparece nessa formulao, tivermos que S teorema de T ou a negao de S
teorema de T.
A prxima etapa no desenvolvimento da pesquisa esboada neste trabalho seria
fazer o detalhamento a que nos referimos acima.
Referncias
da Costa, N. C. A., Bueno, O. e French, S. 1998. The Logic of Pragmatic Truth. Journal of Philo-
sophical Logic 27: 60320.
da Costa, N. C. A. e French, S. 2003. Science and Partial Truth: A Unitary Approach to Models
and Scientic Reasoning. (Oxford Studies in Philosophy of Science). Oxford: Oxford Uni-
versity Press.
da Costa, N. C. A. 1999. O conhecimento cientco. 2
a
ed. So Paulo: Discurso Editorial.
Hahn, L. e Schilpp, P. 1986. The Philosophy of W. V. Quine. Open Court.
Mackey, G. W. 2004[196]. Mathematical Foundations of QuantumMechanics. NewYork: Dover.
Maddy, P. 1997. Naturalism in Mathematics. Oxford: Clarendon Press.
Quine, W. V. 1986. Reply to Parsons. In Hahn e Schilpp 1986, p. 396403.
A CONCEPO DE DEMONSTRAO EM EUCLIDES E HILBERT
BRUNO VAZ
Pontifcia Universidade CatlicaRJ
brunorvaz@yahoo.com.br
Tido ao longo dos sculos como um dos primeiros modelos de sistema dedutivo ri-
goroso, a obra de Euclides representa a primeira tentativa de se sistematizar o conhe-
cimento de geometria com base em um nmero reduzido de proposies das quais
as demais deveriamser deduzidas. No obstante a reputao do mtodo apresentado
nos Elementos, o surgimento das assim chamadas geometrias no-euclidianas, jun-
tamente com as transformaes na matemtica e na lgica durante o sculo XIX e a
reconstruo formal do sistema euclidiano apresentada por Hilbert em ns deste s-
culo, levaram muitos estudiosos a levantar suspeitas quanto ao rigor das demonstra-
es ali presentes. Foram apontadas supostas falhas nas dedues, causadas muitas
vezes pelo recurso a evidncias que s se faziam sensveis mediante a contemplao
dos diagramas utilizados nas provas, no estando explcitas nos axiomas da teoria.
Tais aspectos, vale lembrar, no eram bem vistos numa poca em que a exigncia de
rigor e de explicitao de quaisquer recursos utilizados nas demonstraes estavam
na ordem do dia. A principal fonte das apontadas falhas residia, segundo os crticos,
no uso dos diagramas nas demonstraes.
O objetivo deste trabalho analisar as crticas ao rigor das demonstraes eucli-
dianas, e tentar defend-lo daquelas que talvez no se justicariam se fosse adotado
um ponto de vista mais condizente com os propsitos de Euclides, e menos com a
concepo formal de demonstrao. Para isso, ser feita em um primeiro momento
uma apresentao das principais caractersticas do mtodo euclidiano, bem como
uma anlise das principais crticas que so dirigidas a ele. Ser apresentada em se-
guida o que se julga aqui ser a fonte de muitas destas crticas, a saber, a concepo
formal de demonstrao, de acordo com a qual uma demonstrao consiste em uma
seqncia nita de frmulas tais que cada uma delas seja ouumaxioma ouse siga dos
axiomas por meio de regras vlidas de inferncia. Tal concepo tem suas origens no
formalismo hilbertiano, muito embora Hilbert nunca tenha sustentado que as pro-
vas sintticas fossem as nicas que poderiam ser aceitas como legtimas. Vinculada a
este tpico, a quarta parte desta apresentao ser dedicada a apresentar, em traos
gerais, a reconstruo formal da geometria levada a cabo por Hilbert. Por m, a ttulo
de concluso, ser feita uma comparao entre os mtodos de Hilbert e de Euclides,
a m de ressaltar que as diferenas de paradigma, de objetivos e de mtodos entre
ambos tornam inadequada uma equiparao de seus trabalhos.
1. OMtodo Euclidiano
De acordo com a interpretao de Beppo Levi, o objetivo de Euclides era fundar o
edifcio da geometria sobre bases evidentes e pouco numerosas, provenientes mais
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 165172.
166 Bruno Vaz
da anlise racional do assunto que propriamente de artifcios empricos ou instru-
mentais. A nalidade de tal mtodo seria escapar de armadilhas s quais o mtodo
emprico de se fazer geometria poderia levar. Isto, no entanto, observa Levi, algo
que se deduz do conjunto da obra e do contexto no qual ela se insere, uma vez que
no se vem explicitados, em nenhum lugar no texto euclidiano, princpios diretores
ou objetivos da obra (Levi 2001, p. 89).
Os princpios a partir dos quais sero efetuadas as demonstraes das proposi-
es dos Elementos so as denies, os postulados e as noes comuns. Na edio
usual do texto euclidiano (Heath 1956), so apresentadas primeiramente denies,
que explicitamo modo como sero considerados os objetos a seremestudados, e que
reaparecem no comeo dos livros conforme surge a necessidade de se falar de novos
objetos. Elas caracterizamos elementos fundamentais da geometria tais como ponto,
linha, reta, superfcie, e assimpor diante. Temos como exemplos de denies: Def. 1:
Ponto aquilo que no tem partes; Def. 20: Das guras de trs lados, um tringulo
equiltero aquela que possui seus trs lados iguais, um tringulo issceles a que
possui dois de seus lados iguais, e um tringulo escaleno a que possui todos os la-
dos desiguais. O primeiro tipo de denio, bem como muitos outros que aparecem
nos Elementos, como observa Lisa Shabel, tm sido considerados inteis e de carter
no-matemtico (Shabel 2003, p. 13). Todavia, preciso lembrar que, ao contrrio do
que acontece na reconstruo formal da geometria, Euclides no fornece umsistema
desinterpretado, cujos termos fundamentais so denidos pelo contexto de interpre-
tao em que se inserem. Deste modo, no se pode alegar que as denies de Eu-
clides so inteis sem antes procurar ver o motivo que leva Euclides a formul-las tal
como ele o faz.
De acordo com a interpretao de Shabel, as denies apontam para outros ter-
mos fundamentais, tais como parte e todo, que so usados para denir, de fato, estes
termos que uma interpretao apressada e inuenciada pela concepo formal de
demonstrao tomaria como primitivos. Este ponto de vista ser fundamental, como
severadiante, parasalvaguardar ousodas gurasnasdemonstraesdosElementos.
No Livro I, depois das denies, so enunciados em sua totalidade os cinco pos-
tulados. Estes formamas bases para as construes posteriores embora nada indi-
que que eles possuam algum tipo de primazia sobre as denies e noes comuns.
Os cinco postulados so os seguintes: Post. 1: Traar uma linha reta de um ponto
qualquer ao outro ponto qualquer; Post. 2: Prolongar continuamente uma linha
reta a partir de uma linha reta nita dada; Post. 3: Descrever um crculo a partir
de um ponto qualquer e com qualquer raio; Post. 4: Que todos os ngulos retos so
iguais; Post 5: Que, se uma linha reta que corta outras duas linhas retas faz com
estas ngulos internos do mesmo lado menores que dois retos, estas duas retas, se
prolongadas continuamente, se encontraro no lado cujos ngulos tm soma menor
que dois retos. Estes postulados devem ser aceitos como evidentes no em virtude
de alguma evidncia emprica, mas sim da evidncia fornecida pela prpria natureza
dos conceitos previamente denidos.
A Concepo de Demonstrao em Euclides e Hilbert 167
Como se pode perceber, h uma disparidade entre alguns postulados com rela-
o ao modo como so enunciados. V-se que alguns so formulados como coman-
dos, ordens, e outros possuem um carter descritivo, explanatrio. Estas diferenas
se fazem notar tambm nas proposies demonstradas a partir deles. Aquelas que
se assemelham a comandos so chamadas problemas, e as proposies descritivas
so chamadas teoremas. A primeira proposio do primeiro livro um exemplo de
problema (Prop. I,1: Construir um tringulo eqiltero sobre uma linha reta nita
dada); e a sexta proposio do mesmo livro um exemplo de teorema (Prop. I,6: Se
em um tringulo dois ngulos so iguais entre si, ento os lados opostos aos ngulos
iguais tambm sero iguais entre si).
Os trs primeiros postulados so de carter prescritivo, e garantem as operaes
que so admitidas como vlidas nas demonstraes. Os dois postulados restantes,
objeto de polmicas entre os comentadores, so descritivos, e parecem fornecer uma
espcie de parmetro para as construes efetuadas. O postulado 4 muitas vezes
tido como ilegtimo, e no raro v-lo equiparado s noes comuns. No entanto,
uma interpretao mais cuidadosa revela que ali talvez esteja expressa uma unidade
de medida, bem como uma garantia de que os ngulos formados por retas perpendi-
culares no variam.
Depois das denies e dos postulados, so elencadas as noes comuns, que se
ocupam basicamente da noo de identidade, bem como da relao parte/todo en-
tre os objetos da geometria. Estas tambm devem ser aceitas sem demonstrao, e
sua evidncia ainda mais basilar que a dos postulados. Deve-se tomar cuidado, en-
tretanto, para no consider-las como sendo os axiomas da teoria, no sentido aris-
totlico do termo (ou seja, como princpios comuns a todas as cincias), uma vez
que elas devemser interpretadas no contexto particular emque so apresentadas, ou
seja, em conjuno com as denies e os postulados, bem como devem estar pre-
sentes quando se trata de recorrer aos diagramas para se chegar a um determinado
resultado. De outro modo, corre-se o risco de interpretar erroneamente o texto eucli-
diano (Shabel 2003, p. 21). a noo comumque diz que Otodo maior que a parte
(N.C.5) que garante que um ngulo que somado a outro resulta um terceiro menor
que este, por ser parte prpria dele; ou, utilizando-se o diagrama, que umngulo que
esteja contido em outro menor que este.
a partir das denies, postulados e noes comuns que se demonstrar as de-
mais proposies dos Elementos, os teoremas e os problemas. Como ocorre com os
postulados, aqui h uma diviso entre proposies prescritivas (problemas) e propo-
sies descritivas (teoremas). As demonstraes so construes (talvez se utilizando
de rgua e compasso, ou apenas cordas) feitas a partir do que permitido pelos pos-
tulados ou por outras proposies j demonstradas na teoria.
A demonstrao da primeira proposio do primeiro livro (Prop. I,1: Construir
um tringulo eqiltero a partir de uma linha reta nita dada) d-se do seguinte
modo. Dado o segmento de reta AB, o primeiro passo descrever um crculo com
centro em A e raio AB, com base no que permite o postulado 3. Do mesmo modo, o
168 Bruno Vaz
passo seguinte descrever outro crculo, de igual raio, mas agora com centro em B.
Denominando-se o ponto de interseco deste dois crculos C, pede-se que se trace
duas linhas retas, ligando primeiramente C a A, e em seguida a B, de acordo com o
postulado 1. Como, de acordo com a denio I,15 todos os pontos da circunferncia
de um crculo eqidistam do seu centro, pode-se concluir que AC igual a AB, e, do
mesmo modo, BC igual a AB. Pela primeira noo comum, sabe-se que coisas que
so iguais a uma terceira so iguais entre si, e conclui-se, portanto, que AB, AC e BC
so iguais entre si. Assim, de acordo com a denio 20 acima exposta, que diz que
um tringulo eqiltero possui todos seus lados iguais entre si, a construo reque-
rida foi efetuada.
Como se ver no que segue, as demonstraes presentes no texto euclidiano so
mais simples, embora mais intuitivas, que aquelas que sero vistas emHilbert. Como
se pretende mostrar, isto se deve mais a questes contextuais e histricas do que a
uma suposta falta de rigor por parte de Euclides.
2. Crticas ao Mtodo Euclidiano
No obstante a reputao alcanada pelo mtodo euclidiano, muitas so as crticas
que ele recebeu desde os primeiros comentadores. Com as transformaes ocorridas
na lgica e na matemtica do sculo XIX, contudo, as crticas se tornaram mais se-
veras. A exigncia de que num sistema axiomatizado toda inferncia fosse justicada
com base em assunes explcitas nos axiomas fez com que muitas das demonstra-
es dos elementos tivessem sua legitimidade questionada. No que segue sero ex-
postos alguns dos casos mais conhecidos
A primeira proposio do primeiro livro, que pede que se construa um tringulo
a partir de uma linha reta nita dada, j contm, segundo os crticos, uma falha. Nada
garante, dizem eles, que os crculos traados a partir das extremidades da linha dada
se encontrem no ponto onde o diagrama sugere que eles se encontram. H de se res-
saltar, todavia, que neste livro Euclides se restringe geometria plana, o que por si
s garante que a interseco das linhas existe (o problema da continuidade da linha,
vale lembrar, no constitua uma preocupao poca de Euclides). Alm do mais, a
denio I.3, que diz que as extremidades de uma linha so pontos, garante que a li-
nha formada a partir da interseco dos crculos comea (ou termina) em um ponto;
e este justamente o referido ponto de interseco.
Mais complicado, no entanto, o caso da proposio I.4, conhecida como o pri-
meiro critrio de identidade de tringulos (ou lado-ngulo-lado). As crticas diri-
gem-se geralmente a um suposto recurso ao transporte rgido de um tringulo sobre
o outro a m de provar congruncia. Cabe lembrar que o transporte rgido ou o m-
todo de superposio seriamsiminjusticveis combase no que permitemos postu-
lados, denies e noes comuns. No entanto, uma anlise mais cuidadosa revelar
que existem problemas na demonstrao, embora eles no estejam relacionados ao
suposto uso de tais mtodos.
A Concepo de Demonstrao em Euclides e Hilbert 169
Oteorema emquesto diz que sempre que dois tringulos tiveremdois lados con-
gruentes, e os ngulos compreendidos entre eles tambm congruentes, ento os tri-
ngulos sero congruentes. Para prov-lo, necessrio que se prove a congruncia
dos lados no mencionados, bemcomo dos dois ngulos remanescentes emcada tri-
ngulo, e por ma congruncia dos dois tringulos como umtodo. Para isso Euclides
pede que se aplique umtringulo sobre o outro de modo que suas partes congruen-
tes coincidam, para ento averiguar se o restante de cada tringulo tambm coin-
cidente com o outro. Ora, at aqui no h realmente um problema, uma vez que os
postulados e as proposies j demonstradas permitem que se construam retas, cr-
culos, e tringulos. Isto permitiria, inclusive, que se construsse um tringulo sobre
o outro (a m de, com recurso legtimo s informaes fornecidas pelo diagrama, se
possa ver se um parte do outro, ouse so da mesma magnitude). Oproblema apenas
surge porque a operao requer que se construa tambm um ngulo sobre o ngulo
dado, e isto, at a proposio I.23, no ainda permitido.
A maior parte das crticas que so dirigidas s demonstraes euclidianas refere-
se ao seguinte: os axiomas no so exaustivos comrelao ao estabelecimento do que
lcito de ser usado nas demonstraes, deixando falhas que so compensadas pelo
recurso evidncia visual fornecida pela gura. H, deste ponto de vista, dois aspec-
tos condenveis nas demonstraes de Euclides: por umlado o uso de assunes no
explcitas (Greenberg 1972, p.57), e por outro o uso de guras como auxiliares nos
procedimentos de prova (Efmov 1984, p. 12).
preciso ter em mente, no entanto, que os propsitos e mtodos utilizados por
ele na sua obra podemdiferir do que seria conveniente nos dias de hoje. Emnenhum
lugar armado que o recurso s guras deve ser evitado; e, uma vez que se compre-
ende isso, se pode ver que muitas das assunes no-explicitadas na verdade esto
explcitas nos prprios diagramas! Com isso se poderia ver que as alegadas falhas no
mtodo euclidiano so de nmero bem menor do que se costuma supor. A falta de
rigor, luz desta interpretao esclarecedora encontrada na referida obra de Shabel,
parece assim ser uma alegao improcedente. Se a obra for vista na sua totalidade,
com a devida nfase a todos seus elementos por vezes negligenciados (denies,
noes comuns e diagramas), ver-se- tambm que se trata de demonstraes su-
cientemente rigorosas para os objetivos a que se prope.
As crticas a Euclides parecem se originar de uma concepo de demonstrao
que surge apenas num contexto de fundamentao das teorias matemticas, no qual
a exigncia por rigor se fazia cada vez mais presente. De acordo com a concepo
formal de demonstrao, uma demonstrao genuna uma seqncia de frmulas
logicamente estruturada, a partir de certos princpios explicitados de antemo. Uma
demonstrao, de acordo com esta concepo, deve ser formalizvel, checvel e con-
vincente.
Salvo talvez pelo primeiro item, no se pode dizer que as demonstraes de Eu-
clides no atendamestes requisitos: so perfeitamente convincentes (at mesmo por
valerem-se de mtodos mais diretos), checveis, e em algum sentido tambm pas-
170 Bruno Vaz
sveis de formalizao (num sentido amplo do termo, uma vez que os diagramas no
so instncias, mas sim representaes da forma dos objetos de estudo).
A seguir ser apresentada a reconstruo da geometria euclidiana levada a cabo
por Hilbert, paraque, nalmente, sepossacomparar seusmtodoscomosdeEuclides.
3. A Reconstruo Formal da Geometria Euclidiana
A concepo de demonstrao acima exposta, que parece ter origens no formalismo
de Hilbert, no defendida por ele emnenhummomento. Comefeito, Hilbert parece
no negar os poderes do mtodo euclidiano no que diz respeito ao convencimento
do leitor. Sua formalizao da geometria no parece pretender se sobrepor aos mto-
dos tradicionais, mas sim apresentar, com o rigor requerido poca, um sistema de
axiomas completo e o mais simples possvel (Hilbert 1980, p. 2).
A m de evitar problemas que parecem surgir da evidncia visual que as guras
fornecem, Hilbert prope que se descarte totalmente o recurso s mesmas no pro-
cesso de demonstrao (embora elas tambm apaream como auxiliares nos Grun-
dlagen der Geometrie), e que se construa as demonstraes de uma maneira pura-
mente sinttica. Em uma reconstruo da geometria nestes moldes, todo recurso
utilizado nas demonstraes deve ter sua contrapartida sinttica claramente expli-
citada.
Assim, na reconstruo formal toda proposio deveria ser traduzida em lingua-
gem formal, e toda demonstrao seria assim uma seqncia de frmulas desinter-
pretadas. O recurso a guras, que em Euclides formava parte do processo de com-
preenso das demonstraes, torna-se ento totalmente vetado, ou pelo menos su-
pruo. A geometria assim transformada em uma estrutura de frmulas tal que pu-
desse se aplicar a qualquer conjunto de entidades que satiszessem os axiomas.
A releitura formal dos Elementos tem como nalidade no propriamente corrigir
Euclides, mas sim garantir a conabilidade de seu mtodo por meio de uma rigoriza-
o do mesmo. neste esprito que ele aponta para a necessidade de uma investiga-
o rigorosa, e de carter axiomtico, a respeito do contedo conceitual das guras
geomtricas as quais no so vistas por ele como instncias particulares, mas sim
como frmulas grcas (Hilbert [1900], p. 1100). A reduo das provas euclidianas
a seqncias de frmulas desinterpretadas no implicava, assim, uma tese acerca da
superioridade das demonstraes de carter puramente sinttico sobre as demons-
traes usuais na prtica matemtica. Tal reduo formava parte de uma estratgia
metodolgica, dirigida a uma meta-teoria, e no prtica matemtica propriamente
dita.
Embora o prprio Hilbert no sustente nenhuma tese a respeito da superioridade
das provas sintticas, mas apenas as utilize como um recurso metodolgico para de-
monstrar a consistncia de um sistema formal, muitas vezes se associa a ele a con-
cepo padro de demonstrao. Tal concepo o levaria a rejeitar como ilegtima
boa parte da prtica matemtica, uma vez que no so comuns na prtica matem-
A Concepo de Demonstrao em Euclides e Hilbert 171
tica provas de tamanho rigor demonstrativo. Como vimos, no entanto, a considerao
das demonstraes como seqncia de signos desprovidos de signicado est rela-
cionada ao estudo de demonstraes no mbito da metamatemtica, embora seja
verdade que ele chegou a cogitar, em princpio, a possibilidade de uma formalizao
completa da teoria.
A estratgia de Hilbert para a releitura dos Elementos inclua uma reinterpretao
das proposies classicadas como problemas em termos de teoremas, o mesmo va-
lendo para os postulados formulados em termos prescritivos. Assim, da proposio
que pedia que se prolongasse uma linha reta a partir de uma linha reta dada, surge
a proposio que arma a existncia do prolongamento da reta (I,1: Para quaisquer
dois pontos A e B, existe uma reta que contm os pontos A e B). Como critrio para
esta atribuio de existncia basta que as notas caractersticas do objeto em questo
no sejam contraditrias.
Uma vez transformadas as proposies da geometria em frmulas que podem se
aplicar a quaisquer objetos que satisfaam os axiomas quer sejam eles os objetos
da geometria ou mesmo mesas, cadeiras ou canecas de cerveja as demonstraes
se daro por meio da passagemde umas frmulas a outras obedecendo determinadas
regras combinatrias. Deste modo, ca garantido que nenhuma proposio poder
ser extrada por algum recurso externo s prprias frmulas j expressas, uma vez
que umas sempre devem se seguir de outras j demonstradas ou ento dos axiomas
da teoria. Em suma, tudo deve ser passvel de ser expresso em uma frmula linear e
constituda por caracteres especiais.
Oprimeiro critrio de igualdade de tringulos, que emEuclides era teorema, pas-
sa a ser postulado. Isto levanta suspeitas quanto s vantagens do mtodo formalista
para a prtica matemtica propriamente dita, uma vez que em Euclides pelo me-
nos foi esboada uma demonstrao para este resultado. Termos como ponto, reta
e plano so tomados como primitivos, e os postulados so reagrupados de um modo
diferente do que acontecia emEuclides. H emHilbert oito postulados de incidncia,
quatro de ordem, cinco de congruncia, umsobre as paralelas e dois de continuidade.
Onmero expressivo de postulados se destina a suprir as evidncias que emEuclides
se faziam notar pela natureza dos conceitos envolvidos, ou mesmo pela evidncia
visual fornecida pelas guras.
Como se v, o que em Euclides era problemtico no solucionado por Hilbert,
uma vez que a proposio em questo simplesmente tomada como aceite sem de-
monstrao. Seus objetivos tambm so sensivelmente diferentes, como se ver a se-
guir.
4. Consideraes Finais
Vale ressaltar que no se est buscando aqui negar a importncia da formalizao
da geometria no desenvolvimento de alguns de seus ramos. Apenas se pretende de-
fender que, no fragmento que ora se analisa, a saber, a geometria plana, ambos os
mtodos so adequados.
172 Bruno Vaz
Enquanto Euclides procurava apresentar de modo sistematizado os objetos da
geometria, a m de evitar os problemas de se proceder empiricamente nesta cincia,
Hilbert procura garantir a conabilidade dos mtodos da geometria clssica via teste
de consistncia. Para isso, prope a formalizao da teoria, o que garante o afasta-
mento de elementos de carter subjetivo, intuitivos, da fundamentao da mesma,
bem como facilita o estudo das demonstraes desde uma perspectiva meta-terica.
Outra diferena jaz na escolha dos termos deixados como primitivos: em Eucli-
des tais termos so parte, todo, extremidade e outros temos similares; em Hilbert os
termos primitivos so do tipo ponto, reta e plano. Em Euclides o recurso aos diagra-
mas forma parte essencial da teoria, ao passo que em Hilbert eles so evitados a todo
custo.
Para nalizar, pode-se formular a diferena bsica entre ambos do seguinte mo-
do: enquanto Hilbert est interessado em meios de fundamentar solidamente a ge-
ometria, Euclides parece pretender apenas apresentar a geometria e seus objetos de
maneira sucinta e rigorosa, mas sem dispensar o que pode ser visto como seu objeto
ou recurso didtico essencial: os diagramas.
Referncias
Efmov, N. V. 1984. Geometra Superior. Moscou: MIR.
Greenberg, M. J. 1972. Euclidean and Non-Euclidean Geometries Development and History.
San Francisco: W. H. Freeman Company.
Heath, T. 1956. Euclid The Thirteen Books of the Elements. New York: Dover.
Hilbert, D. [1900]. From Mathematical Problems. In Ewald, W. From Kant to Hilbert: a Source-
book in the Foundations of Mathematics, vol. II. Oxford: Oxford University Press, 2005.
. 1980. Foundations of Geometry. La Salle, Ilinois: Open Court.
Levi, B. 2001. Leyendo a Euclides. Buenos Aires: Zorzal.
Shabel, L. 2003. Euclid: Mathematics in Kants Critical Philosophy Reections on Mathema-
tical Practice. London and New York: Routledge.
BISSIMULAES PARA LGICAS MODAIS RESTRITAS
CEZAR A. MORTARI
Universidade Federal de Santa Catarina
cmortari@cfh.ufsc.br
1. Introduo
Lgicas modais restritas so obtidas a partir de sistemas usuais por meio de restries
no que diz respeito ao grau modal de frmulas em aplicaes das regras de infern-
cia; por exemplo, o emprego da regra de necessitao ca restrito a frmulas cujo grau
modal seja no mximo um certo nmero natural n. Um modelo para uma lgica res-
trita, no caso geral, uma seqncia U, N,Q, T, R, S, V, n, em que U um universo
de mundos composto de trs subconjuntos dois a dois disjuntos: N, um conjunto
de mundos normais, Q, um conjunto de mundos no-normais, e T, um conjunto de
mundos que atribuem valores arbitrrios a frmulas modalizadas. Como em mode-
los relacionais, R N U uma relao de acessibilidade e, como na semntica de
vizinhanas, S uma funo que atribui a cada mundo no-normal um conjunto de
proposies (entendidas como subconjuntos de U). Finalmente, V uma valorao
e n um nmero natural.
O presente trabalho busca investigar mtodos de construo de modelos (como
unies disjuntas, submodelos gerados etc.) e, emparticular, denir bissimulaes en-
tre modelos para lgicas restritas. Um primeiro obstculo que mesmo uma unio
disjunta de modelos pode no preservar a verdade de uma frmula em mundos
no-normais. Por exemplo, S pode associar a ummundo x Q o conjunto de todos os
mundos em que certa frmula verdadeira. Tomando-se a unio de dois modelos
quaisquer, mesmo com universos disjuntos, o conjunto-verdade de pode incluir
mundos dos dois modelos e pode no pertencer aos conjuntos associados por S
a x. De maneira anloga, submodelos no preservam em geral a verdade de frmulas
modalizadas em mundos no-normais.
Para resolver esse problema, introduzimos uma modicao nas estruturas sub-
jacentes aos modelos, dando um toque relacional semntica de vizinhanas. Pri-
meiro, a relao de acessibilidade R no apenas um subconjunto de N U, mas de
N Q U. Em segundo lugar, S passa a associar a cada x Q no um conjunto de
elementos de P(U), mas um conjunto de conjuntos de mundos acessveis a x. Ou
seja, as proposies necessrias, do ponto de vista de um mundo no-normal x, so
obtidas apenas a partir dos mundos acessveis a x.
Consideraremos neste trabalho apenas estruturas emque no se coloca nenhuma
restrio tanto sobre a relao de acessibilidade R quanto sobre a funo S, cando
portanto no caso mais geral. Demonstramos, em primeiro lugar, que as lgicas res-
tritas [E]
n
, investigadas em trabalho anterior (cf. Mortari 2007) so determinadas pe-
las classes apropriadas de estruturas assim redenidas. Em segundo lugar, denimos
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 173183.
174 Cezar A. Mortari
unies de modelos, submodelos gerados, morsmos e bissimulaes para as lgicas
consideradas, mostrando que essas operaes preservam a verdade modal com res-
peito aos mundos dos modelos.
2. Preliminares
Usaremos uma linguagembsica consistendo emumconjunto de variveis propo-
sicionais, a constante proposicional , e os operadores primitivos e . Os demais
operadores , , , e , bem como a constante , so denidos da maneira usual.
Variveis proposicionais isoladas e so frmulas atmicas. Uma frmula ser
denominada uma frmula bsica sse (i) atmica, ou (ii) para alguma frmula ,
.
Denio 2.1. O grau modal de uma frmula denido como segue:
(i) (p) 0, para toda p ;
(ii) () 0;
(iii) () max[(), ()];
(iv) () () +1.
Uma noo importante para caracterizar lgicas modais restritas a de uma n-
tautologia. Se uma tautologia e () n, para 0 n , dizemos que uma
tautologia de grau n, ou n-tautologia. claro, dizer que uma tautologia de grau
no signica que () seja , pois toda frmula tem um grau modal nito. Assim,
por tautologia de grau queremos apenas signicar uma tautologia de qualquer grau
modal.
Para os propsitos deste artigo, entenderemos por uma lgica um conjunto de
frmulas que inclui o conjunto PL de todas as tautologias (de qualquer grau) e que
fechado sob modus ponens. Obvimente, PL uma lgica.
Uma lgica modal dita clssica restrita se fechada sob a seguinte regra de infe-
rncia:
(RE
n
)
, se uma n-tautologia, para 0 n .
A menor lgica modal restrita [E]
0
, obtida a partir a lgica modal clssica E
restringindo-se RE
n
ao grau 0.
3. Semntica
Denio 3.1. Uma estrutura (frame) F uma sequncia U, N,Q, T, R, S, em que U
umconjunto no-vazio de mundos (ou estados), e N, Q e T so subconjuntos deU,
dois a dois disjuntos, tal que N QT U e N Q /. R uma relao binria em
Bissimulaes para lgicas modais restritas 175
N QU. Agora, para todo x U, seja R
x
{y U : Rxy}, isto , R
x
o conjunto de
todos os mundos acessveis a x. Finalmente, S associa a cada x Q um conjunto de
subconjuntos de R
x
, ou seja, S(x) P(R
x
).
Na denio acima, N um conjunto de mundos normais, Q um conjunto de
mundos no-normais, e T um conjunto de mundos arbitrrios, ou seja, nos quais
uma frmula recebe um valor qualquer.
Por uma valorao V em um conjuntoU entenderemos uma funo do conjunto
de todas as frmulas bsicas em P(U). Note-se que no apenas frmulas atmicas
tm valor em uma valorao, mas tambm frmulas da forma .
Denio 3.2. Seja F U, N,Q, T, R, S uma estrutura. Ento M F, V, n um n-
modelo, em que V uma valorao e 0 n .
Temos a denio usual de verdade em um mundo de um modelo, exceto no
que diz respeito a frmulas modalizadas, onde a verdade de depender de se um
mundo normal, no-normal ou arbitrrio, e tambm do grau modal de :
Denio 3.3. Seja MU, N,Q, T, R, S, V, n um modelo, e x um mundo emM. En-
to:
(a) M, x p sse x V (p), para p ;
(b) M, x ;
(c) M, x sse M, x ou M, x ;
(d) M, x sse para cada y tal que Rxy, M, y , se x N e () n, e
(e) M, x sse ||
M
x
S(x), se x Q e () n, e
(f ) M, x sse x V (), se x T ou () >n.
Na denio acima, ||
M
x
{y R
x
[ M, y }, o conjunto-verdade de com
relao aos mundos emR
x
. Alternativamente, temos: ||
M
x
||
M
R
x
. Quando es-
tiver claro a partir do contexto de que modelo se trata e no houver risco de confuso,
escreveremos simplesmente ||
x
.
Uma frmula verdadeira emumn-modelo sse verdadeira em todo mundo dis-
tinguido do modelo. Para os propsitos deste artigo, estaremos considerando distin-
guidos todos os mundos no-arbitrrios, ou seja, D N Q. Assim:
M sse M, x , para todo x D.
Onde K uma classe de modelos, escrevemos
K
para indicar que vlida
nessa classe (isto , verdadeira em todo modelo da classe).
Demonstramos primeiramente os lemas a seguir:
Lema 3.4. Seja C
n
a classe de todos os n-modelos. Ento:
(i) se uma consequncia tautolgica de
1
, . . . ,
m
(m0), e
C
n
1
, . . . ,
C
n
m
,
ento
C
n
;
176 Cezar A. Mortari
(ii) se uma n-tautologia, ento
C
n
.
Demonstrao. (i) A prova imediata, uma vez que toda tautologia (no importa seu
grau modal) verdadeira em todo mundo de um modelo e modus ponens preserva a
validade.
(ii) Suponhamos que seja uma n-tautologia. Assim, and so tautologica-
mente equivalentes, e, para qualquer n-modelo MemC
n
, e qualquer x no universo
do modelo, ||
M
x
||
M
x
.
Suponhamos que x N. Temos que x sse para todo y tal que Rxy, y sse
(visto que e so tautologicamente equivalentes) para todo y tal que Rxy, y
sse x .
Por outro lado, para todo x Q, ||
M
x
S(x) sse ||
M
x
S(x). Ora, visto que (
) n, M, x iff M, x , do que se segue que
C
n
. (Obviamente, se
() >n poderamos ter que x e x , uma vez que pode ser o caso que
V () /V ().)
Isso mostra imediatamente que [E]
n
correta com respeito classe de todos os
n-modelos, para 0 n .
Demonstramos completude usando modelos cannicos. Onde uma lgica,
seja S
o conjunto de todos os conjuntos maximais consistentes de frmulas em
. Em particular, S
PL
o conjunto de todos os conjuntos maximais consistentes de
frmulas da lgica proposicional clssica. Seja [[
{ S
S
PL
: }. (No
havendo risco de confuso, escreveremos simplesmente [[.)
Denio 3.5. Seja um MCS. Ento:
(a)
n
() {: e () n};
(b) [[
{ S
S
PL
:
n
() e }.
Denio 3.6. Seja uma lgica modal restrita, para algum n, 0 n . Dizemos
que M
, N
,Q
, T
, R
, S
, V
, n um n-modelo cannico para sse satisfaz
as seguintes condies:
(i) U
S
PL
;
(ii) N
{x S
: x};
(iii) Q
{x S
: x};
(iv) T
S
PL
;
(v) R
{, (N
) U
n
() };
(vi) [[
() sse , para todo Q
e toda tal que () n;
(vii) V
() [[
, para toda frmula bsica .
Bissimulaes para lgicas modais restritas 177
Lema 3.7. Seja Mumn-modelo cannico para uma lgica restrita . Ento, para cada
frmula e cada U
, M, sse .
Demonstrao. Por induo em frmulas. Seja algum elemento de U
.
(a) p, para algump . Por denio, p sse V
(p) sse [p[
. Pela deni-
o de [p[
, um conjunto em[p[
iff p .
(b) . Por denio, . E visto que todo elemento de U um conjunto con-
sistente, .
(c) . Por denio, sse ou . Pela hiptese de induo,
sse , e sse . Ora, ou sse . Assim,
sse .
(d) . Temos trs casos:
(i) Suponhamos que () n e que N
. Temos que sse existe algumU
tal que R
e sse (pela hiptese de induo) sse (visto que
n
() )
.
(ii) Suponhamos que () n e que Q
. Por denio, iff ||
M
S
().
Pela hiptese de induo, para todo U temos que sse ; ou seja, ||
M
[[
. Assim, ||
M
S
() sse [[
(). Ora, pela denio de S
, e dado que
() n, [[
() sse . Portanto, sse .
(iii) Suponhamos agora que () > n ou que T
. Por denio, sse
V
() sse [[
sse .
Desse lema segue-se imediatamente que:
Teorema 3.1 (Completude). Para 0 n , se
C
n
ento l
[E]
n
.
Demonstrao. Suponhamos que
[E]
n
. Assim,
[E]
n
, e segue-se que {}
consistente. Podemos facilmente demonstrar (Lema de Lindenbaum) que existe um
[E]
n
-MCS tal que {} , isto , , e . Dado que um [E]
n
-MCS,
um mundo em um n-modelo cannico M
[E]
n
para [E]
n
; em particular, D
[E]
n
. Pelo
lema anterior, M
[E]
n
,
[E]
n
. Assim, existe ummodelo emque falsa, e
C
n
.
imediato que [E]
n
determinada pela classe de todos os n-modelos, 0 n .
4. Unies disjuntas
Nesta seo deniremos a unio disjunta de uma famlia de n-modelos, e mostrare-
mos que a verdade de uma frmula em mundo preservada por essa operao.
Denio 4.1. Sejam M
i
U
i
, N
i
,Q
i
, T
i
, R
i
, S
i
, V
i
, n (i I ) n-modelos tais que os
universos U
i
no tenham elementos em comum. A unio disjunta dos modelos M
i
a estrutura
M
i
U, N,Q, T, R, S, V, n, em que U, N, Q e T so as unies dos
conjuntos U
i
, N
i
, Q
i
e T
i
, respectivamente; R a unio das relaes R
i
; S a unio
dos S
i
; e nalmente, para cada frmula bsica , V ()
_
i I
V
i
().
178 Cezar A. Mortari
Proposio 4.2. Seja M
i
, i I , uma famlia de n-modelos cujos universos sejam dois
a dois disjuntos. Ento, para cada frmula , cada i I , e cada x M
i
, temos que
M
i
, x sse
M
i
, x .
Demonstrao. Seja i algum ndice, x um elemento de M
i
e uma frmula.
(i) p, para alguma varivel p. Ora, M
i
, x p sse x V
i
(p) sse x V (p) (por deni-
o de V ) sse
M
i
, x p.
(ii) . Trivialmente, M
i
, x e
M
i
, x .
(iii) . M
i
, x sse M
i
, x ou M
i
, x sse (hiptese de induo)
M
i
, x ou
M
i
, x sse
M
i
, x .
(iv) . Suponhamos primeiro que () n. Temos trs casos a considerar:
(a) x N
i
. Suponhamos que M
i
, x . Por denio, deve haver algum y U
i
tal
que R
i
xy e M
i
, y . Pela hiptese de induo,
M
i
, y . Pela denio de unio
disjunta, Rxy, logo,
M
i
, x . Suponhamos agora que
M
i
, x para algum x
em M
i
. Ora, deve haver algum y U tal que Rxy e
M
i
, y . Por denio de R,
para algum j I , temos que ter R
j
xy. Dado que os universos so disjuntos, segue-se
que j i . Mas ento y est tambm em M
i
e, pela hiptese de induo, M
i
, y .
Segue-se que M
i
, x .
(b) x Q
i
. Por denio, M
i
, x sse ||
M
i
x
S
i
(x). Pela hiptese de induo, para
cada y em M
i
, M
i
, y sse
M
i
, y . Podemos facilmente demonstrar, pois os
universos dos modelos M
i
so dois a dois disjuntos, que ||
M
i
x
||
M
i
x
; assim,
||
M
i
x
S
i
(x) sse ||
M
i
x
S(x). Portanto, M
i
, x sse
M
i
, x .
(c) x T
i
. Ora, M
i
, x sse x V
i
() sse x V () (por denio de V ) sse
M
i
, x .
Se () >n, a prova como em (c) acima.
5. Homorsmos
Denio 5.1. SejamM U, N,Q, T, R, S, V, n e M
t
U
t
, N
t
,Q
t
, T
t
, R
t
, S
t
, V
t
, n n-
modelos. Um homomorsmo forte f de MemM
t
(notao: f : MM
t
) uma fun-
o de U emU
t
tal que, para cada x U:
(a) x N sse f (x) N
t
;
(b) x Q sse f (x) Q
t
;
(c) x T sse f (x) T
t
;
(d) para cada frmula bsica , x V () sse f (x) V
t
();
(e) para cada y U, Rxy sse R
t
f (x) f (y);
(f ) para cada X U, X S(x) sse f (X) S
t
( f (x)).
Bissimulaes para lgicas modais restritas 179
Naturalmente, f (X) {y
t
U
t
: y
t
f (x), para algum x X}.
Um isomorsmo de MemM
t
um homomorsmo forte bijetivo. Diremos tam-
bmque umhomomorsmo f : MM
t
de imagemfechada sse, para todo x
t
, todo
y
t
emM
t
, se R
t
x
t
y
t
ento existe y emMtal que y
t
f (y). (Note-se que umhomomor-
smo sobrejetivo um caso particular de um homomorsmo de imagem fechada.)
Denio 5.2. Sejam Me M
t
n-modelos, e x e x
t
mundos em Me M
t
, respectiva-
mente. Dizemos que:
(a) x e x
t
so modalmente equivalentes sse {[ M, x } {[ M
t
, x
t
};
(b) Me M
t
so modalmente equivalentes sse {[ M} {[ M
t
}.
Proposio 5.3. SejamMe M
t
n-modelos. Ento:
(1) para cada x U, cada x
t
U
t
, se h umhomomorsmo forte de imagemfechada
f : MM
t
com f (x) x
t
, ento x e x
t
so modalmente equivalentes;
(2) se Me M
t
so isomrcos, ento so modalmente equivalentes.
Demonstrao. (1) Por induo em frmulas.
(i) Se alguma varivel p, ento x p sse x V (p) sse f (x) V
t
(p) sse x
t
V
t
(p) sse
x
t
p.
(ii) Temos tanto x quanto x
t
; logo, x sse x
t
.
(iii) Seja . x sse x ou x sse (hiptese de induo) x
t
ou
x
t
sse x
t
.
(iv) Seja .
(a) Sejam() n e x N. Suponhamos, primeiro, que x . Pela denio de
verdade, h um y tal que Rxy e y . Seja y
t
f (y); pela hiptese de induo, y
t
.
Agora, pela denio de homomorsmo forte, Rxy sse R
t
x
t
y
t
, assim x
t
. Supo-
nhamos agora que x
t
. Segue-se disso que h algum y
t
tal que R
t
x
t
y
t
e y
t
.
Por hiptese, o homomorsmo f de imagem fechada; assim, existe y emMtal que
y
t
f (y). Pela denio de homomorsmo forte, segue-se que Rxy e, pela hiptese
de induo, que y . Em consequncia, x .
(b) Sejam () n e x Q. Temos que x sse ||
x
S(x). Pela hiptese de
induo, os mundos emU eU
t
relacionados por f so modalmente equivalentes com
respeito a , assim, para cada y, y ||
x
sse y
t
f (||
x
). Uma vez que (denio de
homomorsmo), para cada X U, X S(x) sse f (X) S
t
( f (x)), temos que ||
x
S(x)
sse f (||
x
) S
t
(x
t
). Precisamos mostrar que f (||
x
) ||
x
t .
Suponhamos que z
t
f (||
x
). Ento h z U tal que f (z) z
t
, Rxz e z . Pela
hiptese de induo, z
t
e, pela denio de homomorsmo forte, R
t
x
t
z
t
, do que
se segue que z
t
||
x
t .
Suponhamos agora que z
t
||
x
t . Ento z
t
e R
t
x
t
z
t
. Como f de imagem
fechada e x
t
I m( f ), z
t
I m( f ) e, assim, existe z U tal que f (z) z
t
. Pela denio
de homomorsmo forte, Rxz e, pela hiptese de induo, z . Segue-se que z
||
x
, logo, z
t
f (||
x
).
180 Cezar A. Mortari
Assim, f (||
x
) ||
x
t e x sse x
t
.
(c) Seja () > n ou x T. Temos que x sse x V (). Por denio, x
V () sse x
t
V
t
() sse x
t
.
(2) Segue-se de (1).
Se o homomorsmo no for de imagem fechada, as coisas no funcionaro com
mundos no-normais, pois poderamos ter mundos acessveis a x
t
em que verda-
deira, mas que no so imagem de nenhum mundo emM.
Denio 5.4. SejamM U, N,Q, T, R, S, V, n e M
t
U
t
, N
t
,Q
t
, T
t
, R
t
, S
t
, V
t
, n n-
modelos. Um morsmo limitado f de Mem M
t
uma funo de U em U
t
tal que,
para cada x U:
(a) se x N ento f (x) N
t
;
(b) se x Q ento f (x) Q
t
;
(c) se x T ento f (x) T
t
;
(d) para cada frmula bsica , x V () sse f (x) V
t
();
(e) para cada y U, se Rxy ento R
t
f (x) f (y);
(f ) para cada y
t
U
t
, se R
t
f (x)y
t
ento h y U tal que Rxy e f (y) y
t
;
(g) para cada X U, se X S(x) ento f (X) S
t
( f (x));
(h) para cada Y
t
U
t
, se Y
t
S
t
( f (x)) ento h um Y U tal que Y S(x) e f (Y )
Y
t
.
Proposio 5.5. SejamMe M
t
dois n-modelos tal que f : MM
t
seja um morsmo
limitado de imagemfechada. Ento, para cada x in M, x e f (x) so modalmente equi-
valentes.
Demonstrao. Por induo emfrmulas. Consideraremos apenas o caso emque
.
(a) Sejam () n e x N. Se x , h algum y tal que Rxy e y . Pela
hiptese de induo, f (x) . Ora (denio de morsmo limitado), se Rxy ento
R
t
f (x) f (y), assim, f (x) .
Suponhamos agora que f (x) , ento h y
t
tal que R
t
f (x)y
t
e y
t
. Ora (de-
nio de morsmo limitado), se R
t
f (x)y
t
ento h um y U tal que Rxy e f (y) y
t
.
Pela hiptese de induo, f (y) sse y , logo, x .
(b) Sejam () n e x Q. Suponhamos que x ; ento ||
x
S(x). Pela
denio de morsmo limitado, se ||
x
S(x) ento f (||
x
) S
t
( f (x)). Precisamos
mostrar que ||
f (x)
f (||
x
).
Suponhamos que z
t
f (||
x
). Ento h z U tal que f (z) z
t
, Rxz e z . Pela
hiptese de induo, z
t
e, pela denio de morsmo limitado, R
t
f (x) f (z), do
que se segue que z
t
||
f (x)
.
Bissimulaes para lgicas modais restritas 181
Suponhamos agora que z
t
||
f (x)
. Ento z
t
e R
t
f (x)z
t
. Pela denio de
morsmo limitado, h z U tal que Rxz e f (z) z
t
. Pela hiptese de induo, z .
Segue-se que z ||
x
, logo, z
t
f (||
x
).
Para a outra direo, suponhamos agora que f (x) ; ento ||
f (x)
S
t
( f (x)).
Pela denio de morsmo limitado, h um Y U tal que Y S(x) e f (Y ) ||
f (x)
.
Precisamos mostar que Y ||
x
.
Seja z ||
x
. Ento Rxz, z e, pela denio de morsmo limitado, temos
que R
t
f (x) f (z). Pela hiptese de induo, z sse f (z) . Assim, f (z) f (||
x
) e
z Y .
Suponhamos agora que z Y . Ento f (z) ||
f (x)
, R
t
f (x) f (z), f (z) . Pela
hiptese de induo, z . Pela denio de morsmo limitado, Rxz. Assim, z
||
x
.
Portanto, Y ||
x
. Visto que Y S(x), x .
(c) Sejam () > n ou x T. Temos que x sse x V (). Por denio,
x V () sse f (x) V
t
() sse f (x) .
6. Bissimulaes
Nesta ltima seo, deniremos bissimulaes entre modelos, e mostraremos que
modelos bissimilares so modalmente equivalentes, ainda que, por exemplo, possam
no ser isomrcos.
Denio 6.1. Sejam M U, N,Q, T, R, S, V, n e M
t
U
t
, N
t
,Q
t
, T
t
, R
t
, S
t
, V
t
, n n-
modelos. Z U U
t
uma bissimulao entre Me M
t
se, para todo x U, x
t
U
t
:
(a) se x N e Zxx
t
ento x
t
N
t
;
(b) se x Q e Zxx
t
ento x
t
Q
t
;
(c) se x T e Zxx
t
ento x
t
T
t
;
(d) para toda frmula bsica , se Zxx
t
ento x V () sse x
t
V
t
();
(e) se Zxx
t
e Rxy ento h y
t
U
t
tal que Zy y
t
e R
t
x
t
y
t
;
(f ) se Zxx
t
e R
t
x
t
y
t
ento h y U tal que Zy y
t
e Rxy;
(g) para cada X U, se X S(x) e Zxx
t
, ento Z(X) S
t
(x
t
) (em que Z(X) {y
t
U
t
: para algum x X, Zxy});
(h) para cada X
t
U
t
, se Zxx
t
e X
t
S
t
(x
t
) ento h X U tal que X S(x) e
Z
(X
t
) X (em que Z
(X
t
) {x U : para algum y
t
X
t
, Zxy}).
Proposio 6.2. SejamMe M
t
dois n-modelos. Ento, para cada x U e cada x
t
U
t
,
se x e x
t
so bissimilares ento so modalmente equivalentes.
Demonstrao. Prova por induo em. Se alguma varivel p, a prova imedia-
ta pela clusula (d) da denio de bissimulao. Casos booleanos seguem-se pela
hiptese de induo. Seja ento .
182 Cezar A. Mortari
(a) () n e x N. Suponhamos que x , ento h algum y tal que Rxy e y .
Uma vez que Zxx
t
, h (pela denio de bissimulao) y
t
U
t
tal que Zy y
t
e R
t
x
t
y
t
.
Pela hiptese de induo, y
t
e, uma vez que R
t
x
t
y
t
, segue-se que x
t
.
Suponhamos agora que x
t
, ento h y
t
tal que R
t
x
t
y
t
e y
t
. Ora (denio
de bissimulao), visto que Zxx
t
, h algum y U tal que Zy y
t
e Rxy. Pela hiptese
de induo, y ; logo, x .
(b) () n e x Q. Suponhamos que x ; ento ||
x
S(x). Pela denio de
bissimulao, se ||
x
S(x) ento Z(||
x
) S
t
(x
t
). Precisamos mostrar que ||
x
t
Z(||
x
).
Se y
t
||
x
t , y
t
e R
t
x
t
y
t
. Uma vez que Zxx
t
, h (item (f ) da denio de bis-
simulao) um y U tal que Rxy e Zy y
t
. Visto que y
t
, pela hiptese de induo
temos que y e y ||
x
. Como Zy y
t
, y
t
Z(||
x
).
Suponhamos que y
t
Z(||
x
). Pela denio de estrutura, se Z(||
x
) S
t
(x
t
)
ento R
t
x
t
y
t
. Temos tambm que Zy y
t
, para algum y ||
x
. Ento y , e, pela
hiptese de induo, y
t
. Logo, y
t
||
x
t .
Assim, ||
x
t Z(||
x
) e, como ||
x
t S
t
(x
t
), x
t
.
Suponhamos agora que x
t
; ento ||
x
t S
t
(x
t
). Pela condio (h) da deni-
o de bissimulao, h X U tal que X S(x) e Z
(||
x
t ) X. Precisamos mostrar
que X ||
x
.
Suponhamos que y ||
x
. Assim, Rxy e y . Uma vez que Zxx
t
, pela clusula
(e) da denio de bissimulao h y
t
U
t
tal que Zy y
t
e R
t
x
t
y
t
. Assim, y
t
e
y
t
||
x
t . Mas ento y Z
(||
x
t ), y X.
Suponhamos agora que y X, isto , y Z
(||
x
t ). Por construo, temos que
h algum y
t
||
x
t tal que Zy y
t
, e, claro, R
t
x
t
y
t
. Mas ento y
t
e, pela hiptese
de induo, y . Pela denio de estrutura, se X S(x) ento Rxy. Nesse caso,
segue-se que y ||
x
.
Finalmente, temos ento que ||
x
S(x) e que x .
(c) () >n ou x T. Temos que x sse x V (). Por denio, se Zxx
t
, ento
x V () sse x
t
V
t
() sse x
t
.
Para um exemplo de modelos que so bissimilares (mas no isomrcos), consi-
deremos a gura a seguir (adaptada de Blackburn et al. 2001):
M
1
N
1
..
Q
1
..
T
1
..
t -
p
0
t -
q
1
t
@
@
@R
p
2
t -
4
t
p
5
t
q
3
q
M
2
t
p
a
@
@
@R
t
q
c
t
q
b
@
@
@R
t
p
d
-t
q
e
-t
p
f
N
2
..
Q
2
..
T
2
..
Bissimulaes para lgicas modais restritas 183
Temos aqui um modelo M
1
N
1
,Q
1
, T
1
, R
1
, S
1
, V
1
e um modelo M
2
N
2
,Q
2
,
T
2
, R
2
, S
2
, V
2
. As relaes de acessibilidade so indicadas pelas setas no diagrama.
As valoraes so tais que p verdadeira em alguns mundos e q em outros, o que
tambm est indicado na gura. Finalmente, digamos que S
1
(2) {{3, 4}} e S
1
(3)
S
1
(4) , e que S
2
(d) {{e}} e S
2
(e) .
Consideremos agora a seguinte relao Z entre os universos dos dois modelos:
Z
_
0, a, 1, b, 1, c, 2, d, 3, e, 4, e, 5, f
_
.
Podemos facilmente ver que Z satisfaz os requisitos da denio 6.1 e uma
bissimulao; assim, os mundos nos dois modelos so modalmente equivalentes
mesmo que, por exemplo, o nmero de mundos normais e no-normais seja dife-
rente.
Referncias
Blackburn, P.; de Rijke, M; Venema, Y. 2001. Modal Logic. Cambridge: Cambridge University
Press.
Mortari, C. A. 2007. Restricted Classical Modal Logics. Logic Journal of the IGPL 15(56): 741
57.
A PROPOSITIONAL VERSION OF THE LOGIC OF THE PLAUSIBLE
HRCULES DE ARAUJO FEITOSA
MAURI CUNHA DO NASCIMENTO
MARIA CLAUDIA CABRINI GRCIO
So Paulo State University - UNESP
haf@fc.unesp.br
Introduction
The Logic of the Plausible is a particularization of Modulated Logics. In its syntactical
context, each Modulated Logic is characterized by the inclusion of a new quantier
that is not expressible from the usual rst-order quantiers (universal and existen-
tial), but that formalizes some quantier from natural language. In the semantic con-
text, this new quantier is interpreted by an extension of the rst-order structure, in
order to contemplates characteristics of that quantier in natural language.
As particular case, the Logic of the Plausible is destined to represent propositions
of the type for a signicant part. These propositions can be considered as expressing
a type of inductive statement, the plausible statements, based onfavorable evidences.
For this purpose, the quantier P is introduced in the rst-order language, such that
a sentence Px(x) means for a signicant part of x, holds (x) or there is suf-
cient x such that (x). The quantier P is interpreted into a pseudo-topological
space which is a derived concept from the usual denition of topological space. Gr-
cio (1999) argues that this mathematical structure captures the plausibility notion.
This paper introduces a new modal propositional logic interpreted into an alge-
braic model that extents a Boolean algebra with a new modal operator associated to
the pseudo-topological spaces. We use as model the same mathematical structure of
the Logic of Plausible, but nowa modal operator instead of a generalized quantier is
caracterized by that structure.
Thus, we introduce the Propositional Logic of the Plausible, denoted by L(),
whose extends the Classical Propositional Logic.
1. The logic of the plausible
In this system, the expression for a signicant part of means that there is a set with
enough favorable evidences, but this set is not necessarily large. It is considered that
this type of sentence represents plausible statements from a knowledge base.
Grcio (1999) considered that any sentence for a signicant part of x, (x)
should be equivalent to (x) is ubiquitous, meaning that it is possible to nd ele-
ments satisfying in almost everywhere, although the set of evidences is not large in
relation to the universe.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 184195.
A propositional version of the logic of the plausible 185
As an example, in the set of real numbers, R, let R(x) be the unary predicative
symbol standing for x is a rational number. It is possible to assert that a signicant
part of real numbers has the property R, that is, R(x) is true for a signicant part of
real numbers or, equivalently, that rational numbers are ubiquitous in R, since in
any open neighborhood of a real number we always nd rational numbers. However,
the set of rational numbers is not large (concerning the cardinality of R). This ubiquity
notion suggests the formalization of plausibility.
The plausible sentences generated by statements of the type for a signicant part
of x, (x) do not require the notion of a large set of evidences, however they provide
a set of statements that are inferred from the set of evidences and it composes the
knowledge base for next decision takings.
This way, independent of the adopted parameter of largeness and regardless the
certainty degree that we have about some statements, there is a collection fromwhich
we perform the inferences, taking into account just favorable experiences or evi-
dences and which we call plausible sentences.
On the one hand, those statements express a more vague form of inductive rea-
soning. On the other hand, we can consider that sentences of this kind sufcient
x such that (x) represent assertions closer to those used in statistical inferences
where the set of evidences (sample) is considered sufcient to establish the inference,
although this set is not necessarily large relative to the universe.
So, the plausible concept is not related to the cardinality of the set of evidences
(conrmation), but it is associated to the sufciency notion attributed to the state-
ment, provided by the amount of evidence that the context shows us satisfactory for
the query.
For example, based on naive looking, we can state the following plausible sen-
tences about human beings: a signicant part of people likes owers; a signicant
part of people likes coffee; a signicant part of people likes sport a signicant part
of people does not like wars. Based on this set of statements, we can deduce that a
signicant part of people likes owers or likes coffee; or still that a signicant part
of people likes coffee, likes sports and does not like wars.
Let L be the rst-order classical logic with equality. Logic of the Plausible, L(P),
is constituted fromL in the following way.
The axioms of L(P) are all those of L augmented by the following axioms for the
new quantier P, the quantier of the plausible:
(A
1
) (Px(x) Px(x)) Px((x) (x))
(A
2
) (Px(x) Px(x)) Px((x) (x))
(A
3
) x(x) Px(x)
(A
4
) Px(x) x(x)
(A
5
) (x)((x) (x)) (Px(x) Px(x))
(A
6
) Px(x) Py(y), when y is free for x in (x).
186 H. A. Feitosa, M. C. do Nascimento, M. C. Cabrini Grcio
The axioms A
1
to A
4
are specic of Logic of the Plausible and the other two axioms
have only the role of making possible the logical adequacy with the correspondent
model.
Intuitively, these axioms assert the following:
(A
1
) If is plausible and is plausible, then is plausible;
(A
2
) If is plausible and is plausible, then is plausible;
(A
3
) If is valid for every element of the universe, then is plausible;
(A
4
) If is plausible, there is some element in the universe that satises .
The deduction rules of L(P) are the same of L, namely:
Modus Ponens (MP): , l
Generalization (Gen): lx.
The usual syntactic notions for L(P) as sentence, proof, theorem, deduction,
consistency and other ones are dened as in the rst-order classical logic.
1.1. Pseudo-topological spaces
Grcios original inquires (Grcio 1999) looked for mathematical structures that could
interpret non-logical quantiers distinct of and and such that they could contem-
plate aspects of generalization performed in inductive reasoning, that is, that they
lead from parts of the domain to some general part, however distinct from all.
One example of this motivation can be given by the following sentence: Brazilian
people like soccer. We knowwell that it is usual in the daily language, that, in general,
this assertionis valid, since Brazilianpeople that like soccer are everywhere (andthen,
of course, a signicant part of Brazilian people likes soccer), however, there are also
Brazilian people that do not like soccer.
The pseudo-topological concept has been introduced as a model for this condi-
tion. First, this concept has been called reduced topological space, but we opt to call it
pseudo-topological space from now on, with Grcios agreement.
A pseudo-topological space (E, ) is a pair where E is a non-empty set and
P(E) is the set of open elements of (E, ), satisfying the following conditions:
(pt1) A, B AB ;
(pt2) A, B AB ;
(pt3) E ;
(pt4) .
A subset of E is closed relative to (E, ) when its complement is open relative to
(E, ).
Certainly, no topological space can be a pseudo-topological space concomitantly,
because the rst one demands as an open set, while the second one excludes as
an open set.
A propositional version of the logic of the plausible 187
Although the denition was made exible, we have mathematically interesting
examples of pseudo-topological spaces.
Examples:
(a) Let E / and take {E}.
Certainly , but E . The (i) and (ii) conditions are trivially satised. Then,
(E, ) is a pseudo-topological space.
(b) Let E /. For a E, let {B E / a B}.
Then, , but E .
We can easily verify that (E, ) is a pseudo-topological space.
(c) Let E an innite set and {Y
C
/ Y is nite}, that is, is a collection of co-nite
subsets of E. Then, (E, ) is a pseudo-topological space.
Since E is innite, then and E .
(i) If Y
C
, Z
C
, then Y and Z are nite subsets of E and, therefore, Y Z is nite
too. Thus, Y
C
Z
C
(Y Z)
C
.
(ii) If Y
C
, Z
C
, then Y and Z are nite subsets of E and, thus, Y Z is nite too.
So, Y
C
Z
C
(Y Z)
C
.
(d) Let E a non-enumerable set and {Y
C
E / Y is enumerable}. So (E, ) is a
pseudo-topological space.
Since E is non-enumerable, then , but E .
(i) If Y
C
, Z
C
, thenY and Z are enumerable and, therefore, Y Z is enumerable
too. Thus, Y
C
Z
C
(Y Z)
C
.
(ii) If Y
C
, Z
C
, then Y and Z are enumerable and Y Z is also enumerable.
Thus, Y
C
Z
C
(Y Z)
C
.
(e) The dense and open sets of a topological space (E, ) determine a pseudo-topol-
ogy. We must remember that if a set A is dense and if U / is an open set, then
AU /.
Consider in E the following collection of subsets {U E/U is open} and dense
in (E, ).
First, observe that , because for every openU / in (E, ), we have U
.
(i) Let A, B . Since A and B are open sets, then AB is an open too. Besides, as
A and B are dense, for every openU /, we have B U /and B U is open. Thus,
(AB) U A(B U) /, that is, AB ;
(ii) If A, B , then A B is open. Besides, A and B are dense and since A, B
AB, then AB is dense too. Thus, AB ;
(iii) Since E is open and dense in (E, ), we have that E .
Then, is a pseudo-topology.
Based on this motivation, Grcio (1999) introduced the pseudo-topological struc-
tures extensions of the rst-order structures as models for the Logic of the Plau-
sible and showed their adequacy (soundness and completeness) for L(P).
188 H. A. Feitosa, M. C. do Nascimento, M. C. Cabrini Grcio
1.2. The semantics of the logic of the plausible
Let A be a rst-order classical structure with universe A. A pseudo-topological struc-
ture A
for L(P) consists of the usual structure A augmented by a pseudo-topology
(A, ).
The interpretation of relational, functional and individual constant symbols is the
same of L into A.
In a structure A
, the satisfaction of L(P) is dened, recursively, in usual way,
adding the following clause:
let be a formula whose free variable are contained in {x} {y
1
, . . . , y
n
} and a
(a
1
, . . . , a
n
) is a sequence in A. Then:
A
=Px[x, a] {b A/A
=[b, a]} ,
in which, as usual, A
=[ a] denotes A
=
s
, when the free variables of occur in
the set {z
1
, . . . , z
n
}, s(z
i
) b
i
and a (a
1
, . . . , a
n
).
For a sentence Px(x), we have:
A
=Px(x) if and only if {a A/A
=(a)} .
Other usual semantic notions such as model, validity, logical consequence, etc.,
for L(P), are dened in an analogous way to those of classical logic.
2. A propositional logic of the plausible L()
In order to get the Propositional Logic of the Plausible, L(), we extend the classical
propositional logic (CPC) endowing the classical language L(, ) by a new opera-
tor . Formally, we denote the language of Propositional Logic of the Plausible by
L(, , ).
So L() is determined by the following:
Axioms: the classical propositional axioms, plus the following axioms for the
operator :
(Ax
1
) ()
(Ax
2
) ()
(Ax
3
)
(Ax
4
) ().
Deduction rules: Modus Ponens and:
(R) l/ l.
Intuitively, (Ax1) to (Ax4) assert:
A propositional version of the logic of the plausible 189
(Ax
1
) If is plausible and is plausible, then is plausible;
(Ax
2
) If is plausible or is plausible, then is plausible;
(Ax
3
) If is plausible, is not impossible;
(Ax
4
) Each theorem is plausible.
(R) The rule determine that when is the case that two propositions are equiv-
alent, then are also equivalent the plausibility of the two propositions.
These axioms and the rule (R) try to rescue into the propositional context the
fundamentals conceptions of the pseudo-topologies, introduced inthe set theoretical
environment.
Proposition 2.1. No contradiction is plausible.
Proof. By (Ax
3
) we have . But since , then follows that .
Proposition 2.2. ll.
Proof.
1. l hypothesis
2. l() CPC in 1
3. l() CPC
4. l() CPC in 2 and 3
5. l() R in 4
6. l() CPC in 5
7. l() Ax
4
8. l MP in 6 and 7.
Proposition 2.3. l().
Proof.
1. CPC
2. CPC
3. CPC in 1 and 2
4. () Ax
2
5. () CPC in 3 and 4.
Proposition 2.4. l().
Proof.
1. CPC
2. () Ax
2
3. () CPC in 1 and 2.
190 H. A. Feitosa, M. C. do Nascimento, M. C. Cabrini Grcio
3. The plausible algebra
A plausible algebra is a 7-tuple P(P, 0, 1, , , , #) such that (P, 0, 1, , , ) is a Bool-
ean algebra and # is the plausible operator that respects the following conditions:
(i) #a #b #(a b)
(ii) #a #b #(a b)
(iii) #a a
(iv) #1 1.
An element 0 /a P is plausible when #a a.
From item (iii) it follows that #0 0. However, by denition 0 is not plausible. We
did not include an algebraic axiom relative to (R), because in any algebra we always
have a b #a #b.
An algebra P is non-degenerate when its universe P has at least two elements.
Proposition 3.1. For each plausible algebra P (P, 1, 0, , , , #) there is a monomor-
phism h from P into a pseudo-topological space of sets dened in P(P(P)).
Proof. By means of Stones isomorphism, we knowthat for each Boolean algebra (P, 0,
1, , , ) there is a monomorphism h from P into a subset of P(P). Denote this
Boolean algebra by B(B, , , ,
C
).
Next, we introduce a pseudo-topology in B and extend the isomorphism h to
an isomorphism between P and B(B, , B, , ,
C
, ), in the following way. For each
set a P we dene h(a)
#
h(#a) and {h(a) B/0 /a #a}.
We need to show that is a pseudo-topology:
(i) By denition h(0) ;
(ii) Since 1 #1 and h(1) B, then B ;
(iii) If h(a), h(b) , then a /0 /b, a #a and b #b. Besides h(a) h(b) h(a b)
and a b #a #b #(a b) a b, that is, a b #(a b). Thus, h(a) h(b)
h(a b) ;
(iv) If h(a), h(b) , then a /0 /b, a #a and b #b. So, #(a b) a b #a #b
#(a b), that is, a b #(a b). Thus, h(a) h(b) h(a b) .
Proposition 3.2. If P (P, 1, 0, , , , #) is a plausible algebra and a, b P, then #a
#(a b).
Proof. #a #a #b #(a b).
Proposition 3.3. If P (P, 1, 0, , , , #) is a plausible algebra and a, b P, then a
b #a #b.
Proof. a b a b b #(a b) #b #a #b.
A propositional version of the logic of the plausible 191
4. The algebraic adequacy
We will indicate the set of propositional variables of L() by VarL(), the set of its
formulas by ForL(), and a generic plausible algebra by A.
The deduction of the formula from in L() is denoted by l, and when
is empty, l, the formula is a theorem of L().
A formula ForL() is refutable in when l holds; otherwise, is ir-
refutable.
A restrict valuation is a function v^ : VarL() A, that interprets each variable
of L() in an element of A.
A valuation is a function v : ForL() A, that extends natural and uniquely v^
as follows:
v(p) v^(p)
v() v()
v() v() v()
v() v() v()
v() #v().
As usual, operator symbols of left members represent logical operators and the
right ones represent algebraic operators.
Let A be a plausible algebra. A valuation v : ForL() A is a model for a set
ForL() when v() 1, for each formula . In particular, a valuation v :
ForL() A is a model for ForL() when v() 1.
A formula is valid in a plausible algebra A when each valuation v : ForL()
A is a model for .
A formula is plausible-valid, what is denoted by = , when it is valid in every
plausible algebras.
Now let (ForL(), , , , , 0, 1) be the algebra of formulas of L(), such that
and are binary operators, and are unary operators, 0 and 1 are constants and
df
.
We dene the Lindenbaum algebra of L().
We dene an equivalence relation by:
df
land l.
The relation , more than an equivalence, is a congruence, since by rule (R):
ll.
For each ForL(), we denote the class of equivalence of modulo by []
{ ForL()/}.
The (Lindenbaum) algebra of L(), denoted by A(L()), is the quotient algebra
dened by
A(L()) (ForL() [
, 0, 1,
),
192 H. A. Feitosa, M. C. do Nascimento, M. C. Cabrini Grcio
such that:
[]
[] []
[] []
[] []
0 [] []
1 [] [].
In general, it will not be indicated the index of operations.
Proposition 4.1. In A(L()) it is valid [] [] l.
Proof. [] [] [] [] [] [] [] ll.
Proposition 4.2. The algebra A(L()) is a plausible algebra.
Proof. Ax
1
() () [] [()] [] [] [(
)] #[] #[] #[];
Ax
2
() () [] [()] [] [] [()]
#[] #[] #[];
Ax
3
[] [] #[] [];
Ax
4
() [()] 1 #[] 1;
R {l / l } : [ ] 1 [] [] #[] #[] []
[] [] 1.
The algebra A(L()) is the canonical model of L().
Corollary 4.3. Let be a member of ForL(). Then l iff [] is the unit 1 in the
model of A(L()). The formula is irrefutable iff [] /0.
Proof. Let l. Since A(L()) always has an identity element 1, then:
1. Hypothesis
2. () CPC
3. (() ) Substitution in 2
4. () MP in 1 and 3
Hence: 1 [] [], that is, [] 1.
On the other hand, when [] 1, then [] [], this means that holds l(
) . Since l, it follows, by MP, that l.
Now, is irrefutable iff l iff [] /1 iff
[] /1 iff [] /0.
A propositional version of the logic of the plausible 193
From preceding propositions, it results that for each formula :
[] 1 iff l and
[] 0 iff l.
Theorem 4.4 (Soundness). The plausible algebras are correct models for the logic
L().
Proof. Let A (A, 0, 1, , , #) be a plausible algebra. It remains to prove that the ax-
ioms Ax
1
Ax
4
are valid and the rule R preserves validity:
Ax
1
: v(()) 1, because #v() #v() #v().
Ax
2
: v(()) 1, because #v() #v() #v().
Ax
3
: v() v() v() = #v() v() #v() v()
#v() (#v() v()) (#v() #v()) v() 1v() 1.
Ax
4
: v(()) #v() #1 1.
R: v( ) 1 v() v() #v() #v() v() v() v(
) = 1.
Corollary 4.5. The propositional calculus L() is consistent.
Proof. Suppose that L() is not consistent. Then there is ForL() such that
l and l . By Soundness Theorem, and are valid. Let v be a valuation in
a plausible algebra with two elements 2 {0, 1}. Since is valid, then v() 1 and
v() v() 0. This contradicts the fact that is valid.
Theorem4.6. Let be a member of ForL(). The following assertions are equivalent:
(i) l;
(ii) =;
(iii) is valid in every plausible algebra of a sub-algebra of a pseudo-topological
space (E, );
(iv) v
A
() 1, where v
is the valuation of the canonical model.
Proof. (i) (ii): it follows from the Soundness Theorem.
(ii) (iii): it sufces to observe that there is a plausible algebra of sets of a pseudo-
topological space (Proposition 3.1).
(iii) (iv): since every plausible algebra is isomorphic to a sub-algebra of a pseudo-
topological space (E, ) and A(L()) is a plausible algebra, the result follows.
(iv) (i): if ForL() and it is not derivable in L(), by Corollary 4.3, [] do
not coincide with the unity of A(L()), thus v
A
() / 1. Therefore is not a valid
formula.
Corollary 4.7 (Completeness). For each ForL(), if is valid, then has a de-
monstration in L().
194 H. A. Feitosa, M. C. do Nascimento, M. C. Cabrini Grcio
5. Consistency and models of
Let ForL() andBa plausible algebra. Amodel for is a valuation v : VarL()
B that makes valid all the formulas of , that is, v
B
() 1, for every . As usual,
= denotes that every model of is also a model of .
Proposition 5.1. Let ForL(). If l, then =.
Proof. Let v : VarL() B be a model for . As in Theorem 4.4, rules of L() pre-
serve validity and v
B
() 1, for every , then v
B
() 1.
Proposition 5.2. Let ForL() and B a plausible algebra. If there is a model v :
VarL() Bfor , then is consistent.
Proof. Suppose that is not consistent. Then l and l and so v
B
() 1 and
v
B
() 1. Since v
B
() 1, it follows that v
B
() 1 and, therefore, v
B
() = 0,
that is, a contradiction.
A model v : VarL() Bis adequate for when: l iff =.
Proposition 5.3. If ForL() is consistent, then the canonical valuation is an ad-
equate model to .
Proof. Considering the canonical valuation: v
A
: ForL() A(L()), v
A
() [],
by Corollary 4.3, v
A
() 1 iff l. Therefore we have that v
is an adequate model
to .
Theorem 5.4 (Adequacy). Given ForL(), the following conditions are equiva-
lent:
(i) is consistent
(ii) there is an adequate model to
(iii) there is an adequate model to in a plausible algebra B of a sub-algebra of a
pseudo topological space (E, )
(iv) there is a model to .
Proof. (i) (ii) It follows of preceding proposition.
(ii) (iii) Since A(L()) is a plausible algebra and every plausible algebra is isomor-
phic to a sub-algebra of a pseudo topological space (E, ) [Proposition 3.1], then the
result follows.
(iii) (iv) It is an immediate consequence.
(vi) (i) It results directly by means of Proposition 5.2.
Corollary 5.5. Let {} ForL(). If is consistent, the following conditions are
equivalent:
A propositional version of the logic of the plausible 195
(i) l
(ii) =
(iii) every model of in a plausible algebra of a sub-algebra of a pseudo topological
space (E, ) is a model of
(iv) v
A
() 1, for every canonical valuation v
.
References
Barwise, J. & Cooper, R. 1981. Generalized quantiers and natural language. Linguistics and
Philosophy 4: 159219.
Bell, J. L. & Machover, M. 1977. A course in mathematical logic. Amsterdam: North-Holland.
Ebbinghaus, H. D. 1985. Extended logics: the generalized framework. In Barwise, J. & Fefer-
man, S. (eds.) Model-theoretic logics. Berlin: Springer-Verlag, p. 2576.
Ebbinghaus, H. D.; Flum, J.; Thomas, W. 1984. Mathematical logic. New York: Springer-Verlag.
Grcio, M. C. C. 1999. Lgicas moduladas e raciocnio sob incerteza. PhD Thesis (in Portu-
guese), Institute of Philosophy and Human Sciences, State University of Campinas, Camp-
inas, Brazil.
Hamilton, A. G. 1978. Logic for mathematicians. Cambridge: Cambridge University Press.
Mendelson, E. 1987. Introduction to mathematical logic. 3. ed. Monterey, CA: Wadsworth &
Brooks/Cole Advanced Books & Software.
Miraglia, F. 1987. Clculo proposicional: uma interao da lgebra e da lgica. (Coleo CLE,
v. 1) Campinas: UNICAMP/CLE.
Nascimento, M. C. &Feitosa, H. A. 2005. As lgebras dos operadores de conseqncia. Revista
de Matemtica e Estatstica (So Paulo) 23(1): 1930.
Rasiowa, H. 1974. An algebraic approach to non-classical logics. Amsterdam: North-Holland.
Rasiowa, H. & Sikorski, R. 1968. The mathematics of metamathematics. 2. ed. Waszawa: PWN
Polish Scientic Publishers.
Sette, A. M.; Carnielli, W. A.; Veloso, P. 1999. An alternative view of default reasoning and its
logic. In Haeusler, E. H. & Pereira, L. C. (eds.) Pratica: Proofs, types and categories. Rio de
Janeiro: PUC, p. 12758.
Vickers, S. 1990. Topology via logic. Cambridge: Cambridge University Press.
Wjciki, R. 1988. Theory of logical calculi: basic theory of consequence operations. (Synthese
Library, v. 199) Dordrecht: Kluwer.
SOBRE A DISTINO ENTRE DEMONSTRAO E ARGUMENTAO
JORGE ALBERTO MOLINA
UNISC/UERGS
molina@unisc.br
Uma distino
prprio do discurso losco o uso de distines que servem para separar dife-
rentes signicados contidos dentro de um mesmo conceito. Como exemplo de esse
proceder temos aquelas distines entre realidade formal e realidade objetiva de uma
idia, entre juzos analticos e sintticos, e entre sintticos a priori e a posteriori, entre
verdades de razo e verdades de fato, entre termos gerais e singulares, etc. A primeira
sendo uma separao entre dois signicados do conceito realidade de uma idia, a
segunda entre dois signicados de juzo e a terceira entre dois signicados de juzo
sinttico, e assim em diante. Houve e h ainda muita polmica sobre a pertinncia
de algumas dessas distines. No sculo XX, qui o exemplo mais conhecido de po-
lmica gerada por uma distino losca foi produzido pela anlise quineana da se-
parao entre enunciados analticos e enunciados sintticos no artigo Dois dogmas
do Empirismo.
Na dcada dos cinqenta do sculo passado o lsofo belga Ch Perelman props
a distino entre demonstrao ou prova por um lado, e argumentao pelo outro
(Perelman 1997, p. 369). Trata-se nesse caso, no de uma distino ao nvel de clas-
ses de conceitos, nem ao nvel de tipos de enunciados, mas de uma entre dois clas-
ses de discursos que visam, ambos, justicar uma determinada armao. Ao usar
o termo demonstrao Perelman estava fazendo referncia aos raciocnios dedu-
tivos prprios das disciplinas formais como a Matemtica e a Lgica. H contudo
uma certa ambigidade na apresentao do autor belga supracitado pois ele se refe-
ria com aquele termo indistintamente ora s provas da Matemtica informal ora s
provas no seio das teorias matemticas formalizadas. Mas em qualquer caso o termo
demonstrao aludia para ele aos raciocnios que encontramos dentro das teorias
axiomatizadas. Por outro lado, ao usar o termo argumentao Perelman estava fa-
zendo referncia ao tipo de raciocnio contido nos textos de Filosoa, de Direito, de
Teologia e de Cincias Humanas, e tambm queles discursos orais ou escritos, pr-
prios do mbito jurdico, aos sermes religiosos, e aos discursos parlamentrios.
Perelman sublinhou determinadas caractersticas que nos permitiriam separar
demonstrao de argumentao. Essas caracteristicas se referem aos conceitos usa-
dos nos dois tipos de raciocnio, s premissas das quais eles partem, aos esquemas
inferenciais usados,ao contexto de produo da argumentao e da demonstrao e
aceitao das concluses obtidas atravs delas. Emprimeiro lugar, os conceitos que
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 196206.
Sobre a Distino entre Demonstrao e Argumentao 197
ocorrem numa demonstrao matemtica tm um signicado unvoco.
1
Esse signi-
cado est dado atravs de sua denio. Essa denio pode ser gentica, como no
caso da denio de crculo como aquela gura gerada pela rotao de um segmento
ao redor de um ponto, ou pode resultar de uma conveno aceita pela comunidade
dos matemticos, como o caso da denio de nmero real transcendente como
aquele que no pode ser raiz de um polinmio com coecientes racionais. Temos
tambm o caso das denies impredicativas onde um termo denido a partir de
conceitos que caracterizam uma totalidade da qual o referente pretendido do deni-
endum faz parte. Mas, seja qualquer o modo como denamos os conceitos da Mate-
mtica, o caso que no enfrentamos comeles situaes de ambigidade. Comrazo
se arma que os prprios axiomas das teorias matemticas limitama variao do sig-
nicado dos termos prprios dessas teorias, e at se tem dito que eles mesmos so
denies implcitas desses termos.
2
No discurso argumentativo a situao outra,
pois seus termos no resultamnemde uma conveno estabelecida por umgrupo de
especialistas, nemduma construo. Eles so obtidos da linguagemordinria e, como
as situaes de emisso daqueles termos so variveis, acabam adquirindo diferen-
tes signicados. Pensemos, por exemplo, em termos como idia, justia, bem,
verdade. Uma razo que mostra que as coisas so assim como as declara Perelman
que no discurso argumentativo muito comum a estratgia de diviso semntica.
Quando Scrates, no Eutifron disse que o pio parte do justo, com posterioridade se
obriga a separar dois sentidos do termo justo : o justo em relao aos homens, e
o justo em relao aos deuses (Eutifron, 12 d-e). Quando Descartes quis provar que
Deus o autor da idia que ns temos dele, distinguiu dois sentidos da expresso re-
alidade de uma idia: realidade formal e realidade objetiva (Descartes 1973, p. 11).
Um outro aspecto que sublinha Perelman que os termos adquirem novos signi-
cados no seio de um argumento (Perelman 1997, p. 1201). Pois um o signcado
do termo Deus antes dos argumentos que provam sua existncia, outro seu sig-
nicado quando aparece na concluso desses argumentos. Por outro lado, comum
que o discurso argumentativo vise obter como sua concluso o esclarecimento de um
conceito. Assim, em muitos dilogos de Plato a argumentao se enderea, muitas
vezes semsucesso, a obter denies de conceitos como justia bem, beleza(Cf.
Hipias Maior 286 a). Pelo contrrio, numa teoria axiomatizada como as teorias mate-
mticas ou nas partes axiomatizadas das cincias naturais, as denies so pontos
de partida e no o termo de uma busca.
Em segundo lugar, a demonstrao matemtica, como vimos, est inserida den-
tro de uma determinada disciplina matemtica, seja ela lgebra, Geometria, Anlise,
Topologia e suas numerosas sub disciplinas. Cada uma delas se apia num conjunto
de axiomas e denies. O matemtico prtico aceita esses axiomas e os considera
como verdades evidentes. claro que pesquisas posteriores podem mostrar que al-
gum dos axiomas pode ser provado a partir dos outros ou que o conjunto de axiomas
pode ser derivado dedutivamente dos axiomas de uma teoria matemtica mais b-
sica. Entretanto, ele considerar esses axiomas como se fossemverdades evidentes que
198 Jorge Alberto Molina
no exigem pelo momento, demonstrao. A partir desses axiomas, e mediante o uso
dos esquemas inferenciais aceitos nas cincias formais chega a concluses verdadei-
ras. O argumentador, pelo contrrio, no considerar suas premissas como verdades
evidentes, mas como proposies verossmeis que permitem obter uma concluso
verossmil. Na verdade, nas disciplinas argumentativas no h axiomas. Obviamente
isto aceito quase na sua generalidade em mbitos como a tica e o Direito, e em ge-
ral, em todos aqueles casos em que argumentamos para estabelecer juzos de valor.
Ainda que o discurso losco do racionalismo moderno pretenda tambmpartir de
axiomas no intuito de obter, atravs de demonstraes, certezas loscas inabal-
veis (Cf. Leibniz GP VII p. 1889 e GPVII, p. 205), hoje ns estamos dispostos a aceitar
que tambm, na Filosoa, temos que lidar com armaes mais ou menos veross-
meis, como premissas e conclusses de nossos arrazoados.
Em terceiro lugar os esquemas inferenciais usados nas demonstraes matem-
ticas so esquemas logicamente vlidos no sentido que eles nos garantem passar de
premissas verdadeiras concluses verdadeiras, como o caso do Modus Ponens.
Porm, audacioso armar que todos as inferncias matemticas se deixem repre-
sentar por aqueles esquemas vlidos da Lgica de Primeira ordem. O mais provvel
que no seja assim (cf. Dummett 1977, p. 398). Mas seja como for a resposta a essa
questo, o fato que o matemtico prtico vai considerar que todas as inferncias
que ele faz permitem passar de premissas verdadeiras a uma concluso verdadeira.
No discurso argumentativo esse no o caso. Vejamos umesquema inferencial tpico
do discurso argumentativo: o argumento pelo exemplo. No Discurso do Mtodo (AT
VI, p. 113), Descartes quis mostrar atravs dos exemplos da construo de casas, de
cidades, do estabelecimento de leis, que h mais perfeies nas obras feitas por s
uma pessoa que naquelas onde intervm muitas. claro, que uma concluso obtida
atravs de exemplos, est sujeita a ser objetada desde que sempre pode se dizer que
no se consideraram todas as instncias, ou que o nmero de exemplos no su-
ciente. Nesse sentido o argumento pelo exemplo est sujeito s mesmas objees
que o raciocnio indutivo.
3
Um outro esquema inferencial usado na argumentao
a analogia. Assim por exemplo, Aristteles critica os lsofos materialistas atravs
do seguinte argumento por analogia: assim como uma cama no se faz sozinha, do
mesmo modo o Universo no se fez sozinho, mas deve haver umoutro princpio, alm
da matria, que tem organizado as coisas (Metafsica A 3 984 a 15-30). Mas a analo-
gia no um esquema que garanta o trnsito de premissas verdadeiras a concluses
verdadeiras. suciente que recordemos a analogia de Kepler entre o nmero de po-
liedros regulares e o nmero de planetas, ou aquela expressa na lei de Bode (Losee
1979, p. 5562).
Emquarto lugar o matemtico tenta fazer explcitos todos os seus supostos. Tenta
mesmo que no o consiga. Grande parte da pesquisa emfundamentos da Matemtica
consiste emtrazer luz todos os elementos que intervmnuma demonstrao mate-
mtica. Desde os Elementos de Euclides, at os Grundlagen der Geometrie de Hilbert,
isso foi um ideal da exposio matemtica. No discurso argumentativo comum o
Sobre a Distino entre Demonstrao e Argumentao 199
uso do entimema, raciocnio do qual se omitiram algumas premissas. Entimemas e
argumentos pelo exemplo, so os raciocnios tpicos do discurso retrico (Aristteles,
Retrica I, 1365 b 1-30).
Em quinto lugar as condies que rodeiam a exposio de uma demonstrao
matemtica e as de um argumento so diferentes. Reconhecemos duas situaes t-
picas de apresentao de uma demonstrao matemtica. Uma a situao didtica
na qual o mestre fora seus discpulos a assentir concluso da demonstrao. Mas
na verdade, no ele mesmo quem coage seus discpulos mas a fora da evidn-
cia que se impe aos seus alunos. O aluno pode pedir esclarecimento sobre tal e tal
ponto. Mas partimos do suposto de que a demonstrao prova o que tem que pro-
var. A complexidade da demonstrao poder ser inadequada ao nvel de compreen-
so dos alunos. Entretanto o mestre pode escolher conceitos que estejam no seu n-
vel de compreenso, ou ocasionalmente usar recursos pedaggicos que auxiliem na
aprendizagem do aluno mas que propriamente no fazem parte da demonstrao,
mas do discurso que a apresenta e acompanha. Assim o professor de Clculo poder
auxiliar na compreenso das demonstraes de certos teoremas usando desenhos ou
exemplos fsicos A outra situao aquela na qual a demonstrao apresentada a
um grupo de especialistas. Nesse caso as concesses a audincia so menores, pois
supe-se que ela deve estar na posse dos conhecimentos necessrios para julgar da
demonstrao. Pelo contrrio no discurso argumentativo a interveno real ou pos-
svel da audincia modica o desenvolvimento da argumentao mesma. Assim um
argumentador sempre tem em vista as possveis objees que podem fazer seus ad-
versrios. Por isso to comum na argumentao o uso da gura retrica chamada
prolepsis, o discurso que tenta responder uma possvel objeo.
Em sexto e ltimo lugar a aceitao das concluses de uma demonstrao mate-
mtica denitiva. Tendo sido uma proposio provada a questo que lhe deu ori-
gem se fecha. Podemos generalizar aquela questo e tentar provar uma proposio
mais geral que tenha validade sobre outros domnios, almdaquele onde ela teve sua
origem. Por exemplo, havendo sido j demonstrada por Euclides a decomposio de
umnmero natural emfatores primos e o carcter nico dessa decomposio (Eucli-
des, Elementos X, 9), os matemticos muito tempo depois buscaram generalizar esse
resultado para ideais e ideais primos. Mas a questo originria mesma, que era a da
possibilidade de decompor de forma nica um nmero natural, se fechou. Na argu-
mentao as concluses no so denitivas. Por isso necessrio dar s vezes muitos
argumentos, uns se apoiando aos outros, para defender uma tese, ao passo que s
uma demonstrao matemtica bemfeita basta. Assimnas Meditaes Metafsicas de
Descartes reconhecemos trs provas da existncia de Deus, e quantas provas da imor-
talidade da alma encontramos no Fedon de Plato!
Consideremos agora a distino entre argumentao e demonstrao desde uma
perspetiva histrica. De fato, a distino proposta por Perelman entre as duas resulta
de sua interpretao de Aristteles. Aristteles reconheceu trs tipos diferentes de ra-
ciocnios (silogismos) na sua terminologia: o silogismo demonstrativo ou cientco,
200 Jorge Alberto Molina
cuja forma objeto de estudo dos Primeiros Analticos e cujo uso na cincia norma-
tizado nos Segundos Analticos, o silogismo dialtico, apresentado por Aristteles nos
seus Tpicos e nas Refutaes Sofsticas, e o silogismo retrico, tema da obra de Arist-
teles cujo ttulo precisamente Retrica. Esses dois ltimos so aqueles que Perelman
coloca sob o conceito genrico de argumentao. O Estagirita explicitou sua distin-
o da forma seguinte: o silogismo demonstrativo aquele que procede de premissas
necessariamente verdadeiras e prova uma concluso que tambmnecessariamente
verdadeira, o silogismo dialtico aquele que a partir de premissas provveis chega a
uma concluso tambm provvel, e o silogismo retrico aquele cujo objetivo con-
siste em persuadir a outrem da aceitao de uma tese. A diferena entre Analtica e
Dialtica est dada, segundo Aristteles, pela natureza das premissas, necessrias na
primeira, provveis na segunda (Tpicos 100 a 18-100 b 18). Entretanto para separar
a Dialtica da Retrica, Aristteles usou como critrio no a natureza das premissas
mas a funo do discurso dialtico e do discurso retrico : chegar a concluses pro-
vveis num caso, persuadir no outro (Retrica 1355 b25-35). H tambm diferenas
entre o contexto de emisso que acompanha esses diferentes silogismos. O silogismo
demonstrativo ocorre no ensino de uma cincia por um mestre que fora o assen-
timento de um discpulo ao mostrar-lhe as proposies que decorrem dos primei-
ros princpios (Refutaes Sofsticas 165 b 1-10). O discurso dialtico aparece quando
uma teses proposta por um dos participantes de um dilogo e outro participante
manifesta seu desacordo com essa tese. Nesse caso o discurso dialtico visa resolver
uma diferena de opinio atravs da argumentao. O discurso retrico aquele que
proferido face a uma assemblia, uma multido, ou umcorpo colegiado qualquer. A
classicao aristotlica dos discursos argumentativos e a identicao de suas res-
pectivas situaes de emisso, determinaram para a posterioridade a perspectiva a
partir da qual devia ser considerada a argumentao.
Objees e defesa
Quando uma distino entre dois conceitos proposta existe uma estratgia padro-
nizada para tentar invalid-la: ou apontar para existncia de realidades hbridas que
no poderiamse subsumir dentro de nenhumdos dois tipos de conceitos, ou armar
que a distino no exaustiva, que camrealidades no contempladas pelo dos dois
tipos de conceitos. J Locke nos Ensaios sobre o entendimento humano (Locke 1983,
Parte III, Cap. II 159) nos apresentava o problema de como classicar uma criana
mentalmente deciente. Ns hesitaramos em lhe aplicar o conceito de animal ra-
cional, teramos dvidas sobre se consider-la homem ou simplesmente animal. O
que Locke nos propunha atravs desse exemplo, que ns separssemos a essncia
nominal, dada pela denio de umconceito, da essncia real que a natureza ntima
do ser ao qual esse conceito tenta se referir. Aessncia nominal de homemnos clara:
o homem umanimal racional, mas a sua essncia real no nos conhecida de forma
suciente, e por isso que ns duvidamos em subsumir uma criana mentalmente
Sobre a Distino entre Demonstrao e Argumentao 201
deciente sob o conceito de homem. Um outro exemplo, obtido ao pensar como
classicar o ornitorrinco, como ave ou como mamfero. Entretanto aqui, no caso da
distino entre demonstrao e argumentao, no estamos lidando com essncias
reais de entes da Natureza mas com criaes conscientes do esprito humano, com
raciocnios. Trata-se de classicar raciocnios. Porm ao classicar criaes do esp-
rito humano tambm podemos nos encontrar com realidades hbridas que tm tra-
os de umtipo, e traos do outro. Assimo lingista no dir que o ingls uma lngua
germnica nem que uma lngua neo-latina. Dir que ele tem traos dos dois tipos
de lnguas. Mas aqui, onde estamos tentando classicar raciocnios aceitar realidades
hbridas bemmais difcil que no caso das lnguas. Supe se que,mesmo que os racio-
cnios sejamemalgumsentido criaes coletivas, eles so produtos que tmpassado
por uma avaliao e uma crtica. Mas, o que seria uma realidade hbrida, o que seria
umraciocnio justicatrio que no possa se encaixar nemcomo demonstrao nem
como argumentao? E onde encontr-lo? O livro de Lakatos A lgica do descobri-
mento matemtico: Provas e refutaes nos da, aparentemente, umexemplo dessa re-
alidade: discute-se nesse texto sobre a prova dada por Euler da conjectura de Descar-
tes que arma que emtodo poliedro vale a relaoV F+A 2, onde F o nmero de
faces do poliedro, V o seu nmero de vrtices, e A o nmero de arestas. A demonstra-
o euleriana dessa conjectura foi submetida a avaliao e crtica. Contra exemplos
mostraram que essa relao no se satisfazia. Mas o que gerava a grande abundncia
de contra exemplos era o fato de que o conceito poliedro no estava rigorosamente
caracterizado. A tentativa de encontrar resposta a esses contra exemplos propiciou
importantes desenvolvimentos na Matemtica, entre eles uma caracterizao clara
do conceito de poliedro e a constituio de uma nova disciplina axiomatizada, a To-
pologia algbrica, dentro da qual se pode provar a relao de EulerDescartes. Nesse
mesmo texto Lakatos nos oferece umoutro exemplo: a prova por Cauchy de que toda
srie convergente de funes contnuas temcomo limite uma funo continua. Aqui,
neste caso, o que no estava sucientemente claro era o conceito de continuidade.
Mas o que seriam essas provas cujos conceitos no esto sucientemente denidos e
cujas concluses podem ser contestadas? Como classic-las?
Tambm a histria da Geometria grega nos mostra exemplos de provas que ocor-
rem em contextos tericos no axiomatizados e cujas concluses esto sujeitas a dis-
puta. O historiador hngaro da Geometria grega rpd Szab dedicou grande parte
de seu trabalho ao estudo das origens da Geometria grega, sobre tudo daquele pe-
rodo onde ela no havia sido ainda axiomatizada (ver Szab 1977). Estamos nos refe-
rindo a geometria grega pr-euclideana. O que as investigaes de Szab mostraram
que na Geometria grega pr-euclidiana encontramos formas de raciocnio que so
iguais quelas usadas na Dialtica dos gregos, formas de raciocnio que achamos nos
textos dos sostas e nos dilogos de Plato, como por exemplo, no Menon 8285 onde
se discute o problema de duplicar a rea de um quadrado dado. Uma dessas formas
de raciocnio geomtrico analisada por Szab, a regra de reduo ao absurdo, que
segundo Szab teria tido sua origem na obra de Zenon.
202 Jorge Alberto Molina
Podemos ento considerar que a prova de Euler, a de Cauchy e a construo que
duplica a rea de umquadrado dado seriamexemplos dessas realidades hbridas que
estvamos buscando? O que ns indicaria que isso assim? A existncia desses hbri-
dos matemticos nos mostrariamque as coisas no so como Perelman as apresenta,
que tambm as concluses das demonstraes matemticas poderiam ser contes-
tadas, como o podem ser as de uma argumentao. Mas analisemos com mais pro-
fundidade a estrutura e a funo desses supostos hbridos. Desde o ponto de vista
estrutural vemos o seguinte: nessas provas que estamos considerando, vemos que
ocorrem, como j dissemos, conceitos que na poca no estavam claramente deni-
dos, como o conceito de poliedro ou o conceito de continuidade. Alis esse ltimo
conceito, para os matemticos do sculo XIX, no diferia em muito do conceito de
continuidade tirado da experincia quotidiana. Nesse sentido, pelo seu carter di-
fuso, aqueles conceitos se assemelhavam a conceitos loscos como o conceito de
idia ou de justia. Na discusso no Menon sobre se a virtude pode ou no pode ser
ensinada, que segue duplicao do quadrado, encontramos ainda outra coisa: ela
aparece em forma dialogada. E as expresses que ocorrem nela so prprias dos tex-
tos dialticos (Szab 1977, p. 25482).
Por sua funo o que seriam aquelas demonstraes hbridas? O ttulo da obra
de Lakatos supracitada j nos da uma indicao. A idia de que existe uma lgica da
descoberta era comumna Idade Moderna, quando se armava que a Lgica consistia
de uma ars inveniendi, cuja funo encontrar a verdade, e de uma ars demosntrandi
ou judicandi, cuja funo estritamente justicatria. Os lsofos e matemticos da
Idade Moderna acreditaram encontrar um exemplo da ars inveniendi no mtodo de
anlise da geometria grega, ao qual tambm Lakatos dedicou vrios estudos. Racio-
cnios como os de Euler e Cauchy, aos quais acima nos referimos, no teriam uma
funo justicatria, mas heurstica. Pela sua estrutura, pelo uso dos conceitos difu-
sos que neles ocorrem, pela forma de exposio no axiomatizada, pelo fato de suas
concluses poderem ser contestadas, se encontram em grande medida prximas da
argumentao. Eles no so raciocnios dentro de uma teoria dedutiva axiomatizada,
construda nos moldes que Aristteles indicou nos Segundos Analticos. Sua funo
exploratria. Serviriam para ajudar na construo de uma teoria dedutiva. Sua fun-
o no justicatria mas exploratria, constitutiva. Ao passo que a distino entre
argumentao e demonstrao proposta por Perelman, se aplica s a raciocnios cuja
funo justicatria.
Uma outra objeo a distino que Perelman props a seguinte. No verdade
que a Lgica moderna e seus sistemas formais s sirvam para formalizar os racioc-
nios usados na matemtica informal como Perelman armou. De fato no sculo XX
temos sido testemunhas do surgimento das Lgicas intensionais ou loscas, lgi-
cas que tentamformalizar raciocnios nos quais se fala de possibilidade, necessidade,
permitido, proibido etc. Ento emprincipio, face essa realidade lcito se perguntar
se domnios do saber como o Direito, a Metafsica, ou a tica, no poderiamqui ser
expressos mediante demonstraes ou provas formais.
4
coisa bem sabida que dis-
Sobre a Distino entre Demonstrao e Argumentao 203
ciplinas que no incio foram, no sentido de Perelman, argumentativas, com o desen-
volvimento da cincia, foramsubmetidas a umtratamento formal. o caso da Fsica,
basta para vericar isso comparar a Fsica de Aristteles como a Fsica dos Principia
de Newton. Mas de fato essa objeo no se dirigiria em si contra a distino entre
argumentao e demonstrao, mas contra a idia de que possvel reservar argu-
mentao, de uma vez para sempre, um domnio fechado no qual a demonstrao
no possa entrar. Esse domnio fechado seria o da Filosoa, o da tica e o do Direito.
De fato, no haveria em principio nenhuma ressalva para aceitar que tambm o
Direito e a Metafsica possam ser em grande medida formalizados. Mas o que no
podemos aceitar a iluso leibniziana, de que todo discurso possa ser formalizado e
axiomatizado, de que em todo domnio possamos substituir a disputa pelo clculo,
a argumentao pela demonstrao. Quando se trata de discutir se esses sistemas
formalizados para o discurso tico ou losco, capturam as idias que esto nos
arrazoados intuitivos no formais dessas disciplinas, quando se trata de ver se as pro-
vas formais que seriam vlidas para esses domnios representariam adequadamente
aqueles raciocnios que ns julgamos intuitivamente aceitveis dentro dessas disci-
plinas, temos que recorrer ao discurso argumentativo. Pois temos que sair dos siste-
mas formais mesmos, temos que ir ao meta linguagem. A tentativa leibniziana de um
clculo universal s seria possvel se pudermos formalizar toda a linguagem natural,
mas essa uma tarefa impossvel (ver Tarski 1969).
Poderia tambm se objetar que em Perelman no haveria lugar para a separao
aristotlica entre silogismos dialticos e silogismos retricos, pois os dois tipos de ra-
ciocnio so subsumidos pelo autor belga debaixo do conceito de argumentao. De
fato Perelman quis evitar o uso do termo dialtica pelas suas associaes com a dia-
ltica hegeliana. Nos escritos de Perelman se trata de discutir a dialtica de Zenon ou
aquela que encontramos nos textos dos sostas e no a dialtica hegeliana. por isso
que Perelman escolheu dar o ttulo de Nova Retrica suas investigaes reunidas no
seu Tratado da argumentao. Mas o fato que tanto Retrica como Dialtica usam
as mesmas estratgias e esquemas inferenciais, as duas tma ver comos conceitos da
linguagem ordinria, as duas tm um carter geral, porque tanto o retor como o dia-
ltico no so especialistas, eles podem falar de todas as coisas na sua generalidade,
da mesma forma que o lsofo. A diferencia entre elas est dada pelo fato de que a
Retrica visa a persuaso, e a Dialtica visa estabelecer os princpios da cincia, isto
discutir sobre os axiomas, ou obter concluses verossmeis. Se houver disparidade
entre os dois tipos de discurso ela no repousaria na sua estrutura, mas na inteno
coma qual eles so proferidos (Retrica I 1355 b 25 e Tpicos I, 1).Desde umponto de
vista estrutural podemos classicar os dois como argumentos e no como demons-
traes.
Uma outra objeo que poderia ser dirigida contra a distino proposta por Perel-
man vem da forma como o autor belga se ocupa do raciocnio cientco nas cincias
naturais. Segundo Perelman o raciocnio cientco nessas disciplinas, tambm cha-
mado por ele de raciocnio experimental repousaria como a demonstrao na evi-
204 Jorge Alberto Molina
dncia, mas no na evidncia dos axiomas, mas dos fatos (Perelman 1997, p. 152).
Uma posio desse tipo objetvel, tendo em conta toda a discusso epistemolgica
sobre a impossibilidade de separar os fatos das teorias. Sem entrar nessa discusso,
o que podemos armar que na fase inicial de uma disciplina cientca, como foi
esse o caso da Fsica, da Biologia e da Qumica, seus resultados so apresentados de
uma forma que resultamser inteligveis para o leitor cultivado, o mesmo tipo de leitor
que l hoje Filosoa ou Ensaios sociolgicos. Reconhecemos nas produes textuais
que expressam essa fase inicial de uma cincia as mesmas estruturas argumentati-
vas que identicamos hoje nos textos de Direito e de Cincias Humanas (Bachelard
1996, cap. I, p. 2936). Ao evoluir uma cincia sua produo textual ca cada vez mais
inacessvel para o leitor culto. A argumentao substituda pelos raciocnios experi-
mentais, onde ocorrem termos tcnicos prprios do jargo da disciplina, e nos quais
muitas vezes se faz uso de ferramentas da Estatstica. Esses raciocnios prprios da
fase madura de uma disciplina cientca poderiam ser reconhecidos como um ter-
ceiro tipo de raciocnio justicatrio diferente da demonstrao e da argumentao.
Umargumento pragmtico
Fazer distines envolve sempre tocar a questo losca da identidade e da dife-
rena, noes que so relativas. Objetos que sob um aspecto so considerados idn-
ticos, sob outro aspecto podem ser considerados diferentes. Sob uma determinada
perspectiva os homens podem ser distinguidos dos chimpanzs, e sob outro consi-
derados idnticos a eles, se os estarmos contrapondo por exemplo a outras famlias
de mamferos como os felinos. Por outro lado, sob determinado aspecto todos os ho-
mens podem ser considerados idnticos, por exemplo desde a perspectiva da Biolo-
gia, e poderamos assim falar de uma natureza humana comum, sob outro aspeto,
o da cultura eles podem ser considerados diferentes. Identidade e diferena no so
noes absolutas, mas relativas ao nvel de anlise que estamos considerando. Por
outro lado, classicaes e distines no podem ser considerados fazendo abstra-
o das nalidades que temos em conta ao faz-las. Assim os antigos classicavam
as plantas segundo seu poder medicinal. O seu interesse era puramente mdico (ver
Foucault, Cap. II e V1981). Os modernos escolheram outros critrios de classicao,
seu interesse era mais terico. Em grande medida o que justica uma distino que
ela serva para os propsitos da atividade que estamos realizando, seja ela curar, teo-
rizar, etc. Qual era ento a nalidade que Perelman se props ao fazer essa distino?
A sua nalidade era estender o mbito da racionalidade (Perelman 1997, p. 5791). O
positivismo lgico tentou reduzir a provas formais todas os raciocnios da cincia, e
essa concepo est detrs dos programas de axiomatizao das diferentes discipli-
nas cientcas. Oque no podia ser abordado dessa forma acabou sendo julgado sem
sentido (Carnap 1963). Assim no apenas o discurso losco, mas tambm o dis-
curso sobre valores foi julgado como sem sentido. O que Perelman buscava era que
ns reconheamos um outro tipo de racionalidade, diferente daquela da Matemtica
Sobre a Distino entre Demonstrao e Argumentao 205
e da cincia experimental. Ns concordamos em que o discurso de um promotor, a
alegao de umadvogado, o escrito que fundamenta o falho de umjuiz so o produto
de atividades conduzidas racionalmente. Alis so produtos que podemos avaliar a
partir de parmetros que, mesmo no tenham a objetividade dos parmetros cien-
tcos, julgamos razoveis. claro que ns distinguimos entre um bom argumento
jurdico, e um mal argumento jurdico, entre um bom ensaio losco, e o trabalho
escolar de um principiante. Distinguir entre demonstrao e argumento permite as-
sim que nos ampliemos o mbito da racionalidade.
Mas por outro lado evitamos assimtambmdialetizar a cincia. Se o racionalismo
moderno e o positivismo lgico, cometeram o erro de acreditar que a nica forma
de racionalidade era aquela da racionalidade cientca, hoje assistimos a um outro
erro de diferente sentido. Acreditar que na cincia, no h nada rme , que todas as
concluses podem ser contestadas, que tudo questo de interpretao. Que no h
fatos mas interpretaes como armava Nietzsche. H aqui uma incompreenso so-
bre o papel da argumentao na cincia. A discusso argumentativa de tipo losco
versa sobre os princpios da cincia, mas uma vez tendo sido estes aceitos, as conclu-
ses na cincia se seguem por via demonstrativa e/ou experimental. O que assunto
de discusso argumentativa a viso do mundo que norteia a escolha de tais ou tais
princpios de uma cincia. Mas as concluses que se obtm deles se seguem por via
demonstrativa ou experimental e no esto sujeitas s disputas que reconhecemos
na Filosoa ou no Direito.
Tambm atravs da distino entre demonstrao e argumentao podemos co-
locar limites s tentativas abusivas de usar irrestritamente analogias matemticas no
campo das cincias humanas como se atravs de conceitos tirados de teorias mate-
mticas altamente abstratas pudessem ser obtidos esclarecimentos que a argumen-
tao usual no poderia dar.
Referncias
Aristteles. 1973. Tpicos: Dos argumentos sosticos. So Paulo: Abril Cultural.
. 1990. Metafsica. Edio trilinge de Valentin Garca Yebra. Madri: Gredos.
.1994. Retrica. Traduo Quintna Racionero. Madri: Gredos.
Bachelard, G. 1996. A formao do esprito cientco. Traduo de Estela dos Santos Abreu. Rio
de Janeiro: Contraponto
Carnap, R. 1963. Filosofa y Sintaxis Lgica. Traduccin de Csar Molina. Mxico: UNAM.
Descartes, R. 1973. Discurso do mtodo. Meditaes Metafsicas. Objees e respostas. As Pai-
xes da Alma. Cartas. So Paulo: Abril.
. 1987. Discours de la Mthode. (comentaire par E. Gilson) 6 ed. Paris: Vrin.
. 1996. Oeuvres de Descartes publies par Ch. Adam et P. Tannery. 11v. Paris: Vrin.
Dummett, M. 1977. Elements of Intuitionism. Oxford: Oxford University Press.
Euclides. 1956. The thirteen books of the elements. Traduo de Thomas L Heath. New York:
Dover.
206 Jorge Alberto Molina
Foucault, M. 1981. As palavras e as coisas: uma arqueologia das cincias humanas. Traduo
Salma Tannus. So Paulo: Martins Fontes.
Lakatos, I. 1978. A Lgica do descobrimento matemtico: provas e refutaes. Rio de Janeiro:
Zahar.
Leibniz, G. W. 1978. Die philosophischen Schriften. Edio de C. I. Gerhardt. 7 vols; Berlin
1875-90; reimpresso Hildesheim: Georg Olms, 1960-1961. Abreviado GP.
. 1971. Mathematische Schriften. Edio de C. I. Gerhardt Hildesheim: Georg Olms. 7 vols.
Abreviado GM.
. 2003. Frhe Schriften zum Naturrecht. Hamburg: Meiner
Locke, J. 1983. Ensaio acerca do entendimento humano. So Paulo: Abril Cultural.
Losee, J. 1979. Introduo histrica losoa da cincia. Belo Horizonte: Itatiaia.
Perelman, Ch. 1997 Retricas. So Paulo: Martins Fontes.
Perelman, Ch. e Olbrechts-Tyteca, L. 1996. Tratado da argumentao. So Paulo: Martins Fon-
tes.
Plato. 1968. Menon. Traduo de Alfred Croiset. Paris: Les Belles Lettres.
. 1993b. Hipias Mayor. Traduo de J. Calonge. Madri: Gredos.
. 1993a. Eutifron. Traduo J. Calonge. Madrid: Gredos.
Szab, A. 1977. Les dbuts des mathmatiques grecques. Paris: Vrin.
Tarski, A. 1969. Truth and proof. Scientic American 220(6): 6377.
Notas
1
Perelman arma: no h demonstrao sem univocidade, nem h univocidade sem demonstrao
(Perelman 1997, p. 107).
2
Por exemplo Hilbert pensava que os axiomas matemticos eram denies implcitas de conceitos
como ponto, linha,plano (Kambartel 1972, p. 151).
3
EmRetrica 1356 a 30-1356 b25 Aristteles considera o argumento pelo exemplo o anlogo retrica da
induo.
4
Na Idade Moderna Leibniz tentou realizar essa empressa. Ver Leibniz 2003, p. 245301.
UM SISTEMA DE TABLS PARA A LGICA DO MUITO
MARIANA MATULOVIC
Universidade Estadual de So Paulo/Marlia
matulovicfadel@yahoo.com.br
1. Introduo
A lgica do muito foi introduzida por Grcio, em 1999, em sua tese de doutorado in-
titulada Lgicas Moduladas e o raciocnio sob incerteza. Trata-se de um tipo de l-
gica modulada que se caracteriza por apresentar em seu ambiente sinttico um novo
quanticador generalizado, almdos usuais quanticadores clssicos de primeira or-
dem, e .
Ao desenvolver a Lgica do Muito, Grcio estava preocupada em formalizar sen-
tenas que representassem a noo intuitiva de muitos indivduos. Para tanto, ela
inseriu um novo quanticador generalizado G na sintaxe da lgica de primeira or-
dem, com o seguinte signicado: Gx(x) muitos x satisfazem(x).
bastante comum atrelarmos noo intuitiva de muitos a idia de cardinali-
dade de umconjunto, ouseja, da quantidade de elementos que satisfazemuma deter-
minada sentena . No entanto, a concepo de muitos para Grcio est desvincu-
lada da cardinalidade, mas est associada somente noo de um conjunto grande
de evidncias. H uma estrutura matemtica, nomeada pela autora de Famlia Fe-
chada Superiormente Prpria, que dene e justica a relao intrnseca entre a noo
intuitiva de muitos com a de um conjunto grande de evidncias.
H trs propriedades essenciais na noo de muitos que capturama concepo
subjacente a esse conceito e que constituem, como veremos daqui a pouco, a base da
denio de famlias fechadas superiormente prprias. So elas:
(i) se muitos indivduos do universo satisfazem a proposio e est contida
em, ento tambm satisfeita por muitos indivduos do universo;
(ii) se muitos indivduos do universo satisfazem a proposio , ento existe al-
gum que satisfaz ;
(iii) o conjunto universo contm muitos indivduos. (Grcio & Feitosa 2005, p. 6)
1.1. Famlia fechada superiormente
Segundo Grcio, uma famlia fechada superiormente prpria F em um conjunto A
uma coleo de subconjuntos de A que satisfaz as condies seguintes, quando A
t
e
A
tt
so subconjuntos de A:
i) se A
t
F e A
t
A
tt
, ento A
tt
F;
ii) A F;
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 207223.
208 Mariana Matulovic
iii) F.
A seguir, exemplicaremos algumas famlias fechadas superiormente prprias,
em virtude do vnculo existente entre essa denio e a noo intuitiva de muitos.
1) Consideremos o conjunto A {a, b, c, d} e a seguinte famlia F {A, {a, b}, {a, b, c},
{a, b, d}}. Essa famlia fechada superiormente prpria em A, ouseja, F possui muitos
elementos?
Conforme argumentamos, a seguir, essa famlia F fechada superiormente pr-
pria em A, pois satisfaz as trs condies necessrias para isso.
F {A, {a, b}, {a, b, c}, {a, b, d}};
(a) A F;
(b) F;
(c) Se A
t
F e A
t
A
tt
, ento A
tt
F.
A famlia F possui esses quatro subconjuntos para analisarmos: A, {a, b}, {a, b, c},
{a, b, d}.
Oconjunto {a, b} est contido em{a, b, c}, {a, b, d} ou {a, b, c, d}. Todos os trs con-
juntos que contm {a, b} pertencem famlia F. Notemos que, em qualquer subcon-
juntode F, noocorre ocasoemque X est emF, X Y , mas Y noest emF. Diante
disso, conclumos que, de fato, F uma famlia fechada superiormente prpria em A.
2) Dado o conjunto A {a, b, c, d}, a famlia F {A, {a, b}} fechada superiormente?
A resposta no, pois se considerarmos o conjunto {a, b, c} que contm {a, b},
vericamos que o mesmo no pertence famlia F. Logo, F no uma famlia fechada
superiormente prpria em A.
3) Consideremos no universo U {brasileiras}, as seguintes propriedades: gostar de
sapatos e gostar de bolsas e que todas as brasileiras que gostam de sapatos, tam-
bm gostam de bolsas. Se muitas brasileiras gostam de sapatos est numa famlia
fechada superiormente prpria, ento podemos inferir que muitas brasileiras gos-
tam de bolsas tambm est.
1.2. A sintaxe da lgica do muito L(G)
A linguagem desta lgica determinada por todos conectivos da lgica clssica de
primeira ordem (CQC), acrescida do quanticador G, que representa a noo quanti-
cacional de muitos; assim: L(G) (, , , , , , G).
A denio de frmula a mesma do CQC, acrescida da seguinte clusula: para
uma varivel x, se uma frmula em L(G), ento Gx(x) tambm o .
As denies de variveis livres e ligadas, bem como a propriedade de substitui-
o das variveis livres, so as mesmas da lgica clssica. A nica diferena, com re-
lao denio de varivel ligada, que almdos quanticadores usuais e , tere-
Um sistema de tabls para a lgica do muito 209
mos o quanticador generalizado G, isto , toda ocorrncia de x emGx(x) ligada
(Grcio, p. 82).
A lgica do muito, por ser uma lgica complementar clssica, possui emseu sis-
tema axiomtico todos os axiomas clssicos mais os cincos axiomas abaixo referentes
ao quanticador G:
(Ax
0
) Axiomas da Lgica de Primeira Ordem Clssica;
(Ax
1
) x((x) (x)) (Gx(x) Gx(x))
(Ax
2
) x(x) Gx(x)
(Ax
3
) Gx(x) x(x)
(Ax
4
) x((x) (x)) (Gx(x) Gx(x))
(Ax
5
) Gx(x) Gy(y), quando y livre para x em(x).
Desse modo, considerando e subconjuntos de um universo A e represen-
tando por [] e [] os conjuntos de indivduos que, respectivamente, satisfazem e
, os axiomas denotam intuitivamente que:
(Ax
1
) Se [] [] e [] tem muitos elementos, ento [] tambm possui muitos ele-
mentos.
(Ax
2
) Se [] satisfeito por todos os indivduos de um determinado universo, ento
podemos armar que so muitos os indivduos que satisfazem [];
(Ax
3
) Se so muitos os indivduos de [], ento existe pelo menos um indivduo que
satisfaz [], ou seja, [] no vazio;
(Ax
4
) Se dois conjuntos so iguais e o conjunto de elementos que satisfaz um deles
grande (possui muitos elementos), ento podemos armar que o outro conjunto
em questo tambm corroborado por um conjunto grande de evidncias (muitos
elementos);
(Ax
5
) Se so muitos os indivduos x em [], e y uma varivel livre e distinta de x,
ento podemos substituir x por y, ou seja, so muitos os indivduos y em [y].
As regras que compes L(G) so:
i) Modus Ponens: , l.
ii) Generalizao: l(x).
Grcio apresenta alguns teoremas da L(G). So eles:
(1) Gx((x) (x)),
(2) Gx(x) Gx(x) Gx((x) (x)),
(3) Gx((x) (x)),
(4) Gx(x) Gx(x) Gx((x) (x)).
210 Mariana Matulovic
1.3. A semntica da lgica do muito L(G)
A estrutura semntica da lgica do muito, L(G), composta por uma estrutura cls-
sica de primeira ordem A, complementada por uma famlia fechada superiormente
prpria (F
A
) sobre o universo A. Indicamos essa nova estrutura por A
F
A, F
A
,
em que A
F
(A, {R
A
i
}
i I
, { f
A
j
}
j J
, {c
A
k
}
kK
, F
A
).
1
Em uma estrutura do tipo A
F
, a satisfao das frmulas da lgica do muito de-
nida da seguinte maneira: considere a denio usual do CQC e acrescente a clu-
sula: seja uma frmula cujo conjunto de variveis livres esteja contido em {x}
{y
1
, . . . , y
n
} e considere uma seqncia a (a
1
, . . . , a
n
) em A. Ento: A
F
[ Gx[x, a]
see {b A [ AF [ [b; a]} F
A
tt
(Grcio, p. 87). Como A / , quando x no ocorre
livre em, A
F
[Gx[a] see A[[a].
Intuitivamente, temos:
(Gx)(x) verdadeira, isto , [] membro de F
A
see muitos indivduos de A
satisfazem(emoutras palavras, se [] contmmuitos indivduos). Assim, F
A
uma coleo de conjuntos que contmmuitos elementos(Feitosa &Grcio 2005,
p. 7).
Algumas denies tais como sentenas, teoremas, consistncia etc., no foram
expostas devido analogia com a lgica de primeira ordem. Por m, Grcio demons-
tra, emsua tese, que a lgica do muito correta e completa, segundo o sistema dedu-
tivo e modelos introduzidos neste captulo.
A seguir, desenvolveremos um sistema dedutivo por tabls para esse sistema l-
gico modulado.
2. Omtodo Tabl[L(G)]
Como a lgica do muito no-clssica por ser complementar lgica clssica de pri-
meira ordem, muitas das propriedades e denies vlidas na lgica clssica tambm
o so na lgica do muito. Por isso, no apresentamos as denies de rvores, ramos
e tabls, j que so as mesmas das apresentadas na literatura para o CPC e CQC. No
entanto, h alguns aspectos que diferem no sistema de tabls para a lgica do muito,
tais como a clusula de fechamento e as regras referentes ao quanticador modulado
G. Nesses casos, introduzimos os elementos tericos adequados ao sistema lgico em
questo.
2.1. As regras para Tabl[L(G)]
Para Tabl[L(G)] so vlidas todas as regras estabelecidas para os tabls do CPCe CQC,
mais aquelas prprias do sistema modulado para G. A fundamentao terica subja-
cente s novas regras de expanso para o quanticador G est no conceito de famlia
fechada superiormente prpria e na noo intuitiva do quanticador muito. Assim,
as regras Tabl[L(G)] so as seguintes: considerando um universo qualquer A, temos:
Um sistema de tabls para a lgica do muito 211
Regra G
1
:
1 Gx(x)
1 (a), para um novo indivduo a A.
Intuitivamente, essa regra nos diz que: se muitos indivduos satisfazem uma pro-
priedade qualquer (x), ento existe pelo menos um elemento pertencente ao con-
junto A para o qual a propriedade (x) satisfeita.
Regra G
2
:
0 Gx(x)
0 (a), para um novo indivduo a A.
Temos que, se o conjunto de evidncias que satisfazemuma propriedade no tem
muitos indivduos, ento existe pelo menos umelemento do universo de discurso que
no apresenta tal caracterstica.
Regra G
3
:
0 Gx((x) (x))
0 Gx(x)
0 Gx(x)
Essa regra nos diz que, se a unio de dois conjuntos no possui muitos elemen-
tos, ento ambos os conjuntos que determinam a unio tambm no contm muitos
elementos, pois se qualquer um deles gozar da propriedade ter muitos elementos,
ento a unio, pela denio de famlia fechada superiormente, tambm ter muitos
elementos.
Regra G
4
:
1 x((x) (x))
1 x((x) (x))
1 x((x) (x))
Essa regra uma frmula vlida do CQC. Como nosso sistema precisa satisfazer
todos os teoremas da lgica do muito, necessitamos dela para alcanar tal objetivo.
Devido ao fato de essa frmula, vlida classicamente, no integrar as regras dos tabls
clssicos do CQC, foi preciso inseri-la no nosso sistema para torn-lo computacional-
mente mais rpido e efetivo. Se no, quando aparecesse uma frmula desse tipo em
uma demonstrao, ela seria imediatamente instanciada e no subdividida em duas
subfrmulas conforme estamos propondo.
Regra G
5
:
1 x((x) (x))
0 Gx(x) 1 Gx(x)
Essa regra deve ser analisada com mais detalhes. Observemos o seguinte: se para
todos os elementos de um dado universo, o conjunto (x) est contido em(x), en-
to podemos armar que:
1 Gx(x)
ou
0 Gx(x).
212 Mariana Matulovic
No primeiro caso, se muitos elementos satisfazem o conjunto (x), pela denio de
famlia fechada superiormente, muitos elementos devem satisfazer (x), j que (x)
est contido em(x).
Agora, se falso que muitos elementos atendem o conjunto (x), no podemos
armar nada, efetivamente, a respeito do conjunto (x). Isto , a denio de famlia
fechada superiormente s vlida quando o conjunto que est contido fechado su-
periormente. Agora, nesse caso, 0 Gx(x), o conjunto (x) pode ter muitos elementos
ou no.
Para que o nosso procedimento seja realmente efetivo, precisamos programar al-
guns comandos que sero fundamentais ao processo. Inicialmente, o dispositivo ten-
tar aplicar as regras clssicas dos operadores lgicos , , , e sem instanciar
as frmulas. Emseguida, verica-se se alguma regra especca de Tabl[L(G)] pode ser
utilizada. Caso armativo, esta deve ser aplicada. Por ltimo, instanciam-se as frmu-
las, quando possvel e, por m, analisa-se se o mtodo originou alguma clusula de
fechamento.
Expostas as regras de Tabl[L(G)], deniremos as clusulas de fechamento desse
novo sistema.
Denio 2.1. Um ramo, em Tabl[L(G)], fechado quando temos no mesmo ramo
uma das seguintes contradies:
(i) e (clusula de fechamento dos tabls clssicos);
(ii) Gx e Gy, nos casos em que y uma varivel livre para x em(x).
Assim, como na lgica clssica, representamos que um ramo est fechado em
Tabl[L(G)] atravs do smbolo X.
Vejamos alguns exemplos de dedues de sentenas quanticadas pelo operador
G em Tabl[L(G)].
a) Gx(x) Gx(x) x((x) (x))
i) 0 Gx(x) Gx(x) x((x) (x)) (refutao da sentena)
ii) 1 Gx(x) Gx(x) (regra do condicional em i)
iii) 0 x((x) (x)) (regra do condicional em i)
iv) 1 Gx(x) 1 Gx(x) (regra do CPC em ii)
v) 1 (a) 1 (b) (regra G
1
em iv)
vi) 0 (a) (a) 0 (a) (a) (regra do CQC em iii)
vii) 0 (b) (b) 0 (b) (b) (regra do CQC em iii)
viii) 0 (a) 0 (b) (regra do CPC em vi e vii)
ix) 0 (a) 0 (b) (regra do CPC em vi e vii)
X X (cl. de fechamento em v e viii; v e ix)
b) Gx((x) (x))
Um sistema de tabls para a lgica do muito 213
i) 0 Gx((x) (x)) (refutao da sentena)
ii) 0 (a) (a)) (regra G
1
em i)
iii) 0 (a) (regra do CPC em ii)
iv) 0 (a) (regra do CPC em ii)
v) 1 (a) (regra do CPC em iv)
vi) X (cl. de fechamento em iii e v)
c) Gx(x) Gx(x) Gx((x) (x))
i) 0 Gx(x) Gx(x) Gx((x) (x)) (refutao da sentena)
ii) 1 Gx(x) Gx(x) (regra do condicional em i)
iii) 0 Gx((x) (x)) (regra do condicional em i)
iv) 1 Gx(x) (regra do CPC em ii)
v) 1 Gx(x) (regra do CPC em ii)
vi) 0 Gx(x) (regra G
3
em iii)
vii) 0 Gx(x) (regra G
3
em iii)
viii) X (clusula de fechamento em iv e vi)
d) Gx((x) (x))
i) 0 Gx((x) (x)) (refutao da sentena)
ii) 1 Gx((x) (x)) (regra do CPC em i)
iii) 1 (a) (a) (regra G
1
em ii)
iv) 1 (a) (regra do CPC em iii)
v) 1 (a) (regra do CPC em iii)
vi) 0 (a) (regra do CPC em v)
vii) X (clusula de fechamento em iv e vi)
e) Gx(x) Gx(x) Gx((x) (x))
i) 0 Gx(x) Gx(x) Gx((x) (x)) (refutao da sentena)
ii) 1 Gx(x) Gx(x) (regra do condicional em i)
iii) 0 Gx((x) (x)) (regra do condicional em i)
iv) 0 Gx(x) (regra G
3
em iii)
v) 0 Gx(x) (regra G
3
em iii)
vi) 1 Gx(x) 1 Gx(x) (regra do CPC em ii)
X X (cl. de fechamento em iv e vi)
3. Equivalncia entre o sistema Tabl[L(G)] e o sistema hilbertiano da lgica
do muito
A idia de se avaliar a equivalncia entre diferentes sistemas dedutivos, a m de se
vericar quando os mesmos conservam todas as caractersticas, denies e propri-
edades, foi extrada de Silvestrini (2005). Utilizamos algumas denies importantes
retiradas do trabalho de Carnielli, Coniglio e Bianconi (2006).
214 Mariana Matulovic
Silvestrini, em sua dissertao intitulada Tableaux e Induo na Lgica do Plaus-
vel, apresentou um sistema dedutivo por tabls para uma lgica modulada, tambm
desenvolvida por Grcio, denominada Lgica do Plausvel. Emvez de vericar se o seu
sistema dedutivo por tabls conservava a correo e completude da lgica do plaus-
vel, ele optou por demonstrar a equivalncia entre o seu sistema de tabls (TLP) e o
sistema hilbertiano proposto por Grcio para a lgica do plausvel. Assim, ele garantiu
que o sistema TLP preserva a correo e completude para a sua lgica pesquisada.
Em suma, Silvestrini (2005) props esquematicamente que:
l
LP
[
LP
{
LP
Obs: O smbolo representa a deduo por tabls e LP a lgica do Plausvel.
Ao demonstrarmos que l , estaremos estabelecendo a equivalncia
entre as conseqncias lgicas de cada sistema dedutivo abordado e, uma vez
que em Grcio (1999, p. 149) est demonstrada a completude do sistema axio-
mtico de L (P), nosso sistema de tableaux TLP tambm ser correto e completo
(Silvestrini 2005, p. 108).
Tal como Silvestrini, demonstraremos a equivalncia do nosso sistema Tabl[L(G)]
com o sistema hilbertiano de L(G), proposto por Grcio (1999), ou seja:
l
L(G)
[
L(G)
{
Tabl[L(G)]
No entanto, para demonstrarmos essa equivalncia, precisaremos de algumas de-
nies apresentadas a seguir.
Denio 3.1 (Carnielli; Coniglio; Bianconi 2006, p. 83). Dizemos que deriva ana-
liticamente se existe um tabl fechado para o conjunto (), tambm represen-
tado por (, ). Denotamos tal fato por l
T
.
Teorema 3.1 (Carnielli; Coniglio; Bianconi 2006, p. 83). Temos as seguintes proprieda-
des:
(a) l
T
;
(b) Se l
T
ento l
T
;
(c) Se , ento l
T
;
(d) Se l
T
e , ento l
T
(Monotonicidade);
(e) l
T
see existe
0
,
0
nito, tal que
0
l
T
.
Denio 3.2 (Carnielli; Coniglio; Bianconi 2006, p. 86). Seja {, }. Dizemos que
T-inconsistente (inconsistente por tabls) se existe um tabl fechado para .
Um sistema de tabls para a lgica do muito 215
Teorema 3.2 (Carnielli; Coniglio; Bianconi 2006 p. 88 Introduo ao Corte). Os con-
juntos (, ) e (, ) so T-inconsistentes se, e somente se, o conjunto T-inconsis-
tente.
A regra de introduo do corte vlida tanto no CPC como no CQC. Como a utili-
zaremos para demonstrar umdos principais teoremas dessa dissertao, necessrio
que examinemos se a mesma preservada quando estendemos a lgica de primeira
ordem com o quanticador generalizado G.
Carnielli, Coniglio e Bianconi (2006) validam essa regra para a lgica proposici-
onal constituda pela linguagem L {, }. De modo anlogo, vericaremos que o
mesmo vale para L {, , , , G}.
Com o intuito de apresentar uma demonstrao mais limpa e simples, subs-
tituiremos os smbolos dos valores de verdade 0 e 1, pelo sinal () para representar
a negao, e a ausncia de marcao para representar a armao. Assim, Gx(x)
signica que no so muitos os indivduos que satisfazem(x) e Gx(x) denota que
muitos indivduos satisfazem(x). No entanto, depois retornaremos marcao an-
terior.
Demonstrao da regra de Introduo ao Corte para L {, , , , G}:
Demonstrao. () Se o conjunto T-inconsistente, ento (, ) e (, ) so T-
inconsistentes.
Sabemos, por hiptese, que existe um tabl fechado para . Pelo teorema da Mo-
notonicidade, se , ento tambm fechado por tabl. Dentre as diversas fr-
mulas contidas em temos (, ) e (, ).
() Se os conjuntos (, ) e (, ) so T-inconsistentes, ento o conjunto
T-inconsistente.
Diante do fato de que Carnielli, Coniglio e Bianconi (2006) j demonstraram que
a regra do corte valida para L {, }, ao estendermos essa linguagemcomo conec-
tivo clssico condicional, vericaremos que essa regra vlida apenas para o referido
conectivo. Emseguida, analisaremos se a regra ainda preservada quando inserimos,
gradativamente, os quanticadores Universal, Existencial e Gna estrutura sinttica da
lgica.
(i) L {, , , }
Temos:
x(x)
Por hiptese, temos que os conjuntos abaixo so T-inconsistentes:
, x(x)
, x(x)
_
so T-inconsistentes
216 Mariana Matulovic
Pela denio 3.3, desde que , x(x) e , x(x) so T-inconsistentes ento
existe um tabl fechado para eles. Assim, ou temos um tabl fechado para e nada
precisa ser acrescentado ou o tabl fecha pela incluso da frmula quanticada. As-
sim:
(a)
x(x)
(x), para todo x
X
Diante disso, inferimos que (x) ocorre no tabl de , para algum x.
(b)
x(x)
(x), x novo no ramo.
X
Logo, (x) , para um x novo no ramo.
Como valem (a) e (b), temos no tabl de , em cada ramo, (x) para algum x e
(x). Logo, T-inconsistente.
(ii) L {, , , , G}
Vericaremos se o mesmo ocorre com L {, , , , G}.
Gx(x)
Por hiptese, temos que os conjuntos abaixo so T-inconsistentes:
, Gx(x)
, Gx(x)
_
so T-inconsistentes
Como , Gx(x) e , Gx(x) so T-inconsistente, ento podemos concluir pela
denio 3.3 que existe um tabl fechado para cada um deles. Assim, ou temos um
tabl fechado para e nada precisa ser acrescentado ou o tabl fecha pela incluso
da frmula quanticada Gx(x):
(a)
Gx(x)
X
Como o tabl fechado, ento ocorre no tabl Gx(x) ou x(x) {(a), para
alguma nova constante a}.
(b)
Gx(x)
X
Diante disso, ocorre no tabl Gx(x) ou x(x).
Um sistema de tabls para a lgica do muito 217
Como o nosso objetivo provar que T-inconsistente, analisaremos todas as
possveis combinaes entre os diferentes tipos de frmulas que podem estar conti-
das no tabl de , lembrando que (a) e (b) ocorrem.
1) Gx(x) e Gx(x). Trivialmente, T- inconsistente.
2) Gx(x) e x(x). De x(x), temos (a), para todo a, inclusive para o (a),
proveniente da instanciao de Gx(x). Logo, T- inconsistente.
3) x(x) e Gx(x): De x(x), temos (a), para todo a, inclusive para o
(a), proveniente da instanciao de Gx(x). Portanto, T- inconsistente
4) x(x) e x(x). Por anlise direta, T-inconsistente.
Com isso, demonstramos que podemos aplicar a regra do corte quando as frmulas
so quanticadas tambm com o operador generalizado G.
Teorema 3.3. Se l
L(G)
, ento
Tabl[L(G)]
.
Demonstrao. Consideremos o conjunto de premissas {
1
,
2
, . . . ,
n
} que deduz
a partir de um conjunto . A idia subjacente a esta demonstrao a de se cons-
truir um tabl fechado para , por intermdio da induo sobre o comprimento da
deduo (k 1, 2, . . . , n), ou seja, construirmos um tabl fechado quando n 1 (ape-
nas uma premissa) e continuaremos para n 1.
1
a
Parte: Ocomprimento da deduo igual a 1, ou seja, n 1. Nesse caso,
1
temque
ser uma premissa ou um esquema de axiomas da lgica do muito (L(G)). Analisemos,
ento, esses dois casos.
(i)
1
uma premissa.
Pela denio 3.2, precisamos vericar se existe um tabl fechado para .
Como , ento uma contradio clssica.
(ii)
1
um esquema de axiomas.
Neste caso, basta construirmos um tabl para (,
1
). Desde que o tabl seja
fechado, ento
1
.
Resta-nos, ento, vericar que para cada axioma especco da lgica do muito
existe um tabl fechado. Assim:
1
x((x) (x)) (Gx(x) Gx(x))
i) 0 x((x) (x)) (Gx(x) Gx(x)) (refutao de
1
)
ii) 1 x((x) (x)) (regra do condicional em i)
iii) 0 Gx(x) Gx(x) (regra do condicional em i)
iv) 1 Gx(x) (regra do condicional em iii)
v) 0 Gx(x) (regra do condicional em iii)
vi) 0 Gx(x) 1 Gx(x) (regra G
5
em ii)
X X (contradio em iv e vi e v e vi)
218 Mariana Matulovic
Como o tabl para
1
fechado, inferimos que
1
.
t
1
x(x) Gx(x)
i) 0 x((x)) Gx((x)) (refutao de
t
1
)
ii) 1 x(x) (regra do condicional em i)
iii) 0 Gx(x) (regra do condicional em i)
iv) 0 (a) (regra do G
2
em iii, para um a F)
v) 1 (a) (regra do universal em ii)
vi) X (contradio em iv e vi)
Como o tabl para
t
1
fechado, podemos inferir que
t
1
.
tt
1
Gx(x) x(x)
i) 0 Gx(x) x(x) (refutao de
tt
1
)
ii) 1 Gx(x) (regra do condicional em i)
iii) 0 x(x) (regra do condicional em i)
iv) 1 (a) (regra do G
1
em ii, para um a F)
v) 0 (a) (regra do existencial em iii)
vi) X (contradio em iv e v)
Como o tabl para
tt
1
fechado, inferimos que
tt
1
.
ttt
1
x((x) (x)) (Gx(x) Gx(x))
i) 0 x((x) (x)) (Gx(x) Gx(x)) (refutao de
ttt
1
)
ii) 1 x((x) (x)) (regra do condicional em i)
iii) 0 Gx(x) Gx(x) (regra do condicional em i)
iv) 1 x((x) (x)) (regra G
4
em ii)
v) 1 x((x) (x)) (regra G
4
em ii)
vi) 1 Gx(x) 0 Gx(x) (regra do bicondic. em iii)
vii) 0 Gx(x) 1 Gx(x) (regra do bicondic. em iii)
viii) 0 Gx(x) 1 Gx(x) 0 Gx(x) 1 Gx(x) (G
5
em iv)
ix) X X 0 Gx(x) 1 Gx(x) 0 Gx(x) 1 Gx(x) (G
5
- v)
X X X X
Como o tabl para
ttt
1
fechado, inferimos que
ttt
1
.
tttt
1
Gx(x) Gy(y), quando y livre para x em(x).
i) 0 Gx(x) Gy(y) (refutao de
tttt
1
)
ii) 1 Gx(x) (regra do condicional)
iii) 0 Gy(y) (regra do condicional)
iv) X (cl. Fechamento em ii e iii)
Um sistema de tabls para a lgica do muito 219
Como o tabl para
tttt
1
fechado, inferimos que
tttt
1
.
2
a
Parte: Comprimento da deduo maior que um, ou seja, n >1.
Nesse momento, presumimos a existncia de uma prova, no sistema hilbertiano
para (
1
, . . . ,
n
), a partir de umconjunto comcomprimento igual a n, ou seja:
1
.
.
.
_
n passos ( )
Pela hiptese da induo, podemos deduzir, por tabls, qualquer
i
desde que
i <n.
Para mostrar que , devemos analisar um a um todos os casos que permiti-
ramcolocar
n
(isto , ) na seqncia (Carnielli; Coniglio; Bianconi 2006, p. 89). Ou
seja:
i 1. Ento,
n
1
. Neste caso, uma nica premissa ou um axioma da
lgica do muito. Ambas as situaes j foram analisadas e comprovadas.
i n. Nesta circunstncia,
n
, s pode ter sido deduzida a partir da aplica-
o de alguma regra de inferncia. Como no nosso sistema s h duas regras,
Modus Ponens e Generalizao, ento s pode ser conseqncia do emprego
de alguma delas. Analisemos cada uma separadamente.
1) Modus Ponens (MP): pretendemos avaliar:
Sabemos que obtido de
i
e
j
(i , j <n) por Modus Ponens. Pela
denio 3.1, temos que:
(a) , {} fechado por tabl.
(b) , {()} tambm fechado por tabl.
Da denio 3.3, segue que {} e {()} so T-inconsistentes. Agora,
aplicando a regra do condicional e De Morgan em(b), obtemos: {} e {
} so T-inconsistentes, ou seja:
i) {}
ii) {)}
_
so T-inconsistentes
O teorema 3.2 (d)(Monotonicidade) nos garante que ao adicionarmos frmulas
emuma deduo, a qual fechada por tabls, o fechamento preservado. Aplicando-
se, ento, esse teorema em (i) temos:
i)
ii)
_
so T-inconsistentes
220 Mariana Matulovic
Diante desse contexto, podemos empregar o teorema 3.4 (Introduo ao corte),
isto :
T-inconsistente
T-inconsistente
T-inconsistente
Assim sendo, (, ) T-inconsistente, ou seja, .
2) Generalizao: Desejamos avaliar:
x(x)
Sabemos que x obtido de
i
(i < n) por Generalizao. Pela denio
3.1, temos que , {} fechado por tabl.
Da denio 3.2, para demonstrarmos que x, basta construirmos umtabl
fechado para (, x). Assim, temos:
i)
ii) 0 x
iii) 0 (c), desde que c seja nova no ramo (aplicao da regra clssica )
iv) X (Fechamento pela hiptese da induo em i e iii)
Portanto, lx, ou seja, l.
Conclumos, deste modo, que se l
L(G)
, ento l
Tabl[L(G)]
.
A demonstrao do prximo teorema ser feita de modo anlogo ao de Castro
(2004) e Silvestrini (2005).
Em sua tese, Castro desenvolveu uma hierarquia de sistemas de tabls para as
lgicas paraconsistente de Da Costa(C
n
). Ele representou esse sistema de tabls pela
sigla TNDC
n
. Em um dos seus teoremas, Castro demonstrou que para cada frmula
validada em seu sistema de tabls, existe uma deduo no sistema axiomtico de Da
Costa, ou seja:
l
TDNCn
S l
Cn
S
Silvestrini (2005) tambm aplicou esse estilo para demonstrar que todas as regras
que compunham o seu sistema de tabls para a lgica do Plausvel (TLP) possuem
uma demonstrao no sistema hilbertiano dessa mesma lgica, ou seja, a lgica do
Plausvel (L(P)).
O que estamos propondo demonstrar, nesse momento, que para cada frmula
validada (conseqncia analtica) pelo sistema TLP, devemos apresentar uma
demonstrao (deduo) no correspondente sistema axiomtico L
(P) (Silves-
trini 2005, p. 115).
Um sistema de tabls para a lgica do muito 221
Desse modo, utilizaremos o mesmo esquema de demonstrao para provarmos
o nosso Teorema 3.6, ou seja, vericarmos que cada uma das nossas regras para o
sistema de tabls da lgica do muito, pode ser deduzida no sistema axiomtico da
referida lgica.
Silvestrini compreende o sistema por tabls como uma mecanizao exaustiva
do procedimento de prova do reduction ad absurdum do mtodo axiomtico (2005,
p. 115, grifo do autor). Diante disso, ele defende que se h, para uma referida frmula,
uma demonstrao por tabls, ento podemos construir uma prova por reduo ao
absurdo no sistema axiomtico. Mas isso s ser possvel quando:
i) As condies para inicializao e fechamento do sistema TLP, tambmso con-
dies vlidas, nas provas por absurdo, no correspondente sistema hilbertiano
L(P).
ii) Todas as Regras de Expanso de TLP so dedutveis no sistema hilbertiano
L(P), desse modo, tais regras de TLP passam a ser entendidas como Regras de
Deduo no sistema axiomtico (Silvestrini 2005, p. 116).
Como optamos por demonstrar que o nosso sistema de tabls para a lgica do
muito correto e completo por um procedimento anlogo ao de Silvestrini, e con-
cordamos com as idias defendidas pelo autor, ento demonstraremos que as regras
de tabls para a lgica do muito podem ser deduzidas no sistema hilbertiano, respei-
tando as clausulas i) e ii) expostas por Silvestrini adaptadas para o sistema Tabl[L(G)].
Teorema 3.4. Se
Tabl[L(G)]
, ento l
L(G)
.
Demonstrao. H dois casos a serem analisados:
i) , neste caso segue de modo direto que l
L(G)
.
ii) . Neste caso, deve ser alguma frmula gerada ou advinda da aplicao de
alguma regra do nosso sistema de tabls. Sendo assim, precisamos vericar se con-
seguimos deduzir cada uma das frmulas de Tabl[L(G)] no esquema hilbertiano da
lgica do Muito.
Observamos que as condies de inicializao e fechamento do sistema por ta-
bls Tabl[L(G)] so as mesmas para as demonstraes por reduo ao absurdo,
ou seja: (1) iniciamos a demonstrao refutando a frmula inicial; (2) conclumos
quando encontramos uma contradio lgica.
Deduo das regras do Tabl axiomaticamente.
Regra G
1
: Gx(x) l(a), a nova no ramo.
Neste caso, utilizaremos o mtodo direto dedutivo.
1. Gx(x) P
2. Gx(x) x(x) Ax
3
3. x(x) MP em 1 e 2
4. (a) CQC em 3.
222 Mariana Matulovic
Regra G
2
: Gx(x) l(a), a novo no ramo.
1. Gx(x) P
2. x(x) Gx(x) Ax
2
3. x(x) MT em 1 e 2
4. (a) CQC.
Regra G
3
: Gx((x) (x)) l(Gx(x) Gx(x))
1. Gx((x) (x)) P
2. (Gx(x) Gx(x)) pp. (reduo ao absurdo)
3. Gx(x) Gx(x) CPC
4. Gx(x) Gx(x) CPC
5. (Gx(x) Gx(x)) Gx((x) (x)) Teorema 4 de L(G)
6. Gx((x) (x)) MP em 4 e 5
7. Gx((x) (x)) Gx((x) (x)) Contradio.
Regra G
4
: classicamente vlida.
Regra G
5
: x((x) (x)) l(Gx(x) Gx(x))
1. x((x) (x)) P
2. (Gx(x) Gx(x)) pp. (reduo ao absurdo)
3. (Gx(x) Gx(x)) CPC
4. x((x) (x)) (Gx(x) Gx(x)) Ax
1
5. x((x) (x)) MT em 3 e 4
6. x((x) (x)) x((x) (x)) Contradio.
Assimsendo, demonstramos que tudo que vlido emTabl[L(G)], tambmo na
L(G). Diante disso, comprovamos o Teorema 3.6.
Ao demonstrarmos os teoremas 3.5 e 3.6, podemos concluir que:
l
L(G)
[
L(G)
{
Tabl[L(G)]
Deste modo, provamos que o sistema de tabls proposto neste trabalho equiva-
lente ao sistema axiomtico introduzido por Grcio (1999) para a lgica do muito. Em
conseqncia disso, podemos garantir a correo e completude de Tabl[L(G)].
Um sistema de tabls para a lgica do muito 223
Bibliograa
Carnielli, W. A.; Coniglio, M. E.; Bianconi, R. 2006. Lgica e aplicaes: matemtica, cincia da
computao e losoa. Verso preliminar: captulos 1 a 5. Campinas: Universidade Esta-
dual de Campinas, Unicamp. Disponvel em: <http://www.cle.inucamp.br/prof/coniglio/
LIVRO.pdf>. Acesso em: 17.5.2006.
Castro, M. A. 2004. Hierarquia de sistemas de deduo natural e de sistemas de tableaux ana-
lticos para os sistemas de C
n
de Da Costa. Tese de doutorado (Doutorado em Lgica e
Filosoa da Cincia) Instituto de Filosoa e Cincias Humanas, Universidade Estadual
de Campinas. Campinas.
DOttaviano, I. M. L& Feitosa, H. A. 2003. Histria da lgica e o surgimento das lgicas no-
clssicas. In Nobre, S. (org.) Coleo Histria da Matemtica para Professores. Rio.
Feitosa, H. A.& Grcio, M. C. C. 2005. Lgicas moduladas: implicaes em um fragmento da
teoria da linguagem natural. Revista Eletrnica Informao e Cognio 4(1): 3446.
. Sobre os quanticadores generalizados. Universidade Estadual Paulista: Marlia, artigo
no-publicado.
Grcio, M. C. C. 1999. Lgicas moduladas e raciocnio sob incerteza. Tese de Doutorado (Dou-
torado em Lgica e Filosoa da Cincia) Instituto de Filosoa e Cincias Humanas, Uni-
versidade Estadual de Campinas.
Sette, A. M.; Carnielli, W. A.; Veloso, P. 1999. An alternative view of default reasoning and its
logic. In Haeusler, E. H. & Pareira, L. C. (eds.) Pratica: Proofs, types and categories. Rio de
Janeiro: PUC, pp. 12758.
Silvestrini, L. H. C. 2005. Tableaux e Induo na Lgica do Plausvel. Dissertao de mestrado
(Mestrado em Filosoa rea de Concentrao em Epistemologia e Lgica). Marlia: Fa-
culdade de Filosoa e Cincias, Unesp.
Smullyan, R. M. 1994.First-Order Logic. New York: Dover Publications, Inc. (Republicao do
1
a
ed. publicada pela Springer-Verlag, New York, 1968.)
QUE HARMONIA PARA REGRAS DE INTRODUO/ELIMINAO?
WAGNER DE CAMPOS SANZ
Universidade Federal de Gois
sanz@fchf.ufg.br
1. Introduo
O argumento de Prior (1967) dirigido contra a tese de que as regras de introduo
e eliminao possam ser tomadas como uma denio para as constantes lgicas
bem conhecido. Ele consiste em apresentar uma regra de introduo e uma regra de
eliminao para uma constante ctcia tonk, como a seguir:
introduo
A
i tonk
A tonk B
eliminao
A tonk B
e tonk
B
Essas regras no respeitam um princpio elementar de boa construo conhe-
cido no meio-ambiente de Teoria da Prova como Princpio de Inverso. Em termos
bem simples, segundo o princpio, para pares de regras de introduo e eliminao
corretamente formuladas, uma derivao em que ocorra uma seqncia imediata de
introduo-eliminao da mesma constante deve poder ser eliminado da derivao
semque isso desfaa a prova que j tnhamos, justamente o que no ocorre comtonk:
A
i tonk
A tonk B
e tonk
B
A exigncia do princpio parece bloquear o problema. A questo mais geral a ser
investigada se ele resolveria de modo mais amplo os problemas de harmonia en-
tre as regras de introduo e eliminao. Para os intuicionistas, o Princpio de Inver-
so temimportncia capital na medida emque vrios deles, particularmente Prawitz,
considera que as regras de eliminao no so mais do que conseqncia das regras
de introduo e sua justicao dependeria do uso do princpio sobre as regras de
introduo.
2. UmEstudo de Caso para o Problema da Harmonia
Quando a negao estiver caracterizada em um sistema formal intuicionista seja
como primitiva seja como denida (a partir do absurdo) , poderemos adicionar, por
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 224227.
Que Harmonia para Regras de Introduo/Eliminao? 225
denio explcita, o operador de desimplicao:
A /B
d f
(B A)
Alternativamente poderamos introduzir esse operador lgico por meio das se-
guintes regras de deduo:
introduo
, [B A]
i
i/
A /B
eliminao
, [B]
i
A A /B
e/
Notamos que a regra de introduo no independente, ela requer que a impli-
cao j tenha sido denida previamente. Contudo, possvel apresentar uma regra
de introduo independente (acompanhada das correspondentes regras de elimina-
o), usando condies um pouco mais abrangentes:
Introduo Eliminaes
, [A]
i
B A A /B A /B
i/ e/ e/
A /B B
Desse modo, a desimplicao pode ser caracterizada por dois naipes de regras
distintos. Esses dois naipes de regras para a mesma constante so interderivveis do
ponto de vista da lgica clssica. Alis, o segundo naipe aproxima-se bastante da ca-
racterizao que essa constante receberia em termos de tabela de verdade:
A B A /B
V V F
V F F
F V V
F F F
Cada um dos naipes de regras possui certa harmonia. Ou seja, qualquer con-
seqncia das regras de eliminao j deve ser conseqncia das condies exigidas
para a introduo da constante. Todavia, poderamos nos perguntar, j que nos pro-
pusemos a examinar esse problema da harmonia entre as introdues e as elimina-
es, o que aconteceria se tomssemos a regra de introduo de umnaipe e a regra de
eliminao de outro? Como dizamos o segundo naipe captura condies que pode-
ramos dizer mais amplas que as doprimeironaipe. Se tomssemos as regras de elimi-
nao do segundo naipe e a regra de introduo do primeiro naipe, teramos um par
226 Wagner de Campos Sanz
de regras que no respeitaria o Princpio de Inverso, j que a seqncia introduo-
eliminao de desimplicao a seguir no pode ser removida fazendo apelo somente
ao que est dado nas subderivaes usadas para a introduo da constante:
[B A]
1
(B A)
e
i/
A /B
e/
B
Podemos dizer que, nesse caso, as regras de eliminao extraemmais conseqn-
cias do que aquilo que estaria admitido pela regra de introduo. Ou seja, adotando
o ponto de vista de muitos intuicionistas contemporneos, a regra de introduo do
primeiro naipe no validaria todas as regras de eliminao do segundo naipe, pois a
concluso no pode ser derivada (intuicionistamente) se o par de regras for removido.
Mas h ainda uma segunda alternativa a ser examinada. Ser possvel adotar a re-
gra de introduo do segundo naipe coma regra de eliminao do primeiro naipe? Ao
que parece sim, pois o Princpio de Inverso seria vlido para esse caso. Alis, Bowen
(1971) havia considerado a possibilidade de denir a constante de desemplicao de
uma forma que substancialmente equivalente, usando o Clculo de Seqentes ao
invs de Deduo Natural. Ele mostra que para essa denio vale a propriedade de
eliminao de corte e usa essa prova como argumento para armar que esse novo
operador lgico intuicionistamente aceitvel. Rapidamente, podemos ver que para
esse caso uma seqncia de introduo-eliminao pode ser realmente eliminada:
1
, [A]
i
1
3
B
i
i/
2
, [B]
j
2
A A /B
j
e/
2
, B
1
, A
Todavia, observemos, uma das condies para introduzir o operador envolvia a
dedutibilidade de B a partir de um conjunto
3
de frmulas, mas agora a regra de eli-
minao j no seria capaz de nos devolver essa condio inicial de dedutibilidade.
Assim, parece-nos que a regra de eliminao seria demasiado fraca no sentido de
no permitir reestabelecer aquilo que j estava presente nas condies de introdu-
o do operador, apesar da regra de eliminao poder ser validada a partir da regra
de introduo. Para dizer de um modo gurado, como se o banco da desimplica-
o, denido com esse par de regras, exigisse um depsito maior para abrir a conta e
Que Harmonia para Regras de Introduo/Eliminao? 227
s permitisse, posteriormente, o saque de parte do dinheiro inicial, uma espcie de
escroqueria.
Acerca do problema da harmonia das regras, duas atitudes so possveis. Uma
primeira atitude mais em linha com o ponto de vista intuicionista interpreta as re-
gras como regras de inferncia, onde os seus componentes devem ser vistos como
asseres. Como j dissemos acima, desde esse ponto de vista, em geral, escolhe-se
ou as regras de introduo ou as regras de eliminao como as regras a serem consi-
deradas imediatamente vlidas, sendo as demais justicadas com base no grupo de
regras considerado mais primitivo.
Porm, outro ponto de vista admissvel aquele segundo o qual os dois tipos de
regras, introdues e eliminaes, so considerados conjuntamente relevantes. Para
esse ponto de vista, o que importa mostrar que as regras sejamharmnicas: todas as
conseqncias que se sigamcomumente das condies sucientes para a introduo
de uma constante tambmdevemser obtidas como conseqncia do uso dessa cons-
tante via regras de eliminao. Desde esse ponto de vista, a escolha da regra de intro-
duo do segundo naipe coma eliminao do primeiro naipe estaria emdesarmonia,
pois nem todas as conseqncias comuns s condies sucientes para introduo
da constante seriamconseqncias, via regras de eliminao, do uso dessa constante.
Essa forma de formular o princpio de harmonia aquela que mais particularmente
receberia nesse instante nossos olhares favorveis.
Muitas questes acerca da aplicao desse princpio e sua relao com a deni-
o das constantes lgicas so para ns problemas em aberto. Com efeito, a prpria
questo do que que podemos chamar de constante lgica umproblema no clara-
mente elucidado. Umparadigma para abordar a questo consiste emassumir a eluci-
dao em termos de regras de introduo e de eliminao. Esse paradigma apresenta
problemas internos e externos. Um dos problemas internos, ns tentamos mostrar
acima. Como problema externo, podemos citar a diculdade emelucidar o uso de al-
gumas constantes lgicas como os operadores modais dentro do prprio paradigma.
Referncias
Bowen, K. A. 1971. An Extension of the Intuitionistic Propositional Calculus. Indagationes Ma-
thematicae, v. 33, f. 1. Amsterd: North-Holland.
Prawitz, D. 1965. Natural Deduction. Estocolmo: Almqvist & Wicksell.
Prior, A. N. 1967. The Runabout Inference-Ticket. In Strawson, P. F. (ed.) Philosophical Logic.
Oxford: Oxford University Press, p. 12931.
Schrder-Heister, P. 2007. Generalized Denitional Reection and The Inversion Principle. [a
ser publicado]
Tennant, N. 1978. Natural Logic. Edinburgo: Edinburgh University Press.
III
TICA
FILOSOFIA POLTICA
VALOR DA VIDA HUMANA E ANENCEFALIA
ALCINO EDUARDO BONELLA
Universidade Federal de Uberlndia (UFU)/FAPEMIG
abonella@ufu.br
Problemas que envolvem a vida e a morte de seres humanos so no raras vezes de
difcil tratamento, na teoria e na prtica, e quase sempre envolvem decises pbli-
cas e privadas em comunidades polticas cujos membros divergem fortemente sobre
o que melhor fazer em tais situaes. Exemplos tpicos desses problemas apare-
cem nas discusses sobre o aborto, suicdio assistido e eutansia, o possvel uso de
embries humanos em pesquisa, protocolos mdicos para casos envolvendo fetos e
recm-nascidos com graves decincias, como o caso da anencefalia. Neste traba-
lho, focalizando este ltimo problema, examinaremos alguns aspectos normativos,
em especial, aspectos polticos do uso da razo pblica em sociedades democrticas,
que so importantes para o tratamento de dilemas morais que envolvem o valor da
vida humana. Os aspectos tratados aqui esto vinculados a outros pontos principais
de uma teoria do valor da vida, como o estatuto moral e metafsico da vida humana
e no-humana, e a identidade individual em questo nestes dilemas, e outros pontos
especicamente bioticos, que no sero abordados diretamente neste trabalho.
1
Tomemos alguns princpios e valores gerais normalmente utilizados em debates
bioticos. A Constituio do Brasil explicitamente institui como valores supremos e
fundamentos da Repblica a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o plura-
lismo social e poltico (cf. Prembulo e art. 1
o
, inc. II, III, V), assim como prescreve a
prevalncia dos direitos humanos na regncia de suas relaes internacionais, dando
estatuto constitucional a tratados e convenes internacionais de direitos humanos
(art. 4
o
, II; art. V, par. 2), e estabelece direitos e garantias fundamentais, dentre os
quais, como direitos e deveres individuais e coletivos, encontram-se: a garantia da
inviolabilidade do direito vida, liberdade e igualdade, em termos, entre outros,
de igualdade entre homens e mulheres, de permisso de fazer ou deixar de fazer exceto
se lei obrigar diferentemente, de proibio da tortura e tratamento desumano ou de-
gradante, e de inviolabilidade da intimidade e da vida privada (cf. Art. 5
o
, incisos I, II,
III e X). Como norma jurdica maior, a Constituio enquadra a existncia, interpreta-
o e aplicao de todas as outras leis, incluindo as leis anteriores sua promulgao,
controlando assim sua validade. Uma ao singular sempre avaliada juridicamente
luz de alguma norma, e, emltima instncia, luz do complexo de normas jurdicas
constitucionais e infraconstitucionais. Para que seja legal ou ilegal, a ao singular
subsumida como caso individual de uma norma, e, como ocorre com qualquer ava-
liao ou juzo normativo, h a possibilidade de termos diculdades na descrio da
ao, na escolha da norma que deva reger o caso, e, muitas vezes, na interpretao e
aplicao da norma escolhida ao caso concreto.
2
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 231239.
232 Alcino Eduardo Bonella
Um modo de estudarmos tais diculdades consiste em tentar entendermos me-
lhor o conito de normas. Normas morais e leis normalmente so princpios gerais,
que regem aes em suas caractersticas mais comuns e destacveis, em parte, para
que possamos nos guiar com mais segurana em nossas deliberaes cotidianas nas
situaes que provavelmente emergiro em nossas prticas. Mas, por isso, ao menos
algumas vezes, podemos ter um caso com aspectos factuais regidos prima facie por
mais de uma norma geral, e a aplicaode uma delas conduzindoa resultados contra-
ditrios com a aplicao de outra. A soluo do conito, em termos lgicos, gerar a
preponderncia de uma das normas, seja na forma de aplicao ao caso de uma delas,
afastando a outra, seja na forma de um tipo de especicao da norma, que pondere
conscienciosamente uma soluo normativa mais detalhada para aquele tipo de caso
problemtico. Vimos acima um conjunto complexo de valores e normas presente em
apenas algumas pginas da Constituio.
Essa descrio simplicada do conito de normas uma sugesto para minima-
mente distinguirmos dois complexos antitticos, e decidirmos, ou por um deles, ou
por uma sntese bem ponderada de elementos presentes nos dois lados, ponderando
e especicando uma soluo. Casos difceis ocorremna vida diria, mas temos exem-
plares deles em especial nos debates de biotica, campo da reexo crtica sobre a
correo de aes que afetam mais diretamente a vida e a morte, como o caso dos
debates citados no primeiro pargrafo. Oproblema da anencefalia, emespecial a ava-
liao dos protocolos mdicos possveis em seu enfrentamento, um dos casos nor-
malmente vistos como conituosos, ou de dilema tico.
Um feto ou um recm-nascido anencfalo est gravemente prejudicado em sua
formao. Eles carecem do chamado crebro superior (higher brain), os hemisfrios
cerebrais onde se forma o crtex cerebral, parte do crebro responsvel por nossas
capacidades humanas cognitivas e emocionais propriamente ditas, nossas capacida-
des psicolgicas. Para o consenso cientco disponvel at o momento, a falta dos
hemisfrios cerebrais uma condio biolgica incompatvel com a manuteno da
vida extra-uterina e, quando do breve perodo em que um ser humano assim viver,
uma condio incompatvel com a experincia psicolgica conhecida: em todos os
casos recm nascidos assim morrero muito cedo, e em todos os casos eles no tm
capacidades cerebrais para conscincia e autoconscincia. Eles tambm no tm a
potencialidade de desenvolver tais capacidades em perodo ulterior. Todavia, ape-
sar de no possurem os hemisfrios cerebrais, anencfalos ainda possuem o tronco
cerebral (lower brain), parte do sistema nervoso que controla certas funes vegetati-
vas, e, ao menos emcerto perodo breve de tempo, eles possuiro alguma capacidade
de sustentao da vida biolgica, ou seja, estaro vivos e sero geneticamente huma-
nos. A marioria dos fetos com esta anomalia morre durante a gestao, e daqueles
que chegam a nascer, a maioria morre nas primeiras horas, e uma percentagem pe-
quena sobreviver alguns meses, mas no se conhece nenhumcaso de sobrevivncia,
sendoconsiderada uma doena letal. (Cf. MacMahan2002, pp. 4505; Steinbock 1996,
pp. 306; Ford 2002, pp. 868, 969, 1556, 1667; Strong 1997, pp. 1756.)
Valor da Vida Humana e Anencefalia 233
Quando este tipo de tragdia ocorre e diagnosticada durante a gestao, al-
gumas mulheres desejam interromper a gestao o mais depressa; outras escolhem
manter a gestao. Dentre as pessoas que pensam que o aborto normalmente er-
rado, algumas duvidaro que seja errado interromper a gestao neste caso, por causa
da condio descrita acima. Dentre as que pensam que o aborto normalmente l-
cito e no coloca nenhumproblema tico mais importante, algumas reforaro que o
que torna justicvel aceitar a deciso da mulher neste caso , em especial, a falta de
benefcio para o feto, se obrigamos ou recomendamos a manuteno da gestao: os
pais podem inclusive pensar que manter uma vida biolgica com tal anomalia des-
respeitar a dignidade do lho, pedindo a interrupo no s por sua causa (dos pais),
mas tambm em nome do lho. Mas outros pais podem discordar e querer manter o
curso da gestao. Normalmente os pases que ainda probem legalmente o aborto
so tolerantes com a interrupo neste tipo de anomalia. Um aspecto importante
que em muitos pases, quando as leis contra o aborto foram denidas, no havia
ainda tecnologia de diagnstico deste tipo de anomalia fetal, e isto gera problemas
para a aplicao da lei existente e para a elaborao (ou no) de novas leis.
Mesmo pases onde o aborto normalmente lcito discutem o problema do que
fazer em casos de nascimento de um beb com anomalia grave, e em especial, o pro-
blema do que fazer no caso da doao dos rgos de beb anencfalo, pois para que
haja a doao querida pelos pais e que em tese seria benca aos que receberiam os
rgos, o beb anencfalo tem de ter seus rgos retirados antes que ocorra a morte
completa do tronco cerebral, pois no possvel esperar a morte segundo o crit-
rio tradicional de morte cerebral (que inclui o tronco cerebral) porque a siologia do
beb nesta condio inviabilizar o funcionamento adequado dos rgos com tal es-
pera. Neste caso, usar tal critrio inviabilizaria a doao dos rgos; por outro lado,
o beb j est completamente sem o crtex cerebral, e a morte do crtex um cri-
trio discutido hoje em certos crculos mdicos e loscos como mais adequado
para se denir a morte humana, mesmo de uma pessoa adulta. Se o beb com anen-
cefalia no possuiu ou possui, e nunca possuir, um crtex cerebral capaz de gerar
auto-conscincia, ao menos neste caso se poderia com segurana aplicar tal critrio
(cortical death) com razovel certeza prtica.
3
No Brasil h uma discusso judicial no Supremo Tribunal Federal (STF, que atua
entre outras funes como corte constitucional suprema), sobre a licitude da anteci-
pao teraputica do parto em casos de anencefalia. Desde 2004, quando um sindi-
cato nacional de trabalhadores da sade defendeu no Tribunal que uma interpretao
conforme a Constituio fundamenta e apia o direito da me antecipar o parto no
caso de anencefalia do feto, caso assim o deseje, aguarda-se a manifestao nal da
corte sobre o mrito jurdico do apelo. Oproblema que tal discusso judicial enfrenta
que, sob certa interpretao do Cdigo Penal no Brasil (estabelecido na dcada de
40, e que penaliza o aborto exceto nos casos de risco de morte da me e de gravidez re-
sultante de estupro), a antecipao teraputica do parto ou interrupo teraputica
da gestao de um feto anencfalo seria crime de aborto, ainda que a interrupo
234 Alcino Eduardo Bonella
da gestao seja sugerida pelo mdico como teraputica indicada para os casos de
gravidez de anencfalo. Mulheres e mdicos esto em uma situao de insegurana
jurdica, pois poderiam ser processados pelo crime de aborto. No raro mdicos e
outros prossionais da sade, e muitos operadores do direito, como juzes e promo-
tores, identicarem assim a antecipao teraputica do parto, equiparando-a com o
aborto de um feto normal. Da o processo direto no STF, que trata da interpretao
conforme a Constituio, deste dispositivo do Cdigo Penal, e um exemplo de con-
trole da validade das leis pela interpretao e aplicao das normas e valores maiores
da Lei Maior.
Os valores e normas constitucionais transcritos no incio deste trabalho exem-
plicam no s alguns dos princpios gerais que normalmente estaro presentes em
avaliaes de casos assim, ao menos em avaliaes jurdicas, mas tambm mostram
a imerso da atual congurao poltico-jurdica brasileira na cultura poltica pblica
das democracias constitucionais modernas, cultura que implica num ideal de razo
pblica para a deliberao razovel dos cidados e dos agentes pblicos emcasos im-
portantes de divergncia. Mesmo nessa cultura h ainda problemas sobre a melhor
interpretao e aplicao de seus valores supremos, especialmente diante do plura-
lismo que a caracteriza. Nas democracias a soberania pertence em ltima instncia
aos cidados vistos como sujeitos iguais e livres. Toda interveno contra algum ou
algum grupo, da parte do Estado, s se justica para a proteo dos direitos e interes-
ses mais importantes de outro cidado ou grupo de cidados. Quanto imposio de
ao ou absteno, atravs da coero estatal, ningum pode alegar uma razo que
apenas ele e seu grupo de aderentes aceitam; e uma razo que no seja relativa ape-
nas a tal pessoa ou grupo tem de estar inerentemente ligada liberdade e igualdade
de todos os cidados, assim como garantia da proteo de seu direito de sustentar
doutrinas e razes diferentes: o esforo por expressar uma soluo deste tipo emuma
losoa normativa e em um ideal de razo pblica caracteriza parte substantiva da
losoa poltica democrtica contempornea, especialmente o trabalho de J. Rawls.
Um ideal de razo pblica , para Rawls, parte da concepo de justia para de-
mocracias constitucionais emque os cidados professamuma pluralidade de doutri-
nas loscas, morais e religiosas acerca de seu bem e do que justo exigir de cada
um. A utilizao e imposio de uma doutrina abrangente, nas condies modernas
de pluralismo, s ocorrem pelo uso opressivo do aparato estatal. Para evitar uma si-
tuao de guerra e conito permanente, e assegurar a igualdade e liberdade para to-
dos, os regimes democrticos produziram, em parte como mero modo de vida resul-
tante das acomodaes de conitos, e em parte como proposta normativa candidata
ao apoio racional dos grupos que os compe, um tipo de consenso liberal em sentido
amplo. Nesse consenso, os ideais de democracia e de razo pblica, que por um lado
explicam aspectos factuais e normativos principais presentes nos regimes conheci-
dos vigentes, e por outro lado, estabelecem diretrizes para avaliao e deliberao
em casos de divergncia, podem ser expressos por uma concepo de justia, uma
concepo restrita ao domnio do poltico e que democrtico-liberal. Ela especica
Valor da Vida Humana e Anencefalia 235
direitos, liberdades e oportunidades fundamentais do tipo geralmente conhecido em
regimes democrticos, atribui prioridade a tais direitos diante de exigncias do bem
comum e valores perfccionistas, alm de endossar medidas institucionais que garan-
tam meios materiais polivalentes para que todos os cidados usufruam desses direi-
tos e liberdades bsicos.
Os direitos e liberdades fundamentais so em suma os que encontramos nos tex-
tos jurdicos e tradies polticas dos regimes democrticos conhecidos (como os que
encontramos no artigo quinto da Constituio Brasileira). O estabelecimento de tais
direitos e da prioridade das liberdades fundamentais, por exemplo, na proteo es-
pecial da liberdade de conscincia e da liberdade religiosa, a expresso da soluo
principal para os conitos entre indivduos e grupos que discordam sobre a vida boa
e a justia social. Tal prioridade, porm, no protege apenas o indivduo contra asso-
ciaes, mas tambmprotege as associaes civis das intruses do Estado e de outras
associaes mais poderosas. Segundo Rawls, tanto as associaes quanto os indiv-
duos precisam de proteo, assim como as famlias tambm precisam ser protegidas
das associaes e do governo, e da mesma forma os membros individuais das fam-
lias precisam ser protegidos de membros da famlia (esposas dos maridos, lhos dos
pais). incorreto dizer que o liberalismo concentra-se exclusivamente nos direitos
dos indivduos: seria mais acertado dizer que os direitos que reconhece objetivam
proteger as associaes, os grupos mais fracos e os indivduos todos uns dos outros,
num equilbrio apropriado especicado pelos princpios de justia que o norteiam.
(1993, p. 221, nota 8) J a restrio esfera poltica signica, para Rawls, que a concep-
o de justia focaliza a estrutura bsica da sociedade, independente de doutrinas
loscas, morais e religiosas abrangentes, e utiliza as idias implcitas na cultura
poltica pblica de uma sociedade democrtica.
Para que tal concepo de justia seja bem articulada e utilizada pelos cidados
em seus debates e votaes, precisamos de diretrizes para a indagao e deliberao
na esfera pblica, o que Rawls entende ser umideal de razo pblica, especicado de
certa maneira, e que estar intrinsecamente ligado concepo liberal (em sentido
amplo), implicando, basicamente: que os cidados devam, quando deliberam sobre
questes constitucionais essenciais ou questes de justia bsica, abster-se de apelar
para valores e ideais abrangentes, valores que se reram ao que entendem ser a ver-
dade completa retirada de sua doutrina particular. Ao invs disto, os cidados devem
apelar somente para os valores polticos partilhados em sua cultura pblica (valores
de justia poltica, como a igual liberdade poltica e civil, a igualdade de oportunida-
des, a igualdade social e a reciprocidade econmica, o bemcomume os meios neces-
srios para realizar tais valores por cada um; e valores de razo pblica, como inda-
gao pblica e livre, razoabilidade e disposio de praticar o dever de civilidade), e
expressos nos principais textos jurdicos de um regime democrtico.
Oideal da razo pblica aplica-se aos cidados quando atuamna argumentao
poltica no frum pblico e, por isso, tambm aos membros dos partidos polticos e
aos candidatos em campanha, assim como a outros grupos que os apiam. Aplica-
236 Alcino Eduardo Bonella
se igualmente forma pela qual os cidados devem votar nas eleies, quando os
elementos constitucionais essenciais e as questes de justia bsica esto em jogo.
(1993, p. 215) Se aplica-se aos cidados em geral, muito mais s autoridades diver-
sas do Estado, de forma especial, ao judicirio, e sobretudo, ao supremo tribunal
numa democracia constitucional com reviso judicial. assim porque os juzes tm
de explicar e justicar suas decises como decises baseadas em sua compreenso
da Constituio, de cdigos e precedentes relevantes (1995, p. 216), o que torna as
decises do supremo tribunal um exemplo de razo pblica para todos os cidados.
O ideal de cidadania que emerge das principais tradies polticas dos regimes
democrticos e constitucionais modernos impe um dever moral a todos os cida-
dos (chamado por Rawls de dever de civilidade), de serem capazes de, no tocante
a (essas) questes fundamentais, explicar aos outros de que maneira os princpios e
polticas que se defende e nos quais se vota podem ser sustentados pelos valores po-
lticos da razo pblica. Esse dever tambm implica a disposio de ouvir os outros,
e uma equanimidade para decidir quando razovel que se faam ajustes para con-
ciliar os prprios pontos de vista com os de outros. (1993, p. 217) Em suma, o que
se exige dos cidados que expliquem mutuamente suas posies em termos de um
equilbrio razovel de valores polticos pblicos, e, mesmo que sua doutrina particu-
lar seja uma base adicional a esses valores, no apelem para ela. Poder haver mais
de um equilbrio razovel e poder haver posies particulares no razoveis numa
doutrina em geral razovel. Rawls ilustra isso com a questo do aborto.
Para ele, qualquer equilbrio razovel dos valores polticos do devido respeito pela
vida humana, da reproduo ordenada da sociedade poltica e da igualdade das mu-
lheres enquanto cidads iguais, dar mulher o direito devidamente qualicado de
decidir se deve ou no interromper a gravidez durante seu primeiro trimestre. Arazo
que, nesse estgio inicial da gravidez,
4
o valor poltico da igualdade das mulheres
supremo e esse direito necessrio para lhe dar substncia e fora. Outros valores
polticos, se condizentes, no afetariam, a meu ver, essa concluso. Um equilbrio ra-
zovel dar mulher umdireito que v almdo que foi considerado acima, ao menos
em certas circunstncias. No entanto, no discuto a questo geral aqui, pois quero
simplesmente ilustrar o que o texto quer dizer ao armar que toda doutrina abran-
gente que leva a um equilbrio de valores polticos que exclua aquele direito devida-
mente qualicado de interromper a gravidez no primeiro trimestre no , nesta me-
dida, razovel; e dependendo dos detalhes de sua formulao, tal equilbrio pode ser
at mesmo cruel e opressivo como, por exemplo, se negar esse direito por completo,
exceto em caso de estupro e incesto. Assim, supondo-se que essa seja uma questo
constitucional ou uma questo de justia bsica, estaramos indo contra o ideal de ra-
zo pblica se votssemos de acordo com uma doutrina abrangente que negue esse
direito. Mas uma doutrina abrangente no deixa de ser razovel por levar a uma con-
cluso no-razovel em um caso, ou em vrios. Ainda pode ser razovel com respeito
maior parte dos casos. (Rawls 1993, pp. 2434, nota 32.)
Como podemos avaliar o debate judicial em curso no Brasil sobre o direito das
Valor da Vida Humana e Anencefalia 237
mes anteciparem terapeuticamente o parto no caso de feto anencfalo? Ambos os
lados divergentes concordam que a dignidade da pessoa e certos direitos individuais
so valores supremos para um balano apropriado do caso e sua soluo. Ambos os
lados tm usado tais valores em seu apelo. A interpretao e aplicao de valores
poltico-jurdicos comuns ao caso no tem gerado um consenso, e serve para man-
ter a divergncia. Na petio inicial, apresentada por advogado constitucionalista,
sustenta-se, basicamente, que a antecipao teraputica do parto em caso de anen-
cefalia no aborto, pois neste protocolo mdico no estaria presente a tipicidade
estrita indicada no cdigo penal, e que a negao deste protocolo a mdicos e mu-
lheres fere os preceitos constitucionais de dignidade da pessoa humana da mulher,
da proibio de tratamento cruel similar tortura, da liberdade de fazer ou deixar de
fazer seno em virtude de lei e do direito sade. Por isso, segundo tal sustentao, a
interpretao que identica a antecipao teraputica com aborto deve ser afastada
como inconstitucional, sem que se afaste o texto do dispositivo penal. O procurador
geral da Repblica na poca contra-argumentou contestando o pedido, sustentando
que a aceitao da antecipao equivalente ao aborto porque o feto morrer mais
cedo do que morreria naturalmente, no sendo tal ao permitida expressamente nas
excees previstas no dispositivo penal; tambm alegou que a antecipao fere os
preceitos constitucionais do direito vida e da dignidade da pessoa humana do feto,
destacando que, pela conveno de direitos humanos assinada pelo pas e conhecida
como Pacto de So Jos da Costa Rica, a proteo do direito vida se deve dar emgeral
desde a concepo.
Nos termos postos, considerando o texto constitucional e aceitando a exempli-
cao de Rawls, podemos defender que a posio em favor do direito da mulher
decidir ou no levar a termo gestao de anencfalo deve prevalecer e que a melhor
posio ao menos nos seguintes pontos: ela procedente em sustentar que no caso
de anencefalia o feto se diferencia claramente, em termos factuais, do feto normal,
e, o procedimento, diferente de simples aborto. Ela tambm faz um balano dos va-
lores envolvidos explicitando devido peso e importncia aos dois lados da questo,
justicando como uma ponderao cuidadosa pode aceitar o direito de autonomia
das mes sobre o valor da vida fetal com anencefalia, o que a posio contrria no
o fez, ao menos no completamente. Por exemplo, a petio no foi confrontada em
relao ao alegado direito sade das mes, tratamento cruel dispensado mulher
e falta de proibio expressa em lei do protocolo para anencefalia, focalizando ex-
clusivamente a dignidade do feto e o direito vida. Podemos, alm disso, reforar a
posio da petio, e a opinio de Rawls sustentando que, se mesmo um feto nor-
mal pode ter seu desenvolvimento interrompido, em caso de estupro (como permite
o dispositivo penal citado), ento, razovel no se proibir a opo mdica da anteci-
pao teraputica do parto no caso de anencefalia. Ointeresse da me, que sofre com
a anencefalia do lho e deseja interromper a gravidez, relevantemente similar ao in-
teresse de uma me estuprada, que no quer tambm manter a gravidez.
5
E somente
se pede ao tribunal superior reconhecer que a excluso total do direito das mes a
238 Alcino Eduardo Bonella
tal antecipao inconstitucional. Obviamente possvel ainda defender a posio
contrria em termos puramente pblicos e polticos, defendendo a negao da an-
tecipao do parto no caso de anencefalia, nos termos sugeridos pelo procurador, o
que tambm torna problemtico o direito de abortar ao menos no caso j previsto
de aborto em caso de estupro. Mas a negao completa de um direito das mulheres
de recorrer antecipao em caso de anencefalia, ao menos na fase inicial da gesta-
o, retira qualquer fora e substncia dignidade e ao direito das mulheres, como
cidads iguais e livres (como sustentou Rawls), e, nestes termos, no a soluo mais
razovel para este debate.
Referncias
Bonella, A. E. 2003. Notas sobre como tomar decises racionais em tica. In Di Napoli et al.
(orgs.) tica e Justia. v. 1. Santa Maria: Palloti.
. 2007. Prescritivismo e Utilitarismo. In Carvalho, M. C. (org.) Utilitarismo em Foco. Floria-
npolis: Editora da UFSC.
. 2006. Conicts, Language and Rationality. In Gasser, G. et al. Cultures: Conict, Analysis,
Dialog. Kirchberg am Wechsel: Austrian L. Wittgeinstein Society.
Brandt, R. 1996. Facts, Values and Morality. Cambridge: Cambridge University Press.
. 1992. Morality, Utilitarianism, and Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Brasil. Supremo Tribunal Federal. Argio de Descumprimento de Preceito Fundamental
N
o
54. Disponvel em www.stf.gov.br. Acessado em 05 de agosto de 2007.
Chin, C. 2005. Infant heart transplantation and hypoplastic left heart syndrome: what are the
ethical issues? In Frankel et al. 2005, pp. 1706.
Constituio da Repblica Federativa do Brasil, 1988.
Da Silva, J. A. 2006. Curso de Direito Constitucional Positivo. So Paulo: Malheiros.
Diniz, D. 2007. Selective Abortion in Brazil. Developing World Bioethics 7(2): 647.
Diniz, D. & Ribeiro, D. C. 2003. Aborto por anomalia Fetal. Braslia: Letras Livres.
Ford, N. 2002. The pregnant woman and her fetus. In: The Prenatal Person. Oxford: Blackwell.
Frader, J. E. 2005. Infant heart transplantationandhypoplastic left heart syndrome: a response
(to Chin). In Frankel et al. 2005, pp. 17784.
Frankel, L., Goldworth, A., Rorty, M. V. and Silverman, W. A. (orgs.) 2005.Ethical Dilemmas in
Pediatrics: Cases and commentaries. Cambridge: Cambridge University Press.
Glover, J. 1979. Causing Death and Saving Lives. London: Penguin.
Hare, R. 2000. Sorting Out Ethics. Oxford: Clarendon.
. 1993. Essays on Bioethics. Oxford: OUP.
Kushe, H. & Singer, P. (eds.) 2001. A Companion to Bioethics. Oxford: Blackwell.
Kluge, E.-H. Severely disabled newborns. In Kushe and Singer 2001, p. 2429.
MacMahan, J. 2002. The Ethics of Killing. Oxford: OUP.
. 2001. Braindeath, cortical deathandpersistent vegetative state. InKushe andSinger 2001,
p. 25060.
Rawls, J. 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press.
. 1999. The Public Reason Revisited. In The Law of Peoples. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Singer, P. 1994. tica Prtica. So Paulo: Martins Fontes.
Valor da Vida Humana e Anencefalia 239
Strong, C. 1997. Fetal Anomalies. InEthics inReproductive andPerinatal Medicine. NewHaven
& London: Yale University Press.
Stofell, B. 2001. Voluntary euthanasia, suicide and physician-assisted suicide. In Kushe and
Singer 2001, p. 2729.
Tooley, M. 2001. Personhood. In Kushe and Singer 2001, p. 11726.
Steinbock, B. 2001. Mother-Fetus Conict. In Kushe and Singer 2001, p. 13546.
. 1996. Life before Birth. Oxford: OUP.
Warren, M. A. 2001. Abortion. In Kushe and Singer 2001, p. 12734.
Notas
1
R
A
i
representa uma relao T
(i )
-ria denida em A para i I ; f
A
j
uma funo j -ria de A
n
em A,
supondo-se T
1
( j ) n, para j J ; e c
k
uma constante de A, para k K.
1
Ambos os aspectos (polticos e bioticos) fazem parte de uma compreenso abrangente do valor da
vida, e de uma avaliao crtica de dilemas morais, compreenso e avaliao que tanto sejam propostas
como bem ponderadas diante de nossas intuies morais mais fortes, quanto, tambm, sejam especi-
cadas e criticadas o suciente para se sustentarem diante de nossas melhores capacidades analticas e
reexivas. Isso signica que uma avaliao normativa adequada deve possuir uma natureza deontol-
gica (por exemplo, de cunho kantiana) e teleolgica (por exemplo, de cunho utilitarista).
2
Ou seja, pode haver discordncia no s sobre o que o caso realmente comporta factual e normati-
vamente, mas, aps concordncia sobre tais aspectos, pode restar ainda divergncia sobre o que fazer
neste caso em concreto.
3
A possibilidade de erro mdico, ou, da morte do crtex ser um estado reversvel, apontada como
uma razo contra a adoo do novo critrio de morte, mas ela no est presente no caso de bebs anen-
cfalos, e haver a morte certa com a perda dos rgos, caso se opte pela proibio da aplicao deste
critrio. Sobre a diculdade com a doao de rgos de anencfalos, ver MacMahan 2002, pp. 208, 230
1, 451; Steinbock 1996, pp. 301; Chin 2005, pp. 1745; Frader 2005, pp. 1812.
4
Grifo nosso: Rawls no explica porque exatamente pensa que o estgio da gravidez relevante, e esse
um dos pontos bioticos e metafsicos sobre identidade humana e pessoal que dissemos necessrios
para uma teoria abrangente do valor da vida. Obviamente ca subentendido que para Rawls h graus
(estgios) numa gestao de um feto humana correlacionados com o que a mulher pode fazer autono-
mamente, e quanto mais cedo o aborto, melhor.
5
Por analogia, o interesse do feto anencfalo ao menos menor que o interesse de umfeto normal fruto
de estupro, dada a ausncia das capacidades psicolgicas e a letalidade prematura da doena.
IDENTIDADE COLETIVA, CULTURAS E SECESSO
ALESSANDRO PINZANI
Universidade Federal de Santa Catarina/CNPq
alepinzani@hotmail.com
1. Uma tenso inescapvel
No seu livro The Parallax View, Slavoj iek utiliza-se do conceito de viso paralaxe
para apontar para o fato de que no podemos enxergar determinados fenmenos so-
ciais (mas tambm psquicos) de perspectivas diferentes sem que eles assumam ou-
tros contornos aos nossos olhos, transformando-se radicalmente (iek 2006). Apa-
rentemente, isso o que acontece ao considerarmos a questo da existncia de di-
reitos coletivos, em particular, de direitos autodeterminao poltica de grupos de-
nidos em termos culturais ou at tnicos. Neste contexto a impossibilidade a de
considerar tal questo ao mesmo tempo do ponto de vista da salvaguarda dos direitos
coletivos e daquele da salvaguarda dos direitos individuais. Isso se torna evidente se
nos perguntarmos quem seria o destinatrio de um eventual direito sobrevivncia
que fosse reclamado por uma comunidade culturalmente denida. A primeira res-
posta, mais bvia e menos problemtica, seria: o estado em que aquela comunidade
vive, talvez como minoria, ou no necessariamente em alternativa outros es-
tados e outras comunidades. Mas pensvel uma outra resposta, bem mais proble-
mtica, segundo a qual os destinatrios de tal direito seriam os prprios membros da
comunidade em questo, particularmente quando no haja o perigo de uma agres-
so externa, mas o de um abandono daquela cultura por parte dos seus representan-
tes. Imaginemos, por exemplo, que os catales ou os habitantes do Quebec abando-
nem aos poucos seu idioma nacional, a saber: catalo e francs, em prol do idioma
dominante nos seus recprocos estados, a saber: castelhano e ingls, sem que haja
por parte do governo central espanhol ou do governo federal canadense uma presso
neste sentido, antes: sem que tais governos mudem sua atual poltica de encoraja-
mento e de apoio s duas culturas em questo. Se a cultura catal e a quebequense
possuemumdireito sobrevivncia, tal direito deveria ser reclamado neste caso con-
tra os prprios catales e quebequenses, que, portanto, deveriam ser obrigados a se-
guir falando catalo e francs (na sua variante quebequense). Isso poderia parecer
co poltica, mas de fato h j grupos culturais cuja sobrevivncia garantida juri-
dicamente contra seus prprios membros. o caso, por exemplo, de algumas tribos
indgenas dos EUAe do Canad (os lsofos polticos deveriamagradecer a existncia
do Canad, fonte inesgotvel de exemplos ligados a questes culturais e de direitos
coletivos), as quais, graas ampla autonomia recebida dos respectivos governos fe-
derais, procedemcontra membros renitentes que no se conformams tradies ou
cultura tribais. Assim, mulheres que casemcomhomens que no so da tribo podem
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 240258.
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 241
ser obrigadas a deixar o territrio da tribo e a ceder sua propriedade a esta ltima.
Isso contrrio ao direito individual de propriedade garantido pela constituio ca-
nadense ou norte-americana, mas os tribunais at hoje quase sempre reconheceram
validade s decises das tribos, pois a autonomia da qual elas gozam visa justamente
a salvaguardar sua sobrevivncia e a garantir que a terra que sempre nas mos de
membros plenos da tribo.
1
Esta tenso aponta para uma questo fundamental que precisa ser respondida
por qualquer teoria que se preocupe com o reconhecimento de direitos culturais: os
sujeitos de tais direitos so grupos (culturas, minorias etc.) ou indivduos membros
destes grupos? a cultura catal que tem um direito sua existncia ou so os ca-
tales que tm o direito de falar seu idioma e celebrar sua cultura? Esta tenso entre
direitos individuais e direitos coletivos, entre indivduos e comunidade, caracteriza,
portanto, no somente o debate terico (como no caso da querelle entre liberais e
comunitrios, por exemplo), mas tambm a praxe poltica e merece, portanto, muita
ateno particularmente numa poca na qual o multiculturalismo parece dominar
a cena do debate losco-poltico, e at questes de justia distributiva so reformu-
ladas em termos de poltica do reconhecimento (cf. Fraser & Honneth 2003; sobre a
noo de reconhecimento comrelao s culturas o texto de referncia Taylor 1994,
que alis introduziu no debate o termo multiculturalismo).
Um caso paradigmtico da tenso da qual estou falando a questo do direito de
secesso, que ao mesmo tempo representa um caso limite (e, portanto, relati-
vamente fcil de discutir) da problemtica geral, especialmente quando ela inter-
pretada na tica segundo a qual o direito autodeterminao de um povo teria uma
base cultural (cf. Tamir 1993, p. 57ss). Meu interesse em tal questo , portanto, fun-
cional questo mais abrangente da tenso entre indivduo e comunidade; neste ar-
tigo limitar-me-ei a uma exposio esquemtica dos principais conceitos e argumen-
tos que podem ser utilizados na discusso da questo da secesso (reservo-me uma
discusso mais detalhada para outra ocasio). Iniciarei, contudo, analisando breve-
mente o contexto terico no qual discutida hoje em dia a questo da secesso, a
saber, o debate sobre multiculturalismo e poltica do reconhecimento.
2. Multiculturalismo e poltica do reconhecimento: breves notas sobre o
status quaestionis
Segundo Will Kymlicka, nos ltimos anos o debate terico-poltico tem sido domi-
nado pelo tema do multiculturalismo (Kymlicka 2001, p. 17ss). Poderamos suspeitar
Kymlicka de parcialidade, j que ele com certeza um dos principais responsveis
pela onda multiculturalista que tomou posse da losoa poltica contempornea
e no somente no mundo anglo-saxnico. Contudo, quase no h pensadores pol-
ticos de primeiro plano que, de fato, no tenham tomado posio sobre o assunto,
ainda que fosse para negar sua relevncia (como no caso de Brian Barry, em Barry
2001, p. 6).
2
Embora no seja possvel fazer jus complexidade do assunto neste con-
242 Alessandro Pinzani
texto, oferecerei uma rpida caracterizao do problema e umesboo de tpicos teis
para a discusso da questo da secesso.
O termo multiculturalismo indica uma posio terica e poltica que aponta para
a circunstncia de que emmuitas sociedades convivemno mesmo espao geopoltico
(principalmente isto signica: no mesmo Estado) vrias culturas ou grupos identi-
cveis culturalmente (ou seja, com base em elementos que os diferenciam de outros
grupos e que podemser a lngua, a religio, etc.); o multiculturalismo exige o reconhe-
cimento poltico e jurdico das diferenas culturais e luta contra qualquer tentativa de
assimilao forada (violenta ouno). Ele celebra, portanto, tais diferenas como algo
de positivo que merece ser mantido. Normalmente se distinguem os casos em que a
convivncia entre as culturas tem razes histricas antigas (como, por ex., no caso da
Espanha e das culturas catal e basca) e os casos em que tal convivncia a con-
seqncia de uxos migratrios recentes (como no caso das minorias muulmanas
na Europa contempornea).
3
O multiculturalismo no se ocupa, ento, com a ques-
to do dilogo entre culturas distantes, mas coma questo da convivncia de culturas
diversas numespao comum. Emseguida deixaremos implcito, portanto, que as cul-
turas nas quais estaremos falando so culturas que compartilhamummesmo espao
geopoltico, no culturas que pertencem a diferentes espaos.
Esta denio de multiculturalismo muito geral, j que existem vrios tipos de
multiculturalismo. M. M. Slaughter, por exemplo, identica dois tipos de multicul-
turalismo: o pluralista e o separatista (Slaughter 1994, p. 370). O primeiro reconhece
as diferenas entre culturas mas procura uma base comum sobre a qual elas podem
organizar sua convivncia, como na idia dos EUA como uma nao de minorias,
conforme a clebre frmula usada pelo juiz Powell.
4
Os separatistas, pelo contrrio,
insistem na necessidade de um reconhecimento pblico e jurdico da fragmentao
cultural. Slaughter recorre metfora do mosaico para explicar a diferena entre as
duas posies: os pluralistas apontam para o fato de que as peas do mosaico (as
culturas) formamuma unidade (o desenho do mosaico), enquanto os separatistas in-
sistem sobre o fato de que as peas so discretas e auto-sucientes e que s foram
juntadas com outras, pr-existindo ento ao mosaico.
Seyla Benhabib recorre tambm a esta metfora, mas para recusar a posio da-
quele que ela denomina de multiculturalismo a mosaico (mosaic multiculturalism).
Acrtica principal de Benhabib concerne viso de que os grupos e as culturas seriam
entidades claramente delineadas e identicveis, cada uma comlimites claros e imu-
tveis (Benhabib 2002, p. 8). A esta viso ela contrape a idia de que as culturas hu-
manas so criaes, recriaes e negociaes contnuas de limites imaginrios entre
ns e o(s) outro(s) (ibid.)
5
. Os defensores do multiculturalismo a mosaico tenta-
riamemsuma negar o Outro como algo de inevitavelmente presente emcada cultura
e objetivariam uma integridade cultural inatingvel. Eles fundamentariam sua posi-
o sobre uma co, que James Tully denomina de billiard-ball conception (Tully
1995, p. 10), a saber, a idia de que um grupo (cultura, minoria) seja algo de clara-
mente identicado e fechado emsi mesmo (como uma mnada ou uma pea de mo-
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 243
saico, justamente). Ao multiculturalismo a mosaico Benhabib contrape a viso de
um dilogo entre culturas denidas por narrativas sempre mutveis e Tully uma no-
o de reconhecimento constitucional que foge dos esquemas rgidos da concepo
bola de bilhar. Ambos estes autores colocam no centro da sua reexo a difcil rela-
o entre grupo (includas as culturas) e indivduo, embora com xitos divergentes.
6
As tenses internas a esta relao se manifestam de forma clara se considerar-
mos a questo do surgimento da identidade individual e da coletiva.
7
A formao da
identidade individual s possvel no contexto de uma cultura, atravs da apropri-
ao por parte do indivduo dos cdigos lingsticos, morais etc. prprios de uma
comunidade. Contudo, este processo acontece no nvel simblico, isso , no mbito
da narrativa que constitui aquela cultura (e, portanto, sua identidade coletiva) e da
narrativa individual atravs da qual cada um se dene como sujeito (sigo aqui a cen-
tral intuio freudiana e lacaniana). O processo no acontece num nvel ontolgico,
por assim dizer, pois em caso contrrio ningum poderia sair da prpria cultura e
afastar-se dela. Ora, cada narrativa (coletiva ou individual) est sujeita a mudanas e
pode ser modicada em vrias circunstncias.
8
Interessantemente, a idia de que a identidade coletiva denida com base em
narrativas mutveis retomada emparte pelo prprio Charles Taylor, que no seu Mo-
dernSocial Imaginaries defende a posio de que cada sociedade se fundamenta num
determinado imaginrio social. Comeste termo, ele entende as maneiras nas quais
as pessoas imaginam sua existncia social, o modo como elas se acomodam com os
outros, o modo como funcionamas coisas entre elas e seus semelhantes, as expectati-
vas que so satisfeitas normalmente, e as noes e imagens normativas mais profun-
das que fundamentam tais expectativas (Taylor 2004, p. 23). Este imaginrio com-
partilhado pelos membros de uma sociedade e possibilita a existncia de prticas co-
muns e de um senso de legitimidade relativo a tais prticas: possumos um senso de
como as coisas vo habitualmente, mas isto entrelaado com a idia de como elas
deveriam ir (ibid., p. 24). Por isso, possvel identicar um certo repertrio de aes
coletivas disponveis para uma determinada sociedade e que compreende as aes
que os membros daquela sociedade sabem como praticar e aceitam como legtimas.
Tais aes variam desde a maneira de celebrar eleies gerais, por ex., at a maneira
de manter uma conversa social com desconhecidos no hall de um hotel. como se
os membros de uma sociedade trouxessem sempre consigo um mapa implcito do
espao social, sabendo (sempre de forma implcita) comque tipo de pessoas eles po-
dem associar-se, em que formas e em que circunstncias (ibid., p. 25s). Ora, um ima-
ginrio social pode mudar. Novas prticas podem ser reconhecidas como legtimas
e at substituir as antigas. Segundo Taylor isto acontece atravs de longos processos
comeados geralmente por iniciativas de grupos menores no interior da sociedade, e
o resultado nal o surgimento de um novo imaginrio social.
O que eu gostaria manter desta teoria tayloriana a idia de que uma sociedade
se constitui como sociedade primariamente no imaginrio dos seus membros, mais
precisamente por meio de vises compartilhadas sobre prticas legtimas e expecta-
244 Alessandro Pinzani
tivas normativas ligadas a elas. Isto no signica negar valor base material de uma
sociedade, ou seja, s concretas relaes de poder que juntam seus membros (e uso
o termo poder aqui no sentido foucaultiano, no como algo de negativo, mas como
indicando as relaes constitutivas da prpria subjetividade, isto , os processos de
subjetivao). S que tais relaes ainda no constituem uma sociedade enquanto
elas no entrarem no imaginrio social recebendo nele uma determinada interpreta-
o e legitimao.
9
Se aplicssemos o conceito de imaginrio social ao conceito de cultura, chega-
ramos posio (defendida por Tully e Benhabib, entre outros) segundo a qual uma
cultura denida no com base em elementos substanciais como histria comum,
lngua, religio, etc., mas com base numa viso compartilhada de tais elementos. Na
opinio de Benhabib, as prprias culturas, assim como as sociedades, so sistemas
de ao e de atribuio de sentido no holsticos, mas polifnicos, que possuem v-
rios nveis, so descentralizados e percorridos por fraturas (Benhabib 2002, p. 25;
meu itlico). Deste ponto de vista, falar em identidade coletiva de um grupo, de uma
cultura ou de uma sociedade signica simplesmente utilizar uma metfora mode-
lada sobre o conceito de identidade individual uma metfora, contudo, que (como
todas as metforas) no descreve uma realidade, mas chama a ateno para uma se-
melhana entre dois objetos, neste caso o indivduo e o coletivo. Ora, no caso em
questo esta semelhana no parece sucientemente forte para justicar o uso do
termo identidade no sentido mais prprio, quando aplicado a um coletivo (sem
contar que, talvez, ele seja imprprio at quando aplicado a um indivduo; mas no
me ocuparei disso, neste contexto).
Cabe aqui mencionar a anlise contundente de Lutz Niethammer (Niethammer
2000, p. 35ss), segundo o qual o conceito de identidade coletiva representa umcon-
ceito pobre de contedo, que serve para operar uma reduo, j que a sua nalidade
a de abstrair da diversidade dos fenmenos e reduzi-los a ummnimo denominador
comum. O conceito de identidade de um coletivo pretende eliminar a complexidade
da sua histria e das suas narrativas (das maneiras pelas quais ele tentou articular-
se e denir-se como coletivo), como no caso em que, por exemplo, se pretendesse
identicar uma identidade brasileira que perpassasse todos os momentos histricos
desde a colonizao portuguesa (ou at antes dela) at o dia atual. Deste ponto de
vista, tal conceito opera uma transformao de acontecimentos histricos em dados
naturais e faz do coletivo, que em si o resultado (provisrio) de um determinado
processo histrico, algo de dado uma vez por todas. Isso resulta no carter de fetiche
do conceito de identidade coletiva e na formao de esteretipos: o povo brasileiro,
italiano, alemo etc. mantm sua identidade no tempo, permanece semper idem,
sempre o mesmo.
10
O redimensionamento do conceito de identidade coletiva e da prpria noo de
cultura no signica, contudo, a negao da importncia de questes como as levan-
tadas pelos tericos do multiculturalismo. Ao apontarmos para a dimenso simblica
e no essencialista dos processos constitutivos de grupos, de culturas e de socieda-
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 245
des, no estamos armando que grupos, culturas e sociedades no possuam reali-
dade e, portanto, no meream ser considerados como possveis objetos de uma teo-
ria da justia (ou at como possveis detentores de direitos). O que pretendemos evi-
tar a armadilha do multiculturalismo a mosaico, ou seja, a idia de que os grupos
em questo sejam como mnadas perfeitamente autnomas, isoladas e imutveis.
O reconhecimento poltico e jurdico, que tais grupos reclamam para si, no pode
fundamentar-se, em suma, na viso bola de bilhar. Devemos, antes, aceitar a no-
o de que os grupos esto destinados a mudar e at a desaparecer, e que ao Estado
cabe no a tarefa (impossvel, no fundo) de impedir isso, mas a de no provocar ati-
vamente tal processo. Um caso concreto discutido por Brian Barry pode exemplicar
isso (Barry 2001, p. 256). Atribo indgena dos Musqueampretende ser isentada do res-
peito a uma medida dirigida proibio da pesca numa determinada rea protegida
do Canad. Eles alegam que a pesca naquelas guas representa um elemento essen-
cial da sua cultura. Barry aponta para dois aspectos relevantes. O primeiro: a proi-
bio em questo pode de fato representar uma interferncia na identidade cultural
da tribo. Mas no necessariamente uma mudana nesta identidade comporta a sua
destruio, exatamente como uma mudana na nossa vida de indivduos (um novo
trabalho, a perda de um ente querido, a imigrao num outro pas etc.) no corres-
ponde destruio de nossa identidade pessoal. Se a identidade da tribo fosse ligada
de forma to essencial prtica da pesca naquelas guas, isso seria uma maneira bem
peculiar de se denir uma identidade coletiva.
11
E aqui se insere o segundo aspecto:
Se o Estado garantisse a iseno e, da a poucos anos, as reservas de peixe da regio
se esgotassem, impossibilitando a pesca, a tribo dissolver-se-ia por isso? Perderia sua
identidade? A idia de que as culturas aborgines sejam extraordinariamente frgeis
conclui Barry profundamente paternalista (ibid.). Se for verdade que todos
os indivduos precisamde umcontexto cultural ntegro, verdade tambmque qual-
quer contexto cultural est sujeito a mudanas e transformaes e que seus membros
so capazes de adaptar-se a elas, embora eles tenham a faculdade ou at o direito de
opor-lhes resistncia. Fazer o possvel para preservar uma determinada identidade
cultural pode ser justo, mas nem por isso necessrio (num sentido no meramente
normativo, mas ontolgico, por assim dizer).
Tendo em mente todas estas consideraes, passemos agora a considerar a ques-
to do direito de secesso.
3. Argumentos para a secesso
Habitualmente, os argumentos utilizados para justicar um direito secesso so de
trs tipos. O primeiro tipo o mais comum e aponta para a existncia de formas gra-
ves de discriminao e de violao dos direitos de membros de minorias culturais ou
tnicas por parte do estado no qual eles vivem. Comentarei este tipo de argumento s
brevemente no nal, sob o ponto (c). O segundo tipo de argumentos, que tratarei sob
o ponto (a), pressupe a idia de que cada cultura d lugar a uma comunidade po-
246 Alessandro Pinzani
ltica que pode legitimamente aspirar autodeterminao, independentemente do
fato de haver discriminaes contra a cultura emquesto. Odireito autodetermina-
o representaria uma pretenso cultural, mais do que poltica, e precisamente seria
o direito de preservar a existncia de uma nao como entidade cultural distinta
direito bem diferente daquele que os indivduos possuem de decidir sobre suas vidas
e participar num processo poltico livre e democrtico (Tamir 1993, p. 57). A primeira
posio , portanto, menos radical do que a segunda. Ambas tm como seu ponto
de partida a noo de que existem grupos que podem ser claramente identicados
com base na sua cultura ou etnia. Chamarei, ento, de substancialistas estes tipos
de argumentos, j que eles pressupem a existncia de elementos substanciais (ln-
gua, histria comum, caractersticas fsicas etc.) que permitem denir uma cultura
ou uma etnia.
Existe enm a possibilidade de fundamentar uma secesso com base num outro
tipo de argumentos, a saber, argumentos estritamente polticos e funcionais. Neste
caso, os habitantes de uma determinada regio reclamariam a secesso por razes
meramente polticas ou de maior eccia administrativa; longe de defender uma pe-
culiaridade cultural ou tnica, eles insistiriam sobre a necessidade de gerir sua vida
pblica de forma mais justa ou ecaz do que acontece presentemente por meio de
sua permanncia num certo estado. Ocupar-me-ei deste terceiro tipo de argumentos
sob o ponto (b).
a) Argumentos substancialistas
Os argumentos substancialistas partem da analogia entre indivduos e grupos,
uma analogia bem conhecida na tradio ocidental no que diz respeito ao conceito
de estado. Segundo tal analogia, umestado seria ummacroindivduo dotado de todas
as caractersticas pessoais tais como: autonomia, vontade, interesses, etc. Ele lutaria
pela prpria sobrevivncia e pela sua propriedade (ou seja: para a integridade do seu
territrio) exatamente como um indivduo, e h autores que chegam a falar em di-
reitos humanos para estados (Hffe 2005). Na realidade, um estado uma entidade
bem mais complexa do que um indivduo. No somente muito difcil identicar
seus interesses e, portanto, sua vontade, j que na realidade o que passa por interesse
nacional muitas vezes coincide com o interesse particular de um grupo ou de um se-
tor da sociedade; alm disso, o conceito de autonomia extremamente ambguo j
quando utilizado para indivduos e torna-se altamente duvidoso quando aplicado a
estados, particularmente numa poca de crescente integrao poltica e jurdica in-
ternacional. Last, but not least, os conns de um estado no so imutveis como os
limites de umcorpo humano, mas podemser modicados semque o estado emques-
to cesse de existir, como demonstrado por inmeros exemplos histricos.
A conseqncia principal do uso da analogia individual no caso de grupos tni-
cos ou culturais, de naes e de povos, a invocao de um direito autodetermi-
nao poltica para estas entidades. Tal direito estaria baseado na idia de que cada
grupo cultural ou etnicamente denido deveria governar-se autonomamente. Ora,
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 247
sem considerar o fato de que neste caso o numero de estados no mundo deveria ser
de vrios milhares, j que segundo a UNESCO existem pelo menos cinco mil grupos
culturais diferentes, permanecem trs problemas que deveriam ser resolvidos para
fundamentar o direito em questo. O primeiro seria o de dispor de um critrio certo
para identicar um grupo cultural ou tnico; o segundo seria o de demonstrar a ne-
cessidade de que tais grupos se governemautonomamente; o terceiro seria de funda-
mentar o direito secesso propriamente dito com argumentos de justia.
Sobre o primeiro problema, limitar-me-ei a apontar para a diculdade acima dis-
cutida de dispor de critrios certos para denir uma cultura ou uma etnia. Quando a
analogia com os indivduos for aplicada a entidades coletivas diversas do Estado, isto
, s culturas, s naes, aos povos e aos grupos tnicos, ns deparamos no somente
com os problemas conhecidos, mas at com uma diculdade ainda maior: enquanto
os estados possuemconns certos embora mutveis, j que so frutos de convenes,
as entidades que acabei de mencionar so porosas e menos homogneas.
12
Uma an-
lise dos mais recentes conitos tnicos na ex-Iugoslvia ou em Ruanda demonstraria
a diculdade de traar linhas ntidas de demarcao entre as etnias em luta e suge-
riria antes a impossibilidade de chegar a uma distino denitiva.
13
Deste ponto de
vista, a idia de limpeza tnica possui um carter utpico, embora se trate de uma
utopia perversa.
Uma cultura nunca claramente delimitada e homognea. A viso de uma cul-
tura ou de umgrupo como uma mnada, como algo de perfeitamente auto-suciente
e isolado (a billiard-ball conception de Tully) uma viso incorreta e deve ser subs-
tituda por uma viso na qual uma cultura resulta de um processo continuado de
redenio interna e de confrontao com outras culturas confrontao que , ao
mesmo tempo, um momento de interao e inuncia recproca. J apontei para as
diculdades implcitas no conceito de identidade coletiva. Tais diculdades aumen-
tam quando tal identidade (melhor: o que se presume ser a identidade de um grupo)
invocada para fundamentar umdireito autodeterminao poltica. Normalmente,
isso acontece quando um certo grupo avana a pretenso de constituir uma nao
e, portanto, de ter direito a um estado todo para si. S que no claro o que consti-
tuiria uma nao, quando ela no existe j como estado. Um estado possui uma his-
tria, possui fronteiras, possui personalidade jurdica. O mesmo no vale para uma
nao. Uma nao s recebe personalidade jurdica quando organizada como estado
ou quando reconhecida ocialmente como minoria num estado existente. Sua his-
tria, normalmente, repleta de tradies inventadas (Tamir 1993, p. 64) ou, no
mnimo, transguradas. Uma nao uma comunidade imaginada, para usar a cle-
bre formula de Benedict Anderson, cujo estudo exemplar sobre a Indonsia poderia
ser repetido em todas as naes e estados (Anderson 1983). Ela criada com base
numa narrativa histrica e politicamente determinada, como bem demonstra a his-
tria do nascimento dos estados latino-americanos (particularmente os hispnicos).
Sem contar que, como armava Renan, uma nao fundada no somente sobre as
memrias comuns, mas tambm sobre uma amnsia compartilhada que leva seus
248 Alessandro Pinzani
membros a esquecer os outros que poderiam ameaar a unidade nacional (como,
no caso da Frana, a existncia de outras naes que freqentemente foram sub-
metidas forosamente e reduzidas ao silncio por sculos no seu seio: os bretes,
os provenais, os borguinhes, os bascos, os catales). Se for verdade que para o pen-
sador francs uma nao um plebiscito de cada dia, tambm verdade que o
olvido e, diria, at o erro histrico so um elemento essencial para a criao de uma
nao (Renan 1997). Como escreve Yael Tamir, as naes, antigas ou recentes, ten-
dem a reformular seu passado, a reinterpretar sua cultura, a esquecer as diferenas e
a salientar as caractersticas comuns, a m de criar a iluso de uma unidade natural
com uma longa histria, geralmente gloriosa, e um futuro promissor (Tamir 1993,
p. 67).
Nos dizeres de Alexander Wendt, as naes so metforas cujo sentido estabe-
lecido pelos seus membros e redenido quando for preciso, e as culturas so self-
fullling prophecies que sempre se tornam o que elas pretendem ser (Wendt 1999,
p. 161 e p. 184ss). Sempre ser possvel encontrar uma origem mtica ou uma tradi-
o perdida (j que sem passado no h cultura) que justiquem a pretenso de um
grupo de que ele constitui uma cultura autnoma exatamente como na Indonsia
analisada por Anderson. A mesma coisa acontece quando umgrupo pretende consti-
tuir uma nao, que pode ser denida justamente como uma comunidade territorial
cujos membros possuema conscincia de ser membros dela e queremmanter a iden-
tidade dela (Cobban 1969, p. 107; apud Tamir 1993, p. 65) ou como uma entidade que
se d quando um nmero signicativo de pessoas numa comunidade se considera
como formando uma nao ou age como se a formasse (Seton-Watson 1977, p. 7;
apud Tamir 1993, ibid.). Em suma, uma nao se d quando um nmero suciente
dos indivduos que a formam sabe disso e quere que a situao no mude. A iden-
tidade coletiva se baseia ento na identidade individual, ou seja, na percepo que
cada indivduo tem de si enquanto membro de uma nao: a identidade coletiva
uma questo da identicao por parte dos indivduos envolvidos (Straub 1998,
p. 102). medida que os indivduos perdemesta percepo, a nao desaparece. Uma
nao, como qualquer outro grupo, precisa de um idem sentire, de um sentir comum
(Cerutti 1996, p. 6).
Isso, contudo, no signica como j disse negar valor ou realidade existn-
cia dos coletivos, das culturas, das naes, etc. Como observa Jan Assmann: O corpo
social no se d no sentido de uma realidade visvel e tangvel. uma metfora, uma
grandeza imaginria, uma construo social. Como tal, porm, ele pertence plena-
mente realidade (Assmann 1992, p. 132). O ponto que gostaria salientar to-so-
mente que tal corpo mutvel e transformvel justamente enquanto se trata de uma
construo social (fruto de um imaginrio social, como diria Taylor), de uma met-
fora (como relevado tambm por Wendt) e de uma grandeza imaginria (conforme a
idia de comunidade imaginria de Anderson).
Alm disso, no ca claro por que razo um grupo tnico ou cultural deveria al-
canar autodeterminao poltica. Normalmente, o argumento que esta seria a con-
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 249
dio necessria para o grupo em questo manter sua identidade coletiva. Conside-
rando as diculdades, acima expostas, que esto ligadas a este ltimo conceito, no
ca claro como seria possvel alcanar este m, a no ser impondo aos membros do
prprio grupo manter aquele sentir comum indispensvel para tal identidade. Se os
indivduos fossem deixados livres para se considerarem membros do grupo ou no, a
identidade coletiva poderia ser ameaada e isso seria contrrio ao princpio segundo
o qual cada grupo deve cuidar dela. Um argumento possvel a partir de uma pers-
pectiva liberal seria a necessidade de que os indivduos disponham de uma esfera
pblica correspondente sua cultura. Eles pretendem, em suma, criar instituies e
organizar sua vida comum numa maneira que reete seus valores, tradies e hist-
ria comuns (Tamir 1993, p. 70). O argumento pressupe, novamente, a possibilidade
de identicar de forma razoavelmente clara e certa tais valores, tradies e histria,
mas podemos aceitar isso, por amor do debate. Em segundo lugar, ele faz dos indiv-
duos (e no do grupo) os detentores do direito autodeterminao e isso faz deste
um argumento liberal. Contudo, pressupe nos indivduos a vontade de criar uma
esfera pblica correspondente sua cultura. Esta pressuposio, porm, est base-
ada ou numa certa viso antropolgica, a saber, na idia de que os indivduos sempre
queremorganizar sua vida comumconforme sua cultura;
14
ou numa certa viso nor-
mativa, a saber, na idia de que os indivduos devem organizar sua vida comum con-
forme sua cultura. Ambas as vises me parecem discutveis; a segunda, com certeza,
testemunha mais uma vez da tenso entre indivduo e comunidade.
Contudo, deixarei de lado neste contexto este segundo problema e focalizarei o
terceiro. Para este m, admitirei que seja possvel identicar de forma clara umgrupo
cultural ou tnico, e que haja boas razes para defender a posio de que seria de-
sejvel que cada grupo cultural ou tnico chegasse autodeterminao poltica. Esta
ltima concesso no corresponde, contudo, armao de que tais grupos possuem
um direito secesso de uma entidade estatal existente, ou seja, armao de que
tal secesso seria moralmente justicada.
Darei umexemplo concreto. Imaginemos que seja possvel identicar claramente
uma cultura basca e armar que seria desejvel que os bascos chegassem autono-
mia poltica. Isso seria suciente para justicar uma secesso das Provncias Bascas
da Espanha?
Partindo do pressuposto que os bascos gozem de todos os direitos civis e polti-
cos dos demais espanhis (em outras palavras: que eles no sejam discriminados), o
nico argumento seria que eles, apesar de possurem todas as liberdades civis e po-
lticas, se sentem marginalizados e privados de algo de essencial pelo fato de que as
instituies que governam sua vida comum no reetem sua cultura (ou no a ree-
temexclusivamente). Embora eles possamfalar euskera e possuamampla autonomia
administrativa, eles so sditos do rei de Espanha e obedecem constituio espa-
nhola e ao governo central de Madri. J que no h discriminao ativa, o que estaria
faltando aos bascos seria reconhecimento, no sentido em que o termo usado por
Taylor ou Honneth (Taylor 1994 e Honneth 2003). Neste caso, podemos pensar ou
250 Alessandro Pinzani
(1) que os indivduos possuam essencialmente um interesse em preservar sua iden-
tidade nacional e em organizar suas instituies de maneira correspondente sua
cultura (esta , como vimos, a posio de Tamir);
15
ou (2) que eles num determi-
nado momento queiram emancipar-se e organizar suas instituies conforme sua
cultura.
Considero a primeira possibilidade questionvel. O interesse em preservar sua
comunidade nacional por sua vez o produto histrico de determinadas circuns-
tncias. Os indivduos tm um interesse em preservar um mbito cultural ntegro,
como vimos; mas isso tambm no exclui a possibilidade de mudanas e transfor-
maes. Para formar sua identidade, um indivduo precisa de uma cultura, mas no
necessariamente da cultura na qual seus pais se formaram. Brutalmente, podera-
mos dizer que ele precisa de uma cultura qualquer, no importa qual. Mas isso no
implica na necessidade de ele formar-se em instituies correspondentes aos valores
de tal cultura. Na realidade, muitas vezes vale o contrrio: um indivduo pode for-
mar sua identidade numa determinada cultura embora as instituies polticas que
governam sua vida no correspondam a ela como no caso dos prprios bascos
durante os sculos nos quais eles foram impedidos de falar abertamente sua lngua.
A sobrevivncia do euskera nestas condies testemunha, alis, por um lado, a fora
que uma cultura pode ter e, por outro, a irrelevncia que at as polticas pblicas mais
radicalmente repressivas possuem em certos casos (este dado emprico deveria levar
a um redimensionamento terico com respeito ao efetivo alcance das polticas que
tentam garantir reconhecimento, assim como daquelas que o negam). O sentimento
de pertena a uma nao algo que se torna popular (no sentido de que se estende
s massas populares e no permanece exclusivo de uma elite) somente no sculo XIX
e XX. Considerando, alm disso, que a maioria dos estados contemporneos tendem
a possuir instituies polticas e jurdicas semelhantes ou at comuns, difcil en-
tender o que deveriam ser, por ex., instituies polticas ou jurdicas peculiarmente
bascas. O nascituro estado basco garantiria direitos fundamentais a seus cidados,
possuiria um parlamento (no importa como organizado), organizaria eleies etc.
Em que estas instituies corresponderiam a valores prprios da cultura basca que
no seriam presentes na cultura espanhola ou em outras culturas?
A segunda possibilidade acima mencionada pressupe a vontade dos bascos de
se separarem da Espanha (embora seja pensvel armar a existncia de uma obriga-
o dos bascos a querer sua independncia, conforme a viso forte segundo a qual
as culturas possuem direitos contra seus membros). Ora, que signica falar em von-
tade dos bascos? O uso do termo vontade remete, mais uma vez, analogia com os
indivduos: os bascos constituiriam um sujeito coletivo individual dotado como
todos os indivduos de uma vontade nica. Poderamos falar emo povo basco ou
a nao basca a m de melhor imaginar tal individualidade. Mas este estratagema
lingstico no pode enganar sobre o fato de que o povo em questo composto por
uma pluralidade de indivduos dotados cada um de uma vontade prpria e de uma
viso pessoal sobre a questo da secesso. A alternativa seria pensar no povo basco
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 251
como uma entidade que compreende mais do que os indivduos que o formam neste
momento e inclui tambm as geraes passadas e futuras: um Povo com P mais-
culo, entendido diacronicamente como sucesso de geraes, contraposto ao povo
com p minsculo, entendido sincronicamente como soma dos indivduos no estado
atual. Isso, contudo, complicaria as coisas, pois tornaria muito difcil estabelecer em
que consistiria a vontade do Povo com P maisculo uma diculdade, esta, que os
tericos da vontade geral, de Rousseau a Kant, nunca souberam superar de forma
convincente. Deveramos, portanto, limitar-nos vontade popular do povo com p
minsculo.
Segundo Rousseau, para que surja um estado necessrio o consenso de todos
os cidados: o contrato social pressupe a unanimidade. J que na poltica concreta
a unanimidade praticamente impossvel, devemos renunciar a esta teoria ideal e
contentar-nos comuma teoria no ideal na qual as decises includa a de formar
umnovo estado so tomadas por uma maioria. Contudo, difcil imaginar que esta
maioria possa limitar-se a ser maioria simples, j que a criao de umnovo estado por
meio de uma secesso comporta problemas e custos no indiferentes para os envolvi-
dos (e sem contar que, no fundo, em caso nenhum uma maioria, por mais ampla que
seja, pode armar estar agindo emnome do todo). Emcasos como este, normalmente
se prefere introduzir o mecanismo da maioria qualicada, embora este ltimo seja
um conceito bastante vago. Imaginemos que uma maioria de dois teros possa ser
considerada sucientemente qualicada e que a minoria derrotada esteja disposta a
aceitar pacicamente a deciso de tal maioria alcanada, digamos, por meio de um
plebiscito.
Voltando ao nosso exemplo: quemdeveria decidir sobre a secesso das Provncias
Bascas? Somente os bascos? Ou tambm os habitantes da regio que no so bascos?
E por que no todos os demais espanhis, j que uma secesso teria conseqncias
importantes para eles tambm?
16
Os defensores da tese substancialista diro que este ltimo ponto de vista no
relevante, j que se trata justamente de garantir o direito autodeterminao de uma
minoria direito sobre o qual a maioria no pode decidir. Mas ento, por coerncia,
eles deveriam excluir da deciso os representantes da maioria que se encontram no
territrio em questo, no nosso caso, os espanhis no bascos, e, inversamente, dei-
xar que participemda deciso os bascos que vivemfora do pas basco. Somente neste
caso, se a deciso for tomada exclusivamente por bascos, ela poder ser considerada
como tomada de fato em nome do povo basco. Se, pelo contrrio, os no bascos que
habitam na regio forem admitidos ao plebiscito, os defensores da tese substancia-
lista estariam admitindo que o critrio da pertena ao grupo tnico ou cultural no
decisivo. Neste caso a deciso da secesso perderia o carter de reivindicao da
autodeterminao por parte de um grupo tnico ou cultural, a no ser que se pres-
suponha que os no bascos votaro contra a secesso e os bascos em prol dela
que provavelmente o que os substancialistas pensam e que, portanto, o voto no
plebiscito ser sempre e necessariamente expresso da diversa pertena tnica e cul-
252 Alessandro Pinzani
tural. Contudo, nesta viso, o plebiscito representaria simplesmente a imposio de
uma cultura majoritria (a basca) sobre uma minoritria (a dos castelhanos, catales,
galegos ou andaluzes que moram no Pas Basco). O resultado de uma secesso seria
a criao de um estado predominantemente basco com algumas minorias. Por coe-
rncia, os substancialistas deveriam apoiar as reivindicaes de tais minorias e seus
direitos autodeterminao. O resultado poderia ser um regressus ad innitum.
b) Argumentos polticos e funcionais
A alternativa seria a renncia ao argumento substancialista e o recurso ao tipo de
argumentos que chamei de polticos e funcionais. Nesta tica, o direito de secesso
reconhecido no a grupos culturalmente denidos e com nalidades de defesa da
prpria identidade coletiva, mas sim com base em outros critrios.
David Copp acha, por ex., que um tal direito s pertence a sociedades que pos-
suem uma dimenso territorial e poltica relevante. Ele dene brevemente uma so-
ciedade como um grupo bastante amplo, em relao populao do estado; que
possui uma histria que compreende muitas geraes; caracterizado por uma rede
de relaes sociais e por normas de cooperao e coordenao relevantes para seus
membros; que inclui a inteira populao de pessoas que residem de forma perma-
nente sobre um territrio relevante, com a exceo de recm-chegados, que podem
no integrar-se na rede de relaes sociais (Copp1997, p. 290s; itlico meu). Ora, esta
denio aparentemente escapa das diculdades ligadas questo da identidade co-
letiva. Contudo, a denio de Copp no se distingue de maneira relevante das no-
es de cultura ou nao acima mencionadas. A referncia aos recm-chegados que
no se integrariam na rede de relaes sociais remete idia de que para participar
nesta rede preciso pertencer sociedade de uma forma forte: no suciente ha-
bitar no mesmo territrio e compartilhar as mesmas leis, necessrio integrar-se. A
noo de integrao remete a uma dimenso que podemos chamar de identitria.
Os critrios externos (como o de morar num territrio) no so to fortes quanto o
critrio da integrao, isto , da interiorizao e apropriao dos elementos que ca-
racterizama identidade daquela sociedade, seu imaginrio social, para usar a expres-
so tayloriana. Para continuar com nosso exemplo, denir os bascos uma sociedade
signica apontar a identidade dos bascos enquanto grupo culturalmente denido. O
fato de eles terem vivido no mesmo territrio por muitas geraes s relevante por-
que podemos identic-los como grupo com base em outras caractersticas, come-
ando pelo idioma e, sobretudo, por causa do seu imaginrio social. Isso ca evidente
nos casos de grupos que convivem no mesmo territrio por muito tempo, como no
caso da ex-Iugoslvia. Seriam os srvios, os croatas e os muulmanos da Bsnia trs
sociedades no sentido de Copp, embora os trs grupos tenham compartilhado por
sculos o mesmo territrio? (Sem considerar um quarto grupo, infelizmente mino-
ritrio, a saber, os indivduos que no queriam ser identicados com nenhum dos
outros grupos e preferiam considerar-se iugoslavos.) Enm: um argumento poltico
para a secesso que parta do ponto de vista do coletivo (como a sociedade de Copp)
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 253
incorre nos mesmos problemas dos argumentos substancialistas pelo fato de ser, no
fundo, um argumento substancialista disfarado.
A alternativa seria, portanto, oferecer um argumento poltico partindo do ponto
de vista do indivduo de um ponto de vista liberal. Neste caso, a deciso pela se-
cesso seria tomada pelos indivduos com base em consideraes de carter estri-
tamente individual. Eles podem votar na secesso por um sentimento de pertena
cultural, por nacionalismo, ou pela convico de que viver num Pas Basco indepen-
dente (para continuar comnosso exemplo) seria melhor para eles do que permanecer
no estado espanhol, de que o novo estado seria mais eciente ou mais justo ou me-
nos corrupto ou mais dinmico ou mais democrtico e prximo aos cidados. O que
importa que nesta perspectiva os indivduos no so chamados a tomar sua deciso
com base unicamente na pertena a um determinado grupo cultural ou tnico, mas
podem escolher livremente num leque de motivaes possveis. Nesta perspectiva
os participantes do plebiscito decidem como indivduos e no simplesmente como
membros de um determinado grupo. Sua individualidade levada a srio e no
reduzida mera pertena a uma cultura ou a uma etnia. Porm, a partir desta pers-
pectiva, a secesso no seria expresso da vontade de autodeterminao de um povo
ou de uma nao, mas uma simples medida que visa a estabelecer uma situao de
maior ecincia administrativa ou econmica, de maior democracia ou de maior jus-
tia.
Isso salientaria o carter convencional e contingente que, no fundo, prprio de
cada estado. Existe a tendncia a pensar nos estados como emseres imortais, insubs-
tituveis e dotados de uma necessidade quase metafsica. Mas eles no o so. Um ser
humano nasce como aquele indivduo determinado e no pode deixar de s-lo. Um
estado, pelo contrrio, o resultado de uma srie de eventos histricos que podemser
denidos contingentes na medida que a histria poderia ter tomado outro rumo. A
Revoluo Farroupilha, por exemplo, poderia ter ganhado e hoje teramos dois pases
lusfonos na Amrica do Sul. Em1830 os vales poderiamter declarado sua indepen-
dncia das Provncias Unidas em nome da sua lngua francesa, em vez de se unirem
aos amengos (que falam neerlands como os holandeses) em nome da comum reli-
gio catlica, e hoje no haveria a Blgica como a conhecemos (e qui daqui a pouco
tempo a Blgica no cesse de existir dividindo-se justamente ao longo das diferenas
lingsticas).
17
Atese substancialista desconsidera issoe pretende impor contingn-
cia histrica a rigorosa necessidade de sua fria teoria. Ela pretende criar novos conns
com base em critrios duvidosos (etnia, cultura) e sem levar em conta os desejos e os
interesses concretos dos indivduos. Ela identica o estado com a nao, a dimenso
poltica e jurdica com a dimenso tnica e cultural. Ela se serve de um conceito forte
de povo, identicado por ela com uma determinada comunidade cultural ou tnica
que na sua homogeneidade o resultado de uma co a bola de bilhar de Tully.
A esta concepo corresponde a negao do valor do indivduo como tal e uma viso
da poltica como convivncia de culturas isoladas e preocupadas em manter sua pre-
sumida integridade ao preo da liberdade dos seus membros. Nesta tica o Estado
254 Alessandro Pinzani
o instrumento da dominao da comunidade sobre o indivduo, da imposio de
valores culturais tradicionais e do fechamento contra outros valores, outras culturas,
outras tradies que so percebidas como ameaas. o mundo da tribo e da menta-
lidade tribal, cujos representantes so incapazes de confrontar-se com o outro e de
pr-se em questo. Na tica substancialista, o direto secesso pertence comuni-
dade, ao grupo tnico ou cultural pelo simples fato de ele ser um tal grupo; na tica
poltico-funcional ele pertence aos indivduos que habitam uma determinada regio
e que podem avanar vrias razes para pedir a secesso includo a razo da sua
diversidade cultural ou tnica.
18
c) O argumento da discriminao
Para nalizar, tocarei brevemente o argumento em prol da secesso baseado na
necessidade de reagir a uma discriminao contra um determinado grupo tnico ou
cultural.
19
Entre os exemplos mais atuais poderamos mencionar a situao dos cur-
dos na Turquia e da minoria albanesa no Kosovo antes da interveno da OTAN. Em
tais circunstncias, os defensores da tese substancialista vem sua posio conr-
mada: um grupo discriminado ou at perseguido e ameaado sicamente pela sua
diversidade cultural ou tnica. A nica sada a secesso e a criao de um estado
no qual tal grupo possa exercer sua autonomia e armar sua cultura. De fato, quando
isso acontecer como proximamente no Kosovo o resultado mais provvel a cri-
ao de umestado emque a ex-minoria, agora maioria, se vingar contra os membros
da ex-maioria que ainda vivamnaquele territrio (como demonstrado pelos pogroms
anti-srvios no Kosovo). Mas, fora isso, o que interessa perguntar se a injustia que
aqui se pretende corrigir feita ao grupo ou aos indivduos que o formam. Ao perce-
bermos como injustas as medidas do governo turco contra o livre uso da lngua curda
ou contra a mera meno de que exista algo como uma cultura curda, ns nos refe-
rimos ao fato de que quem sofre por causa desta medida so indivduos concretos,
pessoas que falam curdo e se identicam como curdos, e no uma abstrata cultura
ou etnia curda. O fato de a perseguio acontecer com base em razes culturais no
a torna pior do que se a perseguio acontecesse com base no comprimento do ca-
belo, como na Albnia de Enver Hoxha, na estatura, como no caso da perseguio
dos Tutsi pelos Hutus, nas preferncias sexuais, na cor da pele, na forma do nariz ou
na cor dos olhos. Objeto de tais discriminaes so indivduos. Eles perdem sua vida,
seus bens ou sua liberdade e no o grupo, a cultura, a etnia. Quando a nica sada
a criao de umnovo estado onde os discriminados no sejammais perseguidos, isso
acontece em nome dos seus direitos como seres humanos, como indivduos, como
pessoas, e no como meros membros de uma certa cultura ou etnia. Se o novo estado
surgir com base nesta pertena tnica ou cultural, conitos e discriminaes contra
membros da ex-maioria so inevitveis, como j disse. No fundo, a prpria base das
discriminaes sofridas pela minoria em questo a tese substancialista de que um
grupo precisa de homogeneidade para se manter intacto e garantir sua sobrevivn-
cia. A prpria tese que sustenta a idia de autodeterminao dos povos corre o risco
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 255
de oferecer a justicativa para a opresso, particularmente quando se deixe de lado
a dimenso individual para concentrar-se em macro-sujeitos como povo, nao,
etnia ou cultura.
Finalmente, os defensores da tese substancialista apontam corretamente pelo fa-
to de que os indivduos precisam para se tornarem indivduos, para formarem sua
individualidade e personalidade pertencer a uma determinada cultura. Eles te-
riam, ento, um direito a uma cultura intacta. Isso pode ser concedido, mas no se
v a razo pela qual esta cultura deva ser necessariamente uma cultura mais do que
outra. Um indivduo nascido em Montreal precisa crescer numa cultura intacta, mas
no necessariamente na cultura francesa do Quebec. Se ele se socializar num con-
texto lingstico anglo-saxnico, sua vida no ser por isso mais pobre ou irrealizada.
A perda de uma lngua e de uma cultura algo lastimvel, mas no consigo ver ar-
gumentos que justiquem sua salvaguarda ao preo da liberdade dos indivduos que
no queiram mais falar aquela lngua ou manter em vida aquela cultura. Claro, mui-
tas vezes uma cultura desaparece sob o ataque de outra cultura mais forte, no por
livre escolha dos seus membros. Mas a resposta ao assimchamado colonialismo cul-
tural (conceito que, contudo, considero muito questionvel e pouco claro) no pode
ser uma forma de comunitarismo antiindividual e de imposio forada de modelos
de vida.
20
Referncias
Anderson, B. 1983. Imagined Communities. Reections on the Origin and Spread of Nationa-
lism. London & New York: Verso.
Assmann, J. 1992. Das kulturelle Gedchtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitt in
frhen Hochkulturen. Mnchen: Beck.
Barry, B. 2001. Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge
(MA): Harvard University Press.
Benhabib, S. 2002. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era. Princeton:
Princeton University Press.
Buchanan, A. 1991. Secession. The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania
and Qubec. Boulder (CO): Westview.
. 1997. Self-Determination, Secession, and the Rule of Law. In McKim, R. & McMahan, J.
(eds.). The Morality of Nationalism, Oxford: Oxford University Press, pp. 30123.
Carens, J. 2000. Culture, Citizenship, and Community. A Contextual Exploration of Justice as
Evenhandedness. Oxford: Oxford University Press.
Cerutti, F. 1996. Identit e politica. In Cerutti, F. (a cura di), Identit e politica, Roma & Bari:
Laterza, pp. 541.
Cobban, A. 1969. The Nation-State and National Self-Determination. London: Collins.
Copp, D. 1997. Democracy and Communal Self-Determination. In McKim, R. & McMahan, J.
(eds.). The Morality of Nationalism, Oxford: Oxford University Press, pp. 277300.
Fraser, N. & Honneth, A. 2003. Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Ex-
change. London & New York: Verso.
Hffe, O. 2005. A democracia no mundo de hoje. So Paulo: Martins Fontes.
256 Alessandro Pinzani
Honneth, A. 2003. Luta pelo reconhecimento. So Paulo: Editora 34.
Kymlicka, W. 1995. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Ox-
ford University Press.
. 2001. Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford:
Oxford University Press.
Niethammer, L. 2000. Kollektive Identitt. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur.
Reinbek bei Hamburg: Rowolth.
Renan, E. [1882] 1997. Quest-ce quune nation? Texto eletrnico acessvel pelo link: http://
www.bmlisieux.com/archives/nation01.htm; acessado em 23 de outubro de 2007.
Seton-Watson, H. 1977. Nations and States. London: Methuen.
Slaughter, M. M. 1994. The Multicultural Self: Questions of Subjectivity, Questions of Power.
In Rosenfeld, M (ed.). Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy. Theoretical
Perspectives. Durham: Duke University Press, pp. 36980.
Straub, J. 1998. Personale und kollektive Identitt. Zur Analyse eines theoretischen Begriffs. In
Assmann, A. & Friese, H. (Hg.). Identitten. Erinnerung, Geschichte, Identitt 3. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp, pp. 73104.
Tamir, Y. 1993. Liberal Nationalism. Princeton: Princeton University Press.
Taylor, Ch. 1994. Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Ed. by A. Gutmann,
with essays by K. A. Appiah, J. Habermas, St. C. Rockefeller, M. Walzer and S. Wolf. Prince-
ton (NJ): Princeton University Press.
. 2004. Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press.
Tully, J. 1995. Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
Wagner, P. 1998. Fest-Stellungen. Beobachtungen zur sozialwissenschaftlichen Diskussion
ber Identitt. In Assmann, A. &Friese, H. (Hg.). Identitten. Erinnerung, Geschichte, Iden-
titt 3. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, pp. 4472.
Wendt, A. 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Zanini, P. 1997. Signicati del conne. I limiti naturali, storici, mentali. Milano: Bruno Mon-
dadori.
iek, S. 2006. The Parallax View. Cambridge (MA): The MIT Press.
Notas
1
Slaughter cita um caso paradigmtico nos EUA (Slaughter 1994, p. 375 s). Benhabib cita Ayelet Scha-
char, que fala no paradoxo da vulnerabilidade multicultural: polticas estaduais que visam, com boas
intenes, a salvaguardar os direitos das minorias podemacabar permitindo vexames sistemticos con-
tra indivduos membros da minoria em questo (apud Benhabib 2002, p. 104).
2
Em geral, o livro de Barry representa um redde rationem feroz contra o multiculturalismo e seus argu-
mentos a partir de umponto de vista liberal que interpreta o liberalismo emprimeiro lugar como teoria
da eqidade e da justia.
3
Veja-se o clssico Kymlicka 1995, p. 10ss.
4
Em fundamentar sua posiona causa University of Californiavs. Bakke, apudSlaughter 1994, p. 370.
5
Uma posio anloga defendida por Joseph Carens, que arma que as culturas evolvem e mudam
no tempo; que as culturas so inuenciadas direta e indiretamente por outras culturas; que as culturas
contm elementos em conito entre si; que as culturas esto sujeitas a muitas interpretaes diversas,
freqentemente conitantes, seja por parte de seus membros como por parte de estranhos; que me-
dida que uma certa cultura d valor e sentido s vidas das pessoas que nela participampode variar entre
Identidade Coletiva, Culturas e Secesso 257
os membros daquela cultura e ser objeto de disputas interpretativas; e que membros de uma cultura po-
dem ser expostos a, ter acesso a ou at participar como membros em uma ou mais culturas diferentes
(Carens 2000, p. 15).
6
Benhabib se movimenta no mbito de uma posio inspirada na teoria discursiva e mais prxima
ao liberalismo, enquanto Tully critica o liberalismo pela sua pretenso de universalidade. Esta crtica
refutada veementemente por Barry (Barry 2001, p. 261ss).
7
Sobre a relao entre estes dois tipos de identidade e sua problematicidade veja-se Wagner 1998,
p. 44ss. Neste contexto, partirei do pressuposto que os dois conceitos (particularmente o de identidade
individual) sejam menos problemticos do que Wagner (corretamente, na minha viso) considera. No
fundo, os autores que defendem posies multiculturalistas nem sempre partem de um conceito forte
de identidade coletiva (veja-se por ex. a noo de imaginrio social usada por Taylor e comentada
mais abaixo neste artigo).
8
Obviamente, os grupos diferem em relao possibilidade que seus membros tm de reformular sua
identidade no contexto da narrativa prpria da sua cultura. H contextos culturais que oferecem aos
indivduos mltiplas possibilidades de repensar e redenir sua identidade individual e outros que os
pemperante a dramtica alternativa entre adaptao aos padres dominantes e excluso. Quanto mai-
ores as possibilidades de reformulao da prpria identidade, tanto maior a autonomia prtica do indi-
vduo (cf. Benhabib 2002, p. 16).
9
Num sentido, isso corresponde a uma reformulao da teoria contratualista clssica, segundo a qual
uma multido s se transforma num povo no momento em que seus membros aceitam como legtimo
um determinado arranjo institucional (que o objeto do contrato social, justamente). S que agora a
dimenso voluntarista e decisria substituda por um conceito mais neutro: o imaginrio social se
forma por processos impessoais interiores a um determinado grupo de indivduos, cuja origem no
objeto de anlise (assim como ela no o nas teorias de um Hobbes ou de um Kant, que s visam
legitimao de um certo tipo de Estado e no pretendem explicar o surgimento da sociedade civil ou do
prprio Estado).
10
Seguindo Niethammer, JrgenStraub arma que o conceito de identidade coletiva assimcomo usado
habitualmente cienticamente insustentvel (do ponto de vista das cincias empricas e das humanas)
e remete em realidade a uma normatividade implcita. Straub considera tal conceito utilizvel somente
no sentido (utilizado neste artigo por mim) da imagem que um grupo constri de si e com a qual seus
membros de identicam (Straub 1998, p. 102).
11
Straub chama a ateno para a confuso conceitual entre identidade e individualidade no plano pes-
soal: um indivduo pode ter uma crise de identidade sem por isso cessar de ser o mesmo indivduo
(Straub 1998, p. 78). No caso que estamos discutindo, poderamos dizer que uma transformao da
identidade tribal dos Muqueam no implica o desaparecimento da tribo.
12
Sobre a questo dos conns, das fronteiras e dos limites em geral veja-se o excelente Zanini 1997.
13
No caso de Ruanda, ambos os Hutus e os Tutsis pertencem na realidade mesma etnia, a Banto,
falam a mesma lngua e possuem praticamente a mesma cultura; a distino primariamente uma
distino econmica e social, vivendo os Hutus originariamente de agricultura e os Tutsis de criao
de gado (esta diferena de estilo de vida explicaria tambm as diferenas fsicas comeando pela
altura que, contudo, caracterizam s uma minoria de indivduos). As duas etnias foram criadas
pelos belgas quando sucederam aos alemes como potncia colonial dominadora em 1916. O caso da
Iugoslvia mais complexo, mas inegvel que nas regies que conheceramas lutas mais ferozes e os
episdios mais cruentos das guerras civis dos anos Noventa os vrios grupos lingsticos e religiosos
eram fortemente misturados e o nmero de matrimnios mistos muito elevado.
14
Esta parece ser a posio do prprio Tamir (cf. particularmente Tamir 1993, p. 72).
15
Dado o interesse essencial dos indivduos empreservar sua identidade nacional, justicado garan-
tir-lhes um conjunto de direitos visados a proteger tal interesse (Tamir 1993, p. 73).
16
Deixo de lado, por simplicidade, a circunstncia de que h bascos tambmna Frana e que, portanto,
o surgimento de um estado basco no lado ibrico dos Pireneus teria conseqncias inevitveis tambm
no lado francs.
258 Alessandro Pinzani
17
A Sua possui quatro grupos lingsticos fortemente caracterizados, mas um pas s e compacto,
enquanto a comunidade cultural alem est dividida numa pluralidade de pases (a Alemanha, a us-
tria e a Sua, primariamente, mas tambm a Blgica, a Itlia e at a Segunda Guerra Mundial a
Tchecoslovquia e a Polnia).
18
No fundo, ns deparamos aqui com a velha dicotomia entre uma viso da cidadania e da pertena
comunidade poltica na qual membro somente quem nasce de pais que j so membros e uma na
qual membro quem queira s-lo, por exemplo, atravs da imigrao. Esta dicotomia perpassa a his-
tria poltica do Ocidente, desde a contraposio da plis grega (na qual o estrangeiro permanece um
meteco sem direito pleno de cidadania) ao imprio romano (no qual a lei que estabelece quem civis)
at a contraposio moderna de ius sanguinis e ius solis. Isso demonstra mais uma vez o carter para-
digmtico da questo da secesso: como ao enfrentarmos tal questo ns deparamos comos principais
conceitos da teoria e da praxe poltica ocidental. Contudo, neste contexto deixarei de lado a questo da
denio do direito de cidadania.
19
Em relao necessidade de inserir o direito de secesso para este tipo de situaes no contexto do
direito internacional, veja-se os textos de Allen Buchanan (Buchanan 1991 e 1997), comcujos argumen-
tos e concluses concordamos plenamente.
20
Agradeo a Fernando Coelho a preciosa obra de reviso lingstica deste texto. As tradues de textos
ingleses e alemes foram efetuadas todas por mim.
PODE RAWLS TACHAR O UTILITARISMO DE DOUTRINA (ABRANGENTE)
DO BEM?
ANTONIO FREDERICO SATURNINO BRAGA
FACC-Universidade Federal do Rio de Janeiro
antoniofsbraga@uol.com.br
O objetivo deste trabalho analisar um dos elementos envolvidos na disputa entre
a teoria rawlsiana da justia e a teoria utilitarista. Mais precisamente, vou examinar
a tese rawlsiana de que, nessa disputa, o utilitarismo pode e deve ser considerado
como uma doutrina abrangente. Esta tese aparece em diversas passagens do livro
Liberalismo Poltico (Rawls 1996); veja, por exemplo, as pginas 13, 37 e 170. Vou me
concentrar, porm, no captulo (ou conferncia) V, intitulado A Prioridade do Justo
e Idias do Bem, no qual a referida tese est inserida no contexto de uma discusso
sobre o problema das comparaes interpessoais. Nesse captulo, alis, Rawls retoma
as reexes desenvolvidas no artigo Social Unity and Primary Goods (Rawls 1982),
no qual a disputa entre a sua prpria teoria e o utilitarismo enfocada por meio,
justamente, de uma anlise sobre o modo pelo qual cada uma das teorias aborda o
problema das comparaes interpessoais.
Em Social Unity and Primary Goods, logo na primeira seo, Rawls arma que,
para abordar o problema das comparaes interpessoais, preciso estabelecer uma
diviso entre dois grandes tipos de concepes de justia (Rawls 1982, p. 160): por
um lado, teorias da justia que admitem uma pluralidade de concepes de bem,
diferentes, opostas e at incomensurveis, e, por outro lado, teorias da justia que
sustentam que h uma nica concepo do bem que deve ser reconhecida por todas
as pessoas, na medida em que so racionais. J no captulo V de Liberalismo Pol-
tico, Rawls deixa indicado que uma doutrina abrangente constitui uma viso sobre
o sentido, valor e propsito da vida humana como um todo (Rawls 1996, p. 17980).
Considerando que sentido, valor e propsito da vida humana costumamser reunidos
no conceito de Bem, podemos armar que, para Rawls, h uma equivalncia, pelo
menos emprincpio, entre as noes de doutrina abrangente e concepo de bem
emprincpio, uma concepo de bem uma doutrina abrangente (do bem), e vice-
versa. No captulo I, por sua vez, Rawls estabelece uma distino entre, por um lado,
concepes polticas da justia e, por outro lado, doutrinas morais (talvez seja me-
lhor usar o termo ticas), baseada no fato de que, ao contrrio das primeiras, estas
ltimas em geral representam doutrinas abrangentes, quer dizer, doutrinas que pre-
tendemaplicar-se s diversas esferas da existncia humana, desde o comportamento
estritamente pessoal, passando pelas relaes propriamente pessoais e chegando
organizao da sociedade como um todo chegando, em outras palavras, regula-
o da esfera poltica (Rawls 1996, p. 13).
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 259272.
260 Antonio Frederico Saturnino Braga
Reunamos agora os diversos elementos conceituais que acabam de ser mencio-
nados. Uma concepo de bem uma concepo tica, quer dizer, uma concepo
que indica sentido, valor e propsito da existncia humana como umtodo. por isso,
justamente, que uma concepo de bem tem, em princpio, um alcance abrangente,
quer dizer, pretende aplicar-se s diversas esferas da existncia humana, desde o
comportamento estritamente individual, passando pelas relaes propriamente pes-
soais e chegando s relaes sociais constitutivas da esfera poltica. Ora, ao pretender
aplicar-se esfera poltica, uma concepo abrangente do bem constitui-se simul-
taneamente numa concepo poltica, ou seja, numa teoria da justia trata-se de
uma teoria sobre os princpios que devem reger a esfera poltica. Diferentes concep-
es abrangentes do bemequivalem, portanto, a diferentes teorias da justia. Emou-
tras palavras, do ponto de vista de uma concepo abrangente do bem, uma teoria da
justia equivale a uma concepo do bem, o que signica que, desse ponto de vista,
uma teoria da justia simplesmente no pode admitir uma pluralidade de concep-
es do bem, diferentes, opostas e incomensurveis.
Vimos acima que Rawls parte do princpio de que h teorias da justia que admi-
tem uma pluralidade de concepes do bem, diferentes e opostas. Com base no que
acaba de ser dito, podemos armar que as concepes de bemcontempladas por este
tipo de teoria da justia no podem ser doutrinas rigorosamente abrangentes. Para
estabelecer a possibilidade deste tipo de teoria da justia, Rawls precisa contar com
a possibilidade de se fazer uma distino entre a esfera da tica e a esfera da poltica,
ou seja, entre a esfera no-poltica da existncia humana, na qual cada indivduo
se orienta por uma das diversas concepes de bem que legitimamente vicejam na
sociedade, e, por outro lado, a esfera propriamente poltica, regida por uma teoria
unitria e coerente da justia (exclusivamente poltica). Do ponto de vista deste tipo
de teoria da justia, portanto, uma concepo de bem, ainda que continue a ter visada
abrangente, precisa ser reduzida a uma concepo quase-abrangente; deste ponto
de vista, uma concepo quase-abrangente do bem, ainda que continue a alimen-
tar a pretenso de fornecer orientao para a esfera poltica, precisa admitir o fato
de que esta sua orientao deve poder traduzir-se nos termos de uma racionalidade
estritamente poltica, tal como indicada ou estruturada pela teoria da justia con-
sensualmente aceita na sociedade. E uma das condies dessa racionalidade poltica
consiste, precisamente, na admisso da legitimidade do pluralismo das concepes
de bem, o que implica que as decises do Estado, assim como a justicao destas
decises, devem caracterizar-se pelo maior grau de neutralidade possvel em relao
aos valores, anseios e projetos expressos em cada uma das concepes de bem.
A grande diculdade que este tipo de teoria da justia enfrenta reside no fato de
que, em muitos casos, conitos propriamente polticos parecem envolver, inevit-
vel e essencialmente, conitos entre concepes (quase-abrangentes) de bem, o que
signica que, ao resolver estes conitos, a teoria da justia adotada pela sociedade
acaba tendo uma inuncia mais favorvel a uma (ou algumas) destas concepes,
em detrimento de outras. E isto simultaneamente signica que, para resolver estes
Pode Rawls Tachar o Utilitarismo de Doutrina (abrangente) do Bem? 261
conitos, uma teoria da justia precisa propor um critrio de deciso que, na impos-
sibilidade da neutralidade absoluta, possa ao menos ser considerado razoavelmente
neutro (ou imparcial) pelos prprios indivduos cujas concepes de bem seriam di-
ferentemente afetadas. No contexto do fato do pluralismo, umcritrio justo , preci-
samente, um critrio razoavelmente neutro, ou, mais simplesmente, um critrio ra-
zovel o sentido de razovel aponta, precisamente, para a neutralidade que se
pode razoavelmente esperar e exigir dos agentes polticos.
No captulo Vde Liberalismo Poltico, Rawls deixa claro que ele considera o utilita-
rismo como uma doutrina que especica sentido, valor e propsito da vida humana
(Rawls 1996, p. 17980); em outras palavras, Rawls deixa claro que ele considera o
utilitarismo como uma concepo do bem. Isto suscita a seguinte questo. Conside-
rando que ele teria de admitir a distino acima estabelecida entre concepes do
bem rigorosamente abrangentes e, por outro lado, concepes quase-abrangentes,
em qual destas categorias ele colocaria o utilitarismo?
Para encaminhar esta questo, voltemos, rapidamente, distino entre uma
concepo abrangente do bem e uma concepo quase-abrangente. Em ambos os
casos, uma concepo de bem consiste numa doutrina que especica sentido e pro-
psito da vida humana como umtodo. Tratando-se, emambos os casos, de uma con-
cepo de carter normativo, trata-se de uma doutrina que especica o propsito glo-
bal que deve ser visado pelos indivduos, na medida emque so racionais. No caso de
uma concepo rigorosamente abrangente, como foi indicado acima, trata-se de uma
doutrina com pretenso de validade poltica, o que signica que sentido e propsito
da existncia funcionam como critrios propriamente polticos, quer dizer, critrios
para a discusso e deciso dos conitos polticos. Neste caso, a concepo de bem
constitui-se, automaticamente, numa teoria da justia. Pode-se armar ainda que,
nesse caso, a doutrina sobre o bemergue pretenso de verdade (validade geral), e que
essa pretenso regula a esfera poltica. Ora, dizer que a esfera poltica pautada pela
crena de que uma certa concepo de bem representa a verdadeira concepo do
propsito da existncia humana dizer isso equivale a dizer que a justia poltica
consiste na promoo dessa concepo de bem. O Estado justo o Estado que educa
ou pelo menos estimula os cidados para a vida regulada por essa concepo, ou seja,
o Estado que promove essa concepo. por isso que se diz que, nesse caso, h uma
prioridade do bom sobre o justo.
obvio que, entendida dessa maneira, uma concepo abrangente incompat-
vel com o fato do pluralismo, ou seja, com o reconhecimento de que h uma plu-
ralidade de concepes razoveis de bem, que merecem ser respeitadas e at preser-
vadas, na maior medida possvel. E isso signica que ela incompatvel com uma
ordem poltica autenticamente pluralista. Em contrapartida, uma concepo quase-
abrangente uma concepo de bem compatvel com o fato do pluralismo e com a
ordem poltica pluralista. Trata-se de uma concepo que, indicando ainda sentido
e propsito da vida humana como um todo, deixa de erguer pretenso de validade
poltica ainda que mantenha a pretenso de fornecer orientaes para a esfera po-
262 Antonio Frederico Saturnino Braga
ltica. Trata-se de uma concepo que aceita o fato de que outras doutrinas sobre o
bem vicejam na sociedade, e que assume uma atitude de tolerncia poltica em rela-
o a elas. Nesse caso, a concepo quase-abrangente aceita o fato de que a discusso
e resoluo das questes polticas no podem mais basear-se numa concepo espe-
cca (particular) do propsito global que deveria ser visado pelos indivduos, na me-
dida em que so racionais. Ora, por abandonar a pretenso de ter validade na esfera
poltica, a concepo quase-abrangente precisa encontrar uma teoria poltica que, ao
mesmo tempo emque lhe seja aceitvel, seja aceitvel tambmpara as outras teorias
do bem que vicejam na sociedade.
No Captulo IV de Liberalismo Poltico, que discute a idia do Overlapping Con-
sensus, Rawls parece propor que o utilitarismo seja enquadrado na categoria das con-
cepes quase-abrangentes do bem. Com efeito, no 8 deste captulo, Rawls apre-
senta o utilitarismo como uma das doutrinas abrangentes que poderiam apoiar a
concepo de justia do liberalismo poltico (e no mais da justia como eqi-
dade o que suscita a difcil questo de saber quais seriam, exatamente, as relaes
entre as teorias da justia como eqidade e do liberalismo poltico). Em outras
palavras, Rawls tenta mostrar de que modo o utilitarismo poderia aproximar-se da
teoria da justia do liberalismo poltico e reconhecer nela uma concepo satisfa-
tria (Rawls 1996, p. 16970). Ora, claro que, se o utilitarismo est sendo tomado
como uma doutrina que pode aproximar-se da teoria da justia do liberalismo pol-
tico, que pode, emoutras palavras, vir a aceit-la como uma teoria poltica satisfatria
se o utilitarismo est sendo tomado desta forma, ele est sendo tomado, no como
uma doutrina rigorosamente abrangente do bem, mas como uma doutrina quase-
abrangente.
No contexto do fato do pluralismo, uma concepo quase-abrangente do bem
uma concepo que entra no domnio da tica, ao passo que as correspondentes teo-
rias da justia entramno domnio da losoa poltica. claro que o utilitarismo pode
ser visto como uma doutrina tica, quer dizer, voltada para a direo das condutas es-
tritamente individuais e das relaes propriamente pessoais. Mas isso absolutamente
no signica que ele deva ser visto como uma doutrina que abandonou o campo da
losoa poltica, e que, ao abandon-lo, ca obrigado a encontrar a teoria (poltica)
da justia que lhe seja mais prxima ou aceitvel. Ao contrrio, o sentido priorit-
rio do utilitarismo sempre foi e continua a ser o de uma teoria propriamente poltica,
quer dizer, uma teoria compretenso de validade na esfera poltica. Isso signica que,
se se quiser mant-lo na classe das concepes de bem, preciso enquadr-lo na ca-
tegoria das concepes abrangentes do bem, quer dizer, concepes do propsito da
vida humana que pretendem ter validade tambm na esfera poltica.
O enquadramento do utilitarismo na classe das concepes abrangentes do bem
esbarra num grande obstculo. Trata-se do fato de que, primeira vista, esta classe
inteiramente ocupada pelas doutrinas perfeccionistas nos moldes clssicos, ou seja,
doutrinas que apresentamo propsito da vida humana como umestado objetivo que
deve ser diligentemente buscado a virtude, a excelncia, a perfeio. Emoutras pa-
Pode Rawls Tachar o Utilitarismo de Doutrina (abrangente) do Bem? 263
lavras, trata-se do fato de que as concepes abrangentes do bem em princpio so
identicadas quelas doutrinas que, alm de pretenderem ensinar aos homens que
caminho eles devem seguir na vida, apresentam tal caminho como um esforo de re-
presso e superao dos desejos, preferncias ou impulsos mais imediatos, como um
esforo, em outras palavras, de substituio dos desejos imediatos por desejos eti-
camente elevados. E, como bem ensina Robert Goodin (Goodin 1993), o utilitarismo,
comtodas as discusses internas que o caracterizam, sempre tendeu a afastar-se des-
tas doutrinas normativamente densas sobre o bem humano com exceo, talvez,
da vertente claramente minoritria representada, por exemplo, por Moore.
Assim, se for verdade que o utilitarismo inclui uma especicao do propsito da
vida humana, tal propsito no se apresenta emtermos normativos ou morais, como
um estado objetivo que deve ser diligentemente buscado. Para entendermos o lugar
que a noo de propsito ocupa no utilitarismo, interessante v-lo, num primeiro
nvel, como uma concepo experimental da boa vida, Rawls tal como denida por
Scanlon (Scanlon 1991, p. 20).
1
Trata-se de uma concepo segundo a qual aquilo
que torna a vida uma boa vida para aquele que a vive consiste em estados psicol-
gicos (ou subjetivos) desejveis. O impulso antinormativo do utilitarismo, tal como
apresentado no artigo de Goodin acima citado, se expressaria ento na reduo do
desejvel ao desejado. Dessa forma, o utilitarismo incluiria a concepo de que aquilo
que torna a vida uma boa vida para aquele que a vive , essencialmente, a presena
de estados psicolgicos desejados, reunidos sob o ttulo satisfao. Aproveitando as
lies de Scanlon, podemos armar que este tipo de concepo, embora equivalha,
numcerto sentido, a umjuzo valorativo trata-se, justamente, do juzo sobre aquilo
que torna a vida uma boa vida para aquele que a vive, no equivale a um juzo estri-
tamente moral. Em outras palavras, em vez de apontar para uma norma (correta) de
vida, quer dizer, uma prescrio (correta) do tipo de vida que os homens devemlevar,
tal concepo aponta antes para uma descrio (verdadeira) da boa vida, quer dizer,
uma descrio (verdadeira) daquilo que torna a vida uma boa vida para aquele que
a leva. Segundo a descrio utilitarista, aquilo que torna a vida uma boa vida para
aquele que a leva , essencialmente, a presena de estados subjetivos factualmente
desejados, reunidos sob o ttulo satisfao.
Embora o ponto exija uma anlise mais cuidadosa, admitamos provisoriamente
que, neste tipo de concepo, a satisfao representa o propsito buscado pelos indi-
vduos. Assim, retomando a frase com que iniciamos o pargrafo anterior, podemos
dizer agora o seguinte: se for verdade que o utilitarismo inclui uma especicao do
propsito da vida humana, tal propsito se apresenta, no em termos normativos ou
morais, como um estado objetivo que deve ser diligentemente buscado, mas, antes,
emtermos empricos ou factuais, quer dizer, como o estado subjetivo que os homens,
como questo de fato, (j) buscam ou desejam: a satisfao, entendida como o senti-
mento ou estado mental grosso modo positivo que se associa realizao dos de-
sejos ou preferncias do indivduo, quaisquer que elas sejam, e por diferentes que
elas sejam. Como explica Goodin, esta espcie de teoria decerto envolve conseqn-
264 Antonio Frederico Saturnino Braga
cias morais e o moral equivale aqui, como veremos adiante, ao poltico (no sentido
normativo); mas ela no envolve avaliaes morais (quer dizer, ticas) sobre a legiti-
midade das preferncias individuais: No h nada na teoria que diga que as pessoas
devam ter estes (ou aqueles) tipos de preferncias. simplesmente uma teoria sobre
o que se segue, moralmente, se lhes acontece ter esse tipo de preferncia. bom
bom para elas ter suas preferncias satisfeitas, quaisquer que elas sejam. (Goodin
1993, p. 243).
Se se quiser manter a tese de que a satisfao funciona no utilitarismo como es-
pecicaoemprica dopropsitoda vida humana, ser precisoreetir sobre a tenso
inerente a este propsito. Ele por um lado uno: a satisfao representa o propsito
nico perseguido por todos os homens. Por outro lado, porm, ele admite a variao
e o pluralismo: admite-se que a satisfao pode estar associada a desejos, prefern-
cias e projetos extremamente variados, at opostos. Ora, para classicar o utilitarismo
como uma doutrina rigorosamente abrangente do bem, preciso encaminhar esta
tenso para o lado da unidade, na medida em que uma doutrina abrangente do bem
(e no pode deixar de ser) uma concepo que especica o propsito uno dos ho-
mens e da sociedade. E, para fazer isso, como se ver logo a seguir, preciso trocar
a categoria em que se coloca a noo de satisfao, tomada como propsito da vida
humana: preciso deslocar tal noo, tirando-a da categoria de especicao emp-
rica do propsito que os homens por natureza buscam, e colocando-a na categoria
de especicao normativa do propsito que eles devem buscar, na medida em que
so racionais.
EmSocial unity andprimary goods, Rawls defende uma leitura do utilitarismo que
exemplica este tipo de deslocamento (1982, p. 17483). Na sua leitura, o utilitarismo
sustentaria, grosso modo, o seguinte argumento: ainda que, empiricamente, seja ver-
dade que os homens tm, emprincpio, desejos e preferncias muito diferentes entre
si, eles sempre devem tentar adotar aquelas preferncias que melhor se alinham com
o sistema de preferncias gerado pelos impulsos predominantes na sociedade como
umtodo, ou seja, eles devemabandonar valores e projetos que estejamemdesacordo
com tal sistema de preferncias. Assim, ao dizer que o propsito da vida humana a
satisfao, o utilitarista estaria simultaneamente dizendo que o indivduo deve tentar
harmonizar sua satisfao individual com a satisfao social (ou global); isto sig-
nica, justamente, que ele deve buscar aquele projeto de vida que melhor se alinha
com o sistema de preferncias gerado pelos impulsos socialmente predominantes.
Para classicar o utilitarismo como uma doutrina abrangente do bem, preciso, por-
tanto, atribuir-lhe uma certa concepo de pessoa, a saber, a de pessoa despida
(Rawls 1982, p. 1801). Ainda que Rawls no o arme, claro que sua leitura pressu-
pe que se trata de uma concepo normativa da pessoa, na qual a pessoa apresen-
tada como umindivduo que deve estar disposto a se despir dos valores e projetos que
estejamemdesacordo comas preferncias socialmente predominantes, para abraar
aqueles que efetivamente se alinham com tais preferncias, de modo a alinhar-se ao
propsito, simultaneamente individual e poltico, da maximizao da satisfao.
Pode Rawls Tachar o Utilitarismo de Doutrina (abrangente) do Bem? 265
Desse ponto de vista, o utilitarismo aparece como uma doutrina que se ope ao
reconhecimento da legitimidade do pluralismo dos valores, ainda que de maneira um
tanto disfarada. Com efeito, lido desta maneira, o utilitarismo, longe de reconhecer
a positividade do pluralismo dos valores e projetos de vida, patrocina, ao menos indi-
retamente, a uniformizao da concepo de bem na sociedade. Se o propsito que
o indivduo deve abraar equivale adoo do projeto de vida que melhor se alinha
com o sistema de preferncias socialmente dominante, estabelece-se uma perfeita
harmonia entre a maximizao da satisfao como propsito individual e a maximi-
zao da satisfao como propsito social (poltico). preciso lembrar que, no con-
texto do fato do pluralismo, conitos polticos so conitos entre demandas indivi-
duais irredutivelmente distintas, e critrios de justia (poltica) so critrios para o
encaminhamento e resoluo deste tipo de conito. Tal como interpretada acima,
a maximizao da satisfao, em vez de funcionar como critrio para a deciso de
conitos entre demandas individuais irredutivelmente distintas, funciona ao contr-
rio como princpio normativo para a dissoluo das diferenas ou desacordos entre
as demandas individuais. Por representar um propsito que deve ser compartilhado,
no s entre os (diversos) indivduos despidos, mas tambm entre estes e o agente
poltico, a maximizao da satisfao, semelhana do que ocorre no caso das dou-
trinas perfeccionistas, unica a sociedade em torno de um projeto comum s que
nesse caso se trata do projeto oriundo do sistema de preferncias gerado pelos im-
pulsos socialmente predominantes.
claro que este tipo de leitura seria rejeitado por alguns dos grandes represen-
tantes do utilitarismo contemporneo, como, por exemplo, J. Harsanyi. Com efeito,
Harsanyi ancora o utilitarismo naquilo que ele chama de importante princpio lo-
sco da autonomia das preferncias, a saber, o princpio de que, ao decidir-se o
que bom e o que ruim para um dado indivduo, o critrio ltimo s pode ser seus
prprios (deste indivduo A.S.B.) desejos e suas prprias preferncias. (Harsanyi
1982, p. 55. O grifo do prprio autor.) De acordo com Harsanyi, portanto, o utili-
tarismo no aceita a idia de que o bom para o indivduo possa ser estabelecido a
partir do sistema de preferncias socialmente dominante. Ao ancorar o utilitarismo
no princpio da autonomia das preferncias, Harsanyi est implicitamente dizendo
que esta teoria aceita e at valoriza a pluralidade das concepes individuais de bem
expressas nos diferentes sistemas individuais de preferncias.
Alm disso, at onde sei, o prprio Rawls, depois do artigo de 82, deixou de recor-
rer a essa espcie de interpretao totalitria do utilitarismo ela no aparece,
por exemplo, em nenhum dos captulos de Liberalismo Poltico. E a razo da ina-
ceitabilidade desta leitura clara: no se coaduna com o esprito do utilitarismo o
deslocamento normativo da noo de satisfao, tomada como propsito da vida in-
dividual. Se se quiser manter a tese de que a noo de satisfao representa, no uti-
litarismo, o propsito da vida individual, preciso manter esta noo no plano do
emprico-factual. Como questo de fato, o propsito que os indivduos buscam , es-
sencialmente, a maximizao da satisfao, entendida como estado subjetivo grosso
266 Antonio Frederico Saturnino Braga
modo positivo que se associa realizao de suas preferncias, quaisquer que elas
sejam, e por variadas que elas sejam. Ter satisfao, quer dizer, um mximo de sa-
tisfao, aquilo que torna a vida uma boa vida para aquele que a leva no no
sentido de uma vida realizada, mas no sentido de uma vida meramente gostosa.
Trata-se decerto de uma concepo tica, mas de uma concepo normativamente
descompromissada. No mbito do utilitarismo, se se quiser deslocar as noes de sa-
tisfao e maximizao da satisfao para a esfera da teoria normativamente densa
ou comprometida, ser preciso desloc-las da esfera da teoria tica para a esfera da
teoria propriamente poltica. Nesta ltima esfera, entretanto, equivocado apresen-
tar a maximizao da satisfao como propsito da vida poltica, quer dizer, como o
bemda sociedade como umtodo. Na teoria poltica do utilitarismo, emvez de funcio-
nar como denio do bemda sociedade como umtodo, a maximizao da satisfao
funciona como um critrio de justia trata-se de um critrio justo para a resoluo
dos conitos (polticos) entre preferncias ou demandas individuais irredutivelmente
distintas. Se isso for verdade, impe-se a concluso de que a teoria poltica do utilita-
rismo no deve ser vista como uma concepo abrangente do bem, quer dizer, uma
concepo do bem da sociedade como um todo, e simultaneamente de cada indi-
vduo que dela faz parte. A teoria poltica do utilitarismo deve ser vista como uma
doutrina que, ao incorporar o fato do pluralismo, admite a irredutibilidade das dife-
renas nas concepes individuais de bem, e usa a noo de maximizao da satisfa-
o como critrio poltico para a resoluo dos conitos entre demandas individuais
irredutivelmente distintas. Isso signica que esta noo funciona no utilitarismo sim-
plesmente como explicao do contedo da justia, e no como explicitao de uma
concepo abrangente do bem.
***
Para dar continuidade ao meu argumento, gostaria agora de abordar o problema das
comparaes interpessoais. Antes de mais nada, preciso destacar que se trata aqui
de um problema essencialmente poltico, ou seja, um problema que s aparece em
teorias compretensode validade poltica; uma concepoquase-abrangente dobem
no precisa abordar esse problema. Em Social unity and primary goods, logo depois
de estabelecer a diviso entre teorias da justia que valorizam o fato do pluralismo
e teorias da justia que vinculam a justia a uma concepo unitria e abrangente
do bem, Rawls arma que Teorias da justia que entram nos lados opostos dessa
diviso tratam o problema das comparaes interpessoais de modos inteiramente
diferentes (Rawls 1982, p. 160). Rawls no chega a expor o modo como o problema
tratado numa teoria da justia vinculada a uma concepo abrangente do bem. Eu
gostaria, entretanto, de tentar fazer isso, para dar continuidade ao meu argumento
sobre a natureza da teoria poltica do utilitarismo.
Precisamos de uma caracterizao inicial do problema. Nos textos que estamos
analisando, Rawls deixa claro que o problema das comparaes interpessoais vincu-
Pode Rawls Tachar o Utilitarismo de Doutrina (abrangente) do Bem? 267
la-se necessidade de se dispor de um critrio poltico para a resoluo dos conitos
entre as diversas reivindicaes que os diferentes cidados fazem em relao ao Es-
tado. Para resolver esses conitos, preciso que se tenha uma concepo sobre os
tipos de reivindicao que os cidados podem apropriadamente fazer em relao ao
Estado, sobre as razes capazes de legitimar e dar peso a tais reivindicaes, e so-
bre o modo como se deve avaliar e xar o peso relativo dessas diferentes reivindica-
es, para se resolver os conitos entre elas. E nesse ponto que surge o problema
das comparaes interpessoais: para determinar o peso correto de cada reivindica-
o em conito, preciso compar-las, ou seja, preciso comparar a situao dos
indivduos que respectivamente as fazem. E para se fazer essa comparao, precisa-
se de um padro de comparao, o qual exige a especicao de um valor comum e
compartilhado.
Tomemos primeiro o caso das teorias da justia vinculadas a uma concepo uni-
tria e abrangente do bem. Como vimos acima, neste tipo de teoria a justia est vin-
culada a uma concepodobem, oudopropsito, da sociedade comoumtodoque
simultaneamente o bem, ouo propsito, de cada indivduo que dela parte. No caso
deste tipo de teoria, o valor comum e compartilhado consiste, precisamente, numa
concepo compartilhada do propsito da existncia humana, que indica o sentido
e a meta da existncia, no s da comunidade poltica, mas tambm de cada cidado
que dela faz parte. Ora, ao indicar que tipo de vida os cidados devem buscar, a con-
cepo abrangente do bemindica tambm, de forma direta, que tipo de reivindicao
os cidados podem legitimamente fazer em relao ao Estado, e de que modo as rei-
vindicaes individuais devem ser comparadas, avaliadas e ponderadas, de modo a
se resolveremos eventuais conitos entre elas. Pode-se dizer que, nesse caso, as com-
paraes das reivindicaes individuais consistem numa anlise do mrito que elas
respectivamente auferem da concepo supra-individual de bem reconhecida pela
comunidade. Para determinar o peso correto das reivindicaes emconito, parte-se
da concepo suprapessoal de bem compartilhada pela comunidade, e, partindo-se
da, procede-se a um cotejo da funo e mrito dos indivduos que fazem as reivindi-
caes, e da contribuio que o atendimento das mesmas traria ao bemglobal que
o bem do indivduo e do prprio Estado.
Por outro lado, quando a teoria da justia incorpora o reconhecimento de que h
uma pluralidade de concepes razoveis do bem pessoal, a exeqibilidade e legiti-
midade das comparaes interpessoais deixam de poder fundar-se numa concepo
de bem unitria e abrangente. O problema adquire nova feio, que pode ser exposta
da seguinte maneira. Numa ordem poltica pluralista, os cidados podem legitima-
mente abraar concepes de bem no apenas diferentes e muitas vezes opostas,
mas, principalmente, incomensurveis: na ausncia de uma concepo de bem re-
conhecida como politicamente vlida, no se pode mais, do ponto de vista poltico,
medir e determinar os respectivos mritos das diferentes concepes do bempessoal
em princpio, todas so reconhecidas como igualmente legtimas e valiosas. Ora,
considerando que o bemrepresenta o propsito visado pelos prprios indivduos que
268 Antonio Frederico Saturnino Braga
fazemreivindicaes emrelao ao Estado, dizer que h e pode haver diferentes con-
cepes de bem, incomensurveis entre si, equivale a dizer que as comparaes des-
sas reivindicaes individuais no podem mais basear-se num propsito unitrio e
compartilhado, que deveria ser visado por todos os indivduos seu verdadeiro bem
pessoal. preciso encontrar um outro princpio de comparao. nisso que con-
siste, essencialmente, o problema das comparaes interpessoais numa ordem pol-
tica pluralista.
Esse novo princpio de comparao pode ser denido como aquilo comque o Es-
tado deve preocupar-se, depois que ele no pode mais preocupar-se em promover a
concepo de bem reconhecida como verdadeira pela comunidade. aqui que apa-
rece o conceito independente do Justo: depois que o Estado no pode mais preocu-
par-se coma promoo de uma concepo unitria e abrangente do Bem, aquilo com
que ele deve preocupar-se passa a ser denido como o justo. Depois que a questo
do bem rebaixada a questo de preferncia individual, ou seja, questo que no
admite encaminhamento e resoluo publicamente compartilhados, o debate pol-
tico caracteriza-se por uma prioridade do conceito de justia, com as caractersticas
e condies que lhe so peculiares. Dentre essas caractersticas avulta a neutralidade,
ou imparcialidade: se verdade que, numa ordem poltica pluralista, as diferentes
concepes de bem respectivamente preferidas pelos indivduos devem em princ-
pio ser reconhecidas como igualmente legtimas e valiosas, o propsito das decises
e aes do Estado, a justia poltica, deve caracterizar-se pelo maior grau possvel
de neutralidade em relao a essas diferentes concepes de bem. injusto que o
Estado intencionalmente favorea uma ou outra dessas concepes, em detrimento
das demais. claro que essa exigncia de neutralidade gera uma srie de problemas,
aos quais corresponde, por exemplo, a tentativa de Rawls de estabelecer uma dis-
tino entre neutralidade de objetivo e neutralidade de inuncia (Rawls 1996,
p. 1905). Mas no precisamos entrar aqui nessa distino, nem nos problemas a que
ela responde; basta-nos uma compreenso do sentido geral da exigncia de neutrali-
dade, a qual decorre do reconhecimento do pluralismo das concepes razoveis de
bem pessoal, e da incomensurabilidade entre elas.
Resumindo: numa ordem poltica pluralista, as necessrias comparaes das rei-
vindicaes individuais no podem mais basear-se numa concepo compartilhada
do Bem, ou seja, numa concepo do bemda sociedade como umtodo e, simultanea-
mente, de cada indivduo que dela parte. Elas s podemapoiar-se numa concepo
compartilhada da justia poltica, ou seja, numa concepo compartilhada daquilo
com que o Estado deve preocupar-se, depois que ele no pode mais preocupar-se
em promover uma determinada concepo de bem. Aquilo com que o Estado deve
preocupar-se representa umvalor comume compartilhado, ou seja, umvalor que to-
dos os indivduos razoveis reconhecem, muito embora ele seja distinto do seu bem
pessoal categorialmente distinto. As comparaes polticas das reivindicaes in-
dividuais so anlises do peso que elas adquiremao seremreferidas a esse valor com-
partilhado, ou seja, so anlises das suas respectivas contribuies para a promoo
Pode Rawls Tachar o Utilitarismo de Doutrina (abrangente) do Bem? 269
desse valor poltico, categorialmente distinto do bem, entendido como propsito vi-
sado pelos indivduos.
Numa ordem poltica pluralista, o problema das comparaes interpessoais en-
volve, portanto, a seguinte pergunta: com que o Estado deve essencialmente preocu-
par-se, depois que ele no pode mais preocupar-se empromover umpropsito global
ou abrangente? Para encaminhar a reexo sobre essa pergunta, gostaria de citar por
extenso uma passagem do captulo V de Liberalismo Poltico, que j foi mencionada
anteriormente (Rawls 1996, p. 17980).
Noliberalismopolticooproblema das comparaes interpessoais aparece da se-
guinte maneira: dadas as conitantes concepes abrangentes do bem, como
possvel alcanar umtal entendimento poltico a respeito do que deve valer como
reivindicaes apropriadas? A diculdade que o governo, assimcomo no pode
agir para promover o catolicismo ouo protestantismo, ouqualquer outra religio,
tampouco pode agir para maximizar a satisfao (fulllment) das preferncias ou
desejos racionais dos cidados (como no utilitarismo), ou para promover a exce-
lncia humana ou os valores da perfeio (como no perfeccionismo). Nenhuma
dessas vises sobre o signicado, valor e propsito da vida humana, tal como
especicados pelas respectivas doutrinas religiosas ou loscas abrangentes,
armada pelos cidados em geral, e por isso a busca de qualquer uma delas por
meio das instituies sociais bsicas daria sociedade poltica um carter sect-
rio.
Nessa passagem, Rawls explicitamente aproxima o utilitarismo das doutrinas per-
feccionistas e religiosas. Doutrinas perfeccionistas e religiosas no so apenas doutri-
nas sobre o sentido e propsito da vida humana, quer dizer, doutrinas que especi-
camqual o propsito da vida humana; mais fundamentalmente, so doutrinas que,
ao especicar esse propsito, colocam-se numa esfera densamente normativa: elas
especicam o propsito que os indivduos devem buscar, mesmo que ele seja bas-
tante distinto de suas preferncias empricas imediatas. Mas ser que o utilitarismo
especica um propsito que os indivduos devem buscar? E ser que um propsito
normativamente especicado desempenha algum papel na teoria poltica do utilita-
rismo?
A diculdade, como foi sugerido acima, reside na interpretao da noo de sa-
tisfao, que ocupa lugar central na teoria utilitarista. Essa noo pode indicar: (a)
ato ou efeito de satisfazer uma preferncia ou desejo quaisquer que eles sejam,
e por diferentes que eles sejam; (b) estado mental uniforme que os indivduos ex-
perimentam ao terem satisfeitas suas preferncias ou desejos quaisquer que elas
sejam, e por diferentes que elas sejam; (c) propsito emprico dos indivduos, quer
dizer, propsito factualmente visado pelos indivduos; (d) propsito normativo dos
indivduos, quer dizer, propsito que os indivduos devem visar; (e) Propsito nor-
mativo unitrio e abrangente, univocamente compartilhado entre indivduos e co-
munidade poltica. importante destacar as enormes diferenas entre essas inter-
pretaes. Nas interpretaes (a) e (b), admite-se que os propsitos preferidos e vi-
270 Antonio Frederico Saturnino Braga
sados pelos indivduos sejam diferentes, e que a noo de satisfao indique, no o
propsito uniformemente visado por eles, mas o estado mental que eles uniforme-
mente experimentam, ao verem realizados os propsitos ou subpropsitos que eles
variadamente preferem. A interpretao (c) j mais densa: ela sugere que todos os
indivduos no fundo adotam um mesmo propsito, obter satisfao; em outras pa-
lavras, a interpretao (c) sugere que o propsito visado pelos indivduos , no tanto
seguir e realizar os diversos projetos de vida que eles respectivamente preferem, com
as diversas subpreferncias que lhes so constitutivas, mas , antes, obter satisfao.
importante, entretanto, enfatizar o seguinte: adotar esta interpretao no implica
suprimir as diferenas nos esforos e caminhos pelos quais os diferentes indivduos
perseguem este (mesmo) propsito. A identidade do propsito representa aqui, sim-
plesmente, a identidade de um estado mental ou subjetivo, e no a identidade de
uma meta objetiva. Omesmo estado subjetivo perseguido por diferentes caminhos,
o que signica que no h uma convergncia dos interesses individuais numa meta
una e abrangente. No se deve confundir aqui a identidade nominal das diferentes
metas com a unidade real de um foco de convergncia. As interpretaes (d) e (e)
resultam, justamente, desse deslize interpretativo. No contexto da nossa discusso,
a tese (d) de que o indivduo deve buscar a satisfao, ou a maximizao da satisfa-
o, s faz sentido se for interpretada nos seguintes termos: o indivduo deve seguir
aquele caminho e meta de vida que, por harmonizar-se com o sistema de prefern-
cias socialmente dominante, promete-lhe maior quantidade de satisfao. E comisso
chegamos interpretao (e) da satisfao como meta socialmente unitria e abran-
gente.
No preciso entrar numa investigao mais detalhada da tradio utilitarista
para armar que, ainda que a interpretao (c) corresponda, grosso modo, tendn-
cia hedonista das primeiras formas de utilitarismo, e ainda que ela possa, talvez, ser
compatibilizada com as formas mais recentes de utilitarismo, como o utilitarismo
das preferncias ainda assim no plausvel admiti-la numa descrio geral da
teoria utilitarista, em virtude, justamente, da sua demasiada suscetibilidade ao des-
lize conceitual que leva s interpretaes (d) e (e), totalmente contrrias ao esprito
do utilitarismo. Afastemos, portanto, a tese de que as noes de satisfao e maxi-
mizao da satisfao funcionam no utilitarismo como indicao de um propsito:
quer do propsito factualmente visado pelos indivduos, quer do propsito que eles
devem visar, quer do propsito para o qual devem convergir os esforos e caminhos
dos diferentes indivduos. Adotemos denitivamente a tese de que o utilitarismo re-
conhece a legitimidade e at positividade das diferentes concepes do bem pessoal,
e se insere perfeitamente no contexto do pluralismo destas concepes.
Retomemos agora a pergunta que acima formulamos para expressar o problema
fundamental das teorias polticas que se inserem neste contexto: com que o Estado
deve essencialmente preocupar-se, depois que ele no pode mais preocupar-se em
promover um propsito geral ou abrangente? Ora, uma das respostas que podem se
apresentar a essa pergunta, e uma resposta bastante plausvel, , justamente, a de
Pode Rawls Tachar o Utilitarismo de Doutrina (abrangente) do Bem? 271
que a justia poltica consiste, grosso modo, na maximizao da satisfao dos indi-
vduos tomada, mais uma vez, no como o propsito que visado pelos indivduos,
nem como o propsito que eles devem harmoniosamente visar, por serem racionais
(e portanto dispostos a despir-se de valores e projetos irracionais), mas como es-
tado mental que eles uniformemente experimentam ao atingirem seus propsitos,
ou ao realizarem algumas das preferncias constitutivas de seus propsitos, por di-
ferentes que sejam esses propsitos e preferncias, e por legtimas que sejam estas
diferenas.
A plausibilidade dessa resposta se expressa no seguinte raciocnio. Vimos acima
que uma das exigncias bsicas de uma ordem poltica pluralista a exigncia de
neutralidade em relao s diferentes concepes razoveis de bem. Ora, para ser ra-
zoavelmente neutra em relao s diferentes concepes de bem adotadas pelos ci-
dados, uma teoria da justia deve deixar de preocupar-se com valores de contedo
normativo mais intenso, como liberdade e igualdade, na medida em que tais valo-
res podem acabar implicando um favorecimento conteudisticamente determinado
de certas concepes de boa vida, em detrimento de outras, e um favorecimento
conteudisticamente determinado viola a exigncia de razovel neutralidade. Para ser
razoavelmente neutra, uma teoria da justia deve preocupar-se apenas com o valor
satisfao, entendido como o nico valor que, por ser conteudisticamente neutro,
semqualquer implicao para o contedo das diversas concepes razoveis de bem,
pode ser razoavelmente aceito numa ordem poltica pluralista.
bvio que essa resposta suscita uma srie de problemas, nos quais, entretanto,
no entrarei aqui. Quis apenas mostrar que, para enfrentar o utilitarismo, a teoria
rawlsiana no tem o direito de situ-lo na categoria das concepes abrangentes de
bem, mas precisa enfrent-lo no mbito prprio das teorias da justia, como uma
teoria que se insere perfeitamente neste mbito.
Referncias
Goodin, R. 1993. Utility and the good. In Singer, P. (ed.) A Companion to Ethics. Oxford: Black-
well, p. 2418.
Harsanyi, J. 1982. Morality and the theory of rational behaviour. In Sen, A. &Williams, B. (eds.)
Utilitarianism and beyond. Cambridge: Cambridge University Press, p. 3962.
Rawls, J. 1982. Social unity and primary goods. In Sen, A. & Williams, B. (eds.) Utilitarianism
and beyond. Cambridge: Cambridge University Press, p. 15985.
. 1996. Political Liberalism. New York: Columbia University Press.
Scanlon, T. 1991. The moral basis of interpersonal comparisons. In Elster, J. &Roemer, J. (eds.)
Interpersonal Comparisons of Well-Being. Cambridge: Cambridge Univ. Press, p. 1744.
Notas
1
Notar-se- que, apesar de me valer das lies de Scanlon, divirjo em alguns pontos de sua interpre-
tao do utilitarismo, especialmente do utilitarismo das preferncias. Ao contrrio do que sustenta
272 Antonio Frederico Saturnino Braga
Scanlon, penso que o utilitarismo das preferncias pode ser visto, num primeiro nvel, como uma con-
cepo experimental da boa vida, semelhante ao utilitarismo hedonista. E a passagem do nvel da con-
cepo experimental do bem para o nvel da concepo moral (poltica) de justia tambm bastante
semelhante nestes dois casos de utilitarismo. Adiscusso destes pontos, entretanto, exigiria uma anlise
detalhada dos dilogos internos tradio utilitarista, o que excede os limites deste trabalho.
HABERMAS, EUGENIA LIBERAL E JUSTIA SOCIAL
CHARLES FELDHAUS
Universidade Federal de Santa Catarina
charlesfeldhaus@yahoo.com.br
Introduo
Jrgen Habermas, em Die Zukunft der menschlichen Natur, objeta eugenia libe-
ral, pesquisa com clulas tronco embrionrias e ao diagnstico gentico de pr-
implantao. Parte das objees habermasianas trata de consideraes de justia,
contudo no de justia distributiva. A questo que o presente trabalho procura res-
ponder relaciona-se com a compatibilidade entre a posio habermasiana no texto
supracitado e tentativas recentes de abordar a justia distributiva e social luz dos
ltimos avanos no campo da engenharia gentica e nos avanos que ao menos em
hiptese acredita-se serempossveis. A motivao destas tentativas de re-formulao
das teorias da justia tradicional so as mais diversas, contudo uma das principais
a preocupao com o surgimento de uma sociedade de duas classes estvel, caso
surgisse o que Nozick j denominou genetic supermarket (Nozick 1999, p. 315).
Para avaliar esta compatibilidade, so necessrios alguns elementos prvios, a sa-
ber, uma compreenso breve, porm precisa da posio habermasiana acerca da eu-
genia liberal nos aspectos relevantes ao presente tema e uma compreenso de algu-
mas das tentativas de reconstruir teorias da justia consagradas, como o caso da
concepo de justia como equidade de John Rawls, para tratar das questes susci-
tadas pela engenharia gentica. Uma vez fornecidas estas duas pr-condies tratar-
se- de modo breve das diculdades de compatibilidade entre a posio habermasia-
na e tais extenses da concepo tradicional de justia social e distributiva.
1. Habermas e a eugenia liberal
Como j enfatizado, a posio habermasiana ser reconstruda apenas nos aspectos
que se acredita serem relevantes ao assunto. A estratgia argumentativa do Frank-
furtiano oscila em vrios nveis em Die Zukunft der menschlichen Natur, que ver-
sam desde o que a interveno gentica causa a quem ela aplicada at os efeitos
desta prtica a sociedade liberal como um todo. Da perspectiva de quem afetado
pela interveno gentica, Habermas sustenta que o embrio geneticamente mani-
pulado alvo de um tratamento instrumental, que dependendo do tipo de atitude
envolvida pode ser proibido, permitido, mas nunca prescrito. A interveno gentica
qual subjaz uma atitude teraputica pode ser no mximo permitida, nunca pres-
crita, pois o critrio do que se considera doena contm contedo em parte varivel
culturalmente. A interveno gentica qual subjaz uma atitude de aperfeioamento
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 273280.
274 Charles Feldhaus
do patrimnio gentico, para Habermas, deve ser proibida. Ela deve ser proibida pelo
dano a liberdade tica da pessoa manipulada e pela incompatibilidade com os pres-
supostos das sociedades liberais contemporneas. Para Habermas, defender a euge-
nia liberal supostamente visando proteger a liberdade reprodutiva dos progenitores,
desconsidera a diferena entre o debate a respeito do aborto e o debate a respeito
da eugenia liberal, particularmente os efeitos da interveno sobre uma pessoa con-
cernida, a saber, sob quem alvo da interveno, pois implica a violao da liber-
dade tica da pessoa manipulada e umtrato instrumentalizante da dignidade da vida
humana da pr-pessoa do embrio. Habermas no est se comprometendo, ao sus-
tentar tal posio, com a questo a respeito do estatuto ontolgico do embrio, pois,
segundo ele, essa questo impossvel de ser respondida, e tal constatao a con-
tribuio que possvel obter do debate biotico a respeito do estatuto ontolgico do
embrio no que diz respeito questo da permissibilidade ou no do aborto.
Por conseguinte, Habermas defende que ao realizar a interveno gentica que
supera a lgica da cura e adentra no campo do aperfeioamento gentico, os proge-
nitores esto limitando o espao dentro do qual a futura pessoa poderia exercer sua
liberdade de empreender seu projeto racional de vida. E, como permitir que as pes-
soas possamrealizar pacicamente seuprojeto racional de vida uma das atribuies
do Estado liberal de direito, tal Estado permitindo a interveno pretensamente com
base no direito de liberdade reprodutiva, que tambm garantido pela Carta Maior,
estaria entrando em contradio autorizando uma prtica que atenta contra a liber-
dade tica em vez de defend-la.
Alm do mais, o critrio habermasiano para delimitar os tipos de intervenes
permitidas das no permitidas ou proibidas, a possibilidade de pressupor um con-
sentimento contrafactual da pessoa afetada pela interveno. Habermas aqui parte
de uma idia regulativa presente nas decises bioticas contemporneas e na con-
cepo prtica moderna, a saber, a de que o consentimento somente pode ser presu-
mido de modo contrafactual no caso de evitao de dano grave ou severo, por isso o
consentimento contrafactual somente possvel nos casos de eugenia negativa e no
de eugenia positiva. Para justicar essa posio Habermas tambmrecorre a possibi-
lidade sempre presente de ocorrer uma discordncia entre as intenes do manipu-
lador gentico e as prprias intenes em relao ao seu projeto racional de vida por
parte do ser geneticamente manipulado.
2. Teorias da justia e a eugenia liberal
Segundo Resnik, Buchanan, Farrelly, entre outros a engenharia gentica tem o po-
der de alterar suposies chave de nossas teorias da justia. Teorias renomadas da
justia, como a justice as fairness de Rawls contm como elemento constitutivo das
mesmas, a noo que quem distribui talentos naturais entre os membros da socie-
dade a loteria natural. As teorias da justia como a igualdade de recursos, das quais
Rawls certamente fonte inspiradora, pormRonald Dworkin talvez o mais ilustre re-
Habermas, eugenia liberal e justia social 275
presentante, sustentamque a noo de mrito de suma importncia quando se est
discutindo justia social e igualdade. Resnik pretende aplicar a teoria da igualdade de
recursos, no especicamente a de Dworkin, engenharia gentica. Buchanan et al.
tambmconsiderama igualdade de recursos ser dotada de alguma vantagemquando
aplicada engenharia gentica. Entretanto, como h uma tenso no pensamento de
Rawls entre o que Buchanan et al. denominaramde social structural view e brute luck
view nemser tratado dessa distino nemda distino entre a igualdade de recursos
e a justia como equidade.
Para explicitar a tenso suciente apenas enfatizar que, para Rawls, as desigual-
dades imerecidas merecem reparao; e desde que as desigualdades de dotes natu-
rais so imerecidas, estas desigualdades devemde alguma maneira ser compensadas
(Rawls 2000, p. 107). A teoria da justia como eqidade tem como objeto primrio
dos princpios de justia a estrutura bsica da sociedade, a saber, ao modo como as
principiais instituies distribuem direitos fundamentais e deveres e determinam
diviso de vantagens da cooperao social (Rawls 2000, p. 7). Por causa disso, Bu-
chanan et al. interpretarama justia como equidade como uma social structural view
e no como uma brute luck view. Para estes, a brute luck teria vantagens em relao
a social structural view, pois a segunda trataria de desigualdades em dotes naturais
apenas na medida em que essas tivessem efeitos em nvel das principais instituies
da sociedade ao passo que a primeira poderia incorporar diretamente a dotao na-
tural dentro da esfera de relevncia e no apenas indiretamente. Entretanto, convm
ressaltar que os dois mais ilustres defensores destas duas posies Rawls (social struc-
tural view) e Dworkin (brute luck view) compartilham aspectos essenciais em suas
posies no que diz respeito s questes de justia distributiva oriundas da enge-
nharia gentica. Tanto Rawls quanto Dworkin defendem que as vantagens oriundas
do acesso diferencial a tecnologia no podem ser limitadas, caso desta limitao no
resulte benecio aos menos favorecidos (Rawls) ou para outros (Dworkin). Uma vez
que, para Dworkin, o remdio para a injustia a redistribuio, e no a recusa dos
benefcios para alguns sem ganhos correspondentes para os outros (Dworkin 2005,
p. 628) assim como para Rawls propor polticas que reduzem os talentos dos outros
no traz vantagens para os menos favorecidos (Rawls 2000, p. 115).
Segundo Resnik, se a engenharia gentica permitir exercer controle sobre a lo-
teria natural (Resnik 1997), e assumimos que um dos objetivos mais importantes da
justia distributiva a igualdade eqitativa de oportunidades, ento temos um forte
argumento para manipular a loteria natural, a m de promover a igualdade eqita-
tiva de oportunidades. Por conseguinte, necessrio expandir o escopo de atuao
das teorias da justia atuais para que possam lidar com os desaos resultantes deste
avano tecnolgico.
Resnik sugere que se compreenda a engenharia gentica humana como um tipo
de healt care, desde que ela pode ser usada para prevenir e curar doenas e afeta a
sade humana, porque compreendendo ela como um healt care possvel recorrer
aos tipos de aplicao dos princpios da justia s questes de sade tal como fez
276 Charles Feldhaus
N. Daniels em seu livro Just Healt Care. Resnik reconhece fazer uso de muitos discer-
nimentos de Daniels na construo de sua posio e entre os quais se incluem tratar
healt cares como uma instituio social que distribui direitos, deveres e vantagens
sociais e a noo de normal opportunity range.
Para a noo de normal opportunity range fundamental a de funcionamento
tpico da espcie, pois ela fornece um critrio para diferenciar as intervenes que
visam prevenir doenas das que visam promover outras metas sociais. Uma vez que
doenas no podem ser entendidas apenas como desvios das normas sociais, dado
que se relacionam com desvios da organizao funcional natural de um membro t-
pico da espcie.
Essa noo pode ser til a uma teoria da justia que se volte para a engenharia
gentica, pois doenas podem colocar restries moralmente arbitrrias as gamas de
oportunidades e conferir desvantagens injustas. Todavia, Resnik e outros tambmre-
conhecem que a meta da promoo da igualdade de oportunidade limitada pela
escassez de recursos (Farrelly 2004, p. 22) e por isso reivindica a criao de um ran-
king em que alguns tipos de cuidados de sade devem ser priorizados ou no em
relao a gama de oportunidades normais.
Para melhor delimitar os casos permitidos dos proibidos de interveno gentica,
Resnik assim como Buchanan et al. tambm o zeram, recorre noo de funciona-
mento normal da espcie. Resnik distingue o sentido normativo do descritivo, pois
uma teoria da justia no pode apenas descrever o que a variao gentica includa
no funcionamento normal consiste, mas deve tambm prescrever o que deveria ser
tal variao e por isso ele apresenta trs conceitos de normalidade gentica que no
pretendem ser nem exaustivos, nem excludentes:
1 NS normalidade da espcie permite a mxima desigualdade e a nica coisa
proibida criar novas espcies. Teorias da justia na linha ralwsianas no endossa-
riam NS.
2 MMG mnimo e mximo gentico admite diferenas genticas, mas coloca
condies. Teorias da justia rawlsianas poderiam concordar.
3 MG mesma (dotao) gentica coloca muito peso no controle social e vi-
olaria o princpio da diferena, por isso uma teoria da justia rawlsiana no poderia
endossar.
Resnik acredita ser possvel tratar de MMG em termos de bens primrios, e que
embora possa no ser fcil denir uma gama aceitvel ou eqitativa de variao ge-
ntica, isso ainda certamente prefervel a no ter limite algum ou limites extrema-
mente restritivos.
Outros autores, por sua vez, sustentam que a engenharia gentica suscitar gran-
des diculdades para as teorias tradicionais da justia. Para Farrelly (Farrelly 2002,
p. 812), a engenharia gentica complica dois aspectos principais da teoria da justia
de Rawls, a saber, obscuro como denir os menos favorecidos, pois Rawls focouape-
nas na distribuio de bens primrios sociais e no nos naturais e, alm disso, bens
primrios sociais denem a pior posio somente em termos de renda e riqueza re-
Habermas, eugenia liberal e justia social 277
lativa. Outro aspecto est relacionado emcomo conciliar os princpios que regulama
distribuio de bens naturais primrios coma distribuio de bens sociais primrios.
Em outras palavras, como ponderar exigncias simultneas de diferentes partes da
sociedade por bens primrios (renda e riqueza) e bens naturais (inteligncia e imagi-
nao, por exemplo).
Outro aspecto complicador que muitos poderiam objetar a qualquer tipo de
controle da tecnologia, pois ainda viva a memria da eugenia praticada pelos na-
zistas e para alguns, entre os quais poderamos incluir Ronald Dworkin, as decises
eugnicas esto relacionadas com um tipo de valor, independente ou intrnseco, que
pertence a uma esfera dos assuntos privados dos individuais, na qual qualquer intru-
so considerada moralmente problemtica. Mas, para Resnik (Resnik 1997), as con-
seqncias de no exercer controle social ougovernamental sobre a gentica humana
pode ser exatamente to problemtica, desde que os pais tentaro comtoda probabi-
lidade dotar seus lhos com vantagens genticas, e o resultado em longo prazo pode
ser o exacerbamento das desigualdades sociais e econmicas existentes e a criao
de um sistema de castas gentico.
Nicholas Agar, lsofo neozelands, que muito inuenciou a posio de Haber-
mas em Die Zukunft der menschlichen Natur, tambm aborda questes de justia
social, particularmente como distribuir o acesso tecnologia. Ele identica dois ti-
pos de polarizao que poderiamresultar da engenharia gentica, a saber, a polariza-
o intrnseca (sobre a qual cai a nfase de Habermas e Feinberg), que pode ocorrer
quando pessoas que acontecem preferir certo modo de vida fazem seus lhos dife-
rentes dos outros de modos que permitemseus lhos melhor perseguir este modo de
vida (Agar 2004, p. 3). E a polarizao resultante de acesso diferencial tecnologia.
Ao tratar desta ltima, ele considera importante prestar ateno distino entre dois
tipos de bens. Pois, para ele, tratar aperfeioamentos como bens que podemos ou
no ser bemsucedidos emdistribuir equitativamente ignora umaspecto emque eles
diferem de outros bens que permitimos o mercado complacentemente mal alocar.
Precisamos distinguir bens que permite a alguma pessoa vidas melhores de outros
destes que fazem as pessoas diferentes das outras (Agar 2004, p. 138).
Agar ressalta que embora melhores tecnologias e tratamentos mdicos tornem
ricos diferentes de pobres, por exemplo, no tornamas pessoas to diferentes a ponto
de no poderemconsiderar-se mutuamente como membros da mesma comunidade,
ou seja, a eugenia pode tornar as pessoas to diferentes que at mesmo qualquer
senso de solidariedade seja perdido. Agar sugere acesso universal a tecnologia como
uma resposta efetiva pretensa polarizao extrnseca da eugenia liberal. Contudo,
ele mesmo reconhece que uma opo muito cara, por isso distingue uso de acesso,
sustentando que pode no ser to oneroso aos cofres pblicos garantir apenas o aces-
so, mas no o uso de todos.
Para Buchanan et al., certas suposies de nossas concepes de justia tradicio-
nais no se aplicammais, pois a distribuio de bens no ser mais limitada a pessoas
cujas identidades so xadas previamente ao ato de distribuio, a prpria distribui-
278 Charles Feldhaus
o de genes pode emparte determinar as identidades das pessoas. Deste modo, caso
as promessas da engenharia gentica se concretizem, as teorias da justia tradicionais
estaro operando com duas suposies incrivelmente obsoletas:
1) a distribuio das caractersticas comque as pessoas nascemso dadas e esto
alm do controle humano;
2) problema da justia distribuir bens entre pessoas particulares antecedente-
mente existentes (Buchanan 2000, 856).
Para tratar deste problema, Buchanan sugere que precisamos aprender a pensar
a justia no como distribuio de bens entre pessoas, mas como incluindo a distri-
buio de caractersticas que constituem pessoas, de modo a assegurar oportunida-
des iguais a quaisquer que sejam as pessoas que venham a existir. Contudo, eles de-
fendem que so apenas aquelas desigualdades naturais que causam ou constituem
pontos de partida adversos ao funcionamento normal da espcie que so preocupa-
es de justia (Buchanan 2000, 98). Entretanto, eles reconhecem que se aperfeio-
amentos genticos se difundirem, seria preciso chegar a considerar uma pessoa que
carece deles como sofrendo de um ponto de partida adverso ao funcionamento nor-
mal (Buchanan 2000, 99). Portanto, para Buchanan et al., aperfeioamentos podem
ser no apenas permissveis, mas obrigatrios, como uma questo de justia (2000,
96). Se bem que eles reconheam que a busca de vantagens posicionais mediante
aperfeioamento gentico de alguns traos pode ser ou injusto ou contraproducente
(2000, 155). Pois, se todos puderemrealizar a interveno, pode ser contraproducente
e se apenas os mais ricos, esse tipo de vantagem parece injusta e exigiria reparao
ou ao menos compensao.
Entretanto, Kamm levante um problema fundamental, porm sistematicamente
pouco discutido por estas tentativas de desenvolver teorias da justia para lidar com
estas questes ainda hipotticas, a saber, que aquela sociedade que engajar-se em
alterao gentica alm das mudanas relacionadas com defeitos e excelncias bsi-
cas socialmente acordadas podemviolar a neutralidade liberal emrelao s vises
controversas sobre a vida boa (Kamm 2002, 361).
3. Poderia Habermas ser compatibilizado com algumas destas abordagens
da justia distributiva?
Como j observado, Habermas tambm est preocupado com a violao da neutra-
lidade tica, contudo, arma que a eugenia liberal suscita questes que colocam em
xeque a autocompreenso normativa da modernidade e por isso recorre tica da es-
pcie. A moderao justicada na losoa em questes de vida boa precisa ser aban-
donada quando est em jogo a moralidade como um todo. Alm disso, para Haber-
mas, a liberdade tica, cuja relevncia maior no debate acerca da eugenia liberal,
no a liberdade tica dos pais, ou a liberdade reprodutiva, pois o caso da eugenia
liberal distinto do debate a respeito do aborto. A liberdade tica afetada para ele
a liberdade tica do futuro indivduo manipulado. Intervenes que ultrapassam a
Habermas, eugenia liberal e justia social 279
eliminao de doenas no podempresumir o consentimento ou ao menos sempre
possvel haver discordncia entre as intenes dos genitores e do lho geneticamente
manipulado. A ausncia de certeza acerca da futura aceitao por parte do progra-
mado das intenes do designer implica um tipo de moderao e reconhecimento
da nitude cognitiva no que diz respeito s questes agatolgicas. Sem contar que a
concepo normativa moderna parte da diviso entre questes de justia e questes
de bem ou vida boa, reservando a ltima esfera privada da liberdade subjetiva do
indivduo.
A eugenia que ultrapassa a lgica da cura atenta contra os pressupostos da mora-
lidade, pois, segundo Habermas, a pessoa geneticamente manipulada seria incapaz
de compreender-se como nica autora de seu projeto racional de vida e como nica
responsvel. Por conseguinte, para Habermas, qualquer tipo de interveno que ul-
trapasse a lgica da cura deve ser proibido. impossvel presumir consentimento
contrafactual no caso de intervenes genticas que adentrem no germ-line enhan-
cement. Contudo, isso no implica que para Habermas as intervenes genticas no
possam ser includas dentro dos bens oferecidos pelo Estado como bens primrios
naturais sociais. O Estado poderia distribuir esses bens na medida em que estes esti-
vessem voltados a eliminar doenas que diminuem as vantagens competitivas. Alm
disso, mesmo dentro das doenas Habermas considera ser possvel haver variao
cultural, por isso cada sociedade deveria decidir os tipos de intervenes genticas
curativas permitidas e conseqentemente os tipos de intervenes para as quais se-
ria necessrio algum tipo de compensao para garantir uma competio justa por
renda e riqueza. Contudo, a deciso democrtica somente poderia deliberar a res-
peito de intervenes curativas, pois as intervenes aperfeioadoras atentamcontra
os pressupostos da moralidade moderna liberal e contra a liberdade tica de futuro
membro da comunidade moral. Nas palavras Prusak, umpensador simptico estra-
tgia habermasiana em Die Zukunft der menschlichen Natur: Habermas nega, con-
trariamente a Agar e Buchanan et al., que possamos assumir legitimamente que uma
pessoa possvel consentiria at mesmo a uma expanso dos recursos e a um nvel
mais alto de bens genticos bsicos (Prusak 1997, 39).
possvel traar uma distino geral entre estas tentativas de ampliao da esfera
da justia para lidar com a engenharia gentica e a habermasiana atentando para o
diferente tipo de polarizao a que buscam atacar. Habermas est principalmente
preocupado com a polarizao intrnseca resultante da eugenia liberal, a saber, ele
preocupa-se com a limitao das opes de vida tica oferecida a pessoa futura. Res-
nik, Buchanan e Farrelly preocupam-se com a polarizao extrnseca ou resultante
de acesso diferencial tecnologia. Com isso, no se pretende defender que Haber-
mas no se preocupa com a polarizao resultante de acesso diferencial ou que no
possa incorporar uma teoria da justia distributiva para lidar comessas questes, mas
apenas deixar claro que para Habermas a polarizao intrnseca deve ser resolvida
antes da polarizao resultante de acesso diferencial. Essa priorizao da polariza-
o intrnseca, todavia, limita os tipos de polarizao resultante de acesso diferencial
280 Charles Feldhaus
que Habermas pode procurar resolver. Ele somente pode incorporar, emfuno dessa
priorizao, uma expanso dos bens primrios que no inclua aperfeioamento ge-
ntico nesta esfera, porque aperfeioamentos implicariam no seu entender um tipo
de polarizao intrnseca.
Referncias
Agar, N. 2004. Liberal Eugenics. In Defence of Human Enhancement. Oxford: Blackwell Pu-
blishing.
Buchanan, A. 2000. From Chance to Choice: Genetics and Justice. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Dworkin, R. 1993. Lifes Dominion. An Argument about abortion and euthanasia. Londres:
Harper Collins.
. 2000. Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality. Cambridge: Hardard Univer-
sity Press.
Farrelly, C. 2002. Genes and Social Justice: A rawlsian reply to Moore. Bioethics 16(1): 7283
. 2004. The Genetic Difference Principle. The American Journal of Bioethics 4(2): 218.
Habermas, J. 2004. O Futuro da Natureza Humana. Traduo de Karina Jannini. So Paulo:
Martins Fontes.
. 2001. Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?
Frankfurt: Suhrkamp Verlag.
Kamm, F. M. 2002. Genes, Justice, and Obligations to Future People. Social Philosophy &Policy
Foundation 19(2): 36088.
Nozick, R. 1999. Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell Publisher.
Prusak, B. G. 2005. Rethinking liberal eugenics: reections and questions on Habermas on
bioethics. The Hasting Center Report 35(nov-dec): 3142.
Rawls, J. 2000. Uma Teoria da Justia. Traduo Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. So
Paulo: Martins Fontes,
. 2003. Justia como Eqidade. Uma Reformulao. Traduo de Claudia Berliner. So
Paulo: Martins Fontes.
Resnik, D. B. 1997. Genetic engineering and social justice: a rawlsian approach. Social Theory
and Practice 23(3): 42748.
A FELICIDADE E O SENTIMENTO DE PRAZER E DESPRAZER EM KANT
DISON MARTINHO DA SILVA DIFANTE
Universidade Federal de Santa Maria
edisondifante@bol.com.br
A felicidade fundamentalmente emprica, na medida em que depende dos dese-
jos subjetivos determinados pelos sentimentos de prazer ou de dor. A produo do
desejo sempre contingente, pois determinada por objetos empricos. Nessa pers-
pectiva, impossvel universalizar os desejos e determinar a felicidade. Isso signica
armar que somente se o homem fosse um ser onisciente
1
poderia especicar o que
a felicidade. S um ser onisciente poderia conhecer o todo absoluto, na determi-
nao da vontade, que garantisse para ao indivduo um mximo de bem-estar, no
estado presente e em todo o futuro (Kant 1995, p. 55). A felicidade, para o homem,
no passa de um ideal impossvel de ser estabelecido, j que se baseia em sensaes
e no em um princpio universal, a priori, vlido para todos.
2
A felicidade, com efeito, liga-se ao bem-estar, mais precisamente ao sentimento
de prazer do sujeito subjetivamente considerado. A partir da sensibilidade, o homem
s toma interesse por aquilo que lhe proporciona prazer. Osentimento de prazer, que
receptivo, faz com que o homem sofra diversos estmulos. O prazer proporcionado
pela sensao provoca, no homem, uminteresse que o conduz a produzir, pela facul-
dade de desejar, o objeto aprazvel na efetividade da ao (Kant 2002, p. 378). Ointe-
resse, ento, satisfeito pelo objeto do desejo. O resultado , em primeira instncia,
que o sentimento de prazer seja prtico, isto , que sirva de fundamento subjetivo de
determinao do arbtrio. A base dos objetos do prazer est justamente no efeito que
proporcionamao nimo. Esse efeito meramente subjetivo, e tema sua validade res-
trita ao sujeito afetado. , portanto, no interesse emprico que se funda a necessidade
de produo do objeto que sacia o prazer. A produo do objeto aprazvel do desejo
d-se por meio da faculdade de desejar. A mxima produo do objeto aprazvel do
desejo chama-se, segundo Kant, felicidade.
O prazer, com efeito, depende da representao de determinado objeto (e de sua
efetivao ou produo), e da afeco do mesmo; portanto, diz respeito a uma facul-
dade passiva. Segundo arma Kant, na Crtica da razo prtica:
O prazer decorrente da representao da existncia de uma coisa, na medida em
que deve ser um fundamento determinante do apetite por essa coisa, funda-se
sobre a receptividade do sujeito, porque ele depende da existncia de um objeto;
por conseguinte ele pertence ao sentido (sentimento) e no ao entendimento,
que expressa uma referncia da representao a um objeto segundo conceitos,
mas no ao sujeito segundo sentimentos. (Kant 2002, p. 37)
O prazer somente pode manifestar-se ao sujeito como um sentimento particular e
subjetivo. Osentimento de prazer prtico, na medida emque a sensao de agrado
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 281285.
282 dison Martinho da Silva Difante
que o sujeito espera da efetividade do objeto determina a faculdade de apetio
(Kant 2002, p. 38). Logo, no h sequer uma determinao, causada pelo objeto apra-
zvel de desejo, que possa fundamentar ou dela surgir algum tipo de lei prtica obje-
tiva.
Segundo consta na Antropologia de umponto de vista pragmtico,
3
a dinmica da
vida humana estabelecida a partir dos sentimentos de prazer e de dor. Existe uma
espcie de jogo antagnico entre esses dois sentimentos. Esse antagonismo ocorre
porque o prazer ou o contentamento o sentimento de promoo da vida; dor o de
um impedimento dela (Kant 2006, p. 128). Portanto, prazer e dor so sentimentos
opostos, porque as suas respectivas implicaes para a vida so opostas; desse modo,
sentir prazer e dor em um nico momento algo contraditrio.
Ao iniciar o Livro Segundo da Dialtica Antropolgica, intitulado Osentimento
de prazer e desprazer, Kant estabelece que esses dois sentimentos (prazer e dor) no
so contraditrios em si, como proveito e falta de proveito, de tal modo que a dor
seja algo neutro e o prazer o sentimento positivo (enquanto efeito sentido). Dessa
forma, a dor no proporcionaria dinmica alguma vida, e os nicos sentimentos
possveis seriam prazerosos. Por isso, Kant v a necessidade de mostrar que existe
uma realidade lgica na oposio entre prazer e dor. Segundo ele:
Contentamento um prazer sensorial, e o que d prazer ao sentido agradvel.
Dor desprazer por meio do sentido e o que a produz desagradvel. No
esto umpara o outro como ganho e falta (+ e 0), mas como ganho e perda (+ e -),
isto , umno oposto ao outro meramente como contraditrio (contradictorie s.
logice oppositum), mas tambm como contrrio (contrarie s. realiter oppositum)
(Kant 2006, p. 127).
Segue-se, que um prazer no necessariamente a ausncia de dor e, sim, o seu opos-
to, ou seja, a sensao de no sentir dor. A dor, portanto, s pode ser um atributo
realmente oposto ao prazer (Heck 1999, p. 176).
O esclarecimento desses dois sentimentos (provocados nos sentidos) propor-
cionado pelo efeito que a sensao de nosso estado causa ao nimo (Kant 2006,
p. 128). Kant diz o seguinte:
O que me impele imediatamente (pelo sentido) a abandonar meu estado (a sair
dele) me desagradvel me doloroso; do mesmo modo, o que me impele a
conserv-lo (a permanecer nele) me agradvel, me contenta. (2006, p. 128)
A explanao anteriormente citada permite armar que, sempre, o prazer vai referir-
se estabilidade, e o desprazer instabilidade das sensaes (Beck 1984, p. 93). Mais
adiante (76), Kant volta reforar a mesma denio ao ressaltar, da seguinte forma,
que:
O sentimento que impele o sujeito a car no estado em que est, agradvel;
mas o que o impele a abandon-lo, desagradvel. Ligado conscincia, o pri-
meiro chame-se contentamento (voluptas); o segundo, descontentamento (tae-
dium). (Kant 2006, p. 152).
A felicidade e o sentimento de prazer e desprazer em Kant 283
Com efeito, pode-se dizer que na relao conituosa entre os sentimentos de
prazer e dor (desprazer) que os indivduos conduzem suas vidas. O homem inces-
santemente levado pelo uxo do tempo e pela mudana de sensaes a ele ligadas.
Se bem que abandonar um momento e entrar em outro seja um mesmo ato (de
mudana), ainda assim em nosso pensamento e na conscincia desta mudana
h uma sucesso temporal, conforme a relao de causa e efeito (Kant 2006,
p. 128).
Os sentimentos de prazer e de dor, em analogia ao que se d com (as categorias)
causa e efeito, impem vida a atividade caracterizada pela mudana temporal das
sensaes recebidas. Essa atividade, ou dinmica desses sentimentos, o que im-
pede a inrcia da vida. O uxo de tempo imprime na conscincia do homem um tipo
de causalidade como um devir (futuro vir-a-ser) e nunca ao passado (foi assim); isso
resulta em uma mudana de estado do presente ao futuro. Mas o futuro inseguro,
incerto, porque imprevisvel. Nesse sentido a insegurana diante do prazer futuro
ocorre inevitavelmente. Somente possvel determinar que, na mudana de estado,
o que se impe a fuga da dor e no a espera de um prazer determinado. Caso exista
esperana no prazer, ela no se basear em um prazer determinado e certo, mas na
possvel agradabilidade provocada pela eliminao da dor. Na consecutiva alternn-
cia desses dois sentimentos, antes de todo o contentamento tem de preceder a dor; a
dor sempre o primeiro (Kant 2006, p. 128).
A promoo da vida garantida pelo sentimento de prazer. Todavia, se no exis-
tisse a dor, como anterior (no tempo), no haveria promoo da vida. Caso o prazer
fosse o primeiro haveria regresso e no promoo da vida. Pois que outra coisa se
seguiria de uma contnua promoo da fora vital, que no se deixa elevar acima de
um certo grau, seno uma rpida morte de jbilo? (Kant 2006, p. 128).
O sentimento de prazer pode levar a um estado de inrcia ou a um estado de ina-
tividade. No caso da dor, isso no possvel, j que a dor criadora de necessidades
que obrigamo ser vivo a saci-las, mantendo-o ematividade. a partir dela, portanto,
que surge a necessidade de mudana (Beck 1984, p. 93). Esses sentimentos, embora
contrrios, esto necessariamente interligados.
Um contentamento tampouco pode seguir imediatamente a outro, mas, entre um
e outro, tem de se encontrar a dor. So pequenos obstculos fora vital, mes-
clados com incrementos dela, que constituem o estado de sade, o qual errone-
amente consideramos como sendo o sentimento de bem-estar; porque consiste
unicamente de sentimentos agradveis que se sucedem com intervalos (sempre
com a dor se intercalando entre eles). A dor o aguilho da atividade e somente
nesta sentimos nossa vida, sem esta ocorreria a ausncia da vida. (Kant 2006,
p. 128)
Na Antropologia, Kant passa a idia de que a dor fundamental na determinao
das necessidades dos homens, visto que, se no fosse pela dor, nada poderia pro-
vocar insatisfao. Logo, sem dor, no haveria a necessidade e nem o interesse pela
284 dison Martinho da Silva Difante
felicidade (enquanto satisfao emprica). Em adio, na ausncia da dor, no have-
ria interesse algum na satisfao, pois a prpria satisfao no existiria. Dessa forma,
seria impossvel sentir prazer. Emltima instncia, no seria possvel sentir a prpria
vida.
4
O tdio um estado insuportvel, principalmente se considerada a possibilidade
hipottica de os prazeres serem alcanados ou produzidos em grau mximo. O grau
mximo de prazer impossvel de ser alcanado; caso o fosse, a dinmica da vida
estagnar-se-ia. O prazer contnuo, sem movimento algum, ou seja, sem dinmica,
leva o homemnecessariamente ao tdio. Portanto, os prazeres emexcesso conduzem
estagnao da vida, ou at mesmo a algo pior. Kant apresenta o seguinte exemplo a
esse respeito:
Essa presso ou impulso que se sente, de abandonar todo o momento em que
nos encontramos e passar ao seguinte, acelerada e pode chegar resoluo
do pr m a prpria vida, porque o homem voluptuoso tentou prazeres de toda
espcie e nenhum mais novo para ele; (. . . ). O vazio de sensaes que se
percebe em si provoca horror (horror vacui) e como que o pressentimento de
uma morte lenta, considerada mais penosa que aquela em que o destino corta
repentinamente o o da vida. (Kant 2006, p. 130)
Um estado de volpia mxima torna-se entediante por no mais provocar neces-
sidade alguma no indivduo. Com efeito, Kant recomenda moderao com relao
aos sentimentos (Borges 2003, p. 204). A alegria em excesso (no moderada por ne-
nhuma apreenso de dor) e a tristeza profunda (no amenizada por nenhuma espe-
rana), o abatimento, so afeces que ameaama vida (Kant 2006, p. 152). Oindiv-
duo perde todo o interesse por novas sensaes. Alm disso, Kant constata que mais
seres humanos perdem subitamente a vida por alegria do que por tristeza profunda,
porque a mente se abandona inteira esperana, como afeco, quando inesperada-
mente se abre a perspectiva de uma felicidade sem limites (Kant 2006, p. 152). Por
isso, pelo que arma Kant, o sentimento de dor exerce uma maior relevncia, visto
que, sem ele o tdio acabaria com a vida. Sentir a vida e sentir contentamento no
, pois, nada mais que se sentir continuamente impelido a sair do estado presente
(Kant 2006, p. 130).
A sensao do estado presente, no qual o sujeito se encontra, pode estar envol-
vido em um prazer contnuo. No obstante, a vida impulsiona o sujeito a quebrar a
continuidade da sensao prazerosa, fazendo incidir sobre ela umsentimento de dor.
Por isso, Kant concebe a vida como uma atividade de busca de prazer e fuga da dor.
De fato, esse parece ser o movimento que caracteriza a vida. Assim, Kant parece jus-
ticar o prazer em contraposio dor, pois a dor (ou o desprazer) que garante o
avano da fora vital, que evita a estagnao da vida.
A felicidade e o sentimento de prazer e desprazer em Kant 285
Referncias bibliogrcas
Beck, L. W. 1984. A commentary on Kants Critique of Practical Reason. Chicago: University of
Chicago Press.
Borges, M. L. 2003. Felicidade e benecncia emKant. Sntese, Belo Horizonte, 30(97): 20315.
Heck, J. 1999. O princpio do amor-prprio em Kant. Sntese, Belo Horizonte, 26(85): 16586.
Kant, I. 1995. Fundamentao da metafsica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edi-
es 70.
. 1996. Crtica da razo pura. Trad. Valrio Rohden e Udo Baldur Moosburger. So Paulo:
Nova cultural.
. 2002.Crtica da razo prtica. Trad. Valrio Rohden. Baseada na edio original de 1788.
So Paulo: Martins Fontes.
. 2006. Antropologia de um ponto de vista pragmtico. Trad. Cllia Aparecida Martins. So
Paulo: Iluminuras.
Martins, C. A. 2006. Introduo Antropologia. In Kant 2006, pp. 117.
Notas
1
Uma qualidade onisciente diz respeito a quem sabe tudo, cujo saber ilimitado, ou seja, onisciente
quem tem um conhecimento ou saber total (o saber de Deus).
2
Kant arma, na Crtica da razo pura, que a felicidade consiste na satisfao de todas as nossas in-
clinaes (Kant 1996, p. 393), portanto, algo puramente pessoal e incomunicvel. Com efeito, ela pode
ser concebida e manifesta de diversos modos, e a vontade do homem, em sua relao, no possvel
de ser reduzida a um princpio comum vlido para todos. Princpios empricos so subjetivos e contin-
gentes, logo, a posteriori, e relacionam-se com as mais variadas nalidades; e a satisfao baseada em
princpios empricos no outra coisa seno a felicidade.
3
Na Antropologia de um ponto de vista pragmtico, Kant trata, entre outras coisas, do conhecimento
referente ao humano, isto , do homem enquanto cidado do mundo. Segundo ele, uma doutrina do
conhecimento do ser humano sistematicamente composta (antropologia) pode ser tal do ponto de vista
siolgico ou pragmtico (Kant 2006, p. 21). O conhecimento siolgico do homem tende explicao
de que ele o que a natureza faz dele; o conhecimento pragmtico referente ao homem, enquanto ser
de livre atividade, que faz ou pode fazer de si mesmo o que quiser. A Antropologia no corresponde a
uma funo sistemtica de mediao entre liberdade e natureza do homem, porque nela no h uma
exposio das leis morais sob as condies subjetivas da natureza humana, o aspecto decisivo desta
obra s pode ser compreendido se ela for considerada a partir da Crtica da razo prtica (Martins
2006, p. 134).
4
Na Antropologia, Kant escreve o seguinte: Por m, ao menos uma dor negativa afetar freqente-
mente aquele que uma dor positiva no incita atividade, o tdio, como vazio de sensao, que o ho-
mem habituado mudana desta percebe em si quando se esfora em preencher com ela seu impulso
vital, e o afetar em tal medida, que se sentir impelido a fazer antes algo que o prejudique, a no fazer
absolutamente nada (Kant 2006, p. 12930).
NORMATIVIDADE A PARTIR DE SOCIALIZAO E INDIVIDUALIZAO:
PROXIMIDADES ENTRE HEGEL E HABERMAS
ERICK C. DE LIMA
UNICAMP/FAPESP
ericklima74@hotmail.com
Peter Dews defende que, se uma preocupao fundamental da teoria discursiva do
direito e do modelo deliberativo de democracia a perda de solidariedade nas so-
ciedades modernas, Habermas teria de olhar, para alm da explicitao do engate
sociolgico-normativo dos direitos subjetivos e da democracia deliberativa, na dire-
o do possvel revigoramento desta solidariedade; pois, para ele, autonomia legal e
poltica so apenas, no mximo, condies necessrias, mas no sucientes para isso
(Dews 1993). J William Outhwaite acredita que a teoria habermasiana do direito se
ressinta de uma investigao acerca de formas de solidariedade social que possam
ser desenvolvidas no quadro de um mundo gradativamente mais globalizado e, ao
mesmo tempo, fragmentado. Pois, para Outhwaite, ainda que o intento sistemtico
da obra de Habermas tenha mostrado como os elementos dispersos do pensamento
jurdico-poltico podem ser trazidos a um arcabouo comum, escapou-lhe um enfo-
que mais detido sobre o fato de que as importantes formas institucionais explicitadas
repousam sobre processos mais informais no interior da sociedade civil (Outhwaite
1994).
Pretendo aqui revisitar parte da produo de Habermas que se conecta ainda com
o horizonte temtico mais amplo, proposto pela Teoria do Agir Comunicativo, antes
de seu direcionamento jurdico na dcada de 1990. O objetivo desta incurso in-
dicar, ainda que de maneira preliminar, a possibilidade de uma assimilao constru-
tiva de colocaes como aquelas que so feitas acima. O o condutor ser um certo
alinhamento entre Habermas e a losoa do jovem Hegel, o qual reside na conexo
entre a normatividade e os processos de socializao e individualizao. Justamente
porque esta conexo constitui o prembulo tambmpara a nfase jurdica da teoria
do agir comunicativo, minha suspeita que tal direcionamento deixe ainda intocados
determinados potenciais heursticos da tica do discurso para a teoria social. Neste
itinerrio, terei tambm de recorrer a trabalhos que procuram focar os nexos scio-
individualizantes do conceito hegeliano de reconhecimento.
Primeiramente, pretende-se uma rpida considerao do problema da intersub-
jetividade emHegel, bemcomo expor as diretrizes gerais de nossa interpretao desta
temtica, expostas alhures (Lima 2006, 63ss). Em seguida, vou considerar a assimila-
o, por parte de Habermas, de uma conexo entre a validez normativa e os processos
societrios, o que, tal como tenciono, servir, futuramente, investigao de alterna-
tivas complementao da guinada jurdica.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 286305.
Normatividade a partir de socializao e individualizao 287
1. Notas sobre o problema da relao entre eticidade e intersubjetividade
na obra de Hegel
Muito se temfalado atualmente de como os textos postumamente publicados de He-
gel sobre losoa prtica e tica, produzidos emJena anteriormente Fenomenologia
e posteriormente ao Artigo sobre o Direito Natural, conteriam um enorme potencial
em pontos de vista que no somente no teria sido aproveitado pela forma deni-
tiva da losoa do esprito objetivo, como ainda teriam sido deslocados a um plano
secundrio. J h alguns anos a originalidade e o potencial da teoria da eticidade de-
senvolvida por Hegel em textos como o Sistema da Eticidade e os Esboos de Sistema
de Jena vm sendo reivindicados pelo pensamento ps-metafsico para o revigora-
mento da losoa prtica e teoria da justia e isto justamente numa direo em
que se reala o desvirtuamento das intuies jenenses pela subordinao da exposi-
o sistemtica da eticidade auto-reexividade do esprito.
No trabalho que delimita as intuies embrionrias de sua teoria da ao comu-
nicativa, Habermas j alertara, a respeito principalmente das potncias constitu-
tivas do esprito no esboo de 1803/1804, que Hegel ps como fundamento para o
processo de formao do esprito uma sistemtica peculiar, que fora depois renun-
ciada.(Habermas 1974, p. 7867) Para o Habermas deste texto seminal, a diferena
fundamental em relao sistemtica denitiva da losoa prtica hegeliana est
em que, nos Esboos,
no o esprito no movimento absoluto de reexo de si mesmo que se mani-
festa, dentre outros, tambm na linguagem, no trabalho e na relao tica, mas
antes a conexo dialtica de simbolizao lingstica, trabalho e interao que
determina o conceito de esprito. (Habermas 1974, p. 786)
justamente esta conexo dialtica entre o trabalho, o reconhecimento e a mediao
lingstica que Habermas lamenta ter sido perdida no desenvolvimento subseqente
do sistema com a substituio da mesma pelo processo de formao auto-reexiva
de um esprito solitrio, o qual recobra, tanto nas instituies poltico-jurdicas e
sociais, quanto na arte, na religio e na losoa, apenas os elementos de sua auto-
produo. Paradoxalmente, entretanto, Habermas entende que a relao do esprito
a seu outro, plasmada segundo o modelo do reconhecimento de si mesmo, isto , a
transformao da relao tica em clula do sistema, que representa o estopim desta
reviravolta (Habermas 1974, p. 807ss).
Como se sabe, a posio de Habermas foi extremamente inuenciada pela inten-
o fundamental de revisar o materialismo histrico de Marx e sua tendncia ab-
solutizao do processo de reproduo material como elemento scio-determinante
atravs do resgate da alternativa hegeliana de aglutinar potncia do instrumento
e do trabalho, ao agir instrumental, o valor prprio das relaes intersubjetivas e da
mediao lingstica como elementos irredutveis do esprito e, por conseguinte, mo-
mentos imprescindveis para a formao de identidade estvel do eu, para a integra-
o social e para a reproduo cultural.
288 Erick C. de Lima
Para meus propsitos aqui convmnotar que, na losoa do esprito de Jena, He-
gel tornou o modelo de interao social, assimilado a partir de Fichte, a base para sua
teoria social e poltica, fundamento para a constituio processual de seu conceito de
Esprito do Povo.
Aoriginalidade atribuda teoria jenense da eticidade gravita emtorno de dois te-
mas relacionados: por um lado, a compreenso da intersubjetividade, desenvolvida
como parte integrante de sua losoa social de Jena pela via do conceito de reconhe-
cimento; por outro lado, o tratamento coeso daquilo que, nas Grundlinien, teria sido
separado em direito abstrato, moral e eticidade e novamente, segundo uma estru-
tura tripartida, nas esferas pelas quais se desenvolve a eticidade , de maneira que
sua conexo interna e interdependncia, mais visvel em Jena, teria sido perdida e
apenas a impresso de uma sobreposio de esferas independentes teria restado. Na
esteira da inovadora interpretao fornecida por Ludwig Siep,
1
para o qual o conceito
jenense de reconhecimento conecta tica, poltica, moral e direito, propiciando, pela
superao da distino entre losoa poltica clssica e moderna, uma renovao da
losoa prtica, tambmRoth interpreta, mais recentemente, a sistemtica denitiva
da losoa hegeliana como desvirtuamento desta integrao.
2
Os textos no publicados de Jena vinculam a realizao social do esprito socia-
lizao ativa dos indivduos, os quais, ao reconstiturem a partir de sua individualiza-
o uma unidade poltico-estatal, engendramas normas e instituies que do corpo
autoconscincia universal e ao esprito do povo. O procedimento hegeliano nestes
textos se caracterizaria, sobretudo, pela gnese das relaes concretas, costumes e
normas que mediatizam a vida social a partir do intercmbio social dos indivduos,
ao passo em que as Grundlinien perseguiriam o processo de efetivao do esprito
de uma maneira destacada da prxis social, isto , como sucesso de guras deriva-
das exclusivamente da lgica do desenvolvimento imanente do esprito universal,
compreendido de maneira solitria, de forma que o agir e querer dos indivduos nada
mais constitui do que um pressuposto. Em face da losoa de Jena, a submisso da
eticidade ao movimento de auto-reexo de um einsamer Geist acarreta uma perda
de conexo entre as esferas que possa convencer sem a pressuposio do conceito
tardio de esprito e da lgica especulativa (Honneth 2001).
As conseqncias da tese habermasiana do desvio de Hegel em relao a suas in-
tuies primevas, especialmente da perda de importncia da intersubjetividade para
a losoa social, foram estabelecidas por Theunissen,
3
o qual, num exame acurado
das Grundlinien, mostrou que, em sua losoa social madura, Hegel reprimiu to-
das as formas de intersubjetividade, alocadas no esprito subjetivo, na constituio
da realidade scio-poltica (Theunissen 1992). Theunissen associa a eliminao e re-
presso do tema intersubjetividade na Filosoa do Direito a uma subordinao ao
modelo substancialista de eticidade e, portanto, a um alinhamento excessivo com a
losoa poltica antiga em detrimento de uma aproximao com a losoa poltica
moderna, o que, para ele, s se processa na opo por um conceito solipsista e in-
dividualista de vontade na introduo das Grundlinien.
4
Entretanto, o fato de que
Normatividade a partir de socializao e individualizao 289
Theunissen no chegue, dentro de seu prprio argumento, a uma concluso acerca
do alinhamento moderno ou antigo de Hegel, sugere que preciso cautela na avalia-
o da posio hegeliana.
Para Hegel, nenhuma das duas alternativas satisfatria, e ele procurar construir
seu pensamento poltico de forma a integrar ambas as vises (Mller 1998): os anti-
gos suprimem a liberdade subjetiva, e os modernos procuram fundamentar a tica e
a poltica na liberdade subjetiva do indivduo, o que resulta em formalismo e indivi-
dualismo. O projeto hegeliano uma tentativa de mediao entre estas alternativas,
e o seu conceito de esprito no pode ser reduzido nem substncia tica abstrata
dos antigos, nem subjetividade monolgica e individualista da modernidade: trata-
se de uma alternativa intersubjetiva, que prima pela noo de um descentramento
da subjetividade auto-referente (Lima 2007, p. 23ss).
5
Mesmo ao se apelar Enciclo-
pdia, pode-se ver que a inovao terminolgica hegeliana Geist denota justamente
uma ampliao da subjetividade como resultado do reconhecimento de si no outro,
o descentramento do sujeito transcendental individual que traz tanto a possibilidade
de uma vida destrutiva, como tambm a possibilidade de uma ampliao da liber-
dade no contexto tico da comunidade. neste ambiente terico, ainda que subor-
dinado a ditames sistemticos, que Hegel compreende as instituies da eticidade
como condies da auto-realizao da liberdade no mundo.
Obviamente, no se pode ignorar que, sob ditames sistemticos especcos, as
Grundlinien escamoteiam o papel vital das relaes intersubjetivas na gnese dos
momentos de efetivao comunitria da liberdade, ainda mais quando o primado
do auto-desdobramento da singularidade da idia de liberdade em sua universali-
dade supra-individual desemboca na efetividade da idia tica como estado e parece
destruir, assim, a possibilidade de uma constituio da vontade universal e efetiva a
partir da sobreposio de nveis diferenciados de relaes intersubjetivas (Honneth
1992). Entretanto, a questo que se pe se, apesar dos imperativos metodolgicos
engendrados pelo projeto enciclopdico de Hegel, as Grundlinien permitem um res-
gate daqueles nichos de intersubjetividade deslocados pela primazia do desdobra-
mento da singularidade conceitual da liberdade.
6
Uma intuio que nos parece poder revelar como os momentos intersubjetivos de
constituio do esprito objetivo podemse tornar ainda signicativos para a compre-
enso scio-losca da profundidade do insight hegeliano, justamente a percep-
o, auxiliada pelo exame dos escritos pr-fenomenolgicos de Hegel (Lima 2006,
p. 67ss), da relao dialtica entre uma compreenso solidria e no-excludente da
intersubjetividade e uma concepo negativa e limitativa da relao intersubjetiva.
7
A ambivalncia do estatuto supra-individual da efetivao do conceito de direito
(Mller 2003) poderia assim ser compreendida de maneira que o contedo formado
pelas relaes intersubjetivas que fazem a mediao das conguraes comunitrias
do esprito objetivo no se esgotasse na sua subordinao ao movimento da substn-
cia tica enquanto sujeito. Desta maneira, procurando perceber como este contedo
de relaes intersubjetivas se revela no conito entre os dois paradigmas de inter-
290 Erick C. de Lima
subjetividade, poder-se-ia sustentar a tese de que o ponto de interseco do que, nas
Grundlinien, compreendido como uma superposio de esferas sem uma ligao
profunda (Roth 2002) est no projeto de institucionalizao social de foras scio-
integrativas ou centrpetas, isto , efetivao social de nichos de intersubjetividade
solidria que possam fazer frente ao movimento centrfugo de uma intersubjetivi-
dade limitativa, excludente e desagregadora, modelo de intersubjetividade que, en-
tretanto, tem sua gnese histrica determinada pelo processo de modernizao e de
intensicao da liberdade subjetiva e dos direitos individuais.
A partir de Jena, a eticidade moderna passa a ser compreendida conceitualmente
como processo de institucionalizao normativa de nveis de intersubjetividade ca-
pazes de amortecer o processo de individualizao decorrente da modernizao.
Sem dvida deve ser levada em conta a realizao limitada deste processo nas Grun-
dlinien, o qual se realiza sob os preceitos da auto-efetivao da singularidade espiri-
tual absoluta (Mller 2003). Entretanto, poder-se-ia ainda conferir ao intento hege-
liano seu poder normativo e sua atualidade pela percepo do jogo entre estas con-
cepes de intersubjetividade.
A percepo que, a partir do desenvolvimento da concepo hegeliana de etici-
dade em Jena, parece encontrar sua plena ressonncia na losoa poltica tardia,
quando posta sob a forma da relao dialtica entre dois modelos de intersubjeti-
vidade, diz respeito insucincia da regulamentao social pela via exclusiva de
princpios universais e abstratos de um paradigma jurdico-moral de justia, pois o
direito privado e sua garantia dos direitos individuais liberdade e proteo da
propriedade privada maximiza o individualismo e a atomizao que ameaa as so-
ciedades modernas com a sombra da desintegrao social. Somente se se observa
a antecipao do reconhecimento pelo estado da dignidade do singular numa inter-
subjetividade integradora e solidria entre os indivduos, somente assimse faz justia
idia do universal tico como imanente vida social, como unidade originria que
emana da multiplicidade.
2. Normatividade a partir dos processos de socializao e individualizao:
reexes a partir de Hegel e Habermas
Habermas demonstrou, recentemente, no partilhar da posio de Honneth de que
os esboos de sistema de Jena, embora continuem a manter a fora de seu vis socia-
lizador, sacriquemseu nexo individualizante coma adeso teoria da conscincia e
o conseqente afastamento emrelao ao ponto de partida aristotlico do Systemder
Sittlichkeit (Habermas 1999). Segundo Honneth, a progressiva intensicao dos la-
os scio-integradores possui como contrapartida um processo de individualizao
e sosticao da relao a si do eu, o que ocorre graas prvia imerso do indivduo
no estofo originrio de relaes comunicacionais que caracteriza a eticidade natural.
8
Honneth acredita que Hegel teria compensado sua adeso teoria da conscincia
com uma renncia ao intersubjetivismo em sentido forte que residia no recurso ao
Normatividade a partir de socializao e individualizao 291
ponto de partida terico-comunicativo aristotlico.
9
J Habermas estabelece, partindo de Hegel, uma vinculao das mais importan-
tes entre a normatividade e os processos de socializao e individualizao. Para Ha-
bermas, o que notabiliza a concepo hegeliana do euemface dos seus predecessores
idealistas justamente sua compreenso do mesmo, plasmada pela estrutura lgico-
especulativa do conceito, como unidade imediata de universalidade e singularidade,
pela qual Hegel vai alm do eu kantiano enquanto unidade originria da apercepo,
que representa a experincia, fundamental para a losoa da reexo, da identidade
do eu na auto-reexo, a auto-experincia do sujeito cognoscente proporcionada por
sua capacidade de absoluta abstrao (Habermas 1974, p. 790).Este conceito de uni-
dade espiritual permite que os singulares se identiquem uns com os outros e, ao
mesmo tempo, percebam-se como no idnticos.
A percepo originria de Hegel consiste em que o eu enquanto autoconscincia
somente pode ser compreendido quando esprito, isto , quando ele passa da
subjetividade objetividade de um universal, em que, sobre a base da recipro-
cidade, os sujeitos que se sabem como no idnticos so unicados. (Habermas
1974, p. 790)
Habermas relaciona este conceito de unidade espiritual justamente a dois mo-
mentos: o momento da normatividade intersubjetivamente engendrada e o momen-
to dos processos de socializao e individualizao. Sobre a primeira conexo, diz
Habermas:
porque Hegel compreende autoconscincia a partir da conexo interativa do agir
complementar a saber, como resultado de uma luta por reconhecimento ,
ele percebe o conceito kantiano da vontade autnoma . . . como uma abstra-
o peculiar da relao tica dos singulares que se comunicam. (Habermas 1974,
p. 794)
Esta conexo da unidade espiritual com a idia de uma normatividade intersubje-
tivamente engendrada, a relao tica, torna-se extremamente importante para as
premissas da teoria da ao comunicativa e, na medida em que capaz de corrigir,
por assim dizer, o fundamentalismo de uma tica de tipo kantiano, tambm para a
concepo originria da tica do discurso.
10
Ainda no texto de 1968, Habermas expe, partindo da acepo hegeliana da au-
toconscincia como unidade de universalidade e singularidade e se baseando emDi-
viso do Trabalho Social de Durkheim, uma conexo unvoca entre os processos de
socializao e de individualizao.
11
Habermas mantmesta conexo bastante rme,
pois, no texto sobre Hegel de 1999, comenta que a compreenso ps-mentalista, al-
canada por Hegel na teoria dos media do Esboo de Sistema 1803/04, de que o su-
jeito cognoscente est, enquanto esprito, desde sempre junto de seu outro, articula-
se nas reexes contemporneas . . . sobre a individualidade das pessoas agentes e
de seus contextos de ao. (Habermas 1999, p. 188) Os seres humanos constroem
ou formam (ausbilden) sua individualidade em formas de vida culturais, adquirindo
292 Erick C. de Lima
uma especca auto-compreenso como pessoas que como eu e outro, ego e alter,
entramemrelaes uns comos outros e, ao mesmo tempo, formamcomunidades na
conscincia de sua absoluta diversidade.(Habermas 1999, p. 199)
Habermas sustenta que, aocompreender a intersubjetividade comocerne da sub-
jetividade, Hegel descobre tambmas conseqncias subversivas que a inicialmente
imperceptvel deciso mentalista de identicar o sujeito cognoscente com o eu traz
consigo. (Habermas 1999, p. 199) Para Habermas, para alm de uma perspectiva ob-
jetivante, a identidade da pessoa depende tambmda maneira como ela se identica
da perspectiva de uma primeira pessoa, isto , levando emconta, ela prpria, sua his-
tria de vida insubstituvel. Entretanto, prossegue Habermas, isto no quer dizer que
a pessoa no exija das outras, apelando sua prpria histria de vida, ser universal-
mente reconhecida como este indivduo impermutvel.
Este carter individual de pessoas falantes, que se comunicam umas com as ou-
tras e que agem, se reete, de certa maneira, tambmnas formas de vida culturais
e prticas que ela compartilha com outras. Hegel conheceu o desao losco
que reside nestes fenmenos. (Habermas 1999, p. 199)
Eis porque Habermas considera que Hegel tenha sido o arauto da intuio que ele
mesmo desenvolveu mais tarde em um outro contexto:
todos os fenmenos histricos tm maior ou menor participao na estrutura
dialtica das relaes de reconhecimento recproco, nas quais pessoas so indi-
vidualizadas pela socializao (Vergesellschaftung).
12
Habermas entende que o teor losco inovador da teoria hegeliana do reconhe-
cimento reside na possibilidade de reconduzir unidade de umprocesso dialtico os
impulsos para a socializao e para a individualizao, os quais, na tradio men-
talista e sobretudo em sua guinada transcendental aparecem irrelacionados
como os princpios da pessoa em geral e do indivduo impermutvel. Todavia, diz
Habermas,
eu somente adquiri esta auto-compreenso como pessoa e como indivduo por
meio de que eu cresci em uma determinada comunidade. Comunidades existem
essencialmente na gura de relaes de reconhecimento recproco entre mem-
bros. Apartir desta estrutura intersubjetiva da comunitarizao (Vergemeinschaf-
tung) de pessoas individuais, Hegel se deixa guiar na explicao lgica do con-
ceito de universal concreto ou de totalidade. (Habermas 1999, p. 200)
Remete teoria hegeliana do reconhecimento a correlao do diagrama da lgica
aristotlica, principalmente com a percepo historicamente suscitada do momento
da singularidade como ser humano perfeitamente individualizado, s
trs perspectivas sob as quais os indivduos socializados se reconhecem recipro-
camente, a saber: como pessoas em geral, que equivalem a todas as outras pes-
soas em pontos de vista essenciais; como membro particular, os quais compar-
tilham peculiaridades de sua comunidade de origem; e como indivduos, que se
diferenciam de todos os indivduos restantes. (Habermas 1999, p. 200)
Normatividade a partir de socializao e individualizao 293
A justicativa do nosso o condutor se estabelece pela intensicao da conexo,
na obra habermasiana nas dcadas 1980 e 1990, entre os processos de individualiza-
o e socializao, por um lado, e a relao entre a eticidade e o ponto de vista mo-
ral, por outro. Na tentativa de fundamentao da tica do discurso, tanto Habermas
quanto Apel (1986) se beneciam de elementos que remetem, em ltima instncia,
ao debate hegeliano-kantiano entre eticidade e moralidade. Em geral, Habermas de-
termina a relao entre moralidade e eticidade ou entre a prtica comunicativa re-
exiva (discurso) e a prtica comunicativa cotidiana dizendo que o ponto de vista
moral, a ser fundamentado discursivamente, no se relaciona a questes prticas no
sentido emque Hegel esperava ter criticado a tica kantiana, isto , no que concerne
produo de normas ou contedos ticos, mas simno sentido da tematizao de pro-
blemas ticos surgidos diretamente do contexto comunitrio e que tornam invivel a
coordenao das aes na comunicao cotidiana.
13
Desta maneira, ao serem tematizadas moralmente as questes prticas deixam
de ser consideradas do ponto de vista da manuteno de uma forma de vida particu-
lar ou da persecuo de histrias de vida particulares. Quer em sua gnese histrica,
quer na ontognese, a moral ps-convencional tematiza os problemas surgidos nos
contextos socializadores e individualizadores do mundo da vida com respeito s ori-
entaes para o agir que j no podem contar com o endosso inquestionavelmente
vlido da herana cultural. Em princpio, tanto Kant, quanto Habermas e Apel esca-
pam principal crtica hegeliana, pois recorrem a uma racionalidade prtica de tipo
procedimental, capaz de examinar normas j existentes. Para Habermas, o discurso
prtico isomrco em relao prpria racionalidade comunicativa pela qual os
sujeitos coordenam suas aes cotidianamente, de maneira que passa a se referir a
acordos normativos perturbados como sendo a situao de partida a fornec-lhe ele-
mentos conteudsticos. Com efeito, a atitude hipottica qual se ala o sujeito que
julga moralmente, embora possa colocar sub judice uma totalidade de relaes inter-
subjetivas reguladas de modo supostamente legtimo, no elimina o nexo entre aes
e normas problemticas e o contexto emque elas so intersubjetivamente engendra-
das. Esta continuidade entre a eticidade e a moral implica emuma certa relao entre
normatividade e os processos de individualizao e socializao, pois o ponto de vista
discursivo no pode acarretar a ruptura com a totalidade comunicativa dos proces-
sos pelos quais determinados sujeitos se socializaram e formaram suas identidades
individuais.
Sendo assim, justamente na relao entre a normatividade discursiva e os pro-
cessos formadores de uma unidade social e de identidades individuais determinadas
que se deixa precisar a herana hegeliana em Habermas. Histrica ou ontogenetica-
mente, o ponto de vista moral e a atitude hipottica frente a normas tornadas proble-
mticas, a qual se sedimenta em juzos morais e em aes conformes aos mesmos,
dependem de que processos de socializao e individualizao, processos intersub-
jetivos que tecem a rede de relaes da eticidade de uma forma de vida, tm de ter
podido torn-los aptos a se deslocar do estofo tradicional que responde pelas ob-
294 Erick C. de Lima
viedades normativas. Deste modo, o projeto habermasiano de resgatar, em meio ao
debate entre defensores da tica formalista e cticos morais vinculados ou no a po-
sies neoaristotlicas, a univocidade do ponto de vista moral, bemcomo a possibili-
dade de julgar inequivocamente a racionalidade de uma forma de vida, aponta para
uma investigao de padres racionais de socializao e individualizao.
Para alm da desestabilizao da fuso operada no mundo da vida entre a va-
lidez normativa e factual, a atitude hipottica implcita no ponto de vista moral de-
compe a prtica comunicativa em normas e valores, em elementos cuja justica-
o moral pode ser examinada e problematizada, por umlado, e elementos intersub-
jetivamente gerados no processo de socializao/individualizao cuja tematizao
moral indisponvel e que se vinculam aos mbitos individuais ou coletivos de auto-
realizao. No entanto, Habermas compreende que a contrapartida deste processo
histrico e/ou ontogentico de diferenciao ocasionado pelas operaes abstrativas
da moral ps-convencional, pelo qual se intensica a racionalidade da tematizao
de questes normativas, o eventual desligamento do agir combase emjuzos morais
de motivaes empiricamente ecazes, como aquelas que se ligamdiretamente va-
lorao intersubjetivamente gerada no quadro de uma eticidade concreta. Habermas
se volta, ento, questo de pensar como pode ser compensada a descontextualiza-
o da moral universalista no sentido de uma vinculao da motivao racional com
as atitudes empricas ecazes.
Em textos da dcada de 1980, antes de ser conduzido investigao do direito
positivo como medium ps-convencional capaz de (re)estabilizar a tenso entre va-
lidez normativa e validez social, Habermas parece ter uma viso mais abrangente de
como processos de socializao e individualizao poderiam colaborar para a deter-
minao das possibilidades de formas da vida concretas fomentarem no somente o
ajuizamento moral de normas vigentes, mas, sobretudo, as tomadas de atitudes em
conformidade comeles. Se, por umlado, no contexto de sua fundamentao terico-
discursiva do direito, Habermas persegue a explicao do surgimento de uma inte-
grao social sob condies de uma socializao instvel (Habermas 1997, p. 39); por
outro lado, ao se debruar sobre questes relativas avaliao da racionalidade de
uma forma de vida, isto , sua capacidade de tornar convices morais efetivas na
prtica, Habermas dene dois eixos supra-individuais emtorno dos quais uma forma
de vida pode contribuir compensao do dcit prtico gerado pelo ponto de vista
moral: por um lado, o problema cognitivo de aplicao de princpios universais; por
outro lado, o problema motivacional de encaixe de umprocedimento de justicao
moral no sistema da personalidade (Habermas 1991, p. 85).
Para Habermas, a eccia prtica do processo discursivo de exame de validez de
pretenses normativas se deixa aferir somente na transformao das condies de
vida dos prprios participantes, bem como na sua capacidade de impulsion-los a
uma melhor aplicao de contedos normativos previamente criticados, aplicao
mediatizada por processos de aprendizagem. Portanto, segundo o primeiro aspecto
supra-individual de colaborao de uma forma de vida efetivao de contedos
Normatividade a partir de socializao e individualizao 295
normativos universalistas, Habermas vincula a aplicao ecaz e moralmente coe-
rente de princpios universalistas ancoragem de processos de aprendizagem
14
em
um quadro institucional ps-convencional.
No que concerne questo do encaixe motivacional de princpios universalistas
no sistema da personalidade, Habermas parece deixar em aberto, para alm da in-
troduo do direito no rol das investigaes da teoria do agir comunicativo, que a
proteo de uma socializao exitosa tambm aponta para outros elementos ligados
a processos de individualizao. ParaHabermas, aperdadocarter inquestionvel das
orientaesnormativascompostasdeevidnciasculturaispodeser compensadapor
um sistema de controle interno de comportamento, capaz de responder positi-
vamente a juzos morais dirigidos por princpios, ou seja, a convices racional-
mente motivadoras e que possibilite a auto-regulao do comportamento. (Ha-
bermas 1991, p. 88)
Um tal sistema, pensa Habermas, tem de ser dotado da capacidade de funcionar au-
tonomamente emface da validez social de normas reconhecidas, oque somente pode
acontecer pela interiorizao dos princpios abstratos que a prpria tica do discurso
representa como pressuposies do procedimento de fundamentao de normas.
Habermas fornece, ento, o direcionamento investigativo para as condies de
possibilidade destas estruturas ps-convencionais do super-ego. E justamente aqui
retorna a questo hegeliana de um paralelismo entre processos ps-convencionais
de socializao e individualizao. A tica do discurso aponta para uma colaborao
propiciada pela
eccia socializadora do entorno, isto , para padres de socializao e proces-
sos de formao que fomentem o desenvolvimento moral e o desenvolvimento
do eu de jovens e impulsionem os processos de individualizao para alm dos
limites de uma identidade convencional, de uma identidade que se atma deter-
minados papis sociais. (Habermas 1991, p. 89)
Segundo Habermas, a resoluo de ambos os problemas relacionados traduo efe-
tiva de princpios universais, ancoragem de processos de aprendizagem em ordena-
mentos institucionais de tipo ps-convencional e padres de socializao revertidos
em uma individualizao ps-convencional, est ligada a um modo reexivo de tra-
dio e, neste sentido, Habermas deixa em aberto a compreenso do processo onto-
gentico de progressiva individualizao como contrapartida de processos socializa-
dores efetivados sob tais circunstncias ps-convencionais, no sentido especco que
Honnethatribui aoteor individualizante de relaes intersubjetivas. Apergunta que
se coloca , ento, se padres jurdicos de socializao seriam capazes, no contexto
de sociedades pluralistas, de deliberao democrtica insuciente e de participao
poltica irregular, de permitir, para alm de uma individualizao simplesmente abs-
trata, formao de identidades culturalmente diversicadas.
No difcil ver que Habermas investe o direito positivo moderno da capacidade
de complementar o dcit prtico de uma moral universalista, principalmente no
296 Erick C. de Lima
que concerne ancoragemde processos de aprendizagemligados formao poltica
da vontade em um quadro institucional ps-convencional. Entretanto, no tocante ao
problema dos padres ps-convencionais de socializao revertidos em uma indivi-
dualizao potencialmente aberta, o direito exerce uma funo exterior, no sentido
emque assegura a integrao social e a salvaguarda de uma individualizao abstrata
em circunstncias de uma socializao frgil. Com efeito, o direcionamento da teoria
do agir comunicativo para a explicitao de um conceito normativo de democracia
deliberativa parece tambm apontar para a sua complementao por uma investi-
gao mais pormenorizada e interna da possibilidade de processos de socializao
revertidos em uma individualizao ps-tradicional, os quais podem e devem, de-
certo, entrar numa simbiose com o medium do direito positivo, mas no se reduzem
a ele nem o podem reduzir a si.
Portanto, sugerimos aqui uma linha de investigao que procura examinar a in-
terface entre o direito e, por exemplo, a estrutura da formao familiar, bem como
com o sistema educacional. Tais elementos scio-formadores se beneciam das sal-
vaguardas proporcionadas pela institucionalizao jurdica, pormno parecem, em
todos os casos, se comportarem de maneira passiva em relao a ele, mas antes po-
dem tambm agir e retroagir sobre o momento jurdico da organizao social, prin-
cipalmente sobre o locus privilegiado da legitimidade: os processos de legislao.
No sentido de uma futura investigao destas interfaces que a sugesto hegeli-
ana de uma interface entre a famlia e a sociedade civil pode ser ainda enriquecida
a ponto de auxiliar, enquanto modelo sociolgico, a investigao de fenmenos ps-
convencionais. o prprio Habermas que, na esteira de sua assimilao da proble-
mtica hegeliana, deixa ainda em aberto, em meados dos anos 1980, as potenciali-
dades de uma vinculao das idias morais com a fora motivacional inserida em
instituies reconhecidas. Em suas palavras, as idias morais
tmque ser transformadas, como diz Hegel, emdebates concretos da vida cotidi-
ana. E assim em realidade: toda moral universalista depende da sustentao e
do apoio que lhe ofereamas formas de vida. Necessita de uma certa concordn-
cia comprticas de socializao e educao que ponhamemmarcha nos sujeitos
controles de conscincia fortemente internalizados e fomentem identidades do
eu relativamente abstratas. Uma moral universalista necessita tambm de uma
certa concordncia com instituies sociais e polticas em que j estejam encar-
nadas idias jurdicas e morais de tipo ps-convencional. (Habermas 1986, p. 23)
J aqui se torna claro o direcionamento do pensamento habermasiano para a tese da
complementaridade entre moral e direito positivo, mas tambmse faz observar ainda
o papel a ser desempenhado por padres de socializao e individualizao forjados
paralelamente ao medium jurdico, ancorados talvez na interface formada pela es-
fera da famlia em sua acepo ps-convencional mais geral, que engloba tambm o
ambiente de formao educacional, e a sociedade civil enquanto esfera de um reco-
nhecimento jurdico recproco.
Normatividade a partir de socializao e individualizao 297
A justicao de uma tal orientao investigativa, a qual pretende, no fundo, se-
guir a tradio de uma teoria social fundada sobre a racionalidade comunicativa atra-
vs de um resgate de elementos da concepo hegeliana de intersubjetividade, con-
verge para a considerao da complementao da moral universalista pelo direito.
A questo se h sentido em investigar outras interfaces sociais que, ao lado do di-
reito, permitam o resgate institucional das pretenses interativas inseridas em uma
tica do discurso e referentes formao de identidades individuais num sentido
ps-tradicional atravs da socializao.
As pretenses interativas inseridas na tica do discurso cam mais claras quando
Habermas procura comprovar que a fundamentao discursiva do juzo moral em
um procedimento faz jus s intuies morais enquanto elementos substanciais s
formas de vida, o que se d, segundo Habermas, justamente pelo estabelecimento
da conexo interna entre questes de justia e questes do bem comum, tratadas
separadamente por ticas deontolgicas e ticas valorativas (Habermas 1986).
Para Habermas, de um ponto de vista antropolgico, a moral pode ser compre-
endida como um mecanismo de proteo vulnerabilidade estrutural das formas de
vida scio-culturais, isto , caracterstica incontornvel da espcie humana de so-
mente ser capaz de proceder individualizao pela via da socializao. As formas de
vida scio-culturais se caracterizam, portanto, pelo fato de que os processos comu-
nicativos que subjazem intersubjetividade da interao socializadora, constroem
e reproduzem co-originarimente a identidade do indivduo e da coletividade scio-
cultural. Isto cria, segundo Habermas, uma reciprocidade entre a intensicao da
individualidade e o adensamento da rede intersubjetiva de formao, de maneira que
a possibilidade de auto-determinao se vincula imerso do sujeito na teia de rela-
es intersubjetivas que compuseramsua identidade extremamente individualizada,
o que signica que este processo de sosticao da identidade individual comporta
tambm riscos crescentes integridade da pessoa formada, isto , de que aspectos
incontornveis da auto-realizao do indivduo no encontremo efetivo respaldo so-
cial. Para Habermas, a moral se dirige, em geral, a aplacar esta vulneralibilidade na
forma da salvaguarda tanto da integridade individual, quanto do tecido vital das re-
laes de reconhecimento recproco nas quais unicamente as pessoas podem esta-
bilizar sua frgil identidade.(Habermas 1986, p. 24) neste sentido que Habermas
compreende que a moral tem de se voltar intangibilidade dos indivduos pela exi-
gncia de respeito dignidade de cada um e proteo da tessitura intersubjetiva
das relaes comunitrias, o que leva ao duplo nus da moral: as questes relativas
justia e as questes relativas solidariedade social, ou seja, problemas vincula-
dos igualdade de direitos dos indivduos e problemas ligados ao bem estar do pr-
ximo. Por um lado, diz Habermas, a justia em sentido moderno se refere liberdade
subjetiva dos indivduos, e a solidariedade se refere ao bem estar dos indivduos que
compartilham intersubjetivamente uma forma de vida scio-cultural.
Comefeito, para Habermas, somente a tica do discurso capaz de mostrar como
o duplo nus da moral se compe de elementos complementares que se deixam re-
298 Erick C. de Lima
conduzir noo de vulnerabilidade da socializao individualizante e, portanto,
complementaridade dos processos de socializao e individualizao. Este resultado
permite o direcionamento jurdico e o resgate da inteno fundamental do direito
natural racional de extrair, do prprio mbito da comunicao lingisticamente me-
diatizada, elementos compensatrios para a vulnerabilidade. Habermas vai encon-
trar no direito positivo moderno a possibilidade de solucionar o problema fundamen-
tal de sua teoria social, ancorada no conceito de racionalidade comunicativa, acerca
da possibilidade de uma reproduo da sociedade que, em ltima instncia, se d
na base das idealizaes inseridas no meio lingstico que estrutura tais formas de
vida, isto , na base de pretenses de validade normativa s quais os agentes tm que
recorrer na coordenao de suas aes (Habermas 1997, p. 25).
A descontinuidade ps-convencional entre moralidade e eticidade se depara, en-
quanto tenso entre facticidade e validade, com a fragilidade dos processos de so-
cializao que se estabilizam pelo reconhecimento intersubjetivamente mediado de
pretenses de validez normativa, e esta ameaa ao mecanismo regulador das aes
cobra neutralizao como condio de integrao social. A ameaa de desintegrao
social se intensica na medida em que as sociedades se tornam ainda mais comple-
xas e passama abrigar sistemas que operampela orientao estratgica do agir e cujo
amortecimento normativo se torna problemtico.
Tambm aqui o direito positivo moderno, baseado no conceito de esferas subje-
tivas de liberdade de ao, revela sua potncia estabilizadora, na medida emque tan-
gencia tanto as idealizaes vinculadas capacidade normativa auto-organizatria
das comunidades jurdicas, como tambm a liberao dos indivduos para a perse-
cuo estratgica de seus interesses no quadro delineado por preceitos sistmicos.
Neste sentido, o direito positivo se estabelece, do ponto de vista histrico, como con-
trapartida institucional dos processos de intensicao do individualismo e do ato-
mismo prprios solidicao de relaes capitalistas de produo, e permite a es-
tabilizao da pluralizao de formas de vida e a intensa individualizao das hist-
rias de vida que, paralelamente complexidade sistmica das modernas sociedades
econmicas, tornamcada vez mais voltil a convergncia das convices que povoam
o mundo da vida.
A partir da perspectiva dos prprios agentes, h, portanto, uma desvinculao,
inexistente em sociedades tradicionais, da validez normativa das convices racio-
nalmente motivadas e da validade social das normas, para onde emigram tambm,
a despeito de a integrao social entre os agentes depender ainda de seu entendi-
mento mtuo relativo ao reconhecimento intersubjetivo de pretenses de validez
normativa, as coeres sistmicas de uma orientao estratgica no agir. Em soci-
edades modernas, a estabilizao da tenso entre facticidade e validade supe, por-
tanto, a regulamentao intersubjetiva de aes estratgicas e, por conseguinte, na
medida em que representa a distribuio de esferas de liberdade subjetiva sob a co-
ero objetiva de umaparelho estatal, o direito positivo moderno pode ser visto como
exercendo a requerida funo estabilizadora. Para Habermas, sob circunstncias ps-
Normatividade a partir de socializao e individualizao 299
convencionais, cabe ao sistema jurdico e, especicamente, ao processo legislativo
a tarefa de integrao social. Neste ponto se insere a suposio, trazida por Haber-
mas da prtica discursiva, de que o processo legislativo capaz de ir alm da mera
perspectiva individualista e atomista segundo a qual todos os envolvidos so livres
para a persecuo estratgica de seus interesses privados na direo da formao de
um ambiente de regulamentao normativa da convivncia, o que supe a compre-
enso do processo de legislao como expediente em que os envolvidos se erguem
condio de sujeitos de direito, de cidados dotados de direitos polticos de partici-
pao, que agem tambm orientados ao entendimento mtuo. Segundo Habermas,
por isso que o conceito de direito moderno que intensica e, ao mesmo
tempo, operacionaliza a tenso entre facticidade e validade na rea do comporta-
mento absorve o pensamento democrtico, desenvolvido por Kant e Rousseau,
segundo o qual a pretenso de legitimidade de uma ordem jurdica construda
com direitos subjetivos s pode ser resgatada atravs da fora socialmente inte-
gradora da vontade unida e coincidente de todos. (Habermas 1997, p. 63)
Portanto, Habermas entende que a integrao social em sociedades complexas
propiciada por um resgate jurdico e ps-convencional da solidariedade social,
pois o processo legislativo, que funda a legitimidade de normas socialmente vlidas,
baseia-se na auto-compreenso dos envolvidos enquanto cidados, enquanto indi-
vduos em pleno exerccio de suas autonomias comunicativas. Com efeito, para Ha-
bermas, a integrao social em sociedades complexas e a manuteno de uma rede
socializadora, qual, apesar de sua fragilidade, os sujeitos devem, em quaisquer cir-
cunstncias, sua sosticada individualizao, localizada na conexo interna entre
a imposio factual do direito e a legitimidade que lhe conferida pelo processo de
legislao. Do ponto de vista terico, entretanto, no se congura sociologicamente
plausvel que, em vista da complexidade e retroao jurdica dos sub-sistemas, o di-
reito possa desempenhar sua funo scio-integradora a partir somente de nichos
scio-solidrios. E esta realidade que impe teoria discursiva do direito de Haber-
mas a superao tanto dos paradigmas da losoa da justia, quanto dos padres ob-
jetivistas da sociologia do direito (Habermas 1997, p. 55). Opapel scio-integrador do
direito permaneceria sub judice enquanto no se mostrasse a estabilizao, no pr-
prio direito positivo, do ponto de vista moral que responde pela formao imparcial
do juzo e da vontade coletiva. Como a questo se refere justamente contingncia
de contedos de umdireito positivo sujeito modicao, no basta a positivao de
contedos do direito natural racional, mas o momento moral integrado no direito
positivo que tem de revelar sua potncia auto-reguladora.
Oncleo racional (emsentido prtico-moral) dos procedimentos jurdicos se nos
revela quando se analisa como, atravs da idia de imparcialidade, tanto a fun-
damentao das normas como a aplicao das regulamentaes vinculantes es-
tabelecem uma conexo construtiva entre o direito vigente, os procedimentos
legislativos e os procedimentos de aplicao do direito. Esta idia de imparciali-
dade constitui o ncleo da razo prtica. (Habermas 1992, p. 563)
300 Erick C. de Lima
O modelo do discurso prtico se revela mais adequado para deslindar este contedo
prtico-moral do direito porque nele o procedimento racional e imparcial de forma-
o da vontade coletiva identicado com o prprio processo de argumentao mo-
ral. Por isso, diz Habermas:
o direito procidementalizado e a fundamentao moral de princpios se reme-
tem um ao outro. A legalidade somente pode engendrar legitimidade na medida
em que a ordem jurdica reage reexivamente necessidade de fundamentao
surgida com a positivao do direito, e isso de maneira que se institucionalizem
procedimentos jurdicos de fundamentao que sejam permeveis a discursos
morais. (Habermas 1992, p. 565)
A questo da vulnerabilidade dos indivduos que somente podem se individuali-
zar pela socializao, bem como sua soluo moral, retomada sob a perspectiva
da complementaridade entre moral e direito. Para Habermas, justamente a incom-
pletude da racionalidade implementada em argumentaes morais que aponta para
uma complementaridade entre moral e direito, pois no caso daquela a imparciali-
dade do exame discursivo de determinadas normas problematizadas no ca imedi-
atamente atrelado garantia de infalibilidade
15
. A diferena agora que Habermas
direciona a neutralizao destas diculdades diretamente complementaridade da
moral pelo direito, no admitindo mais, aparentemente, que, ao lado da eccia pr-
tica de juzos morais atravs de sua ligao com o momento institucionalizvel dos
procedimentos jurdicos, outros tipos de padres de socializao e inclusive a edu-
cao venham a desempenhar um papel relevante na salvaguarda de processos
mutuamente referentes de socializao e individualizao, embora parea reduzir a
complementaridade jurdica da tica do discurso a todos aqueles mbitos de ao
em que conitos, problemas funcionalmente importantes e matrias de relevncia
social exijam tanto uma regulao unvoca como em um prazo xo, e que resultem,
alm disso, obrigantes para todos. (Habermas 1992, p. 566) no sentido desta justi-
cao moral da complementaridade da moral pelo direito que se coloca a questo
chave de nossa incurso acerca do potencial de uma investigao acerca dos meios
para a resoluo do problema moral fundamental: a salvaguarda dos processos da
mtua implicao entre individualizao e socializao. Haveria algum sentido em
associar ao vis profundamente socializador da teoria discursiva do direito, vis que,
como claro, salvaguarda tambm a possibilidade de uma individualizao pulveri-
zada, a investigao de outros padres leves de socializao que possam colaborar
com a institucionalizao forte do medium jurdico?
Referncias
Apel, K.-O. 1986. Kann der postkantische Standpunkt der Moralitt noch einmal in substan-
tielle Sittlichkeit aufgehoben werden? In: Kuhlmann, W. Moralitt und Sittlichkeit: Das
Problem Hegels und die Diskursethik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 21763.
Normatividade a partir de socializao e individualizao 301
Dews, P. 1993. Faktizitt, Geltung und ffentlichkeit. Deutsche Zeitschrift fr Philosophie
41(2): 35964
Habermas, J. 1974. Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels Jenenser Philosophie des
Geites. In Ghler, G. Frhe politische Systeme. Frankfurt am Main: Ullstein.
. 1988. Nachmetaphysisches Denken. Frankfurt am Main: Suhrkamp
. 1989. Notas programticas para a fundamentao de uma tica dodiscurso. InHabermas,
J. Conscincia Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 61141.
. 1991. Escritos sobre moralidad y eticidad. Padis: I.C.E-U.A.B.
. 1997. Direito e Democracia entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
. 1999. Wahrheit und Rechtfertigung: philosophische Aufstze. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp.
Honneth, A. 1992. Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konikte.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
. 2000. Das Andere der Gerechtigkeit: Aufstze zur praktischen Philosophie. Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
. 2001. Beyond liberalism and communitarianism: studies in Hegels Philosophy of right.
New York: Albany.
. 2004. Gerechtigkeit und Kommunikative Freiheit: berlegungen im Anschluss an Hegel.
In Merker, B. Subjektivitt und Anerkennung. Frankfurt am Main: Mentis, p. 21327.
. 1994 Kontexte der Gerechtigkeit: politische Philosophie jenseits vonLiberalismus undKom-
munitarismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hsle, V. 1987. Hegels System. Der Idealismus der Subjektivitt und das Problem der Intersub-
jektivitt. Hamburg: Felix Meiner.
Kaltenbacher, W. 1994. Freiheitsdialektik und Intersubjetivitt in Hegels Rechtsphilosophie.
Frankfurt am Main: Peter Lang.
Kojve, A. 1947. Introduction la lecture de Hegel. Lecons sur la Phnomnlogie de lEsprit
professes de 1933 1939 Lcole des Hautes tudes. Paris: Gallimard
Lima, E. C. 2006. Direito e Intersubjetividade: eticidade moderna em Hegel e o conceito chte-
ano de reconhecimento. Campinas. 293p. Tese de Doutorado em Filosoa, UNICAMP.
. 2007. Direito, Intersubjetividade e Educao: sobre a leitura hegeliana do Naturrecht de
Fichte. Doispontos (Curitiba/So Carlos) 4(1): 63106.
Mller, M. 1998. A Gnese Conceitual do Estado tico. Revista de Filosoa Poltica, Nova Srie
(Porto Alegre: L&PM) 2: 938.
Outhwaite, W. 1994. Habermas: a Critical Introduction. Cambridge: Polity Press.
Roth, K. 2002. Abstraktes Recht und Sittlichkeit in Hegels Jenaer Systementwrfen. In Henkel,
M. Staat, Politik und Recht beimfrhen Hegel. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, p. 11
37.
Siep, L. 1979. Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Freiburg, Mnchen: Alber.
Theunissen, M. 1982. Die verdrngte Intersubjektivitt in Hegels Philosophie des Rechts. In
Henrich, D. e Horstmann, R.-P. (eds.) Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Re-
chtsformen und ihre Logik. Stuttgart: Klett-Cotta, p. 31781
Wildt, A. 1983. Autonomie und Anerkennung. Hegels Moralittskritik im Lichte seiner Fichte-
Rezeption. Stuttgart: Klett-Cotta.
Williams, R. 1992. Recognition: Hegel and Fichte on the Other. Albany: University of New York
Press.
.1997. Hegels Ethics of Recognition. Los Angeles: University of California Press.
302 Erick C. de Lima
Notas
1
A reexo de Ludwig Siep o marco que permite superar a predominncia da inuente interpretao
feita por Kojve do conceito hegeliano de reconhecimento como centrado na relao entre senhor e es-
cravo (Kojve 1947). Dentro do estgio eu-tu de reconhecimento, Siep diferencia dois modelos: o amor
e a luta, isto , uma forma de reconhecimento sem oposio das vontades; e um conito de vontades
que visa ao reconhecimento mtuo. J o estgio das relaes de reconhecimento entre indivduo e as
instituies, Siep pretende que o Hegel de Jena desenvolva o reconhecimento como um princpio cr-
tico que permite precisar a legitimidade de instituies sociais, nas quais os indivduos devem poder se
encontrar a si mesmos e se ver reetidos em seus interesses. Siep v a importncia do reconhecimento
para a losoa prtica de Hegel na capacidade de permitir uma renovao da losoa prtica tradici-
onal em bases ps-modernas, ps-liberais e intersubjetivas. Desta maneira, Hegel superaria o quadro
conceitual individualista do direito natural moderno, inadequada a uma plena compreenso da liber-
dade individual em sua necessria mediao intersubjetiva e em sua signicao plenamente positiva.
Esta superao teria, de acordo com Siep, o resultado de fornecer uma reconciliao entre a tradio
aristotlica e a losoa transcendental (Siep 1976).
2
Hegel teria chegado, para Roth, a uma teoria da sociedade civil e do estado que, calcada no conceito
de reconhecimento, abrangia aspectos jurdico-morais e salientava os momentos conectivos das esferas
poltico-social e jurdico-moral, ao passo que a sistemtica denitiva da losoa do esprito objetivo, al-
canada na Propedutica dos Nrnberger Schriften, tornaria, graas ao obscurecimento do elemento in-
tersubjetivo, os temas de losoa prtica aparentemente independentes uns dos outros (Roth 2002).Es-
pecialmente confuso se torna, para Roth, o modo como as diversas esferas do esprito objetivo se rela-
cionam umas s outras, principalmente como direito abstrato e moral devam ser compreendidos como
momentos no-ticos ou pr-ticos a serem suspensos na eticidade e conservados nela. Para Theu-
nissen, as primeiras esferas do esprito objetivo exercem uma funo apenas crtica no todo da obra,
representam apenas uma apreciao crtica e desconstrutivista do direito natural e da moral kantiano-
chteana da autonomia, que, entretanto, no obtm resultados construtivos, os quais somente na ter-
ceira parte so introduzidos. Roth critica esta viso dos captulos iniciais das Grundlinien apenas como
prembulo desconstrutivista do panorama terico jurdico-moral pr-hegeliano: caso se interprete
ambos os captulos como incapazes de fornecer elementos constitutivos para a compreenso da vida
scio-poltica, no se compreende como Hegel espera que os elementos positivos, desenvolvidos neste
captulo, possam ser conservados na eticidade e como nexos que lhe so constitutivos.
3
A pertinncia da anlise de Theunissen em relao ao prembulo crtico fornecido pelo artigo semi-
nal de Habermas atestada pelo prprio Habermas recentemente (Habermas 1999, p. 196). Rero-me
aqui propriamente ao captulo 4, intitulado Wege der Detranszendentalisierung. Von Kant zu Hegel und
zurck, no qual Habermas menciona que se trata em seu artigo de uma anlise epistemolgica do
problema da intersubjetividade em Hegel e se exime de um exame do tema da verdrngte Intersubjek-
tivitt em um registro poltico-losco, dando a entender, ao citar Theunissen, sua satisfao com a
anlise das Grundlinien feita por este sob a inspirao da tese fornecida por Habermas com respeito ao
abandono por Hegel de suas intuies jenenses.
4
De certa maneira, pode-se dizer (Kaltenbacher 1994) que Theunissen defende uma tese que , em
muitos aspectos, uma verso invertida da tese de Hsle (Hsle 1987). Enquanto Hsle arma que as
categorias da lgica so todas mundanas e que, por conseguinte, no podem suportar as consideraes
de Hegel sobre a intersubjetividade na losoa real; Theunissen acredita que, muito embora Hegel
apresente uma teoria com algum teor de intersubjetividade nas Grundlinien, esta intersubjetividade
reprimida, no simplesmente na obra como umtodo, mas emdetalhes da argumentao. As razes ale-
gadas por Theunissen para esta represso da intersubjetividade so os compromissos metafsicos de
Hegel, a pretensa tomada de partido de Hegel pelos antigos contra os modernos, e seu conceito mono-
lgico de sujeito. De maneira geral, Theunissen pretende que o conceito hegeliano do social destitua os
indivduos de sua independncia, pois a compreenso metafsica da relao entre eles um esprito
objetivo hipostasiado como substncia tica se sobrepe intersubjetividade. A concepo pan-
Normatividade a partir de socializao e individualizao 303
testa de esprito objetivo remove toda a intersubjetividade da eticidade . . . Hegel substitui toda relao
intersubjetiva por uma relao da substncia a estas pessoas, e como resultado a independncia das
pessoas desaparece. (Theunissen 1982, p. 12)
5
Robert Williams desenvolveu, na dcada de 90, uma interessante leitura do conceito hegeliano de re-
conhecimento, a qual se acha mais claramente exposta em dois livros e alguns artigos (Williams 1992,
1997). Depois de enfatizar a teoria do reconhecimento do jovem Hegel, Williams procura empreender
uma slida leitura da losoa poltica madura de Hegel atravs do conceito de reconhecimento. Grosso
modo, pode-se dizer que a tese central de Williams que o reconhecimento no apenas uma gura
fenomenolgica do conceito de liberdade, mas tambm a estrutura intersubjetiva e padro do con-
ceito hegeliano de esprito. Para Williams, diante desta tese de envergadura, o reconhecimento fornece
a estrutura ontolgica mais fundamental da losoa hegeliana do esprito, de sua losoa prtica e do
conceito hegeliano de eticidade. Williams concorda com Honneth e Habermas que o reconhecimento
fornece um itinerrio promissor para a reconstruo ps-metafsica da losoa social e da tica, mas
refuta a tese de que o reconhecimento seja abandonado pelo Hegel maduro.
6
Em seu recente livro sobre a losoa poltica de Hegel, Honneth delineia um esboo de re-atualiza-
o de caracteres gerais do pensamento hegeliano. Este trabalho se compreende como uma tentativa
indireta de reconstruo, na medida em que, ignorando o que chama de atuais reservas metodolgica e
poltica para coma obra de Hegel, no tenciona uma reconstruo direta, ou seja , que pretendesse tor-
nar plausveis quer a lgica especulativa, quer o conceito substancial de Estado. Ao invs disso, Honneth
procura mostrar como a intersubjetividade latente no conceito hegeliano de eticidade que segundo
ele teria, num misto de Zeitdiagnose e Gerechtigkeitstheorie, um papel eminentemente teraputico em
relao s concepes essencialmente modernas da liberdade, mas unilaterais e monolgicas, tpicas
das esferas da pessoa jurdica e do sujeito autnomo, do direito e da moral pode, por meio da recu-
perao das relaes de reconhecimento recproco, representar ainda umrico lo para a atual losoa
poltica, mesmo para autores cuja teoria da justia tenha sido cunhada pelo modelo kantiano do princ-
pio universalista e formal da moral, como Habermas e Rawls. Para Honneth, tudo que Hegel tenha a di-
zer no tocante aos fundamentos epistemolgicos e normativos para seu prprio conceito de eticidade,
permanece oculto por detrs dos elementos de sua metodologia e de seu conceito de estado postos em
questo. Segundo Honneth, de acordo com o paradigma ps-metafsico de pensamento,nem o con-
ceito hegeliano de estado, nemseu conceito ontolgico de esprito . . . parecemainda hoje emdia serem,
de alguma maneira, passveis de reabilitao. O objetivo desta reconstruo indireta da atualidade da
losoa do direito de Hegel no quadro das discusses atuais no campo da losoa poltica e da loso-
a social demonstr-la como projeto de uma teoria normativa daquelas esferas de reconhecimento
recproco, cuja manuteno (Aufrechterhaltung) constitutiva para a identidade moral de sociedades
modernas. (Honneth 2001)
7
Em um texto sobre a Introduo das Grundlinien, Mller fornece uma interessante interpretao do
estatuto supra-individual do conceito positivo de direito que incorpora momentos da interpretao
de Theunissen e parece abrir, ao mesmo tempo, novas possibilidades de apreciao da obra de maturi-
dade e de aproximao coma discusso sobre a intersubjetividade feita emFrankfurt e Jena. Partindo da
anotao ao 29 e da crtica hegeliana compreenso negativa do direito defendida por Kant e Fichte,
Mller contrape o conceito positivo de direito, vinculado sua base substancial supra-individual
que rene as condies comunitrias da realizao da liberdade de todos, concepo formalista do
direito, que tem seu ponto de partida na multiplicidade atomista das vontades individuais e cujo sen-
tido comunitrio se v reduzido regulao legal formal pela coero recproca dos singulares. base
substancial (LFFD29) do sentido comunitrio ou positivo do conceito de direito, que se constitui pela
suspenso da vontade singular em seu arbtrio peculiar (LFFD 29A) implicada na contradio in-
terna do arbtrio, Mller relaciona a gura da universalidade imanente s vontades singulares, a qual
considera ser o ncleo normativo de uma sociabilidade positiva, um paradigma no limitativo ou ex-
cludente de intersubjetividade propiciado pela universalidade imanente da idia tica enquanto o bem
vivo(LFFD142). Mller considera que, nas Grundlinien, esta sociabilidade positiva se relaciona com
a sociabilidade negativa da concepo formal do direito como sua condio de possibilidade, isto ,
304 Erick C. de Lima
como substrato de relaes intersubjetivas orgnicas que torna possvel a socialmente necessria res-
trio recproca das esferas de liberdade.
8
Honneth temuma viso bastante diferenciada do desenvolvimento de Hegel emJena, principalmente
no que concerne s relaes entre sua teoria do reconhecimento e a teoria da eticidade. Por um lado,
Honneth consegue depreender seu modelo dos trs estgios de reconhecimento pelo qual se d o de-
senvolvimento histrico da eticidade diretamente do System der Sittlichkeit, mas parece lamentar o
fato de que Hegel no possua meios na poca para uma compreenso mais determinada de sua me-
diao de Fichte e Hobbes (Honneth 1992, p. 47). Por outro lado, Honneth lamenta tambm que, com
o apelo teoria da conscincia a partir de 1803, Hegel tenha eliminado do conceito de natureza todo
o seu signicado ontologicamente abrangente (Honneth 1992, p. 48), o qual passa apenas a signicar
o contraposto absoluto do esprito, isto , a natureza fsica e pr-humana. Honneth v nisso a estrutu-
rao terica da esfera da eticidade entregue ao processo de reexo do esprito, o que j aponta para
a sistemtica denitiva. Com respeito insero da teoria do reconhecimento, apesar de preservar a
relao tica do estado como ponto central da anlise reconstrutiva da eticidade, Hegel no pode mais
agora compreender o itinerrio de formao de uma comunidade estatal como um processo de desdo-
bramento conituoso de estruturas elementares de uma eticidade natural, originria. (Honneth 1992,
p. 49). Embora desde 1802 Hegel compreenda, diz Honneth, o movimento do reconhecimento sempre
como um meio de socializao e formao comunitria da conscincia universal pelo descentramento
das perspectivas excessivamente individuais, somente o System der Sittlichkeit mune este movimento
com a capacidade de gerar individualizao, isto , aumento das capacidades do eu (Honneth 1992,
p. 51). Omotivo para esta complexa modicao Honneth atribui ao arrefecimento da inuncia aristo-
tlica pela adeso ao programa de uma teoria da conscincia. Para Honneth, o mbito objetivo de sua
anlise reconstrutiva se compe no mais de formas de interao social, de interaes ticas, mas se
constitui de nveis de auto-mediao da conscincia individual (Honneth 1992, p. 52), de maneira que
tambmas relaes de comunicao entre sujeitos no podemser mais compreendidas como algo fun-
damentalmente prvio aos indivduos. Ao sacricar esta faceta, a teoria hegeliana do reconhecimento
acaba por perder sua caracterstica de histria da sociedade e passa a se compreender como formao
do indivduo para o universal social. (Honneth 1992, p. 52)
9
Para Wildt, enquanto Hegel desenvolve, no Systemder Sittlichkeit, sua teoria do reconhecimento a par-
tir de uma teoria do crime; a partir de 1803, a luta no se origina mais de um crime contra um estgio
prvio de relao comunicacional entre os indivduos, o que no signica, para Wildt, que, aliada sua
capacidade socializadora e geradora de normas, a teoria do reconhecimento perca, como quer Hon-
neth, sua capacidade de intensicao das capacidades individuais. Para Wildt, a diferena da teoria do
reconhecimento em sua nova verso em relao teoria do crime no est em que ela subtrai a leso
ao outro de qualquer vinculao normativa, mas que ela, seguindo o atalho que passa pelo conceito
de conscincia e a experincia da mesma em relao prpria morte, relaciona a temtica do crime
explicitamente problemtica da identidade do eu (Wildt 1983, p. 341)
10
Para Habermas, Kant pressuporia a autonomia individual como dado, isto , o caso limite de uma
pr-estabelecida coordenao dos sujeitos agentes, o que signica que exclui o agir tico (sittliches
Handeln) justamente do mbito da moralidade; pois a sincronizao prvia dos agentes no quadro
de uma intersubjetividade no rompida (bruchlos) proscreve do mbito da teoria dos costumes (Sitten-
lehre) o problema da eticidade (Sittlichkeit). Desta maneira, a interao se dissolve . . . em aes de
sujeitos solitrios e auto-sucientes, dos quais cada qual tem de agir como se fosse a nica conscincia
que existe; entretanto, pode ter, ao mesmo tempo, a certeza (GewiSSheit) de que todas as suas aes sob
as leis morais se coadunam necessariamente com as aes morais de todos os outros possveis sujeitos
. . . A relao positiva da vontade com a vontade do outro subtrada possvel comunicao e subs-
tituda por uma concordncia transcendentalmente necessria de atividades teleolgicas (Zweckttig-
keiten) sob leis abstratamente universais. (Habermas 1974, p. 7945)
11
Habermas diz: porque eu , exatamente neste sentido explicitado, identidade do universal e do sin-
gular, a individualizao de um recm-nascido, o qual , enquanto ser vivo pr-lingustico no corpo da
me, exemplar do gnero e, biologicamente, pode ser sucientemente explicado a partir de uma combi-
Normatividade a partir de socializao e individualizao 305
nao limitada de muitos elementos, somente pode ser compreendida como um processo de socializa-
o (Sozialisierung). Nestes termos, certamente, a socializao no pode, por sua vez, ser pensada como
sociabilizao (Vergesellschaftung) de umindivduo dado: ela mesma produz antes e primeiramente um
individualizado.(Habermas 1974, p. 7901)
12
Habermas se refere explicitamente a outro momento de sua obra (Habermas 1988).
13
Para Habermas, a funo das pretenses de validez normativa na coordenao das aes e, portanto,
a tese terico-social de que as formas de vida scio-culturais se constituem pela cooperao comu-
nicativa dos membros, cam evidentes ao se atentar para o fato de que os envolvidos em consensos
perturbados so levados conscincia de que a problematizao das pretenses somente podem ser
superadas cooperativamente. Com isto se conecta tambm a tese de isomora estrutural entre a pr-
tica comunicativa cotidiana e o discurso prtico, pois, ao entrarem em uma argumentao moral, os
participantes prosseguem seu agir numa atitude reexiva com o objetivo de restaurar o consenso per-
turbado. (Habermas 1989, p. 87) Seguindo a inspirao hegeliana comrespeito causalidade do destino
e a relao tica, Habermas entende que a reparao do acordo normativo perturbado consiste em as-
segurar o reconhecimento intersubjetivo para uma pretenso de validez inicialmente controversa e em
seguida desproblematizada ou, ento, para uma outra pretenso de validez que veio substituir a pri-
meira. Essa espcie de acordo d expresso a uma vontade comum.(Habermas 1989, p. 878) Deve-se
concluir, portanto, que dentre as pressuposies que o discurso comparte com o agir orientado para o
entendimento mtuo em geral esto, por exemplo, as relaes de reconhecimento recproco. (Haber-
mas 1989, p. 111) Tal carter comum permite a Habermas denir a controvrsia em torno de normas,
na medida em que esta afeta o equilbrio das relaes de reconhecimento, como sua prpria verso da
luta por reconhecimento (Habermas 1989, p. 128).
14
Para Habermas, a possibilidade de processos de aprendizagemest vinculada pela transcendncia da
prtica comunicativa cotidiana ocasionada pelos pressupostos idealizadores inseridos no meio lings-
tico que estrutura as formas de vida (Habermas 1997, p. 21)
15
Em Faticidade e Validade, Habermas pretende empreender a comprovao da tese seminal que pa-
rece ter voltado sua trajetria intelectual para o problema do direito, a saber: a tese de que, sob pontos
de vista funcionais, a gura ps-tradicional de uma moral orientada por princpios depende de uma
complementao atravs do direito positivo. (Habermas 1997, p. 23) Apesar de esta tese da comple-
mentaridade ter sido tematizada no texto programtico de sua losoa do direito, as chamadas Tanner
Lectures, Habermas adverte o leitor, na introduo de Direito e Democracia, que no compreende mais
a complementaridade no mesmo sentido de em que a estabelecera em ns da dcada de 1980.
A RAZO DO DIREITO EM HABERMAS
GIOVANNE BRESSAN SCHIAVON
UFSC/UEL/PUC-PR/Faculdade Paranaense
ghbs2002@yahoo.com.br
1. Introduo
Se a losoa reete o qu pode ser conhecido, tal saber expresso na comunicao
entre sujeitos que conhecem. Na Modernidade, os lsofos apontam que, mesmo de
modo inconsciente, cada poca possui conceitos prprios ao seu modo de viver. Esse
modelo de racionalidade, implcito na linguagem, tende a ser universalizado e inu-
enciar os indivduos, posto que estes interpretam sua realidade a partir dessa com-
preenso.
Na Modernidade, dentre os vrios instrumentos de controle social, o ordenamen-
to jurdico destaca-se com a armao de sua obrigatoriedade a partir da coao es-
tatal. Neste texto, apresenta-se que se a obrigatoriedade do direito, soluciona o pro-
blema da indeterminao cognitiva objetiva (ou seja, a questo do qu deve guiar
as condutas). Por outro lado da simples armao de que o direito guia as condutas
sociais no decorre o conhecimento de seu contedo.
Neste momento, o contedo do direito passa a ser determinado caso a caso. Ha-
bermas inicialmente vislumbra no ordenamento jurdico um modelo de dominao
viciado pela racionalidade instrumental. A exemplo de outros modelos de conduta
sociais, operaria exclusivamente atravs de um juzo de adequao entre expectati-
vas e possibilidades (clculo custo x benefcio).
Como amadurecimento de sua obra, o direito temseu papel revisto e aumentado.
Alm de ser compatvel com a racionalidade instrumental, o ordenamento jurdico,
tambmoperaria por uma racionalidade normativa, de cunho comunicativo. Nos es-
treitos limites deste texto pretende-se primeiro caracterizar o desencanto de Haber-
mas com o direito, para depois apresentar o seu reencantamento a partir da reviso
da relao direito e moral. O que lhe possibilita propor a reconstruo da metodolo-
gia do direito.
2. Odesencanto coma teoria do direito
A relao direito, moral e poltica, um dos temas analisados por Jrgen Habermas
em sua ampla obra losca. Um marco de sua contribuio ao debate se deu com
a publicao da obra: Theorie des kommunikativen Handelns (1981) [Teoria da Ao
Comunicativa].
Nessa, apresenta que na Modernidade a razo no pode mais fundamentar-se no
transcendente como se fosse necessrio para possibilitar a experincia e a comunica-
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 306318.
A razo do Direito em Habermas 307
o humanas. Muito pelo contrrio, arma que a razo moderna existe para o homem
de modo comunicativo, fundando-se no entendimento.
Deste modo, pode-se associar suas premissas tradio sociolgica europia, pe-
rante a qual, no mais possvel a armao da existncia de um modelo nico de
comportamento apto a explicar a tomada de decises individuais. Arma, aps ex-
tensa argumentao terica, que uma sociedade com um ethos comum s seria
possvel no que Max Weber denomina como sociedades tradicionais, ou seja, na-
queles grupos que possuem uma conscincia comum.
Ocorre que, com a Modernidade as teses tradicionais aptas a assumir posio
como umconhecimento totalizante so rompidas. No h mais uma religio comum,
o poder poltico no se ajusta ao divino e a obedincia no se vincula ao carisma. As-
sim, se as sociedades tradicionais se fragmentaram, ao tempo que certos saberes se
especializaram, as condutas deixaramde ser enquadrveis numa dada racionalidade.
Por exemplo, o conhecimento cientco se especializou a ponto de tornar-se acessvel
a poucos iniciados. O mesmo ocorrendo com o direito, a arte, a economia etc.
Embora Max Weber no chegue a falar num sistema com autonomia completa,
Niklas Luhmann e Talcott Parsons armam que esses saberes se transformaram em
verdadeiras estruturas especializadas, denominados de subsistemas. Cite-se o caso
do direito, no qual a armao da autopoiese faz com que a cincia do direito arme
a sua autonomia cerrando emseus postulados todos os elementos necessrios para a
sua explicao. Aos advogados, juzes e promotores s resta aceitarem esses dogmas
e cumprirem as regras tcnicas. Vale indicar que isso ocorre tambm com os subsis-
temas mercado, poltica, artes etc.
Habermas constata que ao indivduo resta um pequeno espao de autonomia
denominado de mundo da vida que no chega a se especializar (at porque se as-
sim fosse esse no seria acessvel a todos). O mundo da vida o espao dos valores
tradicionais, uma situao na qual as pessoas agem livremente visando o entendi-
mento. Enquanto que cada subsistema, possui seu prprio padro, ou racionalidade,
pautados de modo teleolgico, ilustrado pelo clculo custo X benefcio. Da porque
o mundo da vida deve ser analisado a partir de uma racionalidade comunicativa que
lhe prpria.
Na modernidade, Habermas identica que os subsistemas mercado (com sua -
nalidade econmica) e poltica (visando o poder) so os mais inuentes e terminam
por interferir nos outros. De um lado, os defensores do livre mercado argumentam
que esse subsistema tem a capacidade de se regular e produzir riqueza para todos.
Em outro extremo h aqueles que sustentam que o subsistema poltica deve elimi-
nar as disfunes do mercado. Vislumbra que o mundo da vida se v cada vez mais
invadido, ora pelo mercado, ora pela poltica, ou por algum subsistema que se auto-
nomizou, como o prprio direito.
H um mundo tcnico que intervm no mundo da vida. Parece que a moderni-
dade se tornou cindida e irreconcilivel consigo prpria. Enm, a obra Teoria da
Ao Comunicativa expe um desencanto, quanto sociedade moderna, atomi-
308 Giovanne Bressan Schiavon
zada, inidividualista, perante a qual as relaes sociais so funcionais e desperso-
nalizadas.
3. Republicanismo e comunitarismo
No pensamento anglo-americano das trs ltimas dcadas, as mesmas diculdades
foram percebidas, porm com resultados mais promissores, no sentido de oferecer
alternativas para a soluo do impasse.
Orepublicano e o comunitarismo criticamo grande destaque conferido pelas teo-
rias liberais capacidade individual de alcanar o consenso e agir conforme esse.
Atravs do republicanismo/comunitarismo prope-se a substituio da razo prtica
de cunho individual por uma razo prtica fundada na soberania popular.
Antes de se conceituar esses modelos normativos de democracia, faz-se neces-
srio esclarecer o conceito de soberania popular por esses adotado. Com apoio em
Jrgen Habermas recorda-se que o conceito de soberania formulado por Jean Bodin
como poder absoluto, irrenuncivel e perptuo foi apropriado por Rousseau e trans-
formado no autodomnio de sujeitos livres e iguais:
Segundo a concepo republicana, o povo, ao menos potencialmente presente,
o portador de uma soberania que em princpio no pode ser delegada: em sua
qualidade de soberano, o povo no pode ser representado. O poder constituinte
se restringe na prtica da autodeterminao dos cidados, no de seus represen-
tantes (Habermas 1999, p. 2445).
A cidadania deve se envolver em todos os problemas de modo ativo e h necessi-
dade do reconhecimento de que alguns valores devem, obrigatoriamente, ser impos-
tos ao grupo social. H que se ter emconta, tambm, que esta reivindicao agrega-se
ao indicado desencanto do mundo e se desenvolve a partir de perspectivas diferen-
tes. Pea Echeveria identica duas tendncias bsicas: uma centrada na identidade
e outra direcionada contra a rgida separao da autonomia individual em pblica e
privada (Pea Echeveria 1996, p. 7).
A primeira perspectiva comunitarista critica a concepo abstrata e homo-
geneizadora da sociedade moderna. A qual parece no reconhecer o papel do con-
texto comunitrio na Constituio e manuteno da identidade dos sujeitos. Arma
que sem a referncia a tradies e valores, torna-se impossvel conferir coeso e sen-
tido vida humana.
Como exemplo de autores que possibilitaram a armao do comunitarismo
tm-se Aristteles e Charles Taylor. Para Aristteles uma ao eticamente correta
quando no se distanciar dos costumes da plis. Por exemplo: tem-se o covarde, o
corajoso e o temerrio. Aristteles ensina que no deve-se pecar pelo excesso, logo ser
corajoso o virtuoso. S existe virtude com referncia aos valores da comunidade.
A outra perspectiva republicana denuncia a dissociao liberal entre o pri-
vado e o pblico, e prope a armao de uma comunidade democrtica de cidados
A razo do Direito em Habermas 309
baseada na participao ativa e solidria. O republicanismo a concepo defensora
da necessidade da estrutura poltica e jurdica para organizar a sociedade e indicar os
conceitos de bem, de moralmente correto, de comunidade.
Nesse modelo, h necessidade de uma cidadania que esteja pronta a colocar em
primeiro plano os interesses sociais. Cidados que estejam dispostos a deixar de lado
seus afazeres pessoais para se envolver nas questes sociais por solidariedade. Da
armar uma esfera pblica ampliada.
A tradio republicana, partindo de Hegel na obra Filosoa do direito (1821),
sustenta a existncia de certos valores que no podem ser desprezados. Esses valores
devem ser incorporados pelo Estado e aplicados, mesmo que de modo autoritrio.
Assim concilia o conjunto de valores com as instituies de uma identidade moral
real. A obra de Hegel entendida como expresso da busca por uma identidade co-
munitria. OEstado deve ser organizado conforme o esprito da poca. A eticidade
substancial o contedo que informa a comunidade e que varia conforme as con-
dies histricas e/ou sociais (dialtica hegeliana). De sorte que, o republicano, se
pauta nos valores sociais e resulta num civismo acentuado.
Como pilares do comunitarismo e do republicanismo, tm-se que estes: Em um
primeiro momento, ampliam a soberania popular a ponto de que, seus valores, so
elevados categoria de fundamento do Estado e do direito. A partir dos valores con-
fere-se identidade aos indivduos e s instituies.
Umsegundo pilar, a armao da virtude cidad de modo que, o cidado deve
sempre participar das questes pblicas e resguardar seus valores. Isso porque o co-
munitarismo compatvel com o conceito positivo de liberdade. A partir do qual h
liberdade quando as aes so guiadas pelas mximas que o sujeito prprio elabora.
O terceiro pilar est na substituio da igualdade formal liberal, por um para-
digma material. Na medida emque a igualdade formal injusta por no corresponder
a uma realidade material. A lei deve ser contextual, ser particularizada. Deve adotar
uma discriminao positiva.
Como crtica a materializao do direito, Max Weber j apresentava que, ao se
privilegiar minorias, estar procurando solucionar problemas morais por meio do di-
reito e o Estado no deve tomar parte de questes morais. Entretanto, os defensores
da igualdade material, poderiam contra-argumentar que a sua busca por identicar,
destacar as potencialidades de cada um visa dar efetividade igualdade buscada pe-
los liberais no sc. XVII e XVIII.
Da porque Pea Echeveria interpreta que o republicanismo e o comunitarismo
vinculam razoprtica a uma soberania popular completamente consciente de seus
valores e absolutamente livre (Pea Echeveria 1996, p. 134). Contudo isso s ob-
tido com a destruio de todo particular ou positividade preexistente. Assume-se,
assim, o risco de que algum chame para si a pureza da universalidade e a partir dela
restrinja toda a individualidade. O republicanismo parece propor a integrao social
a partir da renncia da subjetividade individual, j que se exige do cidado delidade
patritica e se lhe nega capacidade de determinao. Por isso termina por voltar-se
310 Giovanne Bressan Schiavon
para o que , para um projeto de vida moral real, em vez de manter-se na oposio
innita entre ser e dever ser da moralidade kantiana.
4. Estado de direito e democracia
O ingresso de Habermas no contexto terico do mundo anglo-saxo se d com a
obra Faktizitt und Geltung (1992) [Direito e democracia: entre facticidade e vali-
dade]. Nesta, aperfeioa sua explicao do direito enquanto subsistema que coloniza
o mundo da vida e expe a possibilidade de que a criao e aplicao das normas
jurdicas se d pela racionalidade comunicativa a partir da adoo de metodologia
procedimental. Toma por certo que se pode haver cumprimento do direito por obri-
gao, por igual poder se obtido por convico. Nessa linha de raciocnio, o direito
no mais tido como mero resultado de um poder, mas como expresso de uma or-
ganizao social (resultado de uma poltica deliberativa).
A argumentao habermasiana, visa provar um nexo conceitual ou interno entre
Estado de Direito e Democracia, o qual no s histrico ou casual, mas tambm
funcional e sociolgico. Essa compreenso do direito contempla que os pressupostos
comunicativos e as condies do processo de formao democrtica da opinio e da
vontade so a nica fonte de legitimao para sociedades cujos saberes se autonomi-
zaram.
Na explicao tradicional, o direito essencialmente uminstrumento de controle
social que delimita o espao de ao individual ou coletivo da pessoa de modo certo.
Em termos mais formais, determina uma esfera de autonomia da pessoa ou mais
simplesmente, sua liberdade. Raramente os direitos so absolutos. Isso porque coma
modernidade passou-se a considerar que o Estado de Direito uma estrutura na qual
a pessoa conhece de antemo seus direitos e deveres e suas garantias. Nesta perspec-
tiva o ordenamento jurdico limita-se funo de segurana jurdica.
Na Modernidade, a maioria das pessoas concorda que o mbito dos direitos in-
dividuais est limitado pelos direitos dos outros. Motivo pelo qual, tem-se o direito
de fazer tudo o que no for proibido por uma lei. Os direitos esto relacionados com
deveres. Sempre que algum tiver um direito, outra pessoa ter o dever de respeit-
lo. Um dever legal uma obrigao de fazer coisas especcas pagar impostos, por
exemplo. Odireito diz respeito quilo que foi arranjado pelo Estado, ou comseu con-
sentimento, para regular a vida comum.
5. A relao direito e moral
certo que, com o fenmeno da positivao, a produo e a aplicao do direito (es-
crito ou costumeiro) regulado por regras (escritas) obrigatrias adotadas por um
povo organizado em um territrio. A organizao estatal moderna monopolizou nos
seus rgos componentes a produo e aplicao do direito, resolveu o problema da
A razo do Direito em Habermas 311
indeterminao cognitivo-objetivo (a questo quanto ao qu deve inuenciar a con-
duta) mas no o cognitivo-subjetivo (como selecionar o contedo dessa regra).
Para a soluo do problema cognitivo-subjetivo, pode-se dividir o pensamento
losco jurdico empelo menos duas perspectivas: 1) vinculao do direito moral,
o qual prope que a ao jurdica seja explicada pelo dever; 2) separao do direito
moral, para a qual a lei um fato social, ou seja, uma instituio criada pelo homem
com a nalidade de determinar as condutas e imposta pela coao estatal.
Aarmao da separao do direito e moral conduz a trs caminhos: a) uma pers-
pectiva negativa: a armao da que a dominao exercida pelo direito um projeto
do grupo social mais inuente como um meio para perpetrar a dominao sobre as
massas; b) uma perspectiva neutra: que sustenta que o direito composto por um
conjunto de regras tcnicas a serem aplicadas de modo neutro e imparcial; c) uma
perspectiva positiva: a qual pretende que o direito seja explicado como um meio de
aprimoramento das relaes entre seres humanos.
Na primeira perspectiva, muitos pretenderam encontrar o contedo das regras
jurdicas incrustados emvalores morais. Posto que, no pensamento kantiano a moral
cuida do conjunto de questes que pertinem a todos os sujeitos em qualquer tempo
e lugar e contm o modo pelo qual uma pessoa deve tratar outra (o que no signica
que sua existncia esteja vinculada com sua observncia, ou seja, a determinao
moral vlida ainda quando no seja seguida).
Todavia, a vinculao direito e moral no uma opo tranqila. Habermas no
Posfcio de Faktizt und Geltung apresenta que a absoluta vinculao do direito
moral no possvel porque:
1) o universo moral por no possuir fronteiras sociais ou histricas, abrange to-
das as pessoas naturais; enquanto que uma comunidade jurdica protege somente os
integrantes de sua ordem, delimitada no espao e no tempo;
2) as regras morais obrigam, o comportamento externo e se impe em foro n-
timo; o direito, por sua vez s se preocupa como comportamento externo e para tanto
possui fora coativa que lhe confere forma impositiva;
3) o direito possui uma estratgia mais complexa que a da moral, porque: a) pos-
sibilita o debate e, ao mesmo tempo, restringe a liberdade de ao (com orientao
simultnea em valores e interesses); b) confere uma forma impositiva a objetivos e
programas coletivos (Habermas 1997, v. 2, p. 3123).
Se a distino entre o justo e o injusto no est vinculada a uma moral universal.
A segunda perspectiva traz a questo: a quem compete estabelecer o que justo ou
injusto? Alguns, anados com a tradio hegeliana, pretenderam vincular a obriga-
toriedade do direito institucionalizao do comportamento socialmente adequado,
identicado com a perspectiva tica. Cumpre esclarecer, diferente da moral que
transcende ao grupo, uma tica ca restrita a interpretao que este elabora sobre
a idia de vida boa (modo de vestir, alimentar . . . ). Neste sentido, Ronald Dworkin
explica que a tica inclui convices sobre qu tipos de vida so bons ou maus para
uma pessoa (Dworkin 1996, p. 135).
312 Giovanne Bressan Schiavon
As teorias ticas do direito surgemda percepo de que a sociedade heterognea
e pluralista, repartida em classes e grupos, cujos conitos e lutas de interesses so os
mais contraditrios possveis. Assim no se permite mais explicar as normas como
resultado de umcontrato social, no qual o grupo abre mo de sua liberdade emprol
do Estado.
Isso porque, em um mesmo grupo social h mltiplas concepes de vida boa e
mesmo de justia. Motivo pelo qual a estabilidade das normas se torna problemtica.
Nesse contexto de convir que a metodologia clssica tivesse de ser substituda (ou
modicada) por regras interpretativas correspondentes concepes mais dinmi-
cas, que contemplassem essa nova compreenso da sociedade.
Nesse sentido, o ordenamento no existe de forma sistemtica. O sentido da lei
depende da interpretao judicial. Mesmo que o juiz pretendesse encontrar uma ni-
ca deciso correta na lei, a existncia de princpios contraditrios no permitiriam.
Aqui, possvel a denncia de que os juzes ao julgar protegem interesses prprios
ou de um grupo social.
Contra aqueles que armam a absoluta separao do direito e moral, Habermas
reconstri a compreenso tradicional da sociedade em prol da racionalidade comu-
nicativa dos modernos. Para tanto rma a noo de que o direito deve ser elaborado
e aplicado discursivamente. Ou seja, a noo absoluta de justia ser identicada nos
vrios argumentos expressos na comunicao cotidiana do mundo da vida. Ento,
torna-se possvel uma explicao alternativa para a relao direito e moral.
O discurso social passa a ser descrito como procedimento que possibilita ao gru-
po resgatar o direito como instrumento que possibilita a vida em sociedade, com os
seguintes argumentos:
1) Embora a necessidade do direito derive do aparecimento de um conito de
interesses situao que exige uma ordem de validade objetiva reconhecida como
justa, para restabelecer a paz social Habermas argumenta apesar do conito, ou
mesmo, em razo de sua existncia, as partes teriam interesse na sua resoluo e
estrategicamente, de maneira inconsciente, fornecem elementos aptos ao consenso.
Ao julgador (aplicador do direito) caberia captar esses argumentos e proferir o jul-
gamento imparcial, sem necessidade de recurso a uma moral metafsica para justi-
c-lo;
2) Sobre a crtica de que, com o direito desvinculado da moral correr-se-ia o risco
da indeterminao. Ou seja, uma vez que os discursos em condies ideais podem
no ter m, ou mesmo porque as regras do discurso podem no ser sucientemente
seletivas para possibilitar uma nica sada correta. Aqui, Habermas prope a com-
plementao da interpretao do direito por argumentos especiais (morais, ticos e
pragmticos) os princpios. Tais especicam as condies gerais do processo de dis-
cursos prticos-morais em relao ligao com o direito vigente;
3) Sobre a crtica da impossibilidade da adoo desses princpios gerais, pois o
direito no um todo coerente. Habermas concorda que o discurso social e as regras
jurdicas podem espelhar teorias polticas e argumentos contraditrios. Porm se o
A razo do Direito em Habermas 313
direito composto por regras e muitas das quais no podem ser identicas como
componentes de umtodo coerente, sua aplicao deve ser sempre coerente. Havendo
a necessidade de se buscar no a nica deciso correta, mas a melhor deciso possvel
(Habermas 1997, v. 1, p. 2889).
Ento, para Habermas, o direito compatvel com o procedimento argumenta-
tivo, que expressa a intersubjetividade das relaes sociais. Faz eco aos estudos de
J. L. Austin e J. Searle, para os quais, quando de seus estudos sobre o sentido da lin-
guagem, o ato de fala induz seu prprio signicado. As palavras podem fazer coisas.
Toda vez que determinadas palavras so utilizadas constitui-se em verdadeiro agir. A
pragmtica lingstica sugere que devemser diferenciadas as expresses, os enuncia-
dos, a partir de suas pretenses: descritiva, expressiva e normativa.
6. Validade do direito e espcies de normas jurdicas
A pretenso de validade quando relacionada como mundo objetivo, temuma pre-
tenso descritiva que confrontar o critrio de verdade ou de falsidade. Note que a
linguagem que passvel de verdade ou de falsidade, no o ser. Quando relativa ao
mundo subjetivo, do ser, a linguagem possui pretenso expressiva; toda vez que o
enunciado refere-se a um estado interno h pretenso de validade expressiva. Esta
ter como critrio a sinceridade ou no sinceridade. Por m, o mundo social contem-
pla a pretenso normativa da linguagem; a qual enuncia parmetros de correo ou
no correo.
Isto posto, inicia-se o estudo da norma jurdica pelo seu conceito. Pode se con-
ceituar norma jurdica como a proposio enunciada numa forma aceita ou imposta
pelo poder pblico (direito interno) ou pelas pessoas de direito internacional (direito
internacional) como fundamento de um direito ou obrigao legtima.
O primeiro aspecto a ser destacado deste conceito a armao de que a norma
expressa uma proposio e a conseqncia dessa assertiva. Por proposio entende-
se o signicado do juzo realizado a partir de um conjunto de palavras (enunciado).
Desse modo Hans Kelsen pde distinguir proposio de enunciado. Um enunciado
a forma gramatical e lingstica pela qual umdeterminado signicado expresso. Por
isso a mesma proposio pode ter enunciados diversos, e o mesmo enunciado pode
exprimir proposies diversas.
Ao contrrio, como mesmo enunciado pode-se exprimir, emcontextos e circuns-
tncias variveis, proposies diversas. Por exemplo, quando se diz, voltando-se para
umamigo: Gostaria de beber uma limonada, pretende-se exprimir umdesejo e alm
disso conferir ao amigo uma informao sobre o estado de esprito; se se dirigem as
mesmas palavras para uma pessoa que est atrs do balco de um bar, no se pre-
tende expressar um desejo nem lhe dar uma informao, mas impor-lhe uma deter-
minada conduta. Enquanto no primeiro uso da expresso previsvel, por parte do
amigo, a resposta: Eu tambm; a mesma resposta por parte do segundo interlocu-
tor seria quase uma ofensa.
314 Giovanne Bressan Schiavon
Ento, pode-se armar que a norma jurdica uma estrutura proposicional, posto
que o seu contedo pode ser enunciado mediante uma ou mais palavras entre si cor-
relacionadas, sendo certo que o signicado do enunciado por uma norma jurdica s
dado pela interpretao das proposies que nela se contm.
A partir dessa primeira explicao algumas observaes j so possveis, quando
se diz que uma norma jurdica uma proposio, quer-se dizer que um conjunto
de palavras que tm um signicado. O que interessa ao jurista, quando interpreta
uma lei, o seu signicado. Como uma proposio em geral pode ter um signicado,
mas ser falsa, tambmuma proposio normativa pode ter umsignicado e ser falsa.
Porm, essa anlise de verdade ou falsidade, refere-se a um juzo de adequao da
proposio como contexto de proferimento e no umjuzo de se o que foi dito repre-
senta um fato ou objeto. Exemplo, na linguagem descritiva quando se diz banana,
quer se representar uma fruta. Emlinguagemprescritiva quando se diz que quieto
pretende-se provocar um comportamento, o que pode ou no ser adequado.
Ento, o positivismo jurdico kelseniano quando desliga o direito da moral e pos-
sibilita a armao de que as proposies normativas, se diferenciam das proposi-
es descritivas, uma vez que, as proposies descritivas utilizam o critrio de ver-
dade ou falsidade de modo diferente da proposio prescritiva, (pela qual se distin-
gue proposio verdadeiras e vlidas de proposies falsas ou invlidas) e por isso o
sentido adequado da norma jurdica s aparece com o juzo de interpretao.
Um segundo aspecto do conceito de norma jurdica obrigao legtima, fora
recordar que perante o direito da Modernidade uma norma existe quando houve ob-
servncia de um determinado procedimento e quando seu contedo seja adequado
ao conjunto normativo. Nesse sentido, arma-se que esse juzo pode receber explica-
es distintas conforme se modique a perspectiva de anlise.
Se para as teorias que vinculam o direito com a moral, s obrigatria a con-
duta adequada ao senso de justia, para as teorias que os separam, s obrigatria
a conduta enunciada numa forma prescrita e imposta pelo Estado ou que prevalece
socialmente.
O positivismo demonstrou que toda norma, seja moral, tica ou jurdica impe-
rativa por sempre signicar uma denio de certo e errado e assim expressar uma
pretenso de comandar condutas. Nesse sentido a norma jurdica distingue-se das
outras espcies normativas porque somente essa imposta pela fora, somente essa
garantida por uma sano externa e institucionalizada.
Mas da no decorre a concluso de que norma vlida a norma efetivamente
seguida numa determinada sociedade. Ora, o estudo e aplicao do direito se do
sobre um conjunto de comandos e o problema da real aplicao desses comandos
objeto de outro grupo de estudos, da sociologia. Por isso arma-se que a efetividade
da aplicao no requisito da norma jurdica.
Para Habermas, alm de ser dotada de coao, o que efetivamente caracteriza
uma norma jurdica, o fato de ser uma estrutura enunciativa de uma forma de or-
ganizao ou de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatria. Se
A razo do Direito em Habermas 315
no modelo positivista a diferena entre normas formal, no aspecto de que uma (pri-
mria) determina um dever s pessoas, ao tempo em que, outra (secundria) estabe-
lece poderes e diz respeito identicao, alterao e aplicao das regras primrias.
Na obra de Habermas o gnero norma abrange duas espcies: regras e princpios. As
regras so normas que j prevem sua hiptese de aplicao, destinadas a comandar
diretamente as condutas tal estatal, qual das pessoas. Enquanto que os princpios so
normas mais gerais e abstratas que representamos valores incorporados ao conjunto
normativo e desempenham uma funo de otimizao no conjunto normativo.
Consideradas do ponto de vista de sua forma, ou modo de exteriorizao de seu
contedo, as normas de direito ora se revelam como ordens (mandamentos que ga-
rantemumdeterminado espao de ao), ora como diretrizes, princpios ou preceitos
meramente dispositivos. Nos dizeres de Robert Alexy a distino entre regras e prin-
cpios constitui-se numa chave para a soluo de problemas centrais do estudo das
normas e do direito (Alexy 1997, p. 812).
Sobre as perspectivas metodolgicas, cumpre observar que: a proposta da vin-
culao do direito com a moral padece de diculdades at agora no solucionadas,
uma vez que, na modernidade no existem mais modelos de justia universalmente
vlidos. Por outro lado, a proposta da estrita separao entre direito e moral, por con-
siderar como requisito da norma jurdica unicamente a imperatividade, termina por
vincular o conceito de norma exclusiva atuao estatal sob a promessa de produo
de enunciados normativos certos e determinados. Isso na prtica resultou na defesa
da legalidade em detrimento da legitimidade do direito.
Habermas prope a conciliao destas perspectivas com a armao de que vali-
dade jurdica um conceito que deve ser vinculado atuao do Estado garantindo
que a maioria das pessoas obedea s normas: a) mesmo que isso implique o em-
prego de sanes; ou, b) por meio de pressupostos institucionais se vincule os desti-
natrios das leis sua produo (surgimento legtimo da norma) para que ela tam-
bm possa ser seguida a qualquer momento por convico (1997, v. 2, p. 308).
Vale ressaltar, que no parece correta a armao comumente associada teoria
positivista de que uma ordem jurdica possa se sustentar somente por coao ou na
ameaa de sano. O direito procedimental no despreza o dado social (particular
seleo de regras sustentadas pelo poder coercitivo) porm o direito no obtm obe-
dincia fundando-se somente em mera coero, ou ameaa de sano, mas tambm
na sua legitimidade.
Assim, a compreenso do direito passa a se mover sob dois princpios fundamen-
tais: segurana jurdica e o da legitimidade (adequao idia de justia).
7. Princpios funcionais do direito
Odireito, pelo princpio da segurana jurdica deve ser uma fora que se impe na so-
ciedade o que (por via de conseqncia) gera uma certa previsibilidade das condutas.
Joseph Raz arma, por exemplo, que o Estado de direito signica uma organizao
316 Giovanne Bressan Schiavon
em que todos so iguais perante a lei e todos sabem qual sua situao perante a
lei, sabendo o tratamento que podem esperar se assumirem um comportamento ou
outro (Kukathas e Pettit 1995, p. 37).
Pelo outro princpio, o da legitimidade, destaca-se que essa fora pode surgir de
seu reconhecimento como justa, ou seja independente do aparato estatal, mas sim
de sua identidade com a justia.
No raro, quando da interpretao da norma jurdica, a segurana jurdica (coe-
rncia sistmica) obtida emdetrimento da idia de justia. Nesse sentido, pretender
descobrir a resposta correta em um julgamento jurdico signica responder primeiro
se isso possvel e depois como se conciliar esses dois princpios.
Cada concepo, ou teoria sobre o direito, tende a valorizar um princpio em de-
trimento do outro, aqueles que separam o direito da moral valorizam a segurana
jurdica, os que os associam valorizam a justia. Com a proposta da interpretao a
partir de princpios busca-se solucionar o problema de legitimao do direito sem
descuidar da segurana jurdica.
Melhor dizendo, a partir do momento que se adota uma perspectiva de que o di-
reito deve ser resultado da participao da sociedade e de que a funo do Estado
intermediar as relaes, a norma jurdica, ento, ser vlida quando desempenhar
esse papel. Motivo pelo qual o conceito de legitimidade deixa de assumir uma expli-
cao formal e passa a ser tido como um conceito material.
A coerncia sistmica, to almejada pelo positivismo jurdico, no ser conhecida
de antemo. Pelo contrrio, ser obtida a posteriori pelo juiz luz do caso concreto,
nunca se conhecer a resposta (ou interpretao) correta antes da situao real ser
apresentada ao juiz. Uma norma legtima quando houver reconhecimento social da
adequao do seu contedo como conceito de justo discursivamente compartilhado.
Cabe enfatizar que o Discurso de que fala Habermas parte daquilo que ele pr-
prio denomina uma situao ideal de fala e que, na maioria das vezes, nos discursos
reais que ocorrem nem todos esses pressupostos so cumpridos. Talvez o no cum-
primento destes pressupostos seja uma das causas de tantas situaes reais de fala
conduzirem a conitos e no ao consenso, isso sem contar o ressentimento advindo
de uma expectativa quebrada e que pode culminar com atos violentos por parte de
indivduos e at mesmo de naes.
Entretanto, ca evidenciado na reexo habermasiana, e algo similar pode ser
dito de Kant, que a denio das condies de vida em sociedade e de suas respecti-
vas regras so um processo necessariamente argumentativo, sem coao e, portanto,
no violento.
8. Concluso
Nesse sentido, a moral discursiva, ao lado da tica e dos enunciados descritivos, um
dos elementos a considerar no momento de criao e aplicao do direito. Arma
A razo do Direito em Habermas 317
ento que os princpios jurdicos resultado de incorporao ao direito de projetos
deliberados socialmente, devem ser considerados quando da aplicao das regras.
Vale destacar, os cidados passam a ser entendidos no s como destinatrios,
mas tambm como autores das normas jurdicas. A liberdade da pessoa no se res-
tringir ao espao determinado pelos direitos subjetivos descritos nas regras de di-
reito, mas reside em conduzir-se criticamente tanto frente a condutas alheias quanto
s prprias.
Desse modo, Habermas no fundamenta o direito exclusivamente na coero e,
tambm, no o vincula subjetivamente moral. O agir jurdico explicado pelo en-
tendimento. E por meio deste o direito capaz de mediar as relaes entre os sub-
sistemas e preservar as relaes cotidianas. Aylton Barbieri no 2
o
seminrio interna-
cional de losoa poltica e jurdica identicou aqui o papel imenso conferido ao di-
reito no livro Faktizitt und Geltung. Destacou que, se os subsistemas especializados
cada vez mais intervemno mundo da vida das relaes cotidianas, tal coma invaso
dos termos tcnicos, qual com a armao de uma verdade inquestionvel em suas
proposies. O subsistema jurdico ao disciplinar as relaes entre os subsistemas e
mundo da vida termina pode lhe proteger. A soberana vontade popular, origem do
direito, deve assumir a possibilidade de intervir nos subsistemas (mercado, poltica
etc.).
Essa abordagem similar ao positivismo jurdico, em seu projeto de desvincu-
lar a explicao do direito de um contedo metafsico (os valores do jusnaturalismo,
por exemplo). Mas, em vez de vincular o direito sua utilidade de modo neutro ou
imparcial, apresenta que a validade do direito deve se dar atravs da aplicao das
regras jurdicas a partir de princpios hermenuticos obtidos por um procedimento
reconhecido por todos e que reproduzam os objetivos e as funes do direito. Esse
procedimento no ser neutro, nem imparcial, e surgir com a percepo de que o
Estado e o direito devem ser utilizados para promoo de uma sociedade desejvel.
Intrprete dos tempos atuais, Habermas continua sua obra de enfrentamento
com os cticos quanto ao projeto emancipatrio da modernidade, argumentando
que a racionalidade comunicativa pode ser incorporada ao trabalho jurdico. Isso por
meio do debate sobre temas prementes da sociedade e do direito. Como por exemplo,
o fenmeno poltico da modicao do conceito de soberania, a emergncia da revi-
so da teoria constitucional e, por m, a internacionalizao dos direitos humanos.
Referncias
Alexy, R. 1997. Teoria de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzn Valds. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales.
Dworkin, R. 1996. La comunidad liberal. Trad. Claudio Montilla. Santaf de Bogot: Siglo del
Hombre Facultad de Derecho Universidad de los Andes.
Habermas, J. 1997. Direito e democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flvio Beno Siebe-
neichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2 v.
318 Giovanne Bressan Schiavon
. 1999. La inclusin del otro: Estudios de teora poltica. Trad. Juan Carlos Velasco Arroyo e
Gerard Vilar Roca. Barcelona: Paids.
Kukathas, C. e Pettit, P. 1995. Rawls Uma teoria da justia e os seus crticos. Trad. Maria Car-
valho. Lisboa: Gradiva.
Pea Echeveria, J. 1996. Identidad comunitaria y universalismo. Crtica [UEL/PR] 2(5): 554.
A RELAO ENTRE DEVER E INCLINAO NA PRIMEIRA SEO DA
FUNDAMENTAO DA METAFSICA DOS COSTUMES
JOEL THIAGO KLEIN
Universidade Federal de Santa Maria
jthklein@yahoo.com.br
A tica kantiana frequentemente caricaturada como uma proposta racionalista to-
talmente desvinculada da realidade sensvel, logo, como completamente alheia rea-
lidade humana. Apureza exigida por Kant no processo de busca e xao do princpio
da moralidade fortalece uma srie de preconceitos nos crticos da losoa kantiana.
Paradoxalmente, uma grande fonte de mal entendidos so os exemplos fornecidos
por Kant no intuito de esclarecer sua posio. No intuito de esclarecer em que con-
siste o valor moral de uma ao e de que forma as inclinaes sensveis podemou no
se relacionar comuma ao considerada moral, passa-se agora a analisar os exemplos
que Kant oferece na primeira seo da Fundamentao da metafsica dos costumes.
Em outras palavras, pretende-se determinar o que se segue e o que no se segue da
fundamentao da moral kantiana para o campo do ajuizamento moral, o que nada
mais do que um dos momentos que constituem a discusso sobre a aplicabilidade
da teoria. Discute-se o trecho da Fundamentao por acreditar-se que ele serve como
modelo paradigmtico proposta kantiana de ajuizamento moral.
Os exemplos apresentados e discutidos na primeira seo da Fundamentao
constituem de maneira implcita a primeira das trs proposies sobre o dever que
Kant arma apresentar na primeira seo.
1
Na exposio dos exemplos j se pressu-
pem que existe algo como dever, isto , assume-se que a tarefa de busca e xao
da lei moral seja algo j estabelecido. A sua inteno determinar claramente o que
seria uma ao moral, isto , mostrar que uma ao possui valor moral somente na
medida em que realizada por dever.
Na busca pela determinao do valor moral de uma ao, Kant descarta de incio
aquelas aes contrrias ao dever. Poder-se-ia perguntar de que forma sabe-se que
uma ao contrria ao dever. Contudo, importante perceber que Kant no quer
fornecer um critrio para julgamento de aes particulares, por isso, o problema no
diz respeito ao fato de como se pode saber se uma determinada ao realizada ou
no por dever, se possui ou no valor moral. Oobjetivo de Kant esclarecer o conceito
de ao moral e, nesse sentido, trata-se de uma distino conceitual e no da deter-
minao de critrios para o julgamento moral de aes particulares. Dessa forma,
quando Kant diz que, de antemo descarta as aes contrrias ao dever, precisa-se
perceber que ele qualica sua armao dizendo que se trata de aes reconhecidas
como contrrias ao dever (Kant 1980, p. 112).
Alm do mais, a discusso no poderia tratar do julgamento de determinadas
aes particulares, visto que o prprio Kant impe uma barreira intransponvel de-
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 319325.
320 Joel Thiago Klein
terminao segura dos motivos de um agente em uma situao particular. Nas pala-
vras de Kant:
[acontece] por vezes na verdade que, apesar do mais agudo exame de conscin-
cia, no possamos encontrar nada, fora do motivo moral do dever, que pudesse
ser sucientemente forte para nos impelir a tal ou tal boa ao ou a tal grande sa-
crifcio. Mas daqui no se pode concluir com segurana que no tenha sido um
impulso secreto do amor-prprio, oculto sob a simples capa daquela idia, a ver-
dadeira causa determinante da vontade. Gostamos de lisonjear-nos ento com
um mbil mais nobre que falsamente nos arrogamos; mas em realidade, mesmo
pelo exame mais esforado, nunca podemos penetrar completamente at aos m-
biles secretos dos nossos atos, porque, quando se fala do valor moral, no das
aes visveis que se trata, mas dos seus princpios ntimos que se no vem. (Kant
1980, p. 119, itlico acrescentado)
Em sua anlise, Kant tambm deixa de lado as aes conformes ao dever, mas re-
alizadas no por dever e sim por uma inclinao egosta. Kant menciona o exemplo
de um vendedor que no sobe os preos para o comprador inexperiente por estrat-
gia de manter a freguesia atravs de sua reputao de honesto. Considerando-se que
se trata de uma distino conceitual, segue-se que no o caso de se armar que
nenhum merceeiro possa manter os preos por dever e no por inclinao egosta,
mas apenas que, supondo que um merceeiro age por meio de uma inteno egosta,
segue-se que sua ao no moral.
A diculdade surge, segundo Kant, na seguinte questo: pode-se atribuir valor
moral a uma ao que conforme ao dever e cujo fundamento uma inclinao ime-
diata? Ou ainda, uma ao realizada por dever, mas que se vincula tambm a uma
inclinao imediata, possui valor moral? Apesar de semelhantes, essas so, na ver-
dade, duas questes completamente diferentes. A primeira indaga se uma ao re-
alizada por inclinao imediata possui valor moral, a outra questiona se uma ao
realizada por dever precisa necessariamente excluir emtodos os momentos qualquer
tipo de inclinao imediata. Dependendo da resposta essas questes, dene-se o
modo como a tica kantiana encara a relao entre dever e inclinaes nos campos
da determinao e aplicao moral.
Kant oferece os seguintes exemplos:
Conservar cada qual a sua vida um dever, e alm disso uma coisa para que
toda a gente tem inclinao imediata. Mas por isso mesmo que o cuidado, por
vezes ansioso, que a maioria dos homens lhe dedica no tem nenhum valor in-
trnseco e a mxima que o exprime nenhum contedo moral. Os homens con-
servam a sua vida conforme ao dever, sem dvida, mas no por dever. Em contra-
posio, quando as contrariedades e o desgosto sem esperana roubaram total-
mente o gosto de viver, quando o infeliz, com fortaleza de alma, mais enfadado
do que desalentado ou abatido, deseja a morte, e conserva contudo a vida sem a
amar, no por inclinao ou por medo, mas por dever, ento a sua mxima tem
um contedo moral.
A relao entre dever e inclinao 321
Ser caritativo quando se pode s-lo um dever, e h alm disso muitas al-
mas de disposio to compassiva que, mesmo sem nenhum outro motivo de
vaidade ou interesse, acham ntimo prazer em espalhar alegria sua volta e se
podem alegrar com o contentamento dos outros, enquanto este obra sua. Eu
armo porm que neste caso uma tal ao, por conforme ao dever, por amvel
que seja, no tem contudo nenhum verdadeiro valor moral, mas vai emparelhar
com outras inclinaes, por exemplo o amor das honras que, quando por feliz
acaso topa aquilo que efetivamente e de interesse geral e conforme ao dever,
conseqentemente honroso e merece louvor e estmulo, mas no estima; pois
a mxima falta o contedo moral que manda tais aes se pratiquem, no por
inclinao, mas por dever. Admitindo pois que o nimo desse [jenes] lantropo
estivesse velado pelo desgosto pessoal que apaga toda a compaixo pela sorte
alheia, e que ele continuasse a ter a possibilidade de fazer bem aos desgraados,
mas que a desgraa alheia no o tocava porque estava bastante ocupado com a
sua prpria; se agora que nenhuma inclinao o estimula j, ele se arrancasse a
esta mortal insensibilidade e praticasse a ao semqualquer inclinao, simples-
mente por dever, s ento que ela teria o seu autntico valor moral. (Kant 1980,
p. 1123)
A maioria dos indivduos cuida da sua prpria vida pelo fato de possurem uma
inclinao imediata para isso. Tambm no difcil representar-se algumque mes-
mo semnenhumoutro motivo de vaidade ou interesse, [acha] ntimo prazer emespa-
lhar alegria sua volta e se [pode] alegrar como contentamento dos outros, enquanto
este obra sua, ou seja, um lantropo. Contudo, para Kant, o comportamento des-
ses agentes um comportamento conforme ao dever, mas no por dever, por conse-
guinte, sua mxima no possui nenhum contedo moral.
Com esses exemplos Kant quer destacar que apenas aes realizadas por dever
(aus Picht) possuem contedo moral. Em outras palavras, uma ao somente pos-
sui valor moral se a sua mxima for determinada pela lei moral. Alm disso, deve-se
perceber que Kant no arma que as inclinaes sejam algo ruim, elas apenas no
conferem valor moral s aes. Ele inclusive arma que as aes do lantropo so
honrosas e dignas de louvor e estmulo, mas no dignas de estima.
Oque precisa ser discutido se na teoria kantiana h espao para algo como uma
ao realizada simultaneamente por dever e por inclinao imediata, isto , aus Pi-
cht und aus unmittelbarer Neigung.
2
Essa discusso se refere a primeira questo men-
cionada acima. Em primeiro lugar, depe contra essa posio o fato dos exemplos
destacarem justamente que as aes dotadas de valor moral so aquelas realizadas
puramente a partir do dever, as quais no necessitamde qualquer impulso ou auxlio
de inclinaes, cando claro que apenas a lei moral que atribui valor moral ao.
Em segundo lugar, se uma ao moral precisasse, alm do dever, de uma inclinao,
ento, isso signicaria que a lei moral no sucientemente forte para determinar
uma ao, logo, uma ao no poderia ser realizada apenas por dever (aus Picht).
Nesse caso, a imperatividade da lei moral seria uma mera quimera, pois, na verdade,
ela no ordena nada por si mesma. Como que prevendo essa forma equivocada de
322 Joel Thiago Klein
leitura, Kant expe o seguinte exemplo:
Se a natureza tivesse posto no corao deste ou daquele homempouca simpatia,
e ele (honrado de resto) fosse por temperamento frio e indiferente s dores dos
outros por ser ele mesmo dotado especialmente de pacincia e capacidade de
resistncia s suas prprias dores e por isso pressupusesse e exigisse as mesmas
qualidades dos outros; se a natureza no tivesse feito de um tal homem (que em
boa verdade no seria o seu pior produto) propriamente um lantropo no
poderia ele encontrar ainda dentro de si um manancial que lhe pudesse dar um
valor muito mais elevado do que o dum temperamento bondoso? Sem dvida
e exatamente a que comea o valor do carter, que moralmente sem qualquer
comparao o mais alto, e que consiste em fazer o bem, no por inclinao, mas
por dever. (Kant 1989, p. 113, itlico acrescentado)
A segunda questo mencionada acima refere-se ao problema de se uma ao mo-
ral precisa exigir a ausncia completa de qualquer inclinao. De outra forma, a tica
kantiana tem como conseqncia que apenas um misantropo ou algum que no
sinta inclinao imediata alguma em viver pode agir moralmente. Nessa linha de in-
terpretao posta a famosa crtica de Schiller que se lamenta por ajudar seus amigos
comprazer. Oprazer que ele sente na ao tiraria todo o valor moral da ao, por con-
seguinte, a lei moral nos obrigaria a realizar o dever com desprazer (Abscheu).
3
Emprimeiro lugar, precisa-se ter emconsiderao que os exemplos que Kant ofe-
rece tm a funo elucidativa e no a funo de servir de regra para o ajuizamento
moral. Isso faz com que as situaes apresentadas sirvam como casos possveis, mas
no como os nicos. Em segundo lugar, preciso perceber que a inteno de Kant
excluir a inclinao como o elemento responsvel pelo estabelecimento da mxima
da ao, no da ao particular mesma. Nesse sentido, a seguinte passagem impor-
tante:
S pode ser objeto de respeito e portanto mandamento aquilo que est ligado
minha vontade somente como princpio e nunca como efeito, no aquilo que
serve minha inclinao mas o que a domina ou que, pelo menos, a exclui do cl-
culo na escolha [wenigstens diese von deren berschlage bei der Wahl ganz auss-
chliet], quer dizer, a simples lei por si mesma. (Kant 1980, p. 114, itlico acres-
centado)
Ao se considerar atentamente a letra do texto, nota-se que Kant ressalta que a
inclinao no deve participar do ato pelo qual o indivduo estabelece a mxima da
sua ao, mas no nega que ela possa estar presente no prprio indivduo que age
moralmente. A formulao de Kant deixa em aberto se no momento da ao a in-
clinao precisa ser excluda ou no. Isso signica que, segundo a teoria kantiana, um
misantropo pode e deve ser uma pessoa moral, mas a moralidade no precisa con-
duzir a misantropia.
4
Ou ainda, no h nenhuma relao condicional entre mora-
lidade e misantropia, por exemplo. Dessa forma, parece no haver uma impossibi-
lidade terica de concebermos um lantropo moral, ou seja, algum que ajuda aos
A relao entre dever e inclinao 323
outros por dever e, alm disso, sente prazer em fazer isso, isto , sente uma incli-
nao imediata (um amor para com os outros). Essa forma de leitura assume que a
tica kantiana pode admitir a frmula ao por dever e com inclinao (aus Picht
mit Neigung). O signicado expresso por ela diferente daquela frmula mencio-
nada anteriormente, a saber, ao por dever e por inclinao (aus Picht und aus
Neigung).
importante que se perceba que no exemplo do dever de caridade no ca ex-
cludo a possibilidade de uma ao ser simultaneamente moral e o indivduo tam-
bm possuir uma inclinao imediata. O exemplo refere-se a um mesmo indivduo
que num primeiro momento age por lantropia e num segundo momento, com a
falta dessa inclinao, passa a desempenhar a caridade por dever.
5
Admita-se que
esse mesmo indivduo que desempenha o seu dever, por respeito lei, acabe desen-
volvendo novamente o sentimento de lantropia. Isso faria com que ele necessaria-
mente deixe de agir por dever e os seus atos deixem de ser morais? A resposta mais
razovel : no necessariamente. Claro que difcil representar uma situao onde
o indivduo age por dever e possui, ao mesmo tempo, uma inclinao imediata para
realizar tal ao.
6
Contudo, possvel conceber conceitualmente tal situao, a saber,
uma ao cuja mxima estabelecida atravs do respeito pela lei moral e, almdisso,
o indivduo possui um sentimento favorvel a tal ao. Veja-se que a lei moral deve
determinar a mxima da ao, mas o indivduo, no momento da ao, poderia sentir
satisfao ou mesmo sentir uma inclinao imediata para aquela ao.
O modo de compreender a relao entre ao moral e inclinao como po-
dendo ser expresso pela frmula aus Picht mit Neigung pressupe que o conceito
de ao envolve, pelo menos, dois momentos ou nveis. No primeiro nvel, tem-se
a reexo realizada pelo indivduo e o estabelecimento da mxima da ao, ou me-
lhor, da mxima da conduta. No segundo nvel, tem-se a ao propriamente dita en-
quanto uma ao particular empiricamente condicionada. O valor moral da ao, o
qual exige que ela seja realizada simplesmente por dever, uma atribuio que per-
tence ao primeiro nvel do conceito de ao. Ofato de uma mxima ser estabelecida
por respeito lei moral, no exclui a possibilidade de haver inclinaes envolvidas na
realizao da ao, isto , no segundo nvel da ao.
Como uma contraprova a essa interpretao considere-se o seguinte: se Kant ex-
clusse completamente a possibilidade das inclinaes e dos sentimentos congu-
rarem no contexto moral, ento, como poder-se-ia ler a passagem onde ele arma
que a felicidade, sob a qual se renem uma enorme soma de inclinaes sensveis,
deve ser buscada e fomentada?
7
Tambm na Metafsica dos Costumes Kant aborda
essa temtica dos sentimentos vinculados ao moral. Ali ele distingue entre sen-
timentos patolgicos (estticos) e sentimentos morais (prticos). Aqueles precedem
representao da lei moral, esses podem segui-la. Apesar dos sentimentos prticos
no poderem ser ordenados, visto que o que se faz por coao no se faz por amor
(Kant 1999, p. 257 (b)), eles podem ser desenvolvidos indiretamente mediante a pr-
tica da moralidade.
8
Mais adiante no texto, Kant arma que existe certo tipo de de-
324 Joel Thiago Klein
ver especial, isto , um dever indireto de cultivar sentimentos naturais compassivos
(estticos) e utiliz-los como outros tantos meios para a participao que nasce de
princpios morais e do sentimento correspondente (cf. Kant 1999, p. 329 (b)). Veja-se
a seguinte passagem:
Alegrar-se com os outros e sofrer com eles (sympathia moralis) so sem dvida
sentimentos sensveis de prazer ou desagrado (que, por tanto, ho de chamar-se
estticos) pelo estado de satisfao ou de dor alheios (simpatia, sentimento de
compartilhar), para os quais j a natureza tem feito receptivos aos homens. Mas
utiliz-los como meio para fomentar a benevolncia ativa e racional todavia um
dever especial, ainda que somente condicionado, que leva o nome de humani-
dade (humanitas): porque aqui o homem no se considera unicamente com um
ser racional, seno como um animal dotado de razo. (Kant 1999, p. 3278 (b))
Pode-se ler a ltima frase desse excerto vinculada com o que foi chamado de se-
gundo nvel envolvido no conceito de ao. No primeiro nvel, todos os sentimentos
devem ser excludos, caso contrrio, a ao ser desprovida de valor moral. Mas no
segundo nvel, isto , ao se considerar a ao particular, impossvel desvencilhar-
se das determinaes da sensibilidade. Anal de contas, o nico campo em que o
homem pode agir a experincia e, por isso, est sob as suas leis. No momento da
aplicao da mxima escolhida a uma determinada situao emparticular, o homem
se encontra preso s regras da experincia. Ele no pode evitar gostar ou desgostar de
algo. Ele pode estabelecer o que ele faz, no o que ele sente no momento da ao e
por isso ele se encontra na situao de um animal.
Essa leitura tambm permite compreender de que forma Kant pode falar em cer-
tos momentos de sentimentos que podem auxiliar a moralidade e, em outros, re-
jeita completamente qualquer inuncia sensvel no estabelecimento de uma m-
xima moral. Ora se aceitarmos que a ao comporta dois nveis, ento, pode-se res-
tringir a inuncia das inclinaes e dos sentimentos ao segundo nvel. Ali eles po-
dem ser vistos no como motivos da ao, mas como elementos sensveis que no
dicultam a execuo da mxima. A existncia de sentimentos favorveis lei moral
impede que surjam ou que se fortaleam sentimentos que no so favorveis lei.
Por favorvel, entende-se aqui os sentimentos que no momento da ao empirica-
mente considerada no fazem com que o indivduo sinta desejo de abdicar de sua
mxima e abrir uma exceo para si na legislao moral. Sentimentos favorveis lei
moral so aqueles que facilitam a aplicao da mxima moral em situaes singula-
res. Contudo, tal como era o intuito de Kant na primeira seo da Fundamentao,
a completa falta de inclinao imediata no impossibilita que o sujeito ainda assim
desempenhe a sua ao conforme a sua mxima.
Referncias
Allison, H. 1990. Kants theory of freedom. Cambridge: Cambridge University Press.
A relao entre dever e inclinao 325
Baron, M. 2006. Acting from Duty (GMS I, 397-401). In: Christoph Horn e Dieter Schnecker
(eds., in cooperation with Corinna Mieth) Groundwork for the metaphysics of morals. Ber-
lin; New York: Walter de Gruyter, p. 322.
Bittner, R. 1993. Das Unternehmen einer Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: Otfried
Hffe (Hrsg.) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Ein kooperativer Kommentar. Frank-
furt am Main: Klostermann, p. 1330.
Kant, I. 1980. Fundamentao da metafsica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. (Coleo Os
Pensadores) So Paulo: Abril Cultural, p. 10162.
. 1999a. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Mit einer Einl. hrsg. von Bernd Kraft und
Dieter Schnecker. Hamburg: Meiner.
. 1999b. La metafsica de las costumbres. 3.ed. Trad. Adela Cortina Orts e Jesus Conill San-
cho. Madrid: Editorial Tecnos.
Schnecker, D.; Wood, A. 2002. Immanuel Kant Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: Ein
einfhrender Kommentar. Padernborn; Mnchen; Wien; Zrich: Schningh.
Notas
1
Segundo Schnecker e Wood (2002, p. 601), as trs proposies sobre o dever so: 1) uma ao a
partir do dever uma ao a partir do respeito pela lei; 2) uma ao a partir do dever segue uma mxima
ordenada pela lei moral e com isso uma ao necessariamente ordenada atravs da lei moral objetiva;
3) dever a necessidade de uma ao a partir do respeito pela lei.
2
Essa interpretao chamada de motivationalen berbestimmung (Schnecker e Wood 2002, p. 69)
3
Conforme Schiller: Gewissensskrupel: Gerne dien ich den Freunden,/ doch tu ich es leider mit Nei-
gung,/ und so wurmt mir oft,/ da ich nicht tugendhaft bin. Decisium: Da ist kein anderer Rat,/ du
mut suchen, sie zu verachten,/ und mit Abscheu alsdann tun,/ was die Picht dir gebeut (Schiller, F.
Werke, Nationalausgabe, Bd.I, S.357, apud Schnecker e Wood 2002, p. 70).
4
Por misantropia entende-se aqui umhomemde temperamento frio e indiferente s dores dos outros.
5
No unanimidade interpretar o exemplo do dever de caridade como sendo umexemplo que se refere
a ummesmo agente emdois momentos distintos. Umexemplo dessa leitura: Schnecker e Wood (2002,
p. 68. nota). Mas a prpria formulao de Kant utilizando o termo jenes indica que trata-se do mesmo
indivduo em dois momentos distintos.
6
Schnecker e Wood criticamessa posio da seguinte forma: Vielleicht knnte man noch meinen, da
eine Handlung aus Picht erfolgen kann, die von der Existenz einer Neigung begleitet wird, die aber tat-
schlichkeinenEinu ausbt. Allerdings fllt es schwer, sichvorzustellen, wie manetwa einenMenschen
liebe kann (wobei wir die Liebe als Neigung verstehen), ihm in einer bestimmten Situation aber nicht aus
dieser Neigung, sondern aus Picht hilft, obwohl die Neigung (die Liebe) present ist (Schnecker e Wood
2002, p. 68).
7
Conforme: Assegurar cada qual a sua prpria felicidade um dever (pelo menos indiretamente); pois
a ausncia de contentamento com o seu prprio estado num torvelinho de muitos cuidados e no meio
de necessidades insatisfeitas poderia facilmente tornar-se uma grande tentao para a transgresso dos
deveres (Kant 1980, p. 113).
8
Conforme: Fazer o bem um dever. Quem o pratica muitas vezes e tem xito em seu propsito bem
feitor, chega ao nal a amar efetivamente quele a quemtemfeito o bem. Portanto, quando se diz: deves
amar ao teu prximo como a ti mesmo, no signica: deves amar imediatamente (primeiro) e mediante
este amor fazer o bem (depois), seno: faz o bem a teu prximo e esta benecncia provocar em ti o
amor aos homens (como hbito da inclinao benecncia) (Kant 1999, p. 257 (b)).
SOBRE A POSSIBILIDADE DE UMA TEORIA MORAL BASEADA EM DIREITOS
MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE AZEVEDO
IPA Centro Universitrio Metodista
mazevedo@via-rs.net
1. Introduo
No obstante sejam poucos os lsofos que no atribuam algum papel aos direitos
em suas teorias, so poucos os que consideram direitos como tendo o papel cen-
tral em suas abordagens. Um destes Robert Nozick (1974). Nozick um dos mais
notveis defensores de uma concepo de losoa moral baseada em direitos. Sua
referncia a teoria moderna do direito natural de John Locke. Outro lsofo con-
temporneo defensor de uma abordagem em losoa moral centrada em direitos
Ronald Dworkin (1977). No captulo A justia e os direitos de Levando os direitos a
srio (1977; 2002, p. 266), Dworkin disse que cada teoria poltica bem formada, ainda
que possa incluir em seu escopo tanto metas sociais, como direitos e deveres atribu-
dos a indivduos, atribui um lugar de honra a apenas um desses conceitos: ou uma
meta dominante (como a utilidade geral), ou um conjunto de direitos fundamentais,
ou umconjunto de deveres transcendentes. nesse aspecto que Dworkin claramente
se alinha a Thomas Paine na defesa de uma concepo de moralidade poltica base-
ada em direitos.
Embora Nozick e Dworkin defendam teorias igualmente centradas em direitos,
as divergncias entre ambos no so pequenas. Dworkin alia-se a uma concepo
de justia distributiva inuenciada especialmente pelo igualitarismo de John Rawls
(1971); Nozick, por sua vez, atacou duramente as concepes de justia distributiva,
especialmente as baseadas no igualitarismo kantiano de Rawls (Nozick defende o
que poderamos chamar de tese da primazia absoluta dos direitos individuais, se-
jam eles naturais ou adquiridos, sobre quaisquer polticas ou consideraes p-
blicas de justia social distributiva). No obstante isso, o que os torna defensores de
uma abordagem geral em losoa moral e poltica igualmente baseada em direitos
o fato de ambos defenderem uma concepo de moralidade poltica baseada pri-
mariamente no respeito aos direitos dos indivduos, bem como o fato de ambos de-
fenderem a primazia desses direitos sobre quaisquer outras obrigaes ou interesses
individuais ou coletivos no amparados em direitos individuais (uma tese que Dwor-
kin tornou explcita).
1
Embora Nozick e Dworkin sejam os mais conhecidos defensores de uma teoria
moral ancorada em direitos, penso que a abordagem mais persuasiva nesse sentido
foi a oferecida por Judith Jarvis Thomson (1990). Segundo Thomson, ns tomamos
a ns mesmos como tendo direitos, do que se seguem conseqncias morais. Penso
que o que Thomson sustenta que direitos so fatos primitivos acerca de ns (ou
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 326342.
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 327
que h pelos menos alguns direitos que revelam aspectos inerentes ao que entende-
mos como sendo nossa natureza, ou ao menos como inerentes imagem que dela
fazemos).
De todo modo, foi John Mackie quem considerou explicitamente a possibilidade
de uma tica baseada emdireitos como alternativa s teorias mais conhecidas e tradi-
cionais: as ticas baseadas em obrigaes (ticas deontolgicas), as ticas conseqen-
cialistas (e as ticas ou concepes de moralidade poltica baseadas em metas so-
ciais), e as ticas da virtude, incluindo as ticas perfeccionistas. Segundo Mackie, di-
zemos de uma teoria que baseada em X (deveres, resultados, virtudes ou direitos)
quandoesta teoria toma X comooconceitoque confere sentidoaoconjuntoda teoria
(Mackie 1998, p. 141). Nesse escopo amplo, no somente teorias libertarianas, como
a teoria de Nozick, ou teorias igualitaristas, como a teoria poltica de Dworkin, assim
como teorias morais ao menos parcialmente baseadas em direitos, como a de Thom-
son, poderiam ser classicadas como baseadas em direitos, mas tambm as novas
teorias do Direito Natural, como a teoria proposta por John Finnis (cuja referncia
clssica Toms de Aquino).
2
Assim, inuenciado por Mackie, podemos chamar de
teorias morais baseadas em direitos a esse conjunto, internamente variado, de teorias
morais que tomamo conceito de direito como central para o entendimento, seno da
totalidade, ao menos de parte expressiva da moralidade humana.
Neste ensaio, pretendo mostrar como possvel vincular conceitualmente res-
tries ou obrigaes morais ao respeito a direitos individuais. Minha pretenso
modesta, pois, para uma argumentao completa emdefesa de uma teoria moral ba-
seada emdireitos seria necessrio umlongo desenvolvimento, algo que est almdos
objetivos de um pequeno ensaio. Pretendo, no obstante, contrastar duas vises ge-
rais sobre direitos (direitos como ttulos e direitos como exigncias), e mostrar como
uma viso adequada sobre direitos como exigncias pode servir de base a uma teoria
moral baseada em direitos. A seguir, a partir de conceitos desenvolvidos por Thom-
son, pretendo mostrar de que modo armaes em torno de direitos podem contar
como premissas em raciocnios prticos. Esses resultados fornecero, assim penso,
plausibilidade idia de uma teoria moral ao menos parcialmente baseada em direi-
tos.
2. Oque so direitos?
H duas vises distintas sobre o que so direitos. Chamo primeira de viso dos direi-
tos como ttulos (em ingls, rights as entitlements) e outra de viso dos direitos como
exigncias (emingls, rights as claims) (Azevedo 2006). Aprimeira toma direitos como
relaes entre algum e algo (no caso, um bem); a segunda toma direitos como rela-
es entre um indivduo (ou algum) e outra pessoa, ou, mais propriamente, como
exigncias de algum sobre outrem acerca de algo.
3
Dessas duas, pode-se dizer que a
primeira a que poderamos chamar de viso dominante ou hegemnica.
4
Penso
328 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
que a viso que melhor caracteriza a concepo presente nos manifestos e no dis-
curso comum dos ativistas dos direitos humanos.
H uma tendncia entre os ativistas dos direitos humanos a considerar direitos
como ttulos e os direitos humanos como ttulos de carter especial. Em diferena
aos direitos emgeral, direitos humanos seriamttulos comuns a todos os seres huma-
nos e inalienveis. Por ttulo entenda-se aqui a posse ou vnculo, assim tido como
legtimo, a certo bem (de fato, para os simpatizantes dessa viso, estar intitulado a
algo ter uma espcie de posse legtima).
5
Da a viso de que a posse de um direito
expressa um interesse justicado em algo, o qual, acredita-se, possa ser julgado im-
parcialmente como um bem justamente merecido.
Suponhamos certo bem X. Se X for um bem para S, segue-se que S tem ou pode
ter interesse em X. Seria o interesse de S por X condio suciente para que S alegue
um direito a X sobre algum, ou mesmo sobre todos os demais? evidente que no.
Assim, preciso, assim prosseguem coerentemente os defensores dessa viso, que o
interesse de S por X esteja amparado em alguma razo adicional, a qual possa ser
aceita de modo imparcial ou universal.
6
Exemplo: se a vida for um bem para mim, segue-se meu interesse subjetivo nela;
porm, se a vida for um bem essencial, sem o qual eu no poderia, sob hiptese al-
guma, alcanar qualquer outro bem ou ideal de auto-realizao pessoal, ento tenho
uma razo adicional e objetiva para exigir dos demais que no a limitem, obstruam
ou impeam-me seu usufruto. Da a armao: a vida um bem a que sou justa-
mente merecedor, um bem cuja garantia e proteo me so devidas. o que os ati-
vistas pretendem dizer quando armam que algum tem direito vida. Direitos hu-
manos seriambens desse tipo, bens essenciais a qualquer possibilidade de realizao
humana, individual ou comum; o que justicaria a alegao de que se tratam de
bens que no poderiam ser negados a ningum.
7
Eles no somente no poderiam
ser negados, como deveriam ser promovidos. Nesse caso, se a vida for um direito hu-
mano, ento no apenas posso, isto , tenho a permisso ou a potncia de estar a ela
vinculado, como se trata de algo que me devido pelos demais. Em outras palavras,
necessariamente a vida um bem que mereo usufruir, no sendo permitido a qual-
quer outro les-la muito menos extingui-la, cabendo (assimpelo menos inferemseus
defensores) a mime aos demais promov-la. Sendo isso verdadeiro, segue-se tambm
que todo meio necessrio para o usufruto desse bem igualmente um bem essencial.
Desse modo, se sade, por exemplo, for admitida como condio necessria para o
usufruto do bem vida, ento a sade igualmente um bem a que estou necessaria-
mente intitulado.
Essa viso prossegue do seguinte modo. O que determina o mrito (ou no) a
algo um princpio moral ou legal. Direitos morais so justicados por um princpio
moral; direitos legais seriam, por outro lado, justicados por um princpio ou norma
legal. Em geral, direitos humanos so entendidos como direitos morais. Isso signica
que o mrito de meu ttulo a certo bem se deriva de um princpio moral (deixo, to-
davia, em aberto o que se poderia entender aqui por um princpio especicamente
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 329
moral). Se um direito moral tambm for justicado por um princpio jurdico ou
legal, ento este direito, alm de ser um direito moral, tambm um direito legal. A
viso geralmente aceita que nem todos os direitos legais precisam ser justicados
por princpios morais, mas que todos os direitos morais devemser tornados ou trans-
formados em direitos legais. Nessa viso, um direito moral somente ser um direito
legal se houver algum princpio legal (ou uma lei) que o declare (do contrrio, ser
apenas a aspirao ou pretenso a um direito legal).
8
Mas h um problema com essa viso. que seus defensores julgam vlido inferir
do mero fato de que algo, digamos V , seja um bem necessrio ou merecido para X,
que X tenha, comefeito, direito a V sobre todos os demais. Contudo, essa inferncia
prima facie inconcebvel: como deduzir deveres ou obrigaes alheias de armaes
sobre necessidades humanas? Hume foi quemprimeiro nos advertiu desse problema
lgico: como inferir do mero fato de que V umbempara X que Y tenha algumdever
de propici-lo? Em outras palavras, no primeira vista compreensvel por que do
mero fato, ainda que universalmente reconhecido, de que V um bem (merecido ou
necessrio) para X, que Y tenha uma dvida, um dbito, ou um dever para com X,
dever do qual Y somente se desoneraria se e somente se X vier efetivamente a obter
V .
9
No penso que tenhamos chegado, no estado atual das investigaes sobre lgica
de nosso raciocnio moral, a uma concluso plenamente satisfatria sobre como re-
alizar esse tipo de passagem. Minha opinio, no obstante, que a viso dos direitos
como ttulos incapaz de explic-la. Isto , neste ponto, Hume est certo: no lo-
gicamente concebvel porque temos deveres estritos para com algum, dado o mero
reconhecimento de suas necessidades, por mais essenciais que sejam. Alis, segundo
Hume, no h sequer irracionalidade em recusar-se a satisfaz-las. verdade que se
somos efetivamente benevolentes, faz sentido para ns ajudar outra pessoa. Nesse
caso, ajud-la algo que naturalmente se impe nossa vontade. Mas e se algum
no se importar comisso? Teria ele, ainda assim, o dever estrito de faz-lo? verdade,
comefeito, que, diante da crena de que algumsofre pela falta de umbemessencial,
e dada nossa possibilidade real de ajud-la, na ausncia de outras explicaes ou mo-
tivos morais, somente a crueldade e a insensibilidade moral explicam nossa eventual
omisso ou impassividade. Mas ser cruel e insensvel no o mesmo que ser injusto.
Exigncias de justia no implicam benevolncia (h, de fato, situaes em que a be-
nevolncia implica injustia). Direitos, enm, so exigncias por justia, e no de-
mandas por caridade ou solidariedade. E j que no h como semanticamente extrair
concluses normativas que expressem obrigaes estritas apenas e to somente de
consideraes sobre necessidades, a benevolncia pode explicar a conduta de quem
reage simpaticamente s necessidades ou carncias de outros, mas ela incapaz de
explicar ou justicar obrigaes de justia. Se a justia a virtude de quemreconhece
o que devido a outrem, preciso mostrar que algo efetivamente devido para que
possamos conformar nossa conduta a esse reconhecimento ( o que Hume queria
dizer quando advertia que a virtude da justia pressupe um dever antecedente).
330 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
preciso, portanto, uma alternativa semanticamente mais aceitvel capaz de
identicar que tipos de estados-de-coisas poderamos chamar de justos. E se justia
for, como Plato e Aristteles corretamente pensavam que devia ser, a virtude ou dis-
posio de dar ou de garantir a algum o que lhe devido, ento preciso corrigir a
viso dos direitos como ttulos. Precisamos de uma viso que mostre explicita e dire-
tamente como nossos direitos relacionam-se queles que nos devem algo.
A viso dos direitos como exigncias corrige essa falha semntica. Segundo esta
outra viso, quando algum pronuncia algo como: Tenho direito a X, ele no est
simplesmente enunciando uma relao entre ele e algo (X). Ele est exigindo, deman-
dando X de algum. Assim, enquanto que na viso dos direitos como ttulos, direitos
expressam primariamente relaes entre dois termos (um sujeito portador do direito
e algo), na viso dos direitos como exigncias, direitos primariamente expressamrela-
es entre trs termos (umdemandante, umdemandado e algo). Nessa viso, sempre
que se enuncia umdireito, est-se armando uma relao entre (ao menos) duas pes-
soas (ou entre umindivduo e uma pessoa), e algo (umestado-de-coisa, ou uma ao
determinada).
10
Essa viso (diretos como exigncias) foi semanticamente explorada de forma ana-
ltica originalmente por Hohfeld. Em1913, Wesley Newcomb Hohfeld, emdois artigos
simultaneamente publicados na Yale Law Review e intitulados Fundamental concep-
tions as applied in judicial reasoning, armou que os juristas norte-americanos e in-
gleses empregavam a palavra direito de modo confuso. Hohfeld identicou e distin-
guiu oito conceitos (idias ou pensamentos) empregados pelos juristas e advogados,
seus contemporneos, conceitos que ele julgava fundamentais porque expressa-
vamrelaes jurdicas bsicas existentes emqualquer sistema jurdico ou de governo.
Para Hohfeld, essas relaes jurdicas eram sui generis, o que dicultaria denies
formais rigorosas. Para torn-las claras, apresentou-as em um esquema de opos-
tos e correlativos. Assim, as seguintes relaes representam opostos: a) Direito/
No-direito; b) Privilgio/Dever; c) Poder/Incapacidade; d) Imunidade/Suscetibili-
dade. Ao passo que as seguintes relaes expressam correlativos: e) Direito/Dever;
f ) Privilgio/No-direito; g) Poder/Suscetibilidade; h) Imunidade/Incapacidade.
11
Um direito o correlativo (correlative) de um dever (duty). o que se entende
por um direito em sentido estrito, j que, assim lembra Hohfeld, juzes, advogados e
mesmo pessoas comuns tendem a usar o termo direito de uma forma ampla e in-
discriminada. A m de evitar ambigidades e confuses, Hohfeld sugeriu que fosse
empregado o termo em ingls claim para indicar um direito em sentido estrito (ou
claim-right). Um claim uma demanda ou exigncia legtima contra algum: se te-
nho um direito em sentido estrito, ento tenho um direito relativamente a algum,
e esse algum tem, em sentido correlato, um dever relativamente a mim. O termo
empregado por Hohfeld duty. Vale assinalar que no se trata nem do dever a que
alguns lsofos morais entendem como expresso de um imperativo moral, nem do
dever que expressa a concluso nal de um raciocnio prtico aquilo que se deve
fazer consideradas todas as circunstncias.
12
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 331
Judith Jarvis Thomson procurou clarear as idias de Hohfeld com os seguintes
enunciados (Thomson 1990, p. 3760). Segundo ela, o que Hohfeld procurou dizer
que alegaes em torno de direitos (direitos em sentido estrito) so armaes que
tm a seguinte forma geral:
X tem um direito relativamente a Y de que p,
onde p substituvel por qualquer sentena ou proposio. Essa armao equi-
valente (isto , tem estritamente o mesmo signicado, embora propriamente no o
mesmo sentido
13
) que:
Y est sob um dever (entenda-se, a duty) relativamente a X, a saber, o dever
que Y se desonera se e somente se p.
Em outras palavras, enquanto p no for o caso, perdura o direito de X e o dever de Y .
Se tenho um direito em sentido estrito relativamente a algum, suponhamos Adolfo,
esse direito (essa demanda, reivindicao ou exigncia por umdireito) somente res-
peitado ou satisfeito quando p for o caso (isto , quando p for verdadeira).
Uma das confuses envolvendo os mltiplos usos da palavra direito encontra-se
na ambigidade em denotar-se, por vezes, um direito (em sentido estrito), outras ve-
zes uma permisso.
14
Contudo, uma permisso o oposto de umdever e o correlativo
de um no-direito. Uma pessoa tem uma permisso sempre que for falso que ela te-
nha algum dever (duty) a que alguma coisa no seja (ou seja) o caso. Ou, em sentido
equivalente, sempre que for falso que algum tenha relativamente a ela um direito
(claim) de que alguma coisa no seja o caso.
E quanto a poderes e imunidades? Seguindo Hohfeld, ter um poder ter a habi-
lidade ou a capacidade de fazer com que outra pessoa tenha ou deixe de ter direitos
de qualquer tipo (para Hohfeld, o correlato de um poder uma liability, isto , uma
suscetibilidade). E alegar uma imunidade relativamente a algumequivale a dizer que
este no tem ou deixou de ter algum poder relativamente quele.
Thomson ainda acrescenta outro tipo de direito, que ela chamou de cluster-rights
(vou cham-los de direitos compostos). Um direito composto se for um direito que
inclua ou contenha outros direitos. Exemplos paradigmticos desse tipo de direito
so: o direito propriedade, o direito vida e o direito liberdade.
Vejamos cada umdesses. Se Thomson est certa emclassicar o direito proprie-
dade como exemplo de umdireto composto, ento o que queremos dizer quando ale-
gamos direitos propriedade? Ora, alegamos uma conjuno de direitos, isto , de
exigncias, permisses, poderes e imunidades. Ter direito propriedade ter no ape-
nas direitos em sentido estrito (o direito, por exemplo, de que algum se mantenha
distante do que meu), mas ter igualmente permisses e, especialmente, poderes.
Ter a propriedade sobre algo implica o poder de transmitir esse direito composto a
outrem, ou mesmo de transmitir apenas uma permisso de uso. Ter direito vida, por
seu lado, comporta umconjunto de permisses (como a permisso pueril de viver ou
332 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
de simplesmente prosseguir vivendo), bem como, e especialmente, o direito em sen-
tido estrito de que outrem no ameace minha vida ou minha integridade fsica. Alm
disso, parece plausvel que o direito vida tambm comporte poderes, como a capa-
cidade de alterar os deveres alheios de no ameaar minha vida ( o que Feinberg
e Thomson sugeriram ao interpretar o polmico direito ao suicdio assistido).
15
E
o direito liberdade? Ora, o que chamamos direito liberdade (ou talvez simples-
mente liberdade) igualmente um direito composto que comporta uma srie de
permisses e principalmente o direito em sentido estrito a no interferncia alheia
sobre certa esfera de condutas permitidas. Ele inclui igualmente o poder de conceder
a algum permisses eventuais, alterando os deveres de outrem para com o detentor
do direito.
3. Direitos e racionalidade prtica
Uma das objees a teorias morais baseadas em direitos que a justicao de um
sistema de regras emcujo interior ocorramexigncias vlidas no emsi baseada em
direitos (Beauchamp & Childress 2005, p. 36). Deontologistas usualmente imaginam
um sistema nico de regras ou mximas subjetivas determinando os juzos prticos
de algum; as regras desses sistemas normativos devem, por sua vez, ser justicadas
por regras ou princpios universais (uma tese que, como bem sabemos, tem em Kant
seu maior expoente). Seguindo essa viso, direitos se derivam dessas normas (prima
facie gerais e indeterminadas). No ca claro, assim, qual a relao entre os direitos de
algum e as obrigaes dos demais. Como deveres indeterminados ou gerais so os
conceitos primrios, direitos so vistos unicamente como faculdades ou capacidades
de agir (ou deixar de agir), sempre em conformidade com tais deveres.
16
Segundo essa viso, deveres morais determinam direitos morais; deveres legais
determinam, por sua vez, direitos legais. A tendncia bvia, portanto, enxergar dois
sistemas normativos distintos e independentes: um sistema moral e outro jurdico.
Porm, h um sentido em que direitos no so comandos, j que, ao alegarmos
direitos, fazemos armaes.
17
Exigncias so veiculadas por meio de enunciados as-
sertricos. Quem exige um direito usualmente arma algo. Nesse caso, tanto exign-
cias jurdicas como morais seriamarmaes, que, como tais, poderiamser verdadei-
ras ou falsas. Esta justamente a tese de Thomson. Segundo essa viso, direitos so o
objeto primrio da fundamentao de uma teoria moral. Eles so o cerne de umcon-
junto de princpios, a partir dos quais derivamos obrigaes ou outras normas (bem
como ausncias de obrigaes). Penso que se trata de uma tese bastante persuasiva.
No possvel no mbito deste ensaio apresentar uma argumentao completa em
favor dessas idias. Mas penso que se for possvel mostrar como direitos podem con-
tar como premissas em raciocnios morais prticos, essa idia central de que direitos
so os conceitos fundamentais em uma teoria moral torna-se compreensvel, o que
um aspecto central de sua plausibilidade.
Vejamos. Imagine-se Sigmund, um mdico psiquiatra de carter inatacvel. Em
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 333
uma consulta, Adolfo, seu paciente, relata-lhe uma srie de detalhes sobre sua vida
privada, dentre esses, que h alguns anos cometeu um crime. Seria correto armar-
se que Adolfo tem direito sobre seu mdico, Sigmund, condencialidade, isto , de
que este no revele estas informaes a quem quer que seja? A propsito, em nosso
pas, esta justamente a idia.
18
Assim, admitamos que Adolfo tenha com respeito a
Sigmund direito a que este no revele informaes obtidas durante a consulta, isto ,
que Sigmund tem o dever correlato de condencialidade, no podendo revelar nem
mesmo o delito, seguramente grave, de que seu paciente cometeu um crime.
Faria sentido dizer que verdadeira a armao de que Adolfo tem um direito
sobre Sigmund a que este no revele que cometeu um crime? Admitamos que no
haja consenso sobre isso. Contudo, mesmo assim no podemos negar que:
C: Adolfo tem direito sobre Sigmund a que este no revele a ningum que come-
teu um crime [ verdadeira] se e somente se [realmente] Adolfo tem direito so-
bre Sigmund a que este no revele a ningum que cometeu um crime.
19
Haveria dvidas de que C verdadeira? Certamente que no. C necessariamente
verdadeira.
20
Poderia C ser verdadeira e o enunciado Adolfo tem direito sobre Sig-
mund a que este no revele a ningum que cometeu um crime no ser, todavia, um
enunciado assertrico? Suponhamos que algum divirja e arme que o enunciado
Adolfo tem direito sobre Sigmund a que este no revele a ningum que cometeu
um crime no um enunciado assertrico, e sim, tal como diria Hare, um enun-
ciado prescritivo. Compare agora este enunciado com o seguinte enunciado no-
assertrico:
P: Diga Polcia tudo o que voc sabe sobre Adolfo,
dita, suponhamos, por um amigo de Sigmund.
Ora, note-se que, relativamente a esse enunciado, no faz sentido (emtermos gra-
maticais) dizer que:
P
t
: Diga Polcia tudo o que voc sabe sobre Adolfo [ verdadeira] se e somente
se diga Polcia tudo o que voc sabe sobre Adolfo.
Faria sentido, ao contrrio, dizer que:
D: Sigmund deve dizer Polcia tudo o que sabe sobre Adolfo se e somente se
Sigmund deve dizer Polcia tudo o que sabe sobre Adolfo.
Parece claro que no estamos diante das mesmas proposies (P
t
e D). A bem da
verdade, ao contrrio de D, P
t
no tem qualquer sentido gramatical. A razo que
P no um enunciado descritivo. P no um enunciado que pode ser verdadeiro ou
falso. Emconseqncia, P (umenunciado emque P faz parte) jamais poderia ser um
enunciado assertrico. Ora, se todos os enunciados que expressam deveres fossem
igualmente prescries, ento D tambm no poderia ser um exemplo de enunciado
334 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
ou sentena assertrica bemconstruda. Assim, se Sigmund deve dizer Polcia tudo
o que sabe sobre Adolfo fosse um enunciado prescritivo, ento D no poderia ter o
sentido que todo enunciado assertrico pode ter (o de dar expresso verdade ou
falsidade). Porm, D certamente umenunciado gramaticalmente bemconstrudo. E
parece evidente que D no somente gramaticalmente bem construdo; seu sentido
(ou classe gramatical) o de um enunciado que pode ser verdadeiro ou falso.
Assim, segue-se que enunciados comcontedo normativo podemser igualmente
asseridos, podendo, com efeito, ser verdadeiros ou falsos. Essa uma idia contro-
versa. Aidia de que enunciados normativos so passveis de verdade ou falsidade
uma das idias mais fortemente criticadas pela tradio positivista. Kelsen, por exem-
plo, disse que a funo de enunciados normativos estabelecer o que deve ser, e o
que deve ser sempre o correlato de um querer. So, portanto, o sentido de um
ato de vontade e, como tais, no podem ser nem verdadeiros nem falsos. De nor-
mas como Ama a teus inimigos ou como O homicdio deve ser castigado com a
morte do homicida no se pode dizer que so verdadeiras nem falsas (Kelsen 1978,
p. 7). Para Kelsen, normas pretendem ser vlidas, e dizer de uma norma que vlida
dizer que ela deve ser obedecida. Em seu apoio, Kelsen lembra o paradoxo conhe-
cido como Paradoxo de Jrgensen. Kelsen refere-se ao lsofo dinamarqus, Jrgen
Jrgensen, que em um artigo intitulado Imperatives and logic (1937/8) sustentou
a impossibilidade de inferncias denticas: nenhuma concluso poderia ser inferida
de premissas que no podem ser verdadeiras nem falsas. Assim, sentenas prescri-
tivas no poderiam funcionar como parte em nenhum argumento ou inferncia. O
paradoxo resulta de que , por outro lado, evidente que se pode formular inferncias
em que haja premissas prescritivas ou imperativas. Um exemplo tpico seria: Cum-
pre tuas promessas; esta uma promessa tua; logo, cumpra-a.
H umlongo debate sobre esse tema, e no h como explor-lo emprofundidade
aqui.
21
Meu objetivo fazer notar que o paradoxo de Jrgensen somente se sustenta
caso insistamos na tese de que enunciados normativos nunca podemser verdadeiros
ou falsos. Ora, como vimos acima, h pelo menos um tipo de enunciado normativo
que pode ser verdadeiro ou falso: enunciados que atribuem direitos e deveres (enun-
ciados, portanto, que expressam o que Hohfeld chamou de relaes jurdicas). E
caso adotemos a linguagem dos direitos como exigncias certamente possvel rea-
lizar inferncias vlidas tomando esses enunciados como premissas.
Seno, vejamos. Considere-se, novamente, o seguinte enunciado:
C: Adolfo tem direito sobre Sigmund a que este no revele a ningum que come-
teu um crime [ verdadeira] se e somente se Adolfo tem direito sobre Sigmund
a que este no revele a ningum que cometeu um crime.
Se este enunciado for necessariamente verdadeiro, ento temos que Adolfo tem di-
reito sobre Sigmund a que este no revele a ningum que cometeu um crime pos-
sivelmente verdadeiro (isto , pode ser verdadeiro ou falso). Seguindo-se a semntica
hohfeldiana, segue-se, por deduo, que:
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 335
Se Adolfo tiver um direito sobre Sigmund a que este no revele a ningum que
cometeu umcrime, ento Sigmund temo dever de no revelar a ningumque
Adolfo cometeu um crime.
Segue-se disso, tambm, que Sigmund no pode, sob nenhuma hiptese, revelar
que Adolfo cometeu um crime? Ora, este outro problema (um problema de natu-
reza prtica). Veremos isso adiante. Voltemos, agora, ao exemplo de Jrgensen. Ali
est Karl, amigo de Adolfo, prometendo a este que no revelar seu crime a ningum.
Teria Karl o dever de cumprir sua promessa? Poderia Karl descumpri-la? Que razes
teria Karl para cumprir a promessa que fez a Adolfo? Ora, no seria uma razo, e a
chamemos seguindo uma denominao conhecida de Kant de uma razo categrica,
simplesmente o fato da promessa feita? E se promessas so fatos, qual o signicado
disso? Ora, uma idia sugestiva que, se Karl prometeu a Adolfo no contar a nin-
gum o que sabe (e este um fato), segue-se que Karl submeteu-se a um compro-
misso frente a Adolfo, ou, em outras palavras, que Karl submeteu-se ao dever de no
revelar o que sabe, e que Adolfo, seu amigo, obteve de Karl o direito a uma condn-
cia.
Mas e se Karl vier a acreditar que no revelar o que sabe levar a danos graves e
insuperveis? Suponhamos que Karl tenha boas razes para crer que Adolfo provavel-
mente vir a cometer umnovo crime, umcrime brutal, o qual somente ser impedido
caso Karl revele o que sabe poltica. Deve Karl, nessas circunstncias, revelar o que
sabe? possvel, e, a princpio, at mesmo razovel que assim o faa.
Judith Jarvis Thomson (1990) tratou brilhantemente desse problema pondo em
contraste o que chama de viso de que todas as exigncias por direitos so absolutas
e a viso contrria, a saber, de que possvel que algum possa eventualmente ter de
fazer algo mesmo contrariando seus (umou alguns de seus) deveres. Oproblema pr-
tico justamente: que (boas) razes tenho (atualmente) para deixar de fazer aquilo
que de outro modo teria a obrigao de fazer? Pois, se no tenho boas razes para dei-
xar de fazer aquilo que minha obrigao fazer, segue-se que devo fazer o que estou
obrigado.
Trata-se de um problema de racionalidade prtica, um problema, alis, clssico
desde Aristteles. Muitos, porm, consideraram que o prprio Aristteles entendia
os raciocnios prticos como inferncias cujas premissas incluam normas ou impe-
rativos e cujas concluses expressavamprescries (Hare, por exemplo, era dessa opi-
nio). Todavia, os exemplos de Aristteles eram geralmente de inferncias cujas pre-
missas correspondiam a enunciados assertricos, isto , enunciados que podem ser
verdadeiros ou falsos, e cujas concluses expressavam aes. Seguindo um esquema
semelhante ao de Aristteles, sugiro a seguinte distino: raciocnios tericos ou do-
xsticos so raciocnios cujas concluses expressam proposies a que temos razes
sucientes para acreditar; raciocnios prticos, por sua vez, so raciocnios cujas pre-
missas nos conduzem a aes (ou omisses), a que temos boas razes para realizar
(ou no realizar).
22
Argumentos, contudo, como bem o sabemos, so, por sua vez,
336 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
seqncias vlidas de sentenas ou proposies (sendo algumas premissas e uma a
concluso). No faz, certamente, sentido falar-se em argumentos prticos (j que
argumentos, como tais, no so propriamente nem tericos nem prticos). o
ato de pensamento que extrai como concluso uma ao possvel do agente que pode
ser corretamente chamado de prtico, notadamente se as circunstncias revelam-se
como atuais ou efetivas.
23
Parece sucientemente claro por que direitos podem contar como razes para
agir. Se eusei (ouacredito) que algumtemumdireito sobre mim, segue-se que tenho
(ou acredito que tenho) um dever (duty) correlato. Digamos que meu dever correlato
seja Fazer p. Meu raciocnio torna-se prtico quando me pergunto: Devo, dadas as
circunstncias, fazer p?
24
Ora, por que no deveria? Anal, se tenho o dever de fazer
p, parece razovel que deva faz-lo.
Ocorre que o deve contido nas premissas no o mesmo deve que se acha na
concluso prtica. O deve (duty) contido na(s) premissa(s) expressa uma relao en-
tre mim, algum e algo (p), e essa relao enunciada de forma assertrica algo
no qual devo acreditar. A questo saber se devo conformar minha vontade a isso?
Assim, o deve que se acha contido na concluso prtica no expressa uma relao
dentica entre mim, algum e algo, e sim entre mim (ou minha vontade) e algo (ob-
jeto do direito de algum). Thomson emprega o termo ought para destacar essa dis-
tino. Minha concluso prtica expressa, assim, o que devo (ought) fazer, dado que
devo (duty) realizar p (isto , dado que algumtemdireito sobre mima que eu o faa).
Penso que a regra prtica de que, tudo o mais sendo igual, tendo eu o dever de
fazer algo em respeito ao direito de algum, segue-se que devo faz-lo, uma regra que
expressa um princpio universal de razoabilidade prtica. Em outras palavras, que:
Se Y tem um dever frente a X de que p, ento Y tem, prima facie, uma razo
prtica para agir ou comportar-se de modo tal que p seja ou venha a ser o caso.
Isso no signica que, sempre e absolutamente, assim deva Y , ao m e ao cabo,
comportar-se, pois sempre possvel que existam outras razes, as quais, dadas as
circunstncias, justiquem um comportamento contrrio.
O mesmo vale com respeito a permisses. Suponhamos que no seja verdadeiro
que Y esteja, anal, sob qualquer dever frente a X de que p seja o caso. Ora, nesse
caso, Y no tem qualquer dever estrito frente a X de que p. Quais razes poderiam,
nessas circunstncias, orientar a ao de Y ? Bem, h vrias. Consideraes sobre o
que bom ou recomendvel podem preencher esse critrio.
25
Nada impede, alis,
que Y possa vir a ter alguma outro motivo razovel, alm de um dever estrito, para
fazer com que p seja o caso. De qualquer modo, se fosse verdadeiro que h um dever
estrito de fazer com que p seja o caso, ento tais motivos no poderiam ser motivos
quaisquer. Assim, direitos (e deveres correlatos) so razes preeminentes para a to-
mada de decises moralmente orientadas. Admiti-lo meio caminho andado para
aceitar-se a plausibilidade de uma teoria moral baseada em direitos. E de uma teoria
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 337
moral baseada em direitos entendidos como fatos, e no como normas derivadas de
outras normas, princpios, entendidos como imperativos.
Referncias
Anscombe, G. E. M. 1957. Intention. Oxford: Basil Blackwell. Republicado por: Cambridge,
Mass., London: Harvard University Press, 2000.
. 1958. Modern moral philosophy. Philosophy 53: 119. Republicado em: Geach, M. & Gor-
mally, L. (eds.) 2005. Human life, action and ethics. Essays by G. E. M. Anscombe. Exeter,
Charlottesville : Imprint Academic, p. 16994.
Azevedo, M. A. O. 2002. Biotica fundamental. Porto Alegre: Tomo Editorial.
. 2002. H obrigaes fora do Direito. Biotica CFM. 8(2): 26584.
. 2003. A lei de Hume. Tese de Doutorado, UFRGS.
. 2005. Direitos sade: demandas crescentes e recursos escassos. In Gauer, G. C; vila, G.
A; vila, G. N. (orgs.) Ciclo de conferncias em biotica. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
. 2006. Dois conceitos de direitos. Cincia em movimento. Ano VIII, 16: 2754.
. 2007. Razes para agir (ou como Lewis Carroll nos ajudou a entender tambmos racioc-
nios prticos). Veritas 52(2): 91108.
. 2008. O direito de morrer. In Souza, R. T. de & Oliveira, N. F. (orgs.) Fenomenologia hoje
III. Porto Alegre: Edipucs, p. 41730.
Barbosa Filho, B. 1999. Saber, fazer e tempo. Uma nota sobre Aristteles. In Marques, E. R.;
Rocha, E. M; Levy, L. et al (orgs.) Verdade, conhecimento e ao. Ensaios em homenagem a
Guido Antonio de Almeida e Raul Landim Filho. So Paulo: Edies Loyola, p. 1524.
Barzotto, L. F. 2005. Os direitos humanos como direitos subjetivos: da dogmtica jurdica
tica. Direito & Justia 31(1): 67119.
Beauchamp, T. L & Childress, J. F. 2001. The principles of biomedical ethics. Oxford Press, 5
a
ed.
Bobbio, N. 2004. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier.
Brandom, R. B. 2000. Articulating reasons. Anintroductionto inferentialim. Cambridge, Mass.,
London: Harvard University Press.
Dworkin, R. 1977. Taking rights seriously. Cambridge, Mass., London: Harvard University
Press.
. 2002. Levando os direitos a srio. So Paulo: Martins Fontes (trad. de Dworkin 1977).
Edmundson, W. A. 2004. An introduction to rights. Cambridge, New York: Cambridge Univer-
sity Press.
Feinberg, J. 1973. Social Philosophy. New Jersey : Prentice Hall (traduo: Feinberg, J. 1974.
Filosoa Social. Rio de Janeiro: Zahar.
Finnis, J. 1980. Natural law and natural rights. Oxford: Clarendon Press.
Gauer, G. C; vila, G. A; vila, G. N. (orgs.). 2005. Ciclo de conferncias em biotica I. Rio de
Janeiro: Lmen Jris.
Haack, S. Philosophy of logics. 1978. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Hare, R. M. 1996. A linguagem da moral. So Paulo: Martins Fontes (traduzido de: Hare, R. M.
1956. The language of morals. Oxford Press).
. 1997. Sorting out ethics. New York, Oxford: Oxford University Press.
Hayek. F. A. 1976. Law, legislation and liberty. Vol. 2, The mirage of social justice. Chicago,
London: The University of Chicago Press.
338 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
Hohfeld, W. N. [1913]. Fundamental legal conceptions. In: Paterson, D. (ed.) 2003. Philosophy
of law and legal theory. Blackwell Publishing, p. 295321.
Jrgensen, J. 1937/8. Imperatives and Logic. Erkenntnis 7: 28896.
Locke, J. 2003. Segundo tratado sobre o governo. So Paulo: Martin Claret.
Mackie, J. L. 1998. Can there be a right-based moral theory? In: Rachels, J. (ed.) Ethical theory
2: theories about how we should live. Oxford Readings in Philosophy. New York, Oxford:
Oxford University Press, p. 12942.
Nietzsche, F. 2004. Aurora. So Paulo: Companhia das Letras.
Nozick, R. 1974. Anarchy, state and utopia. New York: Basic Books.
Puente, F. R (org.) 2002. Os lsofos e a mentira. Belo Horizonte: Editora da UFMG.
Rawls, J. 1971. A theory of justice. Cambridge, Mass., London: Harvard University Press.
Raz, J. 1986. The morality of freedom. New York, Oxford: Oxford University Press.
Reale, M. 2005. Lies preliminares de Direito. So Paulo: Saraiva.
Thomson, J. J. 1990. The realm of rights. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
. 2001. Goodness and advice. Princeton: Princeton University Press.
Notas
1
o que se acha subentendido na famosa tese de Dworkin de que direitos individuais so trunfos
(trumps); em outras palavras, que consideraes sobre direitos visam a resolver denitivamente con-
tendas morais, e que a soluo de conitos entre direitos individuais e aspiraes coletivas resolve-se,
emprincpio, emdetrimento dos interesses polticos coletivos no ancorados emdireitos (razes polti-
cas somente sobrepassam direitos individuais caso fundamentem-se em princpios cujo m proteger
os direitos em questo). Chamo-a de tese da preeminncia dos direitos individuais sobre interesses cole-
tivos. Segundo Dworkin, segue-se, da denio de um direito, que ele no pode ser menos importante
que todas as metas sociais. Assim, no chamaremos de direito qualquer objetivo poltico, a menos que
ele tenha certo peso contra as metas coletivas em geral; a menos que, por exemplo, no possa ser in-
validado mediante o apelo a quaisquer das medidas rotineiras da administrao poltica, mas somente
por uma meta de urgncia especial (Dworkin 2002, p. 297). A propsito da preeminncia dos direitos
individuais sobre interesses e metas coletivas, veja-se meu artigo Direitos sade: demandas crescentes
e recursos escassos (em Gauer, vila & vila 2005, p. 45100).
2
Finnis inicia o oitavo captulo de seu mais importante livro, Natural law and natural rights (1980,
p. 198) dizendo que praticamente tudo neste livro sobre direitos humanos (. . . ). Pois, como veremos,
a gramtica moderna dos direitos proporciona um meio de expressar virtualmente todas as exigncias
da razoabilidade prtica. Uma viso da tica sustentada em uma teoria dos direitos humanos numa li-
nha de argumentao tomista foi recentemente defendida em nosso meio por Luis Fernando Barzotto,
professor de losoa do direito na UFRGS e PUCRS, no artigo Os direitos humanos como direitos sub-
jetivos: da dogmtica jurdica tica (2005).
3
Joel Feinberg foi quemde uma forma explcita considerou essas duas vises ao identicar, de umlado,
um sentido de direito como claim-right, como direito exigvel contra algum e, de outro, o sentido
empregado pelos manifestos (Feinberg 1973, p. 858).
4
Rero-me aqui especialmente ao discurso em torno de direitos morais e linguagem dos direitos
humanos. Isso porque devo reconhecer que a viso dominante no meio jurdico brasileiro sobre o que
so direitos, entendidos de forma mais restrita como direitos legais ou como direitos subjetivos le-
gais, difcil de classicar. Tendo a achar que se trata de uma terceira viso, todavia equvoca. Acredito
que seus equvos caro subentendidos ao mostrar o contraste entre as duas vises de direitos que me
interessam: a viso dos direitos como ttulos e a viso dos direitos como exigncias. Direitos subje-
tivos so freqentemente denidos na dogmtica jurdica nacional ora como vantagens legalmente
estabelecidas em favor de um indivduo sobre outros, ora como permisses, licenas ou autorizaes
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 339
legalmente conferidas para fazer alguma coisa, ora como poderes, habilidades, ou faculdades para
a realizao ou demanda judicial de algum interesse legtimo. Essa variedade de classicaes d mos-
tras de sua pouca clareza. H contudo, uma viso dominante e tradicional. Segundo a maior parte dos
juristas brasileiros, direitos subjetivos so facultas agendi. Uma das origens dessa idia a teoria legal
de Georg Jellinek, que deniu direito subjetivo como um poder de querer, no caso, o poder de querer
reconhecido e protegido pelo Estado, e dirigido ao um bem ou interesse. A obra clssica de Jellinek o
livro Systemder subjektiven ffentlichen Rechte, editado em1892. Aviso no menos confusa. Deixarei,
porm, a crtica detalhada a essa viso para outra oportunidade.
5
No so incomuns autores que, desde pelo menos o sculo XVII, tratavam direitos como posses, j
que o direito de propriedade sempre foi umexemplo paradigmtico de direito subjetivo. A analogia com
a idia de posse est provavelmente na raiz da concepo que aqui chamo de viso dos direitos como
ttulos. Talvez fosse mais adequado cham-la de viso dos direitos como propriedades, mas, como a
maior parte dos defensores atuais dessa concepo no somente entendem que os direitos de propri-
edade so apenas um exemplo de direitos dentre uma variedade mais ampla de outros, mas sobretudo
consideram-se crticos viso liberal dos pensadores da era moderna que incluam dentre os direitos
humanos os direitos subjetivos de posse (incluindo-os dentre os direitos liberais de primeira gerao),
denominar essa viso de viso dos direitos como propriedades seria, penso, enganador. A denomina-
o sugeriria algo que alguns ativistas dos direitos humanos, os quais, penso, de fato empregam essa
viso, recusariam identicar-se.
6
Raz, tal com penso, um defensor da viso dos direitos como ttulos, dene direito do seguinte modo:
S temumdireito a X se e somente se: i) S pode portar direitos; ii) caeteris paribus, o objeto do interesse
de S (isto , X) conta como razo suciente para se atribuir a outra pessoa um dever correspondente
(ver Raz 1986, p. 166). Para que X (ou o interesse de S) conte como razo suciente para atribuir-se um
dever a outrem preciso justicativas adequadas. Direitos no sentido de Raz so apenas concluses
intermedirias para se atribuir a outrem algum dever (isto , para conectar os interesses de algum aos
deveres de outros).
7
Direitos humanos so vistos como direitos essenciais. Assim, toda demanda pessoal ou subjetiva
por um direito humano teria uma justicativa, portanto, objetiva, a qual independeria da existncia de
qualquer legislao (para a losoa do sculo XVII e XVIII, como bem o sabemos, a base objetiva dos
chamados direitos do homem a lei natural). Essa a viso dos que defendem a viso dos direitos
como ttulos e que admitem a existncia de direitos essenciais ou fundamentados na razo natural.
A propsito, tanto os defensores da viso dos direitos humanos como ttulos como os positivistas que
so cticos quanto existncia de direitos no ancorados em leis humanas admitem que deve haver
leis ou razes objetivas antecedentes para se demandar um direito. Tradicionalmente, isso nos reporta
conhecida distino entre direito subjetivo e direito objetivo uma infeliz e enganosa distino,
com bem assinala William Edmundson (2004, p. 10). A existncia de uma lei, de qualquer modo, vista
usualmente como uma razo objetiva para demandar-se um direito. A divergncia entre positivistas e
jusnaturalistas sobre se h, ou no, alguma lei natural e objetiva antecedente (e igualmente dotada de
autoridade jurdica ou poltica) sobre as leis humanas positivas. Ambos, contudo podem e freqente-
mente sustentam a viso dos direitos como ttulos.
8
Note-se o quanto essa distino pode ser problemtica para os positivistas. Para os jusnaturalistas
no h problema em haver tanto direitos justicados pela lei natural e direitos justicados por leis po-
sitivas. Um direito moral legalmente no declarado uma aspirao a um direito legal, mas no uma
aspirao a umdireito moral: ele umdireito moral. Almdisso, para os jusnaturalistas, direitos morais
valem tanto quanto direitos legais (a infrao a um direito moral no deixa de ser uma infrao a um
direito). Para os positivistas, no entanto, no h direitos naturais ou morais (estes so antes meras
aspiraes a direitos). Bobbio, por exemplo, um dos positivistas mais lidos e seguidos hoje em dia, in-
clusive por boa parte dos ativistas dos direitos humanos, procurou solucionar o problema encontrando
um direito positivo historicamente determinado que amparasse a validade das demandas por direi-
tos humanos. Trata-se, segundo ele, das vrias declaraes internacionais promulgadas aps a criao
das Naes Unidas (a propsito, veja-se: Bobbio, 2004). Segundo Bobbio, o problema do fundamento
340 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
positivo dos direitos humanos somente teve sua soluo atual na Declarao Universal dos Direitos
do Homem aprovada pela Assemblia Geral das Naes Unidas em 10 de dezembro de 1848 (p. 48).
Um positivista que discordar da eccia da Declarao (como lei efetiva) no poder concordar com
essa concluso otimista de Bobbio. Anal, como ca o caso dos pases no signatrios? Alm do que, o
estatuto do direito internacional ainda assunto controverso entre os juristas.
9
Eis o que disse Hume: Em toda teoria da moralidade com a qual me deparei at aqui, sempre me
dei conta de que o autor prossegue por algum tempo no modo comum de pensar, estabelece a existn-
cia de um Deus ou faz observaes com respeito s ocupaes dos homens, quando, repentinamente,
surpreendo-me ao descobrir que, ao invs das usuais cpulas das proposies, e no-, no en-
contro nenhuma proposio que no esteja conectada com um deve ou um no-deve. Tal mudana
imperceptvel, mas da mxima importncia. Pois, como esse deve, ou no-deve, expressa alguma
nova relao ou armao, esta deveria necessariamente ser notada e explicada e, ao mesmo tempo,
dada uma razo para o que parece inteiramente inconcebvel: a saber, como essa nova relao pode
ser deduzida de outras que lhe so inteiramente diferentes. Como os autores comumente no usam tal
precauo, pretendo recomend-la aos leitores. (Hume, D. Treatise of human nature. Livro III, parte I,
seo II, pargrafo 27). Hume no disse, a propsito, que no se pode derivar umdeve de um, e sim
que do modo como usualmente feita essa passagem, ela logicamente inconcebvel. A advertncia foi
feita contra as teorias morais usuais de sua poca, emespecial, s teorias do direito natural de seus con-
temporneos. Penso que essa advertncia serve plenamente contra as tentativas de derivar concluses
normativas de armaes sobre fatos (bens) feitas pelos defensores de vises dos direitos como ttulos.
10
Esta era a viso, a propsito, de Benjamin Constant, algo que cou claro em sua conhecida polmica
comKant, ato armar que dizer a verdade umdever apenas emrelao a quemtemdireito verdade.
E, segundo Constant, no faz sentido alegar direito a uma verdade que efetivamente prejudique ou-
trem. As opinies de Constant encontram-se no captulo VIII (Des principes) da obra Des ractions
politiques, de 1797, traduzido no livro Os lsofos e a mentira, organizado por Fernando Rey Puente, e
publicado pela UFMG em 2002 (Puente 2002, p. 6172). Nietzsche, sem comprometer-se com qualquer
teoria poltica em particular, no paradoxalmente tambm numa crtica ao rigorismo de Kant, defen-
deu uma viso similar sobre a relao entre deveres e direitos. No aforismo 39 do livro Aurora, Nietzsche
referiu-se aos direitos dos outros como quilo a que se referem nossos deveres (Nietzsche 2004, p. 199).
A viso de que deveres se correlacionam a direitos pode ser encontrada em liberais como Hayek, que
alis foram bastante explcitos ao armar que: Ningum tem um direito a um estado-de-coisas parti-
cular a menos que seja o dever de algum garanti-lo (Hayek 1976, p. 102). Recentemente, a viso de
direitos como exigncias foi sistematicamente apresentada e desenvolvida por Judith Jarvis Thomson,
em The realm of rights (Thomson 1990).
11
Ver Hohfeld 2000, p. 36. As expresses em ingls so, respectivamente: right/no-right; privilege/duty;
power/disability; immunity/liability; right/duty; privilege/no-right; power/ liability; immunity/disability.
12
Richard Hare um dos lsofos que sustentou a tese de que deveres morais expressam imperativos
(Hare 1996). Tratei dessas distines no artigo Razes para agir (ou como Lewis Carroll nos ajudou a
entender tambm os raciocnios prticos) (Azevedo 2007).
13
Atente-se aqui para a distino clssica entre signicado e sentido de Frege ember Sinn und Bedeu-
tung.
14
O termo empregado por Hohfeld foi privilege. Penso, porm, que o signicado pretendido por Hoh-
feld no era esse. Por isso, prero traduzir privilege por permisso. Dizemos que algum tem um pri-
vilgio quando se trata de uma permisso especial ou exclusiva. Mdicos, por exemplo, tm o privilgio
de realizar cirurgias (trata-se de uma permisso exclusiva).
15
Defendi essa tese no artigo O direito de morrer (Azevedo 2008).
16
Esta , a propsito, a viso mais difundida emnosso meio jurdico. Como assinalei emnota acima, se-
guindo Georg Jellinek (entre outros), direitos so facultas agendi. Sobre essa viso, veja-se Reale
(2005). Para Jellinek, o direito o poder de querer (reconhecido e protegido pela Lei) dirigido a um bem
ou interesse. Ora, os que pensam assim acabam por confundir um tipo de direito com o conceito de
direito em geral. Bebs precisam mamar. E plausvel que tenham inclusive o direito sobre suas mes a
Sobre a Possibilidade de uma Teoria Moral Baseada em Direitos 341
seremalimentados. Seriambebs portadores dessa facultas agendi? Teriambebs umpoder de querer
dirigido a umbemlegalmente protegido? Os defensores da viso entendemque no h problema, j que
a suposta vontade do beb pode ser juridicamente representada. Mas pais e mes tmo dever de abrigar
e alimentar seus lhos, por exemplo, mesmo que estes no queiram. Ofato que poder uma palavra
ambgua. Pode signicar possibilidade ou capacidade, mas tambmpode ter umsentido anlogo ao
que tinha para Hohfeld, isto , como a capacidade jurdica especial de alterar os direitos ou permisses
de outrem.
17
Tais armaes compreendem ou implicam comandos. plausvel, assim, que normas jurdicas (os
enunciados legislativos que se acham expressos textualmente em constituies, cdigos, leis e estatu-
tos) tambm no sejam imperativos, e sim enunciados declarativos dos quais se pode extrair impera-
tivos, comandos ou prescries. Leis e direitos no so, portanto, (em sentido primitivo) prescries,
embora seja constitutivo de seu contedo semntico que sujeitos autorizados (juzes, por exemplo)
possam, de leis ou direitos, extrair prescries (imperativos, ordens ou comandos) como concluses.
A propsito, no estado civilizado, somente pessoas investidas de poder pblico esto autorizadas poli-
ticamente a produzir comandos a partir de seus prprios julgamentos. Cidados comuns, ao contrrio,
diante do reconhecimento de uma norma, extraem, salvo excees (por exemplo, situaes de iminente
perigo, bem como delitos agrantes), apenas concluses prticas subjetivas, mas no comandos diri-
gidos a outros. verdade que posso chamar a ateno de algum sobre as concluses que ele deveria
extrair, mas, salvo situaes especiais, no tenho autoridade para comand-lo. Assim, a menos que se
tenha alguma autoridade pblica ou poltica, ningum tem a permisso de dar ordens a outra pessoa
(salvo em alguma formulao de Estado de Natureza, como em Hobbes ou Locke, por exemplo). Alis,
esse um aspecto central comum s teorias contratualistas. o que Locke armou quando sustentou
que, no governo civil, abdicamos de nossa licena natural de julgar e de dar execuo a nossos juzos po-
lticos (eventualmente por meio de comandos), concedendo-a somente aos juzes, governantes e seus
subordinados legalmente autorizados. Penso que este tambm um aspecto do conhecido direito li-
berdade, ou direito a no interferncia, e do direito ao devido processo legal. Nessa esteira, conclui-se
que o direito liberdade e o direito ao devido processo no so direitos que poderamos ter nos esta-
dos de natureza de Hobbes ou mesmo de Locke. So direitos gerados com o estado civilizado. Assim,
o que entendemos por liberdade corresponde a um estado-de-coisas de natureza poltica, de fato, a
um tipo de estado poltico, o chamado Estado de Direito. desses fatos, isto , da compreenso cor-
reta sobre esse estado-de-coisas que podemos inferir corretamente concluses prticas sobre nossas
prprias condutas ou eventuais comandos legtimos (quando se trata, nestes casos, de determinar por
nossa vontade a conduta de outrem).
18
Mdicos no Brasil esto proibidos por seu Cdigo de tica a revelar informaes obtidas condenci-
almente durante consulta, e esta obrigao persiste mesmo que o fato seja de conhecimento pblico,
e mesmo que o paciente tenha falecido. As excees so: justa causa, dever legal, ou autorizao
expressa do paciente (Cdigo de tica Mdica 1988, artigo 102).
19
As palavras verdadeira e realmente so, de fato, ociosas (por isso, os colchetes). O enunciado acima
expressa uma proposio necessariamente verdadeira; ele representa uma verso da conhecida frmula
empregada por Tarski em sua concepo semntica da verdade. Tarski tomou o enunciado (T): S ver-
dadeira sse p como enunciando o que chamou de condio material de adequao a qualquer teoria
sobre a verdade. Assim, a funo do enunciado (T) xar a extenso da palavra verdade. Desse modo,
S determina a extenso de todo enunciado ou proposio capaz de ser verdadeira ou falsa, a saber:
enunciados, proposies ou sentenas assertricas. Com efeito, se algum enunciado no puder ser em-
pregado em substituio a S (isto , se sua substituio gerar em T uma sentena gramaticalmente sem
sentido), segue-se obviamente que no se trata de umenunciado assertrico. A propsito da teoria tars-
kiana e o contraste com outras teorias da verdade, veja-se o livro de Susan Haack (1978, p. 1002).
20
Mesmo no-descritivistas, como Richard Hare, concordariam com isso. Hare inclusive disse-o expli-
citamente em Sorting out ethics (1997, p. 57) que a palavra verdade tem certas propriedades formais,
que ele no pode ignorar (referindo-se justamente ao teorema de Tarski). Hare inclusive imagina que
um opositor sua teoria de que enunciados morais e denticos no so enunciados descritivos, e sim
342 Marco Antonio Oliveira de Azevedo
prescritivos, poderia aludir a tais propriedades formais em favor de que no descritivistas (como ele)
esto errados. Hare concorda, porm, que se algumarmar que p ele certamente no pode, ao mesmo
tempo, deixar de endossar p. Ningumpode sensatamente dizer p, pormno verdade que p. Assim,
se um enunciado moral contiver aspectos descritivos (o que Hare certamente admite), ento, em um
sentido, certo que, ao fazer um enunciado moral, eo ipso dou-lhe tambm meu endosso, mas apenas,
assimsustenta Hare, comrespeito a seu contedo descritivo, e no a seu contedo prescritivo. No devo
ir muito longe aqui nessa pretenso de refutar essa viso de Hare. Pretendo apenas que o leitor note as
conseqncias que se seguem da aceitao do teorema de Tarski ao caso de enunciados sobre direitos e
deveres. Faria sentido dizer que, sendo, digamos, q um enunciado com contedo normativo do tipo X
temumdireito sobre Y de que ?, que algumpoderia sensatamente enunciar: q, embora no seja ver-
dade que q? (Algo como armar que X temumdireito sobre Y de que embora no seja verdade que X
tenha umdireito sobre Y de que .) Dado que insensato arm-lo, segue-se que enunciados morais tais
como X tem um direito sobre Y de que so tambm minimamente aptos a verdade. Hare admitiu
que prescries so minimamente aptas verdade (Hare 1997, p. 58). Porm, o qu exatamente mi-
nimamente apto verdade em enunciados como X tem um direito sobre Y de que ? Quais seriam
os constituintes puramente descritivos que tornariam esse enunciado minimamente apto verdade?
Ora, no havendo como isolar tais aspectos, conclui-se que certos contedos tipicamente prescritivos
que conferem ao enunciado em questo o carter de minimamente apto verdade (embora aqui
devamos nos perguntar se ainda faz sentido falar em enunciados minimamente aptos verdade).
21
Minha tese de doutorado lidou com problemas semelhantes. Nela sustentei que possvel derivar
concluses morais de premissas factuais, entendendo que o prprio David Hume, tradicionalmente
classicado como crtico a essa idia, defendeu essa possibilidade. Sobre isso, veja-se minha tese de
doutorado, A Lei de Hume (2003).
22
Esta distino j cannica na losoa moral. Sobre esses conceitos, veja-se Brandom (2000).
23
Elizabeth Anscombe chamava os raciocnios prticos tomados em hiptese de meros exemplos
de sala-de-aula. Para Anscombe, (bemcomo para Aristteles) raciocnios prticos so raciocnios feitos
em circunstncias de ao; eles expressam um ato de deliberao do agente (Anscombe 1957).
24
Em nosso meio, uma das maiores contribuies para o estudo do contraste entre raciocnios ou in-
ferncias tericas e raciocnios ou inferncias (e deliberaes) prticas foi feita pelo professor Balthazar
Barbosa Filho no artigo Saber, fazer e tempo: uma nota sobre Aristteles (1999). Neste artigo, o profes-
sor Balthazar ressalta que agir consiste em tornar determinado o que no , ao passo que dizer de uma
proposio que verdadeira dizer que certo estado de coisas ocorre tal como a proposio expressa,
o que implica admitir que o que torna no mundo uma proposio verdadeira no pode ser objeto de
ao. Penso que isso ajuda-nos a explicar porque o enunciado de dever que concluso de um racioc-
nio prtico difere do enunciado de dever que serve de premissa ao mesmo raciocnio. Se X tem direito
sobre Y de que p (isto , de que p seja o caso), X tem um dever (duty) frente a Y de que p (seja o caso).
Desse fato de que X tem um dever frente a Y de que p, infere-se (em termos prticos) que X tem (coete-
ris paribus) uma razo dentica, um dever (an ought) de fazer com que p seja o caso. Ora, algum pode
certamente saber que temumdever de que p (seja o caso) e no adequar sua vontade a isso. Sua imora-
lidade ou incontinncia o explicariam. Oque sugiro (muito embora no semcontrovrsia) que X tem
umdever frente a Y de que p expressa, tal como assinalou Thomson, uma proposio, a qual, emsendo
verdadeira, corresponde a um estado de coisas efetivo (um fato). A concluso do raciocnio, contudo,
entendida como concluso de um raciocnio prtico efetivo (e no de um raciocnio abstrado de seu
contexto prtico, o que no passaria de um mero exemplo de sala-de-aula, tal como dizia Anscombe),
no expressa uma proposio em sentido prprio: um imperativo.
25
Sobre a diferena entre o que bom (e recomendvel) e o que correto (ou justo) e exigvel, veja-se
a Tanner Lecture de Judith Jarvis Thomson, Goodness and advice (Thomson 2001).
QUEM SO OS MEMBROS DA COMUNIDADE MORAL?
PETER SINGER, A SENCINCIA E AS RAZES UTILITARISTAS
MARIA CECLIA MARINGONI DE CARVALHO
Universidade Federal do Piau
mcecilia19@uol.com.br
1. Sobre a sencincia
Andrew Linzey, telogo anglicano, cunhou o termo senciencismo
1
para designar as
posies que elegem a sencincia, vale dizer, a capacidade que um organismo tem
de sentir e de sofrer, para demarcar a esfera da comunidade moral. Na Alemanha
cunhou-se o termo patocentrismo para designar as posies que como o nome
sugere realam a capacidade de sofrer como sendo a caracterstica crucial que ou-
torga estatuto moral a seu portador. Richard D. Ryder preferiu os termos painism
e painience (Ryder 1998, p. 456; cf. tambm Painism, em Bekoff e Meaney 1998;
p. 26970) que Sonia T. Felipe traduziu, a meu ver muito oportunamente, pelos
neologismos dorismo e dorncia ou sofrncia respectivamente (Felipe 2005a,
p. 20527); no entender de Ryder, o termo dorncia, ou ento, sofrncia, por acen-
tuar a capacidade que umorganismotemde sentir dor e de sofrer incluindo-se nele
todas as formas de sofrimento se mostra mais adequado do que sencincia para
traar a linha divisria da comunidade moral. Embora Peter Singer no seja o nico e
nem tenha sido o primeiro pensador a defender uma posio voltada para o objetivo
de proteger da inio desnecessria de dor e sofrimento aqueles organismos, hu-
manos ou no-humanos, dotados de sensibilidade e conscincia, ele deu sistematici-
dade a tal posio. A clareza com que escreve proporcionou popularidade a seus es-
critos e o rigor buscado na argumentao, a riqueza de exemplos usados, bem como
o embasamento cientco de suas armaes lhe garantiram respeitabilidade acad-
mica. Singer considerado um dos mais polmicos lsofos da atualidade, dada a
radicalidade com que procura assumir as conseqncias de suas posies que, mui-
tas vezes, afrontamconcepes tradicionais na tica, a que muitos consideramdifcil
de renunciar. Digno de registro parece ser o fato de que mesmo aqueles que no subs-
crevem todas as teses de Singer ou os que apontam em sua teoria tenses e dicul-
dades, no conseguemnegar, por exemplo, que a sencincia, sobretudo a capacidade
de sentir dor e de sofrer, seja umimportante atributo dos pacientes morais, vale dizer,
daqueles seres que, a despeito de no serem agentes morais, so afetados por aes
de agentes morais, o que lhes d a senha de acesso comunidade moral.
1.1. A plausibilidade prima facie da sencincia como critrio de estatuto moral
Asencincia , ao menos prima facie, umcritrio plausvel de estatuto moral, uma vez
que no parece haver dvida de que moralmente errado inigir dor a um terceiro
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 343355.
344 Maria Ceclia Maringoni de Carvalho
na ausncia de uma boa razo para tal. O prprio senso-comum moral repele como
crueldade injusticvel a inio gratuita de dor. Cabe ressaltar que o que caracte-
riza uma posio senciencista que ela caracteriza o erro da crueldade emfuno do
dano que imposto vtima, paciente moral por excelncia, sem recorrer (primaria-
mente) a consideraes alheias a seu sofrimento. Assim, se um animal no-humano,
por exemplo, maltratado, ferido ou morto, a obrigao moral de evitar tais sacri-
fcios se pe em considerao a ele e no ou no apenas em ateno a hu-
manos que, por alguma razo, poderiam se sentir prejudicados em decorrncia do
sofrimento inigido ao animal. J se questionou no passado a capacidade de os no-
humanos sentirem dor. Sabe-se que Ren Descartes defendeu e incapazes de sentir
e sofrer. Uma tal posio hoje em dia difcil de ser seriamente sustentada, sobre-
tudo aps Darwin ter acentuado nossa proximidade logentica comno-humanos.
2
Todavia possvel encontrar as razes cartesianas no pensamento de alguns lsofos
e, como mostra S. T. Felipe, elas esto fortemente presentes ainda hoje na cincia ex-
perimental (Felipe 2007, p. 41ss). provvel que a sencincia no seja encontrvel em
todos os organismos no-humanos, mas h fortes evidncias de que ela no apan-
gio do ser humano. Alm das evidncias siolgicas, anatmicas e comportamentais
de que os animais sentem dor, esta possui, como arma Singer, incontestvel utili-
dade biolgica, e no seria razovel supor-se que os sistemas nervosos de humanos
e no-humanos funcionassem de modos to diferentes no que respeita s sensaes
subjetivas.
3
Por certo que a sencincia no se acha igualmente distribuda entre os
animais; este assunto no ser explorado aqui, pois o que est em questo a rele-
vncia da sencincia, ou seja, se sua presena faz alguma diferena para se decidir
questes de estatuto moral.
1.2. Peter Singer e a escolha da sencincia para demarcar a comunidade moral
O que h de especial na sencincia para que dela deua ser razovel atribuir-se es-
tatura moral a seu portador? Poderia ela ser considerada como condio necessria
e suciente para que seres dotados dessa capacidade se credenciem como dignos de
considerao moral?
Para Peter Singer a sencincia uma qualidade que confere estatuto moral a seu
portador, porque seres sencientes possuem interesses, ao menos o interesse em no
sofrer, em no sentir dor, e uma teoria tica aceitvel no pode deixar de incluir no
conjunto de suas prescries aquela que recomenda a minimizao da dor e do so-
frimento, por conta de ela ir ao encontro do interesse principal de seres dotados de
sensibilidade e conscincia, que o interesse em evitar a dor. Uma vez que uma teo-
ria tica no pode simplesmente deixar de levar em conta interesses de agentes e
pacientes morais, e a tica utilitarista, sobretudo em sua vertente preferencial, qual
se lia P. Singer, considera como seu princpio fundamental a maximizao da sa-
tisfao de interesses ou preferncias de todos os potencialmente afetveis por uma
ao/absteno, no h de causar surpresa o fato de a tica aplicada ou prtica de
Quem so os membros da comunidade moral? 345
Singer situar a satisfao de interesses/preferncias no centro de suas preocupaes.
Que o sofrimento evitvel seja moralmente injusticvel e deva, tanto quanto pos-
svel, ser combatido/ minimizado, parece ser uma decorrncia da tese de que seres
sencientes tm interesses, dentre os quais se destaca como o mais fundamental o in-
teresse emevitar a dor ousofrimento. Para Singer a sencincia condionecessria e
suciente para se outorgar considerabilidade moral queles que a possuem, indepen-
dente da espcie biolgica qual pertenam. As fronteiras da esfera moral coincidem,
portanto, com as fronteiras da sencincia. Enquanto condio suciente de estatuto
moral, todos os organismos sencientes, sejamhumanos ouno-humanos, pertencem
comunidade moral; sendo tambmcondio necessria, os que so desprovidos de
sencincia permanecemausentes da comunidade moral, no signicando, por certo,
que sejampura e simplesmente destitudos de importncia, ou que possam ser dani-
cados ou destrudos, sem que isso tenha alguma relevncia; signica to- somente
que sua importncia ou no de ordem moral ou sua relevncia moral apenas in-
direta, na medida em que danos a eles afetam interesses humanos. Todavia, pode-se
questionar a razoabilidade de uma tal implicao, que exclui da esfera moral ou da
considerabilidade moral direta os seres no-sencientes aqueles que por natureza
no so dotados de sencincia ou j no mais o so.
Oprincpio bsico da tica de Singer, que prescreve seremconsiderados por igual
os interesses semelhantes de todos os seres sencientes, visto por Singer como uma
decorrncia da exigncia de imparcialidade, que estaria ancorada no prprio ponto
de vista moral, o qual exigiria que os interesses de um sujeito singular X no po-
dem ter mais peso na deliberao moral por conta to-somente de serem os interes-
ses de X. A imparcialidade e a universalizabilidade prprias da moralidade prescre-
vem que interesses iguais sejam considerados de modo igual. Singer d a esta idia
o nome de Princpio da Igual Considerao de Interesses Semelhantes, o qual no
exige tratamento igual, mas to somente considerao igual a interesses comparveis
e semelhantes.
4
Uma transgresso do Princpio da Igual Considerao de Interesses
Semelhantes, alm de ferir a exigncia da universalizabilidade, ainda se compromete
com o especismo, para Singer to condenvel quanto o racismo ou o sexismo (Sin-
ger 2000, p. 6). exigncia moral de igualdade ele d uma interpretao original: de
acordocomSinger, sofrimentoigual, vale dizer, de igual intensidade oudurao, exige
igual considerao: no importa se quem sofre um indivduo da espcie humana
ou um animal no-humano. Isso parece tornar os animais no-humanos sencien-
tes nossos iguais morais. Todavia, a reexo de Singer no se detm a. O Princpio
da Igualdade de Considerao de Interesses Semelhantes por si s no delimita seu
alcance. Singer no considera, por exemplo, que a vida de todos os organismos sen-
cientes tenha igual valor. A vida de um ser dotado da qualidade de ser pessoa, isto ,
de ser um indivduo que, alm de senciente, tambm racional e autoconsciente,
5
tem mais valor do que as vidas dos seres que so meramente conscientes. Contudo,
como pretendo mostrar no decorrer desta exposio, o embasamento utilitarista que
Singer confere sua tica, parece lhe acarretar alguns embaraos.
346 Maria Ceclia Maringoni de Carvalho
1.3. A sencincia como condio necessria para se ter interesses
O termo interesse, como o sabemos, possui dois signicados. Quando dizemos que
X tem interesse em Y podemos querer dizer que X valoriza Y , tem apreo por Y ,
pretende, de alguma forma, obter Y . Ou ento, podemos querer dizer que, indepen-
dentemente de X se interessar ou no por Y , Y do interesse de X, isto , Y be-
nco para X. Na losoa muito se tem debatido sobre que tipos de entidade podem
realmente ter interesses. Emumextremo, R. G. Frey defende que somente os seres hu-
manos tminteresses, dado que segundo Frey para se ter interesses necessrio
que se tenha crenas e desejos, o que por sua vez exigiria a capacidade para se usar
a linguagem, a qual nenhum animal no-humano possui.
6
No outro extremo, alguns
eticistas ambientalistas
7
argumentam que todos os seres viventes (e, possivelmente,
alguns no viventes) tm interesses porque so sistemas teleolgicos que possuem
um bem que lhes prprio. A posio de Singer se situa no meio entre os dois extre-
mos, na medida em que atribui interesses a todos os seres sensveis e conscientes e
somente a estes.
Todavia, o que signica dizer que todos os seres sencientes e somente estes tm
interesses? Bernard E. Rollin argumenta que nenhum animal, tampouco o ser hu-
mano, explicitamente consciente de todas, sequer da maioria de suas necessidades.
O que converte suas necessidades em interesses sua capacidade de reao mental,
que emerge quando determinadas necessidades no so atendidas. Se no podemos
identicar todas as nossas necessidades, podemos algumas vezes saber quando algu-
mas so frustradas ou atendidas. Dor e prazer so os modos bvios de tais fatos virem
conscincia, mas no so os nicos. Frustrao, ansiedade, doena, tdio, e raiva
esto entre os muitos indicadores de necessidades insatisfeitas que se converteram
em interesses (Rollin 1992, p. 76ss). Singer observa que organismos no sencientes
podem ter necessidades e, portanto, um bem que lhes prprio, mas no um bem
passvel de ser experimentado.
1.4. a sencincia umcritrio adequado de estatuto moral?
Do que foi exposto se pode depreender que a sencincia um atributo importante e
que no pode ser negligenciado por uma teoria tica. Seres sencientes se credenciam
como merecedores de estatuto moral.
A sencincia pode, portanto, atuar como condio suciente para se atribuir con-
siderabilidade moral aos seres que a possuem. Disso no se segue, todavia, ser ela
condio necessria de estatuto moral. Ademais, parece existir razes positivas para
queremos atribuir ao menos um grau de estatuto moral a seres que, ao que tudo in-
dica, no so sencientes: pessoas que, em virtude de alguma enfermidade se encon-
tram em condio de coma profundo, e, aparentemente, no so sencientes; fetos
humanos e no-humanos, nos estgios iniciais de gestao e pessoas falecidas. Alm
disso, gostaramos de poder conceder respeito moral inter alia a smbolos na-
Quem so os membros da comunidade moral? 347
cionais ou religiosos bem como a lugares tidos por sagrados, ainda que no compar-
tilhemos das crenas que emprestam signicado a tais smbolos. possvel que pos-
suir estatuto moral no seja uma questo de tudo ou nada e que precisemos de uma
teoria mais sosticada para que possamos conceder estatuto moral a entidades indi-
viduais ou especcas que no possuem o atributo da sencincia. Talvez seja o caso
de se pensar emuma teoria multicriterial de estatuto moral, como a desenvolvida por
Mary Anne Warren (Warren 1997).
2. A sencincia e a tica utilitarista
Passo agora a enfocar algumas diculdades da tica de Singer que resultam de sua
adeso ao Utilitarismo; se algumas delas, a meu ver, tm sua origem em mal-enten-
didos, outras parecem afetar seriamente a posio abolicionista de Singer. Em pri-
meiro lugar, nunca demais ressaltar que algumas objees amplamente dissemi-
nadas contra Singer so equivocadas, pois parecem no levar em conta sua verso
particular de utilitarismo. H que se sublinhar como tem ressaltado Sonia T. Fe-
lipe , que Singer preconiza a igual considerao de interesses semelhantes, o que
ao menos em tese exclui o problema de se ter de escolher entre preferncias ou in-
teresses que no so semelhantes e, portanto, no comparveis entre si.
8
Assim, o
interesse de muitos humanos pelo uso de novos cosmticos no justica o enorme
sofrimento imposto a animais de teste. Interesses triviais de muitos nunca podemre-
ceber mais peso que interesses bsicos de outros. Um conito somente surgiria em
uma situao em que dois ou mais indivduos tivessem interesse em aliviar sua dor
ou sofrimento e os recursos disponveis para tal fossemescassos, no permitindo que
todos os afetados tenham sua dor atenuada. Para enfrentar este problema Singer, em
consonncia como Utilitarismo, prope que se recorra ao princpio da utilidade mar-
ginal decrescente.
9
Todavia, preciso se reconhecer, contra Singer, que os crticos que
acenam para diculdades na defesa utilitarstica do igualitarismo por Singer tm o
seu ponto, o qual consiste em que situaes so pensveis, nas quais o agente mo-
ral tem de tomar uma deciso, porm nem a tese que prescreve igual considerao
de interesses semelhantes, tampouco o princpio da utilidade marginal decrescente
apontam para uma soluo inequvoca. Ou podem apontar na direo de uma so-
luo que imponha sacrifcios aos animais. Explicando melhor: mesmo com as res-
salvas acima, no se pode evitar a impresso de que o Utilitarismo, na medida em
que exige sejam computadas todas as conseqncias de uma ao visando o aten-
dimento de interesses semelhantes, pode ser condescendente com a realizao de
experimentos em que se usam animais e que podem inigir-lhes grande sofrimento,
quando no a morte. Tal impresso reforada por algumas concesses, que Singer
aparentemente se viu obrigado a fazer para ser coerente com seu Utilitarismo. Nesse
contexto pode-se lembrar, como o fez Jrg Klein (Klein 1999, p. 6783) que na obra
Libertao Animal Singer admite estar moralmente justicado um experimento que
permitisse fossem salvas milhares de vidas humanas, a despeito de tal experimento
348 Maria Ceclia Maringoni de Carvalho
inigir dor e sofrimento ao animal sujeito da experincia, muito embora Singer reco-
nhea que a possibilidade de ocorrer uma tal situao, a despeito de ser concebvel,
muito remota (Singer 2000, p. 78). Tendo isso em mente, Singer prope que, a m
de no incorrermos em especismo, quando tivermos de decidir se uma experincia
ou no justicvel, estejamos dispostos utilizao de um ser humano mentalmente
deciente em uma tal experincia.
10
Outro argumento usado por Singer para se defender da acusao imputada sua
tica, ou seja, a de que o utilitarismo abriria uma brecha para a justicao de experi-
mentos dolorosos com animais, consiste em apontar para o fato de o Utilitarismo ser
incompatvel com um catlogo de normas que devam valer de modo absoluto, e que
tal estado de coisas um dos mritos do utilitarismo. O recurso a uma lista de nor-
mas que nos prescrevessemo que fazer poderia apenas primeira vista ser vantajoso,
pois, como adverte Singer, um rol que contivesse nossos deveres nos pouparia de re-
etir sobre as caractersticas de uma situao particular. Todavia, a suposta vantagem
se esvai, uma vez que as proibies ou mandamentos incondicionais revelam-se ina-
dequados diante de circunstncias inusitadas ou extremas (Singer 2000, p. 78). Boa
parte dos problemas ticos no pode ser enfrentada com solues simples ou pr-
fabricadas, mas exige uma investigao pormenorizada e a considerao mais ampla
possvel das vrias conseqncias dos diversos cursos de ao disponveis. Enm, em
favor do utilitarismo se pode dizer que se queremos uma tica que faa jus s peculia-
ridades de cada situao, no podemos nos contentar comuma tbua de mandamen-
tos, cuja simplicidade e generalidade nos deixariam desprovidos de orientao em
situaes complexas. Todavia, contra o utilitarismo vale armar que o cmputo das
satisfaes das vrias preferncias em disputa, mesmo em se considerando a clu-
sula de que somente as preferncias ou os interesses semelhantes devem ser tidos
em linha de conta, no tarefa das mais fceis ou sequer exeqvel.
2.1. Valor do sofrimento, valor da vida
Outro ponto que os crticos de Singer costumam receber com reserva diz respeito ao
tratamento diferenciado que ele d ao valor do sofrimento e ao valor da vida. Se ao so-
frimento dos animais deve ser concedido o mesmo peso que ao dos humanos, Singer
considera que vida de seres humanos normais por conta de sua autoconscincia,
sua capacidade de planejar o futuro, etc. se deve outorgar um valor mais alto do
que dos animais no-humanos. Assim, de acordo com Singer, no seria especista
11
julgar que a vida de um adulto normal, membro de nossa espcie, seja mais valiosa
do que a de um rato adulto normal, o que, todavia, de acordo com Singer, no deve
ser entendido como signicando que seja sempre moralmente permissvel eliminar-
se a vida de umrato: sua morte, ainda que indolor, reduziria certamente a quantidade
total de felicidade no universo e , nessa medida, indesejvel. Observe-se que neste
particular Singer recorre ao Utilitarismo clssico, que contabiliza prazeres e dores, ao
invs de preferncias satisfeitas ou frustradas. Todavia, eliminar a vida de uma pes-
Quem so os membros da comunidade moral? 349
soa, que Singer caracteriza como umser que temconscincia de si e capaz de se ver
como indivduo distinto com um passado e um futuro intrinsecamente pior do
que eliminar a de um rato, dado que a morte de uma pessoa no apenas contribui,
em geral, para diminuir o montante de felicidade no universo, mas ainda acarreta a
frustrao das preferncias que a pessoa pode ter tido relativamente a seu futuro.
12
Coerente com seu Princpio de Igual Considerao de Interesses Semelhantes e
com a tese de que a vida de no-pessoas tem valor diminudo relativamente ao da
vida de pessoas, Singer considera que uma lesma e umrecm-nascido de umdia tm
o mesmo valor. Nenhum dos dois dispe de preferncias voltadas para o futuro, que
possam ser frustradas. O mesmo se d em relao a bebs anencfalos, embries e
fetos de uma certa faixa etria, bebs humanos atingidos por severa e irreversvel li-
mitao mental.
13
2.2. UmUtilitarismo levado a srio
A teoria tica de Singer parece comportar trs teses que podem conitar entre si: 1)
a prescrio da igual considerao de interesses semelhantes; 2) o maior valor a ser
concedido a indivduos comvidas mentais mais complexas; 3) a norma utilitarista de
se contabilizar todas as conseqncias, inclusive os efeitos colaterais de nossos atos.
Como j ressaltado Singer defende umutilitarismo que no apregoa a igual consi-
derao de todos os interesses e preferncias, mas somente de interesses semelhan-
tes. Mas h que se realar tambm que o Utilitarismo de Singer sensvel maior
ou menor complexidade de vidas mentais. Tampouco se pode esquecer que o uti-
litarismo recomenda que se contabilizem todas as conseqncias de nossas aes,
inclusive os efeitos colaterais das mesmas. Posto isso, Singer parece se ver constran-
gido a relativizar sua tese, segundo a qual dor dor, no importando quem a sente, e,
no limite, a privilegiar as dores do ser humano em detrimento das do animal. o que
se pode depreender de sua resposta observao de Richard J. Arneson que, em uma
crtica a Singer (Arneson 2000, p. 105), sustentou que, emtese, se estivssemos diante
da escolha entre as seguintes alternativas: ou bem permitir/ causar fortes dores de
dente em uma criana ou ento dores ainda mais fortes em um jovem rato, teramos
que nos decidir, de acordo com Singer, pela primeira alternativa, o que afrontaria,
sem dvida, o senso-comum moral. Em sua resposta a Arneson, Singer, em confor-
midade com o utilitarismo, que exige sejam computadas todas as conseqncias de
nossas aes, inclusive seus efeitos colaterais, se v compelido a admitir que deve-
mos levar em considerao outros interesses alm do interesse em no experimentar
o sofrimento causado por uma dor de dente: os interesses da criana em ser capaz
de freqentar a escola, ou os interesses dos pais em no ver sua criana sofrendo.
Estes outros interesses, algumas vezes, porm nem sempre, inclinaro a balana em
uma direo diferente daquela em que estaria se tivssemos que considerar to
somente a severidade da dor fsica. (Singer 2000, p. 299).
14
Em consonncia com o Utilitarismo, Singer como observado por Jrg Klein
350 Maria Ceclia Maringoni de Carvalho
(1998, p. 6783) muitas vezes acrescenta sua armao, segundo a qual dores so
dores e, por conseguinte, dignas de igual considerao independentemente da esp-
cie a que o indivduo que as sente pertence, a clusula other things being equal.
Assim, as dores de dente de um ratinho e de uma criana s mereceriam a mesma
considerao se, a despeito de serem supostamente de igual intensidade, pudsse-
mos supor que no haveria nenhuma outra diferena relevante provocada por elas.
Todavia, uma vez que por conta das dores de uma criana como Singer aparente-
mente entende um nmero maior de interesses costuma ser frustrado do que em
decorrncia das dores de um rato, aquelas devem merecer mais peso, ainda quando
sejam to fortes como as do rato e, muitas vezes tambm, quando so menos fortes
do que elas.
2.3. Pessoas comdiferentes nveis de desenvolvimento mental
No que tange questo do valor da vida de seres vivos Singer no apenas diferencia
entre pessoas e no-pessoas, mas ainda introduz distines adicionais em funo do
grau de desenvolvimento das caractersticas pessoais de umser vivo, visando oferecer
subsdios para a resoluo de alguns casos de conito.
Em Ten Years of Animal Liberation Singer parece ter razo quando aponta para
uma contradio na obra de Tom Regan, e que consistiria no fato de no obstante
Regan defender que a vida de todos os mamferos dos ratos at os humanos
possua o mesmo valor inerente e, portanto, merea a mesma proteo moral, ele sus-
tenta que no caso hipottico de umbarco salva-vidas que estivesse comsuperlotao
e em cujo interior se encontrassem, alm de quatro seres humanos normais tambm
um cachorro, seria moralmente exigvel caso tivssemos que lanar para fora da
embarcao um de seus ocupantes, a m de evitar que todos perecessem que es-
colhssemos lanar para fora o cachorro e no umdos seres humanos. De acordo com
Regan a razo para tal residiria emque a morte acarreta maior dano a umser humano
do que a um cachorro, dado que a eliminao prematura da vida de um ser humano
o impede de ter mais experincias de vida valiosas tanto em nmero quanto em
variedade do que seria o caso em decorrncia da morte precoce de um co (Singer
1985, p. 48ss).
Por outro lado, Singer tem conscincia de que seu princpio que prescreve igual
considerao de interesses semelhantes no ofereceria entrave algum para se justi-
car a deciso de se salvar os humanos, emdetrimento do animal, pois tudo indica que
os humanos tm um interesse maior pela vida do que os ces. Tanto se poderia dizer
que ao ser humano estariamabertas maiores possibilidades de satisfao emsuas vi-
das como tambm que eles porm no os ces acalentam planos, esperanas e
desejos, que a morte impediria fossem realizados.
Estas e outras passagens na obra de Singer apontampara o fato de que, de acordo
com sua teoria tica, em situaes em que a vida est contra a vida, aqueles seres vi-
vos cujo nvel mental superior ao de outros, deveriam ter prioridade no momento
Quem so os membros da comunidade moral? 351
de um resgate. A situao do barco salva-vidas no , em princpio, diferente de uma
situao em que um animal morto com o to de se salvarem vidas humanas. Jrg
Klein chamou a ateno para o caso do xenotransplante, ou seja, o uso de rgos de
animais no-humanos para serem transplantados em humanos (Klein 1998, p. 67
83). Se um co deve ser sacricado e lanado fora da embarcao para que um ser
humano possa sobreviver, ou se um porco morto e seu corao transplantado em
um ser humano, que, do contrrio, morreria, so duas situaes que parecem se as-
semelhar. No obstante, Singer se pronunciou contra o xenotransplante, por admitir
que porcos so pessoas.
15
3. Para concluir
No se pode negar que a contribuio de Singer para ampliar a esfera da comunidade
moral e romper a barreira da espcie humana foi signicativa. Sua obra parece ter
propiciado o fato de muitos humanos terem-se tornado mais sensveis dor e ao so-
frimento impostos aos animais no-humanos pelos modos habituais como estes so
(mal) tratados. Tambmse pode armar que possivelmente por conta da obra de Sin-
ger a losoa acadmica tenha passado a acolher a tica animal ou zootica como
parte importante de seu trabalho de investigao. Todavia, como ressaltado neste
artigo, o critrio singeriano da sencincia, a despeito de sua plausibilidade, ainda
permanece excludente por no poder incluir na esfera moral seres no-sencientes
a quem se poderia/deveria atribuir estatuto moral.
O Utilitarismo de preferncias de Singer no est isento de diculdades; na me-
dida em que se interpreta preferncias em termos de necessidades conscientes,
nele no h espao para se incluir privaes no registradas pela conscincia animal.
Animais mantidos emcativeiro sobcondies de vida muito ruins provavelmente no
podem imaginar uma vida melhor para eles. Animais sencientes podem sentir dor,
medo, e isso parece ser tudo o que um utilitarismo de preferncias capaz de cap-
turar. O que a perspectiva do utilitarismo de preferncias parece no conseguir levar
em conta a condio de privao de uma vida melhor.
16
Ademais, a sencincia se
considerada como condio necessria de estatuto moral, parece impedir que se con-
temple, por exemplo, o respeito que deveramos poder atribuir aos mortos, a objetos
e smbolos que tenham signicado para ns ou para outros, como, por ex. bandeiras,
imagens religiosas, lugares sagrados, etc.
O cmputo utilitarista de todas as conseqncias de uma ao e a tese de que
a vida de pessoas tem mais valor que a de no-pessoas podem, em uma situao de
conito, favorecer uma deciso emprol da vida humana, o que pode atenuar o vigor e
o impacto da defesa singeriana dos animais. difcil no concordar com a concluso
de J. Klein, segundo a qual, o utilitarismo de preferncias no d suciente amparo
para uma defesa em favor da igual considerao para animais, no sendo, por conse-
guinte, o fundamento adequado para uma tica igualitarista que se prope a defen-
352 Maria Ceclia Maringoni de Carvalho
der a igual considerao de interesses semelhantes, independentemente da espcie
biolgica a que os pacientes morais pertenam.
Contudo, a preocupao como sofrimento animal veio para car. Qualquer teoria
tica que pretenda superar a de Singer dever incluir entre suas normas a proibio
de crueldade para com animais no-humanos e contemplar sua vulnerabilidade ao
sofrimento em suas variadas formas.
Referncias
Arneson, R. 2000. What, if Anything, Renders all Humans Morally Equal? In Jamieson 2000,
p. 10328.
Bekoff, M & Meaney C. A. (eds.) 1998. Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare.
Westport, Connecticut: Greenwood Press.
Dutra L. H. & Mortari, C. (orgs.) 2005. tica. Anais do IV Simpsio Internacional Principia.
Parte 2. Florianpolis: Ncleo de Epistemologia e Lgica.
Felipe, S. T. 2003. Por uma questo de princpios. Alcance e Limites da tica de Peter Singer em
defesa dos animais. Florianpolis: Fundao Boiteux.
. 2005a. Atribuio de direitos aos animais: trs argumentos para sua fundamentao. In
Dutra & Mortari 2005, p. 20527.
. 2005b. Natureza e Moralidade. Igualdade Antropomrca, Antropocntrica outica? Phi-
losophica (Lisboa) 25: 4375.
. 2006. Da considerabilidade moral dos seres vivos: A Biotica Ambiental de Kenneth E.
Goodpaster. Ethic@. Revista Internacional de Filosoa Moral (Florianpolis) 5(3): p. 103
18.
. 2007. tica e experimentao animal. Fundamentos Abolicionistas. Florianpolis: Editora
da Universidade Federal de Santa Catarina.
Frey, R. G. 1980. Interests and Rights. The Case Against Animals. Oxford: Oxford University
Press.
Jamieson, D. (org.) 2000 [1999]. Singer and His Critics. Oxford: Blackwell Publishers.
Klein, J. 1998. Die ethische Problematik des Tierversuchs. Ethica 4(6): 383-406.
. 1999. Gleichheit fr Tiere? Aufklrung und Kritik 2: 67-83.
Leopold, A. 1949. A Sand County Almanach. Oxford: Oxford University Press.
Linzey, A. 1998. Sentientism. In Bekoff & Meaney 1998, p. 211.
Regan T. & Singer, P. (eds.) 1989. Animal Rights and Human Obligations. Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice Hall.
Rollin, B. E. 1989. Animal Pain. In Regan & Singer 1989, p. 6065.
. 1992. Animal Rights and Human Morality. Buffalo, NY: Prometheus Books.
Rolston III, H. 2000. Respect for Nature: Counting what Singer nds of no Account. In Jamie-
son 2000, p. 24768.
Ryder, R. D. 1998. Political Animal. The Conquest of Speciesism. Londres: McFarland.
Singer, P. [1975] Libertao Animal. Trad. Maria de Ftima St. Aubyn. Lisboa: Via ptima, 2000.
. 1985. Ten years of animal liberation: a reviewof ten recent books. The NewYork Reviewof
Books (17 January 1985): 4652.
. [1993] tica Prtica. Trad. Jefferson Luiz Camargo. So Paulo: Martins Fontes, 1994.
. 2000[1999] A Response. In Jamieson 2000, p. 269335.
Steinbock, B. 1978. Speciesism and the Idea of Equality. Philosophy 53: 24756.
Quem so os membros da comunidade moral? 353
Taylor, P. W. 1986 Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics. Princeton, NJ: Prince-
ton University Press.
Warren, M. A. 1987. Difculties with the Strong Animal Rights Position. Between the species
2(4): 16373.
. 1997. Moral Status. Obligations to persons and other living things. Oxford: Oxford Univer-
sity Press.
Notas
1
Linzey 1998, p. 211. De acordo comSonia Felipe, ele foi uma das vozes dissidentes mais poderosas da
Igreja Catlica no sculo XX. Cf. Felipe 2003, p. 82.
2
Bernard Rollin assevera que there is no good reason, philosophical or scientic, to deny pain in ani-
mals. Prossegue armando que as the Darwinians recognized, it is arbitrary and incoherent, given the
theories and information current in science, to rule out mentation for animals, particularly such a basic,
well-observed mental state as pain. Cf. Animal Pain, p. 63 excerto publicado na coletnea organi-
zada por TomRegan e Peter Singer (1989), intitulada Animal Rights and Human Obligations, extrado de
sua obra The Unheeded Cry. Oxford: Oxford University Press, 1989.
3
Cf. Singer [1975], p. 112. Bernard E. Rollin arma: Denial of pain consciousness in animals is incom-
patible not only with neurophysiology, but with what ca be extrapolated from evolutionary theory as
well. There is reason to believe that evolution preserves and perpetuates successful biological systems.
Given that the mechanisms of pain in vertebrates are the same, it strains credibility to suggest that the
experience of pain suddenly emerges at the level of humans. [. . . ] Feeling pain and the motivational in-
uence of feeling it are essential to the survival of the system, and to suggest that the system is purely
mechanical in animals but not in man is therefore highly implausible. Itlico no original. Rollin 1989,
p. 64.
4
Cf. Singer [1993], p. 33, onde o autor arma: Trata-se de um princpio mnimo de igualdade, no sen-
tido de que no impe um tratamento igual. Como Singer mostra, h situaes em que um tratamento
desigual promove umresultado mais igualitrio, o que est de acordo como princpio da diminuio da
utilidade marginal. Cf. tambm [1975], p. 2.
5
Cf. Singer [1993], p. 97. Singer acolhe os indicadores de humanidade arrolados por Joseph Fletcher:
conscincia de si, autocontrole, senso de futuro e passado, capacidade de relacionar-se com os outros,
preocupao com os outros, comunicao e curiosidade (cf. Singer [1993], p. 96). Menciona tambm a
denio de John Locke para o ser pessoa, cujas caractersticas no se contrapem de Fletcher: ser
pensante e inteligente, dotado de razo e reexo, que capaz de se ver como tal, como sendo a mesma
coisa pensante, em tempos e lugares diferentes (cf. Singer [1993], p. 97);
6
Frey, R. G. Why Animals lack beliefs and desires, em Regan & Singer 1989, p. 3942. Excerto extrado
de Frey 1980. Ver o excelente artigo de Sonia Felipe (2005b), em que a autora pgina 57 denuncia as
razes cartesianas do pensamento de R. G. Frey. O tema abordado tambm em seu livro Felipe 2007,
p. 1345. Oprincpio da utilidade marginal decrescente a rebatizado por Felipe de modo bastante feliz
como princpio do no-desperdcio ou princpio do melhor aproveitamento dos bens, a ser invocado
quando os recursos so escassos e as demandas so semelhantes e competem entre si. Cf. Felipe 2007,
p. 1478.
7
Aqui no se pode deixar de mencionar A. Leopold, precursor do moderno movimento ambientalista,
autor de A Sand County Almach, and Sketches Here and There [1949], como tambm Paul W. Taylor Res-
pect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, 1986, que defende um igualitarismo biocntrico, o
qual exige no apenas o respeito a todos os seres viventes, mas que outorguemos vida de todos os
viventes o mesmo valor que outorgamos nossa prpria vida, uma posio teoricamente difcil de ser
sustentada, dado no haver razo aparente para se conceder relevncia tica ao ser vivente emcontraste
com a natureza inanimada, alm da diculdade de se pr em prtica uma tica que interdita a destrui-
o de qualquer organismo vivo. O critrio da sencincia considerado limitado tambm por Holmes
354 Maria Ceclia Maringoni de Carvalho
Rolston III, autor de Respect for Life: Counting what Singer nds of no Account. In Jamieson 2000,
p. 24768. Mais recentemente Kenneth Goodpaster tem mostrado os limites do critrio da sencincia e
argumentado em favor de uma biotica ambiental e da considerabilidade moral dos seres vivos. Leia-se
a respeito o artigo de S. T. Felipe (Felipe 2006).
8
Ver por exemplo as observaes pertinentes de Sonia Felipe em 2005b, p. 4375.
9
Singer [1993], cap. 2. Sonia Felipe, em seu livro (2007) defende Singer de diversas crticas dirigidas que
lhe so dirigidas por sua posio igualitrio-utilitarista. Cf. sobretudo, as pginas 16678.
10
Singer [1975], p. 79. Em palavras de Singer: [. . . ] uma experincia no pode ser justicvel a no ser
que seja to importante que justicasse a utilizao de umser humano mentalmente deciente ([1975],
p. 78).
11
Cf. Singer [1993]; pgina 71 ele escreve: No seria especista armar que a vida de umser consciente
de si, capaz de pensamento abstrato, de planejar o futuro, de realizar complexos atos de comunicao
etc., seja mais valiosa do que a vida de um ser que no possua essas aptides. Veja-se tambm [1975],
p. 19: Enquanto a autoconscincia, a capacidade de pensar emtermos de futuro e ter esperana e aspi-
raes, a capacidade de estabelecer relaes signicativas com os outros, entre outras, no so relevan-
tes para a questo da inico de dor uma vez que dor dor, independentemente das capacidades do
ser para alm da capacidade de sentir dor estas capacidades so relevantes para a questo da morte.
No arbitrrio defender que a vida de um ser com autoconscincia, capaz de pensamento abstracto,
de planeamento para o futuro, de actos complexos de comunicao, etc., mais valiosa do que a vida
de um ser sem estas capacidades.
12
Comrespeito independncia que Singer julga existir entre o valor da vida de uma entidade e o valor
de seusofrimento, Bonnie Steinbock observoucriticamente: But I doubt that the value of anentitys life
can be separated from the value of its suffering in this way. If we value the lives of human beings more
thanthe lives of animals, this is because we value certaincapacities that humanbeings have andanimals
do not. But freedomfromsuffering is, in general, a minimal condition for exercising these capacities, for
living a fully human life . . . That is why we regard human suffering as more deplorable than comparable
animal suffering. (Steinbock 1978)
13
Singer escreve: O embrio, o feto, a criana com profundas decincias mentais e o prprio beb
recm nascido so, todos, membros inquestionveis da espcie Homo Sapiens, Mas nenhum deles
autoconsciente, tem senso de futuro ou capacidade de se relacionar com outros ([1993], p. 96). Para
caracterizar o termo pessoa Singer subscreve os indicadores de humanidade de Joseph Fletcher:
conscincia de si, autocontrole, senso de futuro e passado, capacidade de relacionar-se com os outros,
preocupao com os outros, comunicao e curiosidade (cf. [1993], p. 96).
14
No original l-se: we should take into account other interests beyond the interests in not experi-
encing the pain of a toothache: the childs interests in being able to attend school, or the interests of
the parents in not seeing her child in pain. These other interests will sometimes, but not always, tilt the
balance in a different direction from where it would lie if we were to consider only the severity of the
physical pain. Singer 2000, p. 299.
15
Cf. Singer, P. Xenotransplantation and speciesism, Transplantation Proceedings 24: 72832, (1992),
apud Klein 1999; Hutchinson, A. & Singer, P. Xenotransplantation: is it ethically defensible? Xeno 3:
5860 (1995), apud Klein 1999. Em seu artigo Klein conclui que, examinando-se com ateno, a defesa
singeriana da igualdade para animais no encontra amparo suciente em seu utilitarismo de prefe-
rncias que, se levado s ltimas conseqncias, mina sua argumentao em prol da igualdade para
animais, tornando-a mais retrica do que utilitaristicamente fundada.
16
Poderamos, por exemplo, como argumenta Bernard E. Rollin, at imaginar connarmos um animal
em uma jaula ou gaiola e condicion-lo de forma a que ele goste de sua priso e desenvolva horror ou
temor ao espao aberto. Tal comportamento seria moralmente errado, mas o critrio da sencincia e o
utilitarismo de preferncias no nos probemde fazer tal coisa. EmAnimal Rights and Human Morality,
p. 70, ele escreve a It would also seem to be clearly wrong for us to take an animal that was by nature
free-roaming, say a gazelle or tiger o, more dramatically an eagle, and conditon it to prefer living in a
tiny cage and to abhor or fear open space. Even though we were producing no pain in the animal, and
Quem so os membros da comunidade moral? 355
possibly even conditioning it to feel a good deal of pleasure at being in its cage, we would consider
such an action to be monstrous for moral reasons having nothing to do with pleasure and pain, namely,
violating the animals nature and dignity. This same intuition may explain the repugnance we feel at
watching bears ride bicycles, even when we are assured that they have not been trained using negative
reinforcement and are, in fact, well-fed and well-cared for. The concept of an animals nature is crucial
here [. . . ]. Ver tambm Felipe 2006, p. 108. Em seu artigo, Sonia Felipe ressalta que uma vida pode se
ver impedida de se expressar plenamente, semque isso represente dor ou sofrimento para ela, razo por
que Tom Regan leva em conta no somente a sencincia, mas a vulnerabilidade ao dano, concedendo
a este um estatuto diferenciado, distinguindo-o da dor e do sofrimento e propondo um critrio mais
abrangente do que o da sencincia.
A CO-ORIGINARIEDADE DO DIREITO LIBERDADE E DO DIREITO
IGUALDADE EM KANT
MILENE CONSENSO TONETTO
Universidade Federal de Santa Catarina
mitonetto@yahoo.com.br
Consideraes iniciais
Kant arma, na Metafsica dos Costumes, que o ser humano possui um nico direito
inato, a saber, o direito liberdade. Para ele, o direito inato aquele que pertence
a qualquer ser humano devido sua prpria natureza e em virtude da sua humani-
dade, independentemente de todo ato jurdico. Apesar de Kant armar ser o direito
liberdade o nico direito inato que o homem possui, o que se pode constatar na
articulao da sua argumentao a derivao do direito inato igualdade. Alm do
direito igualdade, Kant tambm deriva outros direitos inatos: o direito do homem
de ser seu prprio senhor, a qualidade de um homem irrepreensvel e a prerrogativa
de fazer aos outros aquilo que no tira o que os outros tm direito de fazer.
Oprincipal objetivo desse trabalho ser analisar a justicao kantiana do direito
igualdade. Investigar-se- a existncia de uma relao de co-originariedade entre o
direito inato liberdade e o direito inato igualdade. Todavia, essa investigao ir
nos remeter a uma anlise da deduo do princpio do direito. Tambm ser anali-
sado em que consiste o direito igualdade, levando em considerao, por exemplo,
as armaes excludentes que Kant faz em relao s mulheres e em geral aos cida-
dos considerados cidados passivos.
1. Odireito inato liberdade e o princpio do direito
O conceito de liberdade pode ser considerado fundamental para entendermos o de-
senvolvimento da losoa moral e prtica de Kant. De modo geral, na teoria moral,
Kant diferencia a liberdade como sendo interna e externa. A liberdade interna o
tema da teoria tica. Por outro lado, a liberdade externa um tema da teoria do di-
reito. Segundo Kant,
A doutrina do direito trata somente da condio formal da liberdade externa (. . . )
isto , do direito. Mas a tica vai alm disso e fornece um contedo (um objeto
da escolha livre), um m da razo pura que representado como um m que
tambm objetivamente necessrio, isto , um m que, na medida em que os
seres humanos so considerados, um dever t-lo. (Kant [1797], Ak 380)
Pode-se sustentar, desse modo, que a primeira parte da Metafsica do Costumes o
sistema dos princpios morais em que esto baseados as leis que prescrevem deveres
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 356365.
A co-originariedade do direito liberdade e do direito igualdade em Kant 357
a algum que pode ser coagido a cumprir. Por outro lado, a segunda parte da obra
o sistema dos deveres pelos quais somente a auto imposio atravs do dever
possvel.
Antes de comear a tratar propriamente da justicao do direito liberdade
necessrio fazer alguns esclarecimentos sobre a diferena entre as leis morais e as
leis do direito na teoria kantiana. Essas distines sero importantes para analisar,
posteriormente, a deduo do princpio universal do direito. A anlise da deduo
do princpio do direito necessria aqui, pois dependendo do seu status, isto , se o
princpio deduzido de modo analtico ou sinttico, se puramente formal ou tico,
pode-se investigar de maneira mais atenta o sistema de direitos kantiano. A partir
do princpio universal do direito alguns princpios mais especcos do sistema de
direitos parecemser derivados, a saber: o princpio que diz que as violaes do direito
podemser prevenidas ou punidas enunciado por Kant na armao de que Odireito
e a autorizao do uso da coero signica uma e a mesma coisa (Kant [1797], Ak
232); o princpio do direito privado que mostra ser possvel as pessoas adquirirem
direitos de propriedade. Desse modo, pode-se investigar se certos direitos justicados
por Kant tornam o sistema consistente ou no.
De acordo comKant, todos os princpios morais so formais e no materiais.
1
Um
princpio considerado formal quando ele no depende da mudana de contedo
da vontade individual, a saber, desejos, necessidades ou intenes. Por outro lado, os
princpios morais, para Kant, no dependemdo que pode ou no acontecer de forma
contingente. Desse modo, eles so imperativos categricos, isto , comandos univer-
sais e incondicionais que obrigam todos os seres racionais capazes de cumprir um
dever. Os seres com capacidade de determinar sua prpria vontade de acordo com
um dever, que experienciam e podem sucumbir s inclinaes possuem a liberdade
de escolha (frei Willkr). Como as leis morais regulama liberdade de escolha elas so
chamadas leis da liberdade. Diferentemente das leis ticas, as leis do direito restrin-
gem somente a escolha livre externa e no a vontade interna.
Na introduo da Doutrina do Direito, Kant arma que o conceito de direito est
relacionado comtrs caractersticas essenciais. Primeiro, o direito diz respeito s rela-
es externas entre os indivduos na medida em que as aes podem afet-los direta
ouindiretamente. Segundo, o direito no est relacionado comos desejos individuais,
mas somente com a relao da escolha de algum com a escolha de outro. Terceiro, o
direito trata somente da forma das relaes entre as escolhas (e no de contedo) na
medida em que elas so vistas como livres (Kant [1797], Ak 230). E assim, Kant acaba
por denir: o direito o conjunto das condies, por meio das quais o arbtrio de
um pode estar de acordo com o arbtrio de um outro, segundo uma lei universal da
liberdade (Kant [1797], Ak 230).
Emseguida, Kant estabelece o princpio universal do direito, assimenunciado:
justa toda ao segundo a qual ou cuja mxima a liberdade do arbtrio de cada um
pode coexistir com a liberdade de qualquer um segundo uma lei universal. (Kant
[1797], Ak 231). Aqui, Kant parece derivar o princpio universal do direito a partir do
358 Milene Consenso Tonetto
princpio universal da moralidade, isto , do Imperativo Categrico. Paul Guyer, no
artigo Kants deduction of the principles of right, escreve que Kant parece apenas apli-
car aquela exigncia fundamental do princpio de que ns usamos nosso poder da
escolha livre e da ao sob nossa escolha de acordo com a condio de que as mxi-
mas sob a quais ns escolhemos agir sejamuniversalizveis (Guyer 2002, p. 23). Para
Guyer, isso quer dizer que o imperativo categrico signica os meios pelos quais ns
conhecemos nossa liberdade e tambm o princpio pelo meio do qual ns restrin-
gimos nossa liberdade a m de determinar nossos direitos legais e tambm nossos
deveres ticos impostos a cada um de ns.
Muitos comentadores tm divergido dessa posio sustentada por Guyer. O pro-
blema parece residir na armao de que o princpio universal do direito pode ser
deduzido analiticamente do conceito de direito ou de que o princpio universal do
direito deduzido a partir do imperativo categrico. Mary Gregor, por exemplo, ar-
gumenta que apesar de Kant fornecer um material para o argumento que vai do
imperativo categrico at o princpio universal do direito, ele deixa o leitor organi-
zar esse material para ele construir o argumento. (Gregor 1988, p. 761). Alm disso,
acrescenta ela, a seo do texto emque Kant apresenta a deduo no parece ter uma
ordem lgica.
Para outros, como Leslie Mulholland, se o princpio universal do direito for consi-
derado analtico, Kant no poder demonstrar que os homens possuemdireitos (Mu-
lholland 1990, pp. 1679). Para este, a capacidade de obrigar os outros a umdever, isto
, a denio de direito, derivado do imperativo categrico. E por esse motivo Kant
escreve que
(. . . ) ns conhecemos nossa prpria liberdade (de que procedem todas as leis
morais, portanto tambm todos os direitos quanto os deveres) somente atravs
do imperativo moral, que uma proposio que ordena um dever, a partir do
qual pode ser desenvolvida posteriormente a faculdade de obrigar os outros, isto
, o conceito do direito. (Kant [1797], Ak 239)
Contudo, o imperativo moral que Kant est se referindo o imperativo categ-
rico e este uma proposio sinttica. A pergunta, ento, que se pode fazer : como
uma proposio analtica (o princpio universal do direito) pode ser derivada de uma
proposio sinttica (o imperativo categrico)?
Segundo Mulholand, uma soluo possvel para esse problema vermos que
Kant, na Crtica da Razo Prtica, sustenta que mesmo a lei fundamental pode ser
considerada analtica se pressupormos a liberdade da vontade (Kant [1788], Ak 31).
2
Kant por meio dessa passagem sustenta ser analtico o fato de um indivduo com
vontade livre ser sujeito do imperativo categrico. Do mesmo modo, ao se examinar
o conceito de pessoa que Kant sustenta na introduo da Metafsica dos Costumes,
poder-se- dizer que nele j est contido o conceito de lei moral. Segundo Kant pes-
soa aquele sujeito cujas aes so passveis de uma imputao. A personalidade
moral nada mais , portanto, do que a liberdade de um ser racional sob leis morais.
A co-originariedade do direito liberdade e do direito igualdade em Kant 359
(Kant [1797], Ak 223). Alm disso, na Crtica da Razo Prtica, Kant tambm deixa
claro que sem a liberdade transcendental, a imputao das aes no seria poss-
vel.(Kant [1788], Ak 96, 97, 99, 100). Ento, uma pessoa e deve ser um ser livre. E
um ser livre, para Kant, , necessariamente, um ser autnomo. Assim, do conceito
de pessoa segue-se que uma pessoa no est submetida a outras leis seno aquelas
que ela mesma se d (ou s ela ou ao menos simultaneamente com outros) (Kant
[1797], Ak 223). A partir disso, Mulholand conclui que analtico que qualquer ser
comobrigaes (uma pessoa), isto , qualquer ser comcapacidade de entrar emrela-
es com outras involvendo direitos, est subordinado somente a leis que ele d a si
mesmo. Portanto, a lei moral est contida no conceito de pessoa. (Mulholland 1990,
p. 168). E desse modo, o princpio do direito somente expressa o que j est contido
no conceito de sujeito do qual ele pertence, na medida emque sujeito caracterizado
como pessoa. Quando se questiona se o princpio do direito analtico ou sinttico,
no se pode inferir que ele sinttico porque simplesmente o imperativo categrico
sinttico. Ao olhar para o problema dessa maneira, Mulholand arma que o princ-
pio universal do direito analtico porque ele estabelece umprincpio que obriga um
ser com vontade livre. Contudo, para Mulholand, defender que o princpio do direito
analtico no demonstra que o indivduo possui direitos. Kant vai muito longe ao
defender que o princpio universal do direito analtico se este tomado para im-
plicar que os seres humanos tm direitos ou esto obrigados s leis que determinam
direitos. (Mulholland 1990, p. 171). A armao de que o homem livre sinttica.
Assim, tambm, a armao de que os seres humanos possuem direitos sinttica.
Por outro lado, Kant se refere ao princpio universal do direito como axioma e, algu-
mas vezes, como um postulado. Axiomas e postulados so proposies sintticas a
priori. Como resultado, escreve Mulholland, a armao de que o homem tem direi-
tos, como dado no conceito de direito inato, pressupe uma proposio sinttica de
que o homem possui vontade livre (Mulholland 1990, p. 171). E isso diz algo a mais
do que os direitos so, pois arma que ns temos direitos. Se considerado dessa ma-
neira o princpio universal dodireito ser sinttico. Ele ser somente analtico quando
considerado simplesmente uma denio que deriva do conceito de direito.
Alm desse, h outro problema de se considerar o princpio universal do direito
analtico. Kant trata do direito estrito como aquele que no possui nenhumcontedo
tico. Tambmarma que o princpio do direito pode ser entendido e seguido semfa-
zer referncia a tica (Kant [1797], Ak 232). Dessa maneira, pode-se perguntar: como
o conceito de pessoa pode ser entendido no direito? O conceito moral de pessoa
aquele de um ser racional portador de liberdade como capacidade. Contudo, as leis
morais so leis que governam o comportamento das pessoas. E, como as pessoas po-
dem ser obrigadas por leis morais se e somente se elas so determinadas de maneira
autonma, todas as leis morais devem estar de acordo com a igualdade de todos os
seres racionais como pessoas. Segundo ele, a posse da faculdade inata da liberdade
prova que um ser humano uma pessoa igual por estar obrigado a cumprir as leis
morais (Mulholland 1990, p. 171). Contudo, se o direito no pode estar relacionado
360 Milene Consenso Tonetto
com a tica, ento, no h nenhum fundamento para armar que todos os seres que
na esfera da tica tm um status de pessoa tambm tm esse status no direito. Por
outro lado, h uma boa razo para considerarmos a capacidade de ser uma pessoa
no mbito da tica como uma condio necessria para ser uma pessoa no mbito
do direito. O direito depende da capacidade de imputao das aes e as aes po-
dem ser imputadas somente para pessoas naturais. Contudo, na medida em que os
direitos esto separados da tica, ns podemos conceber um sistema de direitos que
para alguns seres humanos, considerados pessoas naturais, so negados o status de
pessoa nas relaes legais. Assim, eles podero ser caracterizados no direito como
no-autnomos, por exemplo, escravos, ou poderiam talvez ocupar alguma posio
anloga ao status de ser incapaz de exercer a responsabilidade, tais como uma criana
que, para Kant, uma pessoa que poderia ser possuda como uma coisa (Kant [1797],
Ak 282), mas que deve ser tratada como um m e no como um mero meio. Assim,
para Mulholland, o conceito de direito formulado por Kant est correto, a saber, que
um direito num sistema de direitos a capacidade de obrigar a um dever. Contudo,
essa capacidade deve ser exercitada somente por aqueles que possuem o status le-
gal de pessoa. E isso no indicado pela denio de direito. A anlise kantiana do
conceito de direito somente assegura como uma pessoa deve estar relacionada com
outra pessoa quando existe uma relao coercitiva. Ela no arma que todos ns de-
vemos ser considerados pessoas. E para defender isso, devemos ver o direito como
sendo dependente da tica. Assim, por exemplo, se numa sociedade seres humanos
so vistos como escravos, ns devemos apelar a um princpio tico para criticar essa
caracterizao. Contudo, os seres que nessa sociedade escravocata possuem o status
de pessoa devero ter o dever tico de eliminar a escravido. Desse modo, podemos
armar ser inconsitente o sistema de direitos kantiano porque por ser independete
da tica permite transformar uma pessoa que possui o direito inato liberdade em
uma coisa, isto , um escravo.
Paul Guyer, no artigo Kants Deductions of the Principles of Right, tambm parece
seguir, em linhas gerais, a interpretao de Mulholland. Guyer arma que se deve ter
cuidado ao tirar concluses sobre a analiticidade dos princpios do direito, porque
de fato Kant aplica a distino analtico/sinttico aos princpios do direito de dife-
rentes maneiras e, por isso, o mesmo princpio pode ser analtico por um critrio,
mas sinttico por outro. (Guyer 2002, p. 41) Alm disso, para ele, a posio que de-
fende que o princpio do direito no derivado do imperativo categrico, entendido
somente como um procedimento para agir somente conforme mximas que podem
servir como leis universais, correto porque o princpio do direito regula a confor-
midade de nossas aes com a liberdade dos outros e no com as nossas mximas
(Guyer 2002, p. 25). Contudo, Guyer ir acrescentar que qualquer outra armao de
que o princpio do direito no derivado do princpio fundamental da moralidade,
no sentido do conceito fundamental da moralidade, ser, certamente, implausvel
(Guyer 2002, p. 25). O imperativo categrico nos fala qual forma nossas mximas de-
vem tomar para elas serem compatveis com o valor fundamental da liberdade. Por
A co-originariedade do direito liberdade e do direito igualdade em Kant 361
outro lado, o princpio do direito nos diz qual a forma nossas aes devem ter para
elas serem compatveis com o valor universal da liberdade, no importando quais
so as nossas mximas e motivaes. Assim, para Guyer, o princpio universal do di-
reito pode no ser derivado do imperativo categrico, mas ele , certamente, derivado
da concepo de liberdade e seu valor que o princpio fundamental da moralidade
kantiana. (Guyer 2002, p. 25) Guyer defende, ento, que o princpio do direito no
derivado do imperativo categrico, mas derivado do conceito de liberdade como o
princpio fundamental da moralidade.
Alm de usar a distino analtico/sinttico para contrastar os deveres de direito
com os deveres ticos, Kant tambm usa essa distino para evidenciar a diferena
entre o direito inato liberdade e os direitos adquiridos de propriedade. Como vi-
mos, para Kant existe um nico direito inato, a saber, o direito liberdade. Esse di-
reito pode ento ser considerado analtico na medida em que ele segue do prprio
conceito de liberdade. Kant tambmidentica outros direitos, que, esto contidos no
prprio princpio do direito inato liberdade. Segundo Kant:
A igualdade inata, isto , a independncia que consiste em no ser obrigado
por outros a mais do que se pode tambm obrig-los reciprocamente; portanto
a qualidade do homem de ser seu prprio senhor (sui iuris), assim como a de
um homem irrepreensvel (iusti) porque no foi injusto com ningum antes de
qualquer ato jurdico; nalmente, tambm a autorizao para fazer contra ou-
tros aquilo que em si no lhes reduz o seu, se eles no querem aceit-lo, como
lhes comunicar meramente seus pensamentos, contar-lhes ou prometer-lhes
algo, quer seja verdadeiro e honesto, quer seja falso e desonesto (veriloquiumaut
falsiloquium), porque depende apenas deles dar-lhe crdito ou no; todas estas
autorizaes encontram-se j no princpio da liberdade inata e dela no se distin-
guemefetivamente (como membros de uma diviso sob umconceito superior de
direito). (Kant [1797], Ak 237, 238)
Esses direitos tambm so analticos, uma vez que Kant arma serem autoriza-
es envolvidas pelo direito inato liberdade. E dessa forma que Kant deduz o di-
reito igualdade. Se deduzidos analiticamente eles devem tambm ser considerados
inatos. Portanto, pode-se sustentar que o direito igualdade possui o mesmo status
terico que o direito liberdade na losoa prtica de Kant, isto , na sua losoa do
direito e na sua losoa poltica. Em outros termos pode-se considerar a liberdade e
a igualdade como sendo co-originrios.
2. Odireito igualdade e a cidadania
Na Fundamentao da Metafsica dos Costumes, Kant enfatiza que os princpios mo-
rais propostos ali devemser aplicados no somente aos homens nems para os seres
humanos, mas para todos os seres racionais. Isso gera a expectativa de que na teoria
poltica kantiana todos os seres racionais sero considerados igualmente. Contudo,
362 Milene Consenso Tonetto
tal expectativa rapidamente frustada com a leitura da Doutrina do Direito e do en-
saio Teoria e Prtica. Na primeira obra, Kant dene o cidado da seguinte forma: os
membros unidos de um Estado com vistas legislao se chamam cidados (civis).
(Kant [1797], Ak 314). Alm disso, Kant escreve que o cidado possui atributos jurdi-
cos ou princpios inseparveis de sua natureza, a saber:
a liberdade legal de no obedecer a nenhuma lei a que no tenham dado o seu
consentimento; a igualdade civil, de no reconhecer comrelao a si mesmo ne-
nhum superior no povo, a no ser um em relao ao qual ele tenha a mesma
faculdade moral de obrigar juridicamente; terceiro, o atributo da independncia
civil, isto , de no car devendo sua prpria existncia e sustento ao arbtrio de
um outro no povo, seno aos seus prprios direitos e faculdades, como membro
da repblica, por conseguinte, a personalidade civil que consiste em no poder
ser representado por nenhum outro nos assuntos jurdicos. (Kant [1797], Ak 314)
Contudo, depois de estabelecer esses trs princpios, Kant imediatamente escreve
que nem todos dentro do Estado podero ser de fato considerados cidados. Apesar
de todos serem livres como seres humanos e iguais como sujeitos nem todos sero
independentes. Kant escreve que no Estado
nem todos se qualicam com igual direito a ter o direito de sufrgio, isto , a
ser cidados. Pois do fato de poderem exigir ser tratados por todos os outros se-
gundo leis da liberdade e igualdade natural, como partes passivas do Estado, no
se segue o direito de, como membros ativos, tambmtratar do prprio Estado, de
organiz-lo e contribuir para a introduo de certas leis. (Kant [1797], Ak 315)
Para Kant, os cidados passivos carecem de personalidade civil e, portanto, tero
que ser comandados ou protegidos por outros indivduos. Ele ento fornece uma s-
rie de exemplos de cidados passivos:
Oajudante de umcomerciante oude umarteso, oservial (noaquele que est a
serviodoEstado), omenor (naturaliter vel civiliter), todas as mulheres e emgeral
qualquer um que obrigado a sustentar sua existncia (alimento e proteo),
no com seu prprio trabalho, mas de acordo com a disposio de outros (com
exceo do Estado), todos eles carecem de personalidade civil e sua existncia
como que mera inerncia. (Kant [1797], Ak 314)
Essa distino entre membros ativos e passivos problemtica para Kant. Apesar
de armar que essa diferena no contradiz a denio de cidado, podemos dizer
que ela serve no mnimo para justicar a desigualdade de direitos entre dois grupos
da sociedade. Certamente, a preocupao de Kant aqui a de que se for permitido
aos serviais o direito de voto estes correm o risco de se tornarem meros seguido-
res de seus chefes. Em outras palavras, a servido econmica pode se transformar
em servido poltica ou levar a coero poltica dessa. O desejo de Kant ao fazer a
distino entre cidados ativos ou passivos o de permitir que somente os que so
independentes contribuam na formulaco das leis e nas eleies.
A co-originariedade do direito liberdade e do direito igualdade em Kant 363
Mesmo com essa diferena, Kant sustenta que a dependncia desses indivduos
em relao vontade dos outros no contrria ou incompatvel com a liberdade
e igualdade deles enquanto homens. Kant lembra que somente por meio das condi-
es da liberdade e igualdade podemos indivduos reunidos constituremumpovo e,
assim, tornarem-se um Estado e entrar numa constituio civil, (. . . ) de progredir do
estado passivo para o estado ativo (Kant [1797], Ak 315). Aimplicao dessa passagem
que mesmo umaprendiz ou umempregado domstico ter a oportunidade de che-
gar a ser um cidado ativo, para obter a independncia social e econmica que traz
junto delas a independncia civil. Kant sustenta que todos podemser capazes de pas-
sar do status passivo para o ativo como cidados. Desse modo, poder-se-ia sustentar
ser meramente contigente o status defendido por Kant em relao s mulheres. Lem-
bremos que na Alemanha do sculo XVIII se armava que as mulheres careciam de
independencia civil. Dessa maneira, no seria um problema real, uma vez que, por
exemplo, as mulheres poderiam aspirar ao status de cidados ativos.
Todavia, como observa Susan Mendus, ao se analisar a obra Teoria e Prtica pode-
se perceber que Kant oferece uma razo diferente para negar s mulheres o status de
cidados ativos (Mendus 1992, p. 172). Ali, Kant escreve que a
nica qualicao requerida para ser cidado, fora a natural (no ser criana ou
mulher), a de que ele deve ser seu prprio senhor (sui juris), ou seja, ter alguma
propriedade (que pode ser alguma habilidade, um negcio, um talento artstico,
uma cincia) para prover a ele mesmo (Kant [1793], Ak 295, grifos acrescentados).
Nessa armao, no parece ser meramente contigente que falta s mulheres a
cidadania ativa. Ao contrrio, as mulheres parecem estar excludas desde o ponto de
partida de Kant. Aqui nessa armao est negado at mesmo a possibilidade das
mulheres alcanarem o status ativo de cidados. Assim, pode-se sustentar que em
Teoria e Prtica, a excluso da mulher no ocorre de maneira contingente. Ao contr-
rio, ali as mulheres parecem ser, por denio, incapazes de alcanar a independn-
cia civil. Essa excluso se torna pior do que a de qualquer cidado passivo masculino,
uma vez que nega a elas a oportunidade de alcanar a cidadania ativa. A oportuni-
dade de alcance do status de cidado ativo umrequerimento da igualdade. Por isso,
se est negada s mulheres a possibilidade de avano ao status de cidado ativo, en-
to, est negado prima facie a igualdade pertencente a todos os homens sejam eles
passivos ou ativos (Mendus 1992, p. 174). Assim, Kant no parece s estar negando a
participao poltica das mulheres mas tambm a igualdade que ele tinha armado
pertencer a todos como sujeitos.
3. Consideraes Finais
A deduo do princpio do direito, como foi vista, pode ser considerada analtica
ou no dependendo do critrio de analiticidade tomado. Assim, parece ser plausvel
aceitarmos a posio de Guyer, segundo a qual o princpio do direito derivado da
364 Milene Consenso Tonetto
concepo de liberdade e de seu valor que o princpio fundamental da moralidade
kantiana. Isso tambm mostra como Kant deduz o direito inato liberdade. A justi-
cao kantiana ao direito liberdade a de que o homem o possui em virtude de sua
humanidade. Nessa deduo, torna-se evidende a relao do direito liberdade com
o imperativo categrico, principalmente com a chamada frmula da humanidade.
A falta de contedo tico encontrado no princpio do direito permite Kant fazer
armaes excludentes em relao ao direito de igualdade. Apesar de armar que os
indivduos possuem o direito inato liberdade e, dessa forma, o direito inato igual-
dade, Kant nega o direito de votar s mulheres e aos no proprietrios. Essas arma-
es so aqui apontadas como inconsistncias do sistema de direitos. Contudo, se
for tomado o fato de que o princpio do direito destitudo de valor tico, Kant pode
negar o direito de voto sem ser inconsitente. Isto , nas relaes do domnio do di-
reito, uma pessoa, considerada um m em si mesmo, pode ser considerada um ser
sem personalidade civil.
Referncias
Gregor, M. 1988. Kants Theory of Property. Review of Metaphysics (41): 7578.
Guyer, P. 2000. Kant on Freedom, Law, and Happiness. New York: Cambridge University Press.
. 2002. Kants Deductions of the Principles of Right. In Timmons, M. (ed.) Kants Metaphy-
sics of Morals: interpretative essays. New York: Oxford University Press, pp. 2364.
. (ed.) 2006. The Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy. New York: Cam-
bridge University Press.
Hffe, O. 1996. Categorical Principles of Law. Pennsylvania, Pennsylvania University Press.
Kant, I. [1797]. The Metaphysics of Morals. Traduo de Mary Gregor. New York: Cambridge
University Press, 1996.
. [1797]. A Metafsica dos Costumes. Traduo de Jos Lamego. Lisboa: Fundao Calouste
Gulbenkian, 2005.
. [1793]. On the common saying: That may be correct in theory, but it is of no use in practice.
New York: Cambridge University Press, 2006.
. [1797] Die Metaphysik der Sitten. Frankfurt: Suhrkamp, 1982.
. [1788]. Critique of practical reason. New York: Cambridge University Press, 2006.
Kersting, W. 2002. Global Human Rights, Peace and Cultural Difference: Huntington and the
Political Philosophy of International Relations. Kantian Review (6): 534.
Mendus, S. 1992. Kant: An honest but Narrow-Minded Bourgeois? In Williams, H. (ed). Essays
on Kants Political Philosophy. Chicago: Chicago University Press, pp. 16690.
Mosser, K. 1999. Kant and Feminism. Kant-Studien 90: 322-53.
Mulholland, L. A. 1987. Kant on War and International Justice. Kant-Studien 78: 2541.
. 1990. A. Kants system of rights. New York: Columbia University Press.
Pippin, R. B. 2006. Mine and Thine? The kantian state. In Guyer 2006, pp. 41646.
Timmons, M. (ed). 2002. Kants Metaphysics of Morals: interpretative essays. New York: Oxford
University Press.
Williams, H. (ed). 1992. Essays on Kants Political Philosophy. Chicago: Chicago University
Press.
A co-originariedade do direito liberdade e do direito igualdade em Kant 365
Notas
1
H uma discusso na literatura sobre se a formulao do imperativo categrico, a saber, a frmula da
humanidade formal ou no. Se interpretarmos Kant como armando que tratar o ser humano como
m em si mesmo e no como mero meio signica levar em considerao os seus ns sem necessari-
amente identic-los, ento, tal formulao do imperativo categrico tambm pode ser considerada
formal num sentido amplo desse termo.
2
Na Crtica da Razo Prtica, a formulao do imperative categrico, agora chamado lei fundamental
da razo, de Kant a seguinte: So act that the maxims of will might become lawin a systemof universal
moral legislation. A idia, aqui, seria considerar o imperativo categrico analtico. Mas, ento, no se
poderia derivar nem direitos nem deveres.
HABERMAS: DA CRTICA AO CIENTISMO TICA DA AO COMUNICATIVA
PAULO CSAR DE OLIVEIRA
UFSJ
PATRICIA DE CARVALHO
UNIS-MG
{deoliveirapc,pcsiovarginha}@yahoo.com.br
1. Consideraes Iniciais
Jrgen Habermas , ao lado de Gadamer, o mais importante lsofo alemo do ps-
guerra. Ele se coloca como continuador e inovador da tradio anti-acadmica, so-
bretudo aquela ligada a Karl Marx e ao, assim chamado, marxismo ocidental, uma
vez que nas suas reexes no h espao para o marxismo oriental-leninista. De fato,
ele diz claramente: Hegel e Marx foram e permanecem sendo o ponto de referncia
mais importante do meu pensamento (Le Rider 1990, p. 204).
At 1979 o seu nome foi associado Escola de Frankfurt. Aproximou-se de Marx
mediante as leituras dos marxistas ocidentais como Lucks e Korsch. Entre os anos
de 1956 e 1961 foi assistente de Adorno. Duas coisas chamaram-lhe a ateno em
Adorno: o fato de falar de Marx como se fosse um contemporneo e a ignorncia em
relao a Heidegger e losoa alem recente. Diferentemente de Adorno, Haber-
mas tem continuadamente presente a tradio losca recente. Em 1981, diz em
entrevista que o seu caminho autnomo o levou a temticas comuns da Escola de
Frankfurt.
Ele estuda a inuncia da intelectualidade hebraica na tradio alem de Kant
aos tempos atuais. Segundo ele, quase todos os pensadores originais desta tradio
losca so judeus. Os raros no hebreus foram, no sculo XX, abertamente anti-
semitas e foram os nicos a continuar ensinando na Alemanha nazista. A contri-
buio dos intelectuais hebreus foi determinante para o desenvolvimento do pen-
samento em lngua alem, mesmo no exlio. O idealismo dos pensadores hebreus
produziu o que ele chamou de fermento de uma utopia crtica (Petrucciani 2000,
p. 19).
2. Ocombate ao cientismo
Uma das primeiras questes que se apresenta a Habermas o combate ao cien-
tismo. Esta corrente representa, no uma questo acadmica, mas umproblema po-
ltico, enquanto refora uma concepo da cincia que legitima os mecanismos de
controle tecnocrticos e exclui uma via racional de elucidao. A alternativa ao cien-
tismo indicada pela losoa crtica que, enquadrando numa perspectiva prtico-
emancipativa o problema da cincia e da tcnica nas sociedades avanadas, operaria
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 366371.
Habermas: da crtica ao cientismo tica da ao comunicativa 367
como teoria das cincias e losoa prtica ao mesmo tempo. O confronto mais im-
portante pela notoriedade dos interventores, entre a teoria crtica de uma parte e a
epistemologia analtica de outra, ocorreu em 1961 no Congresso da Sociedade de So-
ciologia alem.
Habermas no limita as suas crticas tericas ao cienticismo. Ele tambm critica
o envolvimento de Heidegger com o nazismo (Le Rider 1990, p. 207). O que ele critica
no o envolvimento oportunista, mas aquele terico; este mais perigoso! As razes
do envolvimento terico de Heidegger como nazismo esto no fato da transformao
da teoria em ideologia. Habermas sustenta que Heidegger at o m da guerra, no
tinha se desvinculado da sua posio inicial. As posies fatalsticas de Heidegger,
aps a guerra, so fruto de uma desiluso e de umrepensar que o levama no esperar
mais nada dos governantes e a pensar que s um Deus pode nos salvar.
Contra o cientismo de matriz neopositivista, contra as posies ps-existencialis-
tas de Heidegger, aparecem os objetivos tericos e polticos de Habermas. Ele consi-
dera os pensamentos de Hegel e Marx como o ponto de referncia fundamental para
a elaborao de sua losoa crtica.
O ponto chave de seu discurso a relao entre o marxismo (ocidental e os expo-
entes da Teoria Crtica) com Max Weber. A questo central o problema da raciona-
lizao da resposta que o marxismo ocidental deu ao desao de Weber, das razes
da insucincia de tal resposta, da pesquisa de uma resposta nova que construa uma
dialtica da racionalizao, capaz de utilizar Weber corrigindo Marx, mas sem
jog-lo fora (Petrucciani 2000, p. 38).
3. Conhecimento e interesse: a reviso do marxismo
Nos anos de 1965 a 1969, Habermas conclui uma primeira fase de sua pesquisa ca-
racterizada pela prevalncia de categorias ligadas losoa do sujeito, das quais se
libertar nos anos da reviravolta lingstica.
Ele prope uma losoa crtica que pretende ser uma superao seja dos limites
das tendncias neopositivistas seja dos limites do marxismo ocidental e da prpria
teoria crtica. Uma losoa crtica que reveja o marxismo no para abandon-lo,
mas para adequ-lo s condies do nosso tempo. De fato, a losoa de Habermas
quer ser semelhante de Marx: crtica e revolucionria. A sua losoa pretende rea-
rmar com fora a conexo entre interesse e conhecimento.
As cincias emprico-analticas utilizama observao, uma vez que no tmo que
fazer comos puros fatos. As cincias emprico-analticas so o resultado de interesses
cognitivos voltados eccia (sucesso ou insucesso) e radicadas naquilo que Haber-
mas chama de agir instrumental (Petrucciani 2000, p. 26).
As cincias histrico-hermenuticas tmo que fazer coma experincia objetiva
na nossa linguagem e nas nossas aes e so voltadas contemplao do sentido,
que foi reduzida, pelo historicismo contaminado pelo positivismo, a aparncia ob-
jetivista. Tais cincias, observa Habermas, devem ser direcionadas por um interesse
368 Paulo Csar de Oliveira / Patricia de Carvalho
prtico: o papel da hermenutica dever ser aquele de indagar a realidade inspirando-
se no interesse da manuteno e extenso da intersubjetividade de um possvel en-
tendimento que oriente a ao, em que a temtica do agir e do entendimento comu-
nicativos possam emergir.
As cincias orientadas criticamente vo alm do interesse terico das emprico-
analticas e do interesse prtico das histrico-hermenuticas. So inspiradas no in-
teresse emancipativo e apontam para a auto-reexo como mtodo de auto-liber-
tao. As cincias criticamente orientadas tm em comum com a losoa este pro-
cesso: a auto-reexo.
A conexo entre conhecimento e interesse necessria para colher criticamente
as funes e os limites das cincias singulares nos diversos nveis cognoscitivos. Esta
conexo buscada em toda a histria da humanidade que tende auto-libertao
mediante os processos de socializao, tais como o trabalho, a linguagem e o dom-
nio. Trabalho e domnio se vinculam relao com a natureza e linguagem relao
com a comunicao, com o conhecimento e, portanto, com a emancipao.
Neste mbito, se coloca a losoa. A losoa tradicional errou ao supor que a
emancipao tenha sido realizada com a estrutura da linguagem. A emancipao
umobjetivo a ser realizado; e passa pela linguagem, lugar do agir comunicativo. So-
mente quando, nocursodialtico da histria, a losoa descobre as marcas da violn-
cia, que deforma o dilogo, consegue levar adiante o processo rumo emancipao.
A tese de Habermas que a conexo entre foras produtivas e relaes de pro-
duo (fundamento da teoria da luta de classes de Marx) deveria ser substituda por
uma mais abstrata entre trabalho e interao; isto , entre agir instrumental e agir
comunicativo. Ele prope que a teoria dialtica marxiana seja substituda por uma
outra teoria tambm dialtica, aquela que interpreta criticamente a histria humana
como dialtica entre duas racionalizaes: a do agir instrumental e a do agir comu-
nicativo.
4. Crtica da hermenutica e a reviravolta lingstica
Habermas constri uma alternativa a Marx, ou melhor, uma adequao do mar-
xismo aos nossos tempos, mediante a adoo de novas categorias interpretativas.
Ele critica a hermenutica proposta por Gadamer, uma vez que ela legitima e absorve
a tradio rejeitando uma viso crtica. Segundo Habermas, uma auto-reexo in-
completa e mutilada, que no reconhece a fora transcendente da reexo.
Reduzir a linguagem interpretao esconder o fato que a linguagem no in-
dependente das relaes sociais. Alinguagemno umdepsito neutro e transmissor
da tradio; tambm um instrumento de domnio e poder social. Ela serve tambm
a legitimar a organizao das relaes de poder social e, portanto, tambm ideol-
gica.
A experincia hermenutica deve transcender crtica da ideologia; deve realizar
uma reexo que transcenda o nvel hermenutico e ir alm, como faz a psicanlise
Habermas: da crtica ao cientismo tica da ao comunicativa 369
em relao linguagem cotidiana do indivduo. A hermenutica deve abandonar as
suas pretenses de universalidade e deixar o lugar s reexes crticas que dem ra-
zo no s ao que ocorre no plano lingstico, mas ao que ocorre no plano objetivo
das aes sociais.
O nexo objetivo que permite compreender as aes sociais constitudo pela lin-
guagem, pelo trabalho e pelo poder. A hermenutica deve passar do plano da histo-
ricidade meramente lingstica (como proposta por Gadamer) ao plano da histria
universal que compreende os nveis indicados e d origem prpria historicidade.
Habermas elabora uma teoria da linguagem e da comunicao que constitui a
base da sua reviravolta lingstica e que encontra sua sistematizao na obra Teo-
ria do Agir Comunicativo (1981). A superao da hermenutica sugerida quando se
recorre crtica e psicanlise como mtodo para desmascarar o que est atrs do
nvel puramente lingstico e que d origem comunicao distorcida.
5. A teoria do agir comunicativo
Sob o estmulo do empenho poltico, muito forte nos anos 70 do sculo passado, Ha-
bermas v com preocupao o emergir, na Alemanha e no Ocidente, de tendncias
contrapostas (neo-conservadoras e neo-anrquicas) que rejeitam as sociedade de-
mocrticas. Nesse contexto surge a obra Teoria do Agir Comunicativo em 1981.
Trata-se de uma obra de arquitetura complexa. O objetivo a formulao de uma
teoria orgnica da racionalidade crtica e comunicativa; uma teoria fundada sob a di-
altica entre agir instrumental e agir comunicativo ou, como ele diz, entre sistema e
mundo da vida. O sistema est vinculado ao agir instrumental; o Estado com seu
aparato e a sua organizao econmica. O mundo da vida est vinculado ao agir co-
municativo; o conjunto de valores que cada um de ns individualmente ou comu-
nitariamente vive de maneira imediata, espontnea e natural.
Segundo Habermas, estado e sociedade se tornaram autnomos mediante meios
de controle que so o valor de troca e o poder administrativo (Petrucciani 2000, p. 97).
Foram condensados em um complexo monetrio-administrativo; tornaram-se aut-
nomos em relao ao mundo da vida estruturado comunicativamente (com esfera
privada e pblica); tornaram-se manifestadamente super-complexos. Esta super-
complexidade do sistema faz com que ele interra nos mundos da vida que so ame-
aados por uma colonizao interna que coloca em risco a autonomia.
Esta tese de Habermas clareia os limites do marxismo. Os imperativos sistmi-
cos intervm em mbitos da ao estruturados em modo comunicativo. Trata-se de
questes da produo cultural da integrao social e da socializao. So questes
que tm pouco a ver com aqueles clssicos do marxismo (luta de classes, opresso,
coisicao).
Hoje os imperativos da economia e da administrao, transmitidos mediante o
dinheiro e o poder (imperativos do sistema) penetram nos ambientes (nos mundos
da vida) de tal maneira que os destri. Esses imperativos so controlados pela mdia.
370 Paulo Csar de Oliveira / Patricia de Carvalho
O conito principal do nosso tempo, nas sociedades capitalistas avanadas e de-
mocrticas, no um conito de classe, mas um conito que deriva do processo em
ato de colonizao por parte do sistema em relao aos mundos da vida. Diante
desse conito, no so utilizveis as teorias enraizadas no velho marxismo e as re-
centes teorias ps modernas e anti-modernas, que rejeitam em bloco a herana do
racionalismo ocidental com suas feies humansticas e iluministas.
Habermas olha comconana os vrios tipos de movimento que lutamemdefesa
dos mundos da vida para enriquec-los e torn-los autnomos em relao s amea-
as de colonizao, apresentadas continuamente pelo sistema. Ele no prope pro-
gramas polticos precisos, mas se mantm no mbito terico. Ele prope uma revi-
so e adequao do marxismo emrelao aos problemas e conitos do nosso tempo,
que no o de Marx e de seus sucessores.
A sua proposta terica se contrape abertamente quelas dos tericos do ps-
moderno, uma vez que ele defende a herana do racionalismo ocidental que deve
ser corrigido, mas no descartado. Esta defesa se fundamenta na tese da mudana
de paradigma: da losoa do sujeito losoa da intersubjetividade comunicativa.
6. Consideraes Finais
A crtica das teorias do ps-moderno e do anti-moderno se apresentou nos escritos
de Habermas dos anos 70 e 80. Ele reconduz s razes clssicas da losoa moderna a
complexidade da temtica. As razes so individuadas em Hegel. Nele se forma, com
maturidade, o conceito de modernidade.
Trs fatos constituema modernidade: o novo mundo, o renascimento e a reforma.
Esses fatos levaram ao surgimento da temtica da autonomia do sujeito e da razo e
ao iluminismo. Os traos da idade moderna so visto de Descartes a Kant, mas so-
mente em Hegel alcanam a maturidade. Hegel consciente no somente do fato,
mas sobretudo do problema modernidade.
O problema que a subjetividade moderna, livre da religio, no suciente-
mente ecaz para unicar. A predominncia da subjetividade e da razo levou, no a
uma nova unio, mas a diversicaes que a razo iluminista no consegue superar,
como por exemplo a separao f x saber. Hegel supera esse problema mediante dois
caminhos: o primeiro superando a religio ortodoxa e positiva e a prpria razo.
A soluo dada por um cristianismo originrio no qual o amor e a vida represen-
tariam o meio e a condio da unio intersubjetiva. O segundo buscando a via de
superao que se refere tanto prpria razo quanto ao sistema das relaes de vida,
na prpria razo iluminista.
Segundo Habermas, Hegel caiu em um dilema: ele quer ir alm do iluminismo,
mas permanece preso na dialtica da losoa do sujeito. Existe umoutro caminho?
Habermas diz que sim: o caminho da teoria da comunicao.
Hegel poderia conservar as intuies do seu perodo juvenil (o amor, a vida), l-
trando-as na reexo losca, ao invs de idealiz-las ou abandon-las. Tanto a -
Habermas: da crtica ao cientismo tica da ao comunicativa 371
losoa de Hegel quanto a de seus sucessores faliramporque no conseguiramir alm
do sujeito, alm da dialtica interna ao iluminismo.
Nesse ponto, aparece Nietzsche. Ele submete a razo centrada no sujeito a uma
crtica imanente ou abandona tudo? Ele prefere renunciar a uma reviso do conceito
de razo e, com isso, dialtica do iluminismo. Nietzsche busca alternativas razo
iluminista e as indica no mito de Dionsio, na arte, na vontade de poder, no nihilismo.
Isto faz dele, segundo Habermas, um pertencente losoa do sujeito, da qual no
conseguem sair nem mesmo os seus sucessores.
Segundo Habermas, todas as tentativas de sair da losoa do sujeito faliram. Por
isso, ele prope uma sada: a razo comunicativa contra a razo sujeitocntrica. O
paradigma do conhecimento de objetos deve ser substitudo pelo paradigma de en-
tendimento entre sujeitos capazes de falar e de agir. Por isso, a teoria do agir comu-
nicativo constitui a alternativa aos tericos do ps-moderno e que ajuda a enfrentar
o problema do moderno sem abandonar a herana preciosa do iluminismo. Falar de
razo comunicativa falar de razo. A razo deve ser salvae fundada, no no su-
jeito, mas na intersubjetividade comunicativa e no entendimento interpessoal que
dela deriva (comunicao que passa pela linguagem e pela ao).
A razo comunicativa desemboca em algo prtico. Com isso, no ressurge o pu-
rismo da razo pura, mas a vontade de empenho prtico para resolver, no individu-
alisticamente, os problemas do nosso tempo.
Bibliograa
Habermas, J. 1982.Conhecimento e Interesse. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
. 1984. Mudana Estrutural na Esfera Pblica. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
. 1989. Conscincia Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
. 1990. Pensamento Ps-Metafsico. Estudo Filosco. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
. 1990. Discurso Filosco da Modernidade. Lisboa: Publicaes D.Quixote.
. 1994. Tcnica e Cincia como Ideologia. Porto: Rs Editora.
. 1997. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
. 1999. Direito e Moral. Lisboa: Instituto Piaget.
Le Rider, J. 1990. Jrgen Habermas. In Le Monde Filosoas (trad. de Nuno Ramos). So Paulo:
tica, p. 20312.
Petruccuani, S. 2000. Introduzione a Habermas. Roma: Editori Laterza.
. 2000. Comentrios tica do Discurso. Lisboa: Instituto Piaget.
IV
HISTRIA DA FILOSOFIA
A INFLUNCIA HEIDEGGERIANA NA VISO DE GADAMER DE COMPREENSO E
LINGUAGEM, COM CONTRIBUIES DE F. SCHLEIERMACHER
AGUINALDO AMARAL
Universidade Federal de Santa Catarina
aguinaldoamaral@hotmail.com
Em Gadamer, a linguagem constitutiva do mundo humano, uma dimenso insubs-
tituvel de sua experincia, um medium exclusivo de acesso ao mundo, em que se
revela incessantemente a signicao do mundo. Em outras palavras a linguagem
atestaria o nito radical do homem e a emergncia efetiva da verdade, devido a seu
carter histrico e losco. Oser a que me remeto e que posso compreender , antes
de tudo, linguagem, ou, me representado pela linguagem. A historicidade cumpre
um papel fundamental na hermenutica gadameriana pois, como Gadamer costu-
mava dizer ns somos o produto dos efeitos da histria, assimcomo nossa produo
e, a produo de nossos antepassados humanos.
As expresses humanas ou signos no so xos como nos outros animais, essas
expresses variam, uma mesma expresso pode ter signicados diferentes em dife-
rentes contextos para diferentes pessoas. A linguagem intermedia nossa relao com
conceitos existenciais como, esperana, amor, cuidado, f. Conceitos que expressam
a chamada vida ftica, portanto cumprem um papel importante neste mbito, com
implicaes na interpretao e compreenso do mundo objetivo.
Mas qual seria a origemda linguagemhumana, se pergunta Gadamer. Como teria
surgido este processo de simbolizar as coisas? A linguagem, de um modo geral, pos-
sui proposies que repousam na noo de signo simples empregada nas sentenas
as quais designamos por nomes. Este signo satisfaz a exigncia de simplicidade pois
no composto por outros signos. Estas questes nos remetem antropologia los-
ca da linguagem, uma rea em que poucos lsofos como Heidegger e Gadamer se
dedicaram.
Segundo Schleiermacher, a hermenutica uma realizao moderna, emparticu-
lar uma transposio. Esta transposio vai muito alm do mero analisar textual, ela
proporcionou uma autntica revoluo na Histria da losoa onde as perspectivas
da compreenso e da interpretao representam agora parmetros da atividade lo-
sca. Desde os gregos a hermenutica se pergunta pelos critrios segundos os quais
se podem interpretar o discurso. Em que sentido se da este discurso? Como posso ter
certeza acerca do que o outro disse? possvel colocar-me no lugar do outro para po-
der interpret-lo? Heidegger e Gadamer enfocam estas questes em suas respectivas
obras.
A tarefa da hermenutica recolocar a transcendentalidade no contexto das di-
versas formas de expresso, proporcionando uma crtica da reexo semelhante a
critica kantiana no surgimento de uma nova forma de losofar. Essa critica da razo
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 375381.
376 Aguinaldo Amaral
transformada em critica da linguagem por Heidegger e por Gadamer, uma esp-
cie de critica lingstica, onde o sentido se sobrepe a outros aspectos. Um possvel
equvoco da losoa moderna se manifestaria na viso gadameriana, dissoluo da
ontologia emteoria do conhecimento, tomando as representaes subjetivas dos ob-
jetos como nica forma de acesso a estes. Neste ponto, na revoluo que transcende
o sentido, a teoria do conhecimento superada pelo mbito da linguagem, pois todo
o conhecimento nos advm atravs de alguma forma de linguagem, tambm neste
contexto incluem-se linguagens no-orais ou no-escritas.
A substituio do conceito de objetos, diz Gadamer, pelo conceito de estados de
coisas, no ocorre ao acaso, deriva-se da uma srie de consideraes acerca das pro-
posies e dos juzos que so nicas na Histria da Filosoa, a questo da subjetivi-
dade vem tona na anlise e interpretao textual. O ponto de partida nas anlises
loscas so as propriedades atribudas aos objetos por meio dos juzos. Oentendi-
mento lingstico seria constitudo a partir das impresses dos diversos intrpretes.
No consenso de entendimento acerca do objeto, esse compreender os outros,
torna-se mais importante que o modo de anlise individual, uma espcie de entendi-
mento coletivo e universal que suplantaria as interpretaes individuais, esse univer-
sal no reconhecido emsentido absoluto, compreenso e o entendimento a partir
desse universal, assim como a prpria linguagem, somente so possveis pelo con-
senso, se houver. A linguagem um caminho alternativo ao da transcendentalidade,
e por este caminho que a hermenutica se envereda, embora j tenha recebido os
mais diferentes encaminhamentos ao longo da histria. na Filosoa da Linguagem
onde localizamos as vigas que sustentam o edifcio hermenutico, contrastando com
a losoa cartesiana do sujeito na modernidade.
Em Heidegger o marco inicial a questo do ser, a emergncia do Dasein que
surge com a colocao da questo. Em Gadamer o ser que pode ser compreendido
linguagem, manifesta-se na e atravs da linguagem. O sujeito da compreenso ou,
o ser que interpreta, deveria ser tomado como meta e no como ponto de partida
do processo hermenutico. Este sujeito deve ser o objeto de investigao na busca
pela verdade implcita ou explicita do texto. O duelo entre a Filosoa Analtica e a
Filosoa Hermenutica encontra em Heidegger e Gadamer duas das suas mais altas
guras de expresso, ao passo que em Ricoeur encontraramos o chamado ecletismo
hermenutico, Ricoeur seria ento umpromotor do dilogo entre estas duas posturas
loscas.
A tese do sujeito constituindo-se pela linguagem humboldtiana, porm Gada-
mer adota esta mesma postura, quando coloca que a linguagem aquilo sem a qual
no poderia haver nada, ou melhor dizendo, nemmesmo o nada, pois para reetir ou
falar sobre esse nada j estaramos no mbito da linguagem. At mesmo para pensar
a ausncia de linguagem ns temos que usar a linguagem. As possibilidades de inter-
pretao de um texto confundem-se com as possibilidades do prprio sujeito que o
interpreta.
O ser que interpreta se identica com as produes simblicas do ser humano,
A inuncia heideggeriana na viso de Gadamer de compreenso e linguagem 377
essa identicao uma chave de leitura, uma porta de acesso ao que foi simboli-
zado no sentido prprio em que o autor pensou ou quis expressar. Quando se dene
em Aristteles o homem como um animal que possui logos, esse logos quer dizer
tambm, e sobretudo, linguagem, pois para haver razo preciso que haja linguagem
e esta tambm a interpretao de Gadamer da linguagem.
Poder falar, poder usar a linguagem, signicam poder tornar algo visvel, mesmo
que este algo no esteja presente, atravs da fala, da simbolizao, que se repre-
sentam as coisas, existente ou no. A linguagem um veiculo que conduz o ser que
interpreta ao sentido do texto, sem linguagem no h texto, no h autor, no h in-
trprete, no h mundo. Se homem etimologicamente denido como aquele que
nomeia, poderia existir o homem ou o ser humano sem este nomear? Como falar ou
pensar coisas que no possuem nomes? O compartilhamento de conceitos o que
torna a vida social possvel. Jamais poderia haver entendimento sem este comparti-
lhamento.
Talvez se possa pensar em um estgio anterior a linguagem, ou um estgio hu-
mano destitudo de linguagem, mas at para pensarmos na ausncia de linguagem,
como no exemplo anterior, temos que lanar mo desta, nossas reexes acerca de
sua ausncia implicam em sua utilizao. A linguagem no como um instrumento
que voc utiliza para algo, e aps deixa em algum lugar, impossvel deixar de usar
ou simplesmente descartar a linguagem. Quando nos deparamos com algo estranho,
provocante e desorientador, iniciamos a compreenso, nossa compreenso para-
lisada pelo no-lugar, por algo que no faz parte de nenhum esquema prvio de
nossa expectativa de compreenso. Neste sentido no podemos avanar com nossas
expectativas pr-esquematizadas, de nossa orientao no mundo.
O prprio conhecimento de modo geral, somente poderia ser adquirido atravs
da linguagem em suas mais variadas formas. A linguagem faz interpretaes sobre o
mundo, tudo o mais derivado ou vem depois destas interpretaes. Diante da ni-
tude heideggeriana a linguagememerge para dar conta de tal, ao passo que a compre-
enso estaria nas articulaes e ordenamentos do mundo, e na compreenso de ns
mesmos. Desse modo, poderamos armar que o que esperamos do texto depende do
grau de conhecimento que possumos do seu contexto, e do nosso. preciso extrair
os distrbios da compreenso do fenmeno da compreenso para ter-se mais claro o
processo hermenutico.
O prprio pensar, nas palavras de Schleiermacher, j seria um falar, uma esp-
cie de falar interior. A losoa pode ser encarada como um exerccio da linguagem,
terminolgico por assim dizer, a perspectiva da linguagem ultrapassa o mbito onto-
lgico e epistemolgico tornando-se ela mesma objeto do losofar. A hermenutica
moderna estabelecida no contexto da revoluo proporcionada pelo surgimento da
lingstica atual, como fonte e rea de pesquisa onde destaca-se a interpretao de
expresses lingsticas.
O dilogo autntico ou discurso autntico caracterizado pela falta de controle
de seus interlocutores no sentido de pr esse dilogo na direo para a qual gostariam
378 Aguinaldo Amaral
que fosse. Quanto mais a direo de umdilogo for controlada, mais inautntico esse
dilogo ser. A compreenso jamais pode tomar por base um colocar-se no interior
do outro. Gadamer radicalmente contra este tipo de postura pois a toma do ponto
de vista de sua impossibilidade. Ao possuirmos uma histria de vida determinada,
e, rearma Gadamer, uma forma de pensar sempre um produto dos efeitos desta
histria de vida, de sua poca. Nunca se conseguir tomar absolutamente o lugar do
outro ou do autor por assim dizer.
Compreender o que algum diz pr-se de acordo com aquilo que dito, no h
a possibilidade de colocar-me no lugar do outro, pois este outro possui vivncias que
lhe so prprias. Em Gadamer, o compreender tem como pr-suposto uma contes-
tao e uma crtica do que se deteve e, tornou-se estranho, a compreenso no deve
se deixar guiar por tudo aquilo que prvio. Uma viso prvia, uma concepo pr-
via, uma posio prvia. Novos modos de enunciao surgem freqentemente con-
catenados. Na vida da linguagem e no seu uso, as mudanas imperceptveis sempre
houveram, as grias so um exemplo disso, quantas surgem de tempos em tempos?
Quantas caem em desuso em poucos anos? Mesmo no mbito tcnico-acadmico a
linguagem segue seu tempo, certamente que os termos tcnico-loscos usados na
idade mdia no so os mesmos da idade contempornea.
A traduo, por exemplo, no deixa de ser uma interpretao, mesmo tendo o
tradutor o dever de manter o sentido proposto pelo autor. Assim como todo o com-
preender, em ltima instncia tambm no deixa de ser um interpretar pois a forma
da realizao da compreenso a interpretao, de onde deriva-se os problemas de
interpretao lingstica que, em ltima anlise, seriam problemas de compreenso.
Gadamer chama a ateno para o mbito cientco se perguntando pelo modo
como se do as relaes entre o dizer e o pensar cientco e o dizer e o pensar extra-
cintco. A cincia desenvolve um processo de xao e entendimento prprios,
uma linguagem prpria no processo de investigao. Esta linguagem tem a preten-
so de atingir a conscincia pblica eliminando sua incompreensibilidade, no en-
tanto sua diretriz principal tornar cada vez mais precisa e livre de ambigidades, a
linguagem usual. interessante observarmos que linguagem cientca deriva de um
sistema de comunicao que no faz parte da linguagem cotidiana, embora a lingua-
gemda cincia pretenda atingir tambma conscincia pblica e superar a incompre-
enso.
O fenmeno hermenutico um caso particular da relao pensar/falar, uma vez
que a linguagemse oculta no pensamento. Se considerssemos apenas o discurso ra-
cional como universal, verdadeiro e entendvel, os problemas de compreenso esta-
riam todos resolvidos, uma vez que o ser que interpreta estivesse participando dessa
mesma racionalidade, todos os desaos de interpretao seriam eliminados.
Em Heidegger tem-se clara a distino entre dois logos pelo menos, o apofn-
tico, que derivaria do enunciado verbal, e o logos hermenutico, por conseqn-
cia interpretativo. Pensar nesta perspectiva exige toda uma nova estrutura conceitual
uma vez que o prprio processo de compreenso depende da linguagem, mesmo
A inuncia heideggeriana na viso de Gadamer de compreenso e linguagem 379
quando esta volta-se para fora de si mesma. Na interpretao losca o computo
hermenutico se reveza com o computo crtico. H uma estreita correlao entre um
texto, no sentido de um discurso xado, e uma postura interpretativa inteligvel se-
gundo o contedo de um pensamento. O llogo ou o lingista devem levar em con-
siderao a relao existente entre um discurso escrito e a fala cotidiana, em sua ex-
tenso. Toda a compreenso j esta inserida na linguagem, compreender compre-
ender e compreender-se na linguagem.
em funo da compreenso que se opera a superao do estranhamento en-
tre o Eu e o Tu, pois h uma relao lingstica em toda a compreenso aponta Hei-
degger. Poderamos dizer que a compreenso esta nas articulaes e ordenamentos
do mundo e tambm na compreenso de ns mesmos. A concepo de sujeito est
presente na perspectiva hermenutica, assim como a concepo de linguagem que
o inclui, tributria de uma nova racionalidade e de um novo conceito de linguagem.
No se trata de uma simples juno de vagas intuies particulares de sentido. Estru-
tura e sentido so os elementos principais dos quais se compe todos os discursos
humanos.
O texto essencialmente a trama, a rede, o tecido de um discurso, de um pen-
samento formulado expresso impresso, de modo geral. Assimcomo emumcolquio,
dialogamos comnossointerlocutor. Odiscursoescritonos remete emprimeiro plano,
a uma interpretao gramatical, morfolgica e sinttica. H uma correlao entre o
aspecto gramatical e o aspecto psicolgico no processo interpretativo. Na viso de
Gadamer, no no arbtrio de atribuir nomes que se localiza nossa relao funda-
mental com a linguagem. No existiu uma primeira e nica palavra dando origem a
tudo, quando se fala em palavra, j se est pr-supondo todo um sistema de pala-
vras onde esta ocupa um lugar, no poderamos falar em uma primeira palavra se j
no houvessem outras para explicar o que esta signica.
Atreladas ao enunciado sempre esto s motivaes, falamos sempre por algum
motivo, mesmo que secreto, explica-nos Heidegger. A linguagem no depende de
quem a usa. Cada um quando fala constitui-se em um modo de ser da linguagem,
uma vez que o prprio falar se desenvolve no elemento da conversa. H uma tendn-
cia natural na linguagem para ocultar e proteger a si mesma, onde a palavra no re-
presenta o verdadeiro ser da coisa, diz Gadamer, nem jamais representar, haja visto
que, no h linguagem perfeita absolutamente, toda a linguagem uma articiali-
dade, uma tentativa de expressar e de comunicar o mais exatamente possvel a es-
sncia das coisas. O ser que nomeia cria o mundo a partir de si, dito de outro modo,
os seres da espcie que nomeia tambm criam e desenvolvem os nomes dados pelos
primeiros a nomear, nossos antepassados humanos.
Em Verdade e Mtodo, Gadamer explica que o falar, manifestaria a verdade exis-
tente nas coisas, e no as palavras como smbolos simplesmente. No dialogar, por
assim dizer, o mundo seria construdo atravs do dilogo. Uma vez que, sem fala e
sem dilogo as palavra no teriam sentido algum, at mesmo para se considerar a
palavra enquanto tal preciso que haja um falar, um dilogo.
380 Aguinaldo Amaral
Otermo sempre umartifcio produzido pelo homem, umalgo articial para que
o homempossa lidar comas coisas. Para Gadamer o termo uma palavra rgida, o uso
terminolgico umato de violncia contra a linguagem, por denio enormemente
abrangente. Ocontexto no o nico molde para a signicao da palavra. Oque est
presente no discurso, o seu sentido, no o nico elemento a que devemos atentar,
h algo mais co-presente, esse elemento co-presente o que d vida ao discurso.
Em Heidegger, por exemplo, a abertura do chamado ser-no-mundo se d pela
compreenso e pela disposio no sentido de existenciais fundantes. Gadamer se
apropria da idia heideggeriana de que a estrutura de articulao do discurso uma
espcie de totalidade signicativa. O ser-no-mundo em Heidegger busca uma dis-
posio que se anuncia no discurso e que faz parte da compreensibilidade do ser.
da existncia do Dasein que vem o discurso. A constituio fundamental da pre-
sena, pr-molda a estrutura prpria da abertura do ser-no-mundo no discurso. Em
um sentido ontologicamente amplo que deveria ser compreendido o fenmeno da
comunicao. O discurso e a linguagem do signicado ao ser-no-mundo, sua pr-
pria estrutura pr-moldada por essa constituio fundamental.
Tambm em sentido ontologicamente amplo entende-se o fenmeno da comu-
nicao da linguagem, no tomdo discurso temos umndice lingstico prprio, onde
se anuncia o ser-em da disposio, para Heidegger. A linguagem pode ser conside-
rada a condio de possibilidade de toda a reexo humana pois todo o pensamento
faz parte de uma comunidade lingstica ou comunidade de pensamento, construda
intersubjetivamente. O ser velado e desvelado na linguagem segundo a fora her-
menutica que o interpreta. Neste ponto a hermenutica obrigada a aprovar certa
concepo de unicidade no dedutvel do conjunto sinttico-semntico.
So nas linguagens particulares onde manifestam-se de modo efetivo o uso, o en-
tendimento e a linguagem, e isto j dizia Schleiermacher, seria ento um universal
particular, universal no sentido de que abrange, mesmo que supercialmente, todo
um universo de elementos, todas as coisas que conhecemos. Singular no sentido de
que uma forma de interpretao e de comunicao nica, relativa a uma determi-
nada espcie. So as convenes e os consensos que fazem com que a linguagem
exista como um todo organizado e coerente. O sentido das palavras alterado a cada
instante, a cada momento em que algum a utiliza cotidianamente.
A semntica convencional da linguagem suspensa por seu emprego metafrico
e simblico, essa suspenso exige uma redenio dos caracteres que lhe so ine-
rentes pois a linguagem est sempre em constante transformao. A concepo de
mundo como umtexto a ser decifrado, freqente entre os grades hermeneutas, cabe
a linguagemento, decifrar ouinterpretar esse mundo, mostrar-nos o sentido das coi-
sas e de ns mesmos pois, heideggerianamente falando, se no vemos sentido emns
mesmos no conseguiremos ver sentido no mundo ou nas coisas, mesmo que este
sentido seja algo articial produzido para complementar umciclo de signicaes da
prpria vida.
O esprito, o pensamento, a alma do autor e do interprete, necessitam coadunar
A inuncia heideggeriana na viso de Gadamer de compreenso e linguagem 381
para que o crculo da compreenso se complete e seja o mais perfeito possvel, isto ,
o mais el possvel. O consenso quanto coisa, o objetivo de toda compreenso e
de todo entendimento, explica Heidegger. A unidade de sentido deve ser conrmada
de modo mais unvoco enquanto os projetos se posicionamlado a lado na elaborao
da interpretao. A ambigidade se faz presente na cotidianidade quando ambas se
mesclam naquilo que acessvel a todo mundo, junto com o que todo mundo pode
dizer da coisa. Fracassaria o tempo em sentido autntico quanto a seu empenho no
famoso Dasein de Heidegger, no estado silencioso de sua realizao. Aquilo que se
cria de autenticamente novo chega envelhecido quando se torna pblico, atravs do
texto ou do discurso, em virtude da ambigidade do chamado falatrio e da curiosi-
dade. Os discursos prvios, as percepes curiosas, so dados pela ambigidade da
interpretao pblica.
A obstinao emperceber a relao entre palavra e coisa ou entre falar e pensar,
algo que nos acompanha desde os gregos, nos aponta Gadamer. Questes envolvendo
linguagem e verbo, geralmente remetiam hermenutica teolgica. Um dos grandes
mistrios da linguagem consiste na investigao da relao linguagem-pensamento,
no modo como ocorre esta relao. As lnguas tanto naturais quanto articiais jamais
manifestariamo verdadeiro ser das coisas, nemmesmo seu prprio ser manifestado
atravs dessas lnguas.
Na palavra tornada pblica, diz Gadamer, temos a entrega irrecupervel do pr-
prio pensamento ao outro, no somos mais donos de nossos pensamentos ao tor-
narmos eles pblicos, quando a palavra tornada pblica tudo o que consideramos
ntimo j no o mais. Para Gadamer a palavra surge ao mesmo tempo em que a
formao do intelecto. A hermenutica busca esclarecer o fenmeno da linguagem
partindo de uma prpria realizao vital que lhe inerente. E a hermenutica los-
ca permite ver que o sujeito conhecente est indissoluvelmente unido ao que se lhe
abre e se mostra como dotado de sentido. H uma relao ntima entre a palavra e a
coisa, desde a antiguidade, o homem antigo compreendia intuitivamente esta rela-
o, se sentia como parte da palavra que pronunciava. O carter comum do mundo
teria assim, a particularidade de ser sempre pressuposto pela linguagem.
Referncias
Gadamer, H.-G. 1988.Verdad y Metodo. Traduccin de Ana Apud Aparicio e Rafael Agapito. 3
a
ed. Salamanca: Ediciones Sgueme.
. 1998. Verdade e mtodo I. Traos fundamentais de uma hermenutica losca. Petrpo-
lis: Vozes.
. 2002. Linguagem e Compreenso. In Gadamer 1998.
. 2002. Homem e Linguagem. In Verdade e Mtodo II. Petrpolis: Vozes.
Heidegger, M. 1988. Ser e tempo. Trad. Marcia de S Cavalcante. Petrpolis: Ed. Vozes, v.1.
. 1989. Ser e tempo. Trad. Marcia de S Cavalcante. Petrpolis: Ed. Vozes, v.2.
Schleiermacher, F. 1999. Hermenutica: arte e tcnica da interpretao. Petrpolis: Vozes.
. Sobre os diferentes mtodos de traduzir. Preprint, trad. Celso R. Braida.
O PROBLEMA DA INTENCIONALIDADE: DA OBJETIVIDADE IMANENTE EM
F. BRENTANO CONSCINCIA TRANSCENDENTAL NA FENOMENOLOGIA DE
E. HUSSERL
CARLOS DIGENES C. TOURINHO
Universidade Federal Fluminense (UFF) / NUFIPE
cdctourinho@yahoo.com.br
na obra de So Toms de Aquino que o lsofo alemo Franz Brentano (1838-1917)
busca fundamentos para reeditar a questo da intencionalidade no ltimo quarto do
sculo XIX. Para Toms de Aquino, existir na natureza (esse naturale), que como
existem, para ele, as formas, distinto de existir no pensamento (esse intentionale).
Apoiando-se nesse segundo modo de existncia, no qual as coisas existem no inte-
lecto (in intellectu) enquanto coisas pensadas, Brentano prope uma teoria ima-
nentista da intencionalidade, segundo a qual o ato de ser intencional deve ser de-
nido como ser objetivo em sentido imanente, o que equivale a dizer que todo ato
mental contm em si algo como seu objeto.
Na obra de Toms de Aquino, particularmente, em Quaestiones Disputatae de Ve-
ritate (Quaestio Prima), deparamo-nos com algumas consideraes importantes so-
bre o tema em questo. Logo no Artigo Primeiro da referida obra, Toms de Aquino
arma-nos que a alma dotada de duas faculdades: uma cognoscitiva e outra apeti-
tiva (Thomae de Aquino 1970, p. 5). Enquanto a concordncia do ente coma segunda
faculdade se exprime com o termo o bem, no sentido de que o bem aquilo a que
tendem todas as coisas (bonum est quod omnia appetunt), a concordncia do ente
com a primeira faculdade expressa-se no termo verdadeiro. Com efeito, toda cog-
nio se efetua, segundo Toms de Aquino, mediante uma concordncia do intelecto
com a coisa conhecida, de modo que tal concordncia passa a ser concebida como a
causa da cognio (causa cognitionis). O ente no pode ser conhecido se no corres-
ponder ao intelecto ou com ele no concordar.
No Artigo Segundo (Quaestio 1, Articulus 2), Toms de Aquino arma-nos que o
complemento ou a plenitude de qualquer movimento constitudo pelo seu m ou
termo. Se o movimento da faculdade cognoscitiva encontra o seu termo na prpria
inteligncia, pois a coisa conhecida deve necessariamente encontrar-se na intelign-
cia que conhece, segundo o modo caracterstico desta ltima (modum cognoscentis),
a faculdade apetitiva encontra o seu termo nas coisas (Thomae de Aquino 1970, p. 9).
Segundo So Toms de Aquino, eis a razo pela qual Aristteles estabelece, na parte
III do De Anima (comentrio 54 e seguinte), um certo circuito nos atos da alma e da
inteligncia (circulum quendam in actibus animae), no qual o objeto que est fora da
inteligncia a pe emmovimento; o objeto conhecido desperta a faculdade apetitiva,
e esta faz, por sua vez, com que a inteligncia retorne ao objeto, do qual partiu todo o
processo cognoscitivo. Na medida em que o bem se encontra correlacionado facul-
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 382391.
O Problema da Intencionalidade 383
dade apetitiva e o verdadeiro se relaciona com o intelecto, Aristteles arma-nos, no
comentrio nono, do livro VI de sua Methaphysicae, que o bem e o mal se encontram
nas coisas, ao passo que o verdadeiro e o falso encontram-se na inteligncia. Nesse
sentido, uma coisa s se diz verdadeira na medida em que concorda ou corresponde
com a inteligncia que a conhece.
Para Toms de Aquino, a coisa criada encontra-se situada entre duas intelign-
cias: a divina e a humana; denominando-se verdadeira segundo a sua conformidade
com ambas. A coisa se conforma inteligncia divina (intellectum divinum) na me-
dida em que cumpre a funo para a qual foi destinada por essa mesma inteligncia.
Por outro lado, a coisa criada denomina-se verdadeira na medida emque se conforma
inteligncia humana (intellectum humanum), fornecendo por si mesma uma base
para um julgamento correto; analogamente, dizemos que uma coisa falsa quando
ela aparenta algo que na realidade no . Aqui, Toms de Aquino chama-nos a aten-
o para duas acepes da verdade: a primeira reside na coisa antes da segunda, haja
visto que a conformidade da coisa criada com a inteligncia divina anterior con-
formidade com a inteligncia humana. Por conseguinte, mesmo que no houvesse
inteligncia humana, as coisas continuariam a denominar-se verdadeiras em relao
inteligncia divina, pois nenhuma coisa pode ser falsa se comparada com a inte-
ligncia de Deus (Thomae de Aquino 1970, p. 31). No que concerne a este ponto,
Toms de Aquino arma-nos que, com respeito ao intelecto de Deus, toda coisa em
si verdadeira. Ao contrrio, a comparao (da coisa) coma inteligncia humana aci-
dental, pois, em relao a ela, a coisa no se pode denominar sempre absolutamente
verdadeira.
Ointelecto humano desdobra-se, segundo So Toms de Aquino, emumintelecto
que forma as qididades das coisas (intellectus quiditatemrerumformantis) e umin-
telecto que exerce uma atividade sintetisante e analisante (intellectus componentis e
dividentis), fornecendo-nos um juzo sobre as coisas. O conceito de verdade se veri-
ca na inteligncia humana primariamente a partir do momento emque esta comea
a possuir algo de prprio, que a coisa (ou ente) existente fora da inteligncia no pos-
sui; algo que no deixa, contudo, de corresponder coisa, assegurando, com isso, a
concordncia entre ambos (entre a inteligncia e a coisa). O intelecto formador das
qididades somente possui uma imagem da coisa existente fora do esprito, ao passo
que o intelecto sintetisante e analisante encarrega-se de fazer um julgamento acerca
da coisa. sobre a atividade exercida pelo intelecto formador de juzos que So Toms
de Aquino situa o que h de prprio no intelecto humano, algo que no se encontra
na prpria coisa. Quando aquilo que se encontra na coisa extrnseca concorda com o
julgamento da inteligncia, dizemos que o julgamento verdadeiro.
Para Toms de Aquino, conforme a exposio do Artigo Terceiro (Quaestio 1, Ar-
ticulus 3), falar da verdade implica em falar de uma concordncia ou conformidade
entre a coisa e a inteligncia. Nesta concordncia, porm, no necessrio que os
dois membros dessa relao tenhamexistncia atual, uma vez que a inteligncia pode
concordar com coisas que ainda no existem, mas existiro futuramente. Do contr-
384 Carlos Digenes C. Tourinho
rio, nos diz Toms de Aquino, no poderia ser verdadeira a frase: Nascer o Anti-
cristo (Thomae de Aquino 1970, p. 18). Pode-se dizer que tal armao verdadeira
com respeito verdade que se encontra s no intelecto, mesmo que a prpria coisa
ainda no exista. Conclui-se, ento, que a inteligncia est em conformidade no so-
mente com as coisas que existem atualmente, mas tambm com aquelas que no
possuem existncia atual.
Na inteligncia, a verdade reside como alguma coisa que resulta de uma atividade
exercida pelo prprio intelecto, e como algo que conhecido atravs da inteligncia.
No Artigo Nono (Quaestio 1, Articulus 9) , Toms de Aquino chama-nos a ateno
para a idia de que a verdade conhecida pelo intelecto na medida emque ele reete
sobre o seu prprio ato, no apenas no sentido de conhecer o ato para o qual se volta,
mas tambm no sentido de conhecer a relao (intencional) do ato com a coisa. Tal
relao somente pode ser conhecida caso se conhea a natureza do prprio ato, e a
natureza deste, por sua vez, somente pode ser conhecida caso se conhea a natureza
do princpio ativo, que a prpria inteligncia, cuja inclinao consiste emse colocar
em conformidade com as coisas (Thomae de Aquino 1970, p. 29).
Residindo no prprio intelecto, a conformidade com as coisas pressupe tanto a
possibilidade de apreenso das coisas (que estariamfora da alma) mediante imagens,
como a formao de juzos verdadeiros, conforme o modo caracterstico da intelign-
cia que conhece (modumcognoscentis). Para Toms de Aquino, as coisas criadas exis-
tiriam, portanto, de dois modos distintos: na natureza ou fora da alma (extra ani-
mam) e no intelecto (in intellectu). nesse segundo modo que encontramos a idia
de uma in-existncia da coisa no intelecto, a coisa segundo o modo de existncia
de coisa pensada (secundum esse quod habet in intellectu). Trata-se a de uma in-
existncia no no sentido de no existir, mas no sentido de existir em, conforme
o modo ou termo caracterstico da prpria inteligncia. H, portanto, uma relao na
qual o intelecto movido pelo prprio objeto que o desperta no incio do processo
cognoscitivo apreende, mediante imagens, esse mesmo objeto, que passa, por sua
vez, a (in)existir no intelecto. Inspirando-se nesse segundo modo de existncia, no
qual as coisas existem no intelecto (in intellectu) enquanto coisas pensadas, Bren-
tano reedita, no ltimo quarto do sculo XIX, uma teoria imanentista da intenciona-
lidade, na qual o objeto do pensamento in-existe como tal no prprio pensamento.
Em sua obra de 1874, intitulada Psicologia do Ponto de Vista Emprico, o lsofo
alemo Franz Brentano professor na Universidade de Viena busca, basicamente,
umcritrio de demarcao que permita o estabelecimento de uma distino entre os
fenmenos fsicos e os fenmenos mentais. No primeiro captulo do Livro II, Bren-
tano comea essa discusso coma seguinte armao: Todos os dados da conscin-
cia so divididos em duas grandes classes a classe do fenmeno fsico e a classe do
fenmeno mental (Brentano [1874], p. 77). Ainda no mesmo captulo, Brentano in-
troduz o que considera a caracterstica que melhor permite-nos distinguir os fenme-
nos mentais dos fenmenos fsicos: trata-se da relao intencional entre atos mentais
e seus objetos. A idia central de Brentano a de que os fenmenos mentais so atos
O Problema da Intencionalidade 385
mentais dirigidos (ou voltados) intencionalmente para os seus objetos. Em princpio
tais objetos so fenmenos fsicos, porm, os fenmenos mentais (ou atos mentais)
podem tambm se tornar objetos de outros atos mentais. A relao entre fenme-
nos mentais e fenmenos fsicos , portanto, uma relao entre atos mentais e seus
objetos. Brentano ir caracterizar esta relao a partir de uma reedio da concep-
o aristotlico-tomista de in-existncia intencional de um objeto. Trata-se a de
uma in-existncia no no sentido de no existir, mas no sentido de existir em.
Aps cair em desuso no Renascimento e na Modernidade, essa terminologia foi, en-
to, revivida por Brentano, usada para veicular a idia de que o objeto do pensamento
in-existe como tal no pensamento, no qual se torna um objeto do prprio ato men-
tal. Eis a denio do termo intencionalidade na losoa de Brentano: ser objetivo
em sentido imanente, o que equivale a dizer que todo fenmeno mental contm em
si algo como seu objeto (ou seu contedo). O campo fenomenal se abre revelando,
em sua imanncia, a referncia intencional aos objetos. Em Brentano, a intencionali-
dade (ou in-existncia intencional) aparece, ento, como um critrio de demarca-
o, como aquilo que diferencia o fenmeno fsico do fenmeno mental. Somente o
fenmeno mental possuiria intencionalidade.
Como herana do pensamento de Brentano, Husserl retma idia bsica de que a
intencionalidade a peculiaridade da experincia de ser consciente de alguma coisa.
Pode-se dizer que, at 1900, Husserl recorre, tal como Brentano, in-existncia ima-
nente de umcontedo mental. Aqui, a noo de contedo para ser tomada literal-
mente: o objeto intencional encontra-se contido no fenmeno mental como uma de
suas prprias partes. Estabelece-se uma equivalncia entre o objeto e o contedo
de um ato mental. Inspirado em Brentano, o primeiro Husserl admite, ento, o cha-
mado princpio de adequao mereolgica, segundo o qual o objeto ou contedo
de um ato mental in-existe como tal no prprio ato
1
.
Em suas Investigaes Lgicas (1900/1901), Husserl apresenta-nos um ponto de
rompimento com relao teoria da intencionalidade formulada por Brentano. Tal
rompimento concentra-se na rejeio do princpio de adequao mereolgica. Hus-
serl parece conrmar a sua nova posio a respeito do problema em questo, ar-
mando-nos, no pargrafo 11 da V Investigao, que:
. . . sempre inteiramente questionvel e bastante equivocado dizer que os obje-
tos percebidos, imaginados, armados ou desejados entram na conscincia. . .
ou dizer similarmente que a experincia intencional contm alguma coisa como
seu objeto nela mesma...No existem duas coisas presentes na experincia, ns
no experienciamos o objeto e ao lado dele a experincia intencional dirigida
para ele; no h mesmo duas coisas presentes no sentido de uma parte e de um
todo que a contm . . . claro, ao menos, at onde ns temos investigado, que o
melhor seria evitar falar de objetividade imanente. (Husserl [1900/1901], p. 98)
Estabelece-se, a partir desse momento, a distino entre contedo e objeto de
um ato mental. A nova teoria de Husserl partir da idia de que, no que se refere a
qualquer ato mental particular, contedo e objeto nunca coincidem. Enquanto o
386 Carlos Digenes C. Tourinho
contedo de umato mental encontra-se presente no prprio ato, o objeto intencional
de um ato o transcende, no estando, portanto, contido nele de forma imanente. O
eixo das atenes concentra-se, ento, neste momento da obra de Husserl, em torno
da necessidade de elucidar a referncia intencional de um ato mental sobre os ob-
jetos, ou seja, o modo por meio do qual um ato intencional se refere a um objeto.
Anal, como nos lembra o prprio Husserl, existem essencialmente diferentes esp-
cies e subespcies de intenes, diferentes modos de referncia intencional (Husserl
[1900/1901], p. 96). Passa a ser de fundamental importncia a investigao do mo-
mento interno de um ato que, no prprio ato, responsvel pela determinao de
sua referncia objetiva. Anal, como os elementos atualmente presentes em um ato
mental podem capacitar esse ato objetivar, referir ou signicar alguma coisa que,
por sua prpria natureza, no faz parte dele, ao contrrio do que se pensava na posi-
o anterior? Como faz questo de ressaltar o prprio Husserl: . . . de um interesse
epistemolgico fundamental conseguir a mxima clareza possvel acerca da essncia
desta referncia (Husserl [1900/1901], p. 129).
Na V Investigao, Husserl chama-nos a ateno para a idia de contedo feno-
menolgico de um ato. Segundo Husserl, deve haver, no prprio contedo fenome-
nolgico de um ato, um elemento que determine o objeto para o qual o ato mental
estaria voltado intencionalmente, mas tambm um elemento responsvel por fazer
com que o objeto possa ser intentado por um ato como um objeto julgado, desejado,
representado, etc. Destacam-se os conceitos de matria e de qualidade de um ato
mental, denidos, emtermos gerais, como dois momentos abstratos, dois constituin-
tes internos, comuns a todos os atos. A matria , segundo Husserl, aquela parte pe-
culiar do contedo fenomenolgico de um ato que aponta o objeto para o qual o ato
estaria dirigido ou voltado intencionalmente, determinando, portanto, o direciona-
mento do ato para este objeto e no para outro. A matria intencional deve ser, por-
tanto, aquele elemento em um ato mental que determina, primeiramente, a sua refe-
rncia a umobjeto (ou a sua referncia objetiva). J a qualidade de umato mental
, tal como a matria, umaspecto abstrato do prprio ato, porm, enquanto a matria
determina o objeto para o qual o ato estaria dirigido intencionalmente, a qualidade
somente determina se o que j apresentado de uma maneira denida encontra-se
intencionalmente apresentado como algo desejado, questionado, localizado em um
julgamento, etc. Eis, portanto, os elementos que, no prprio ato, tornariampossvel o
direcionamento intencional, servindo de ponto de apoio para a superao do desao
que o problema da intencionalidade (agora concebido como problema da objetivi-
dade transcendente) impe V Investigao.
Pode-se dizer que omomentodecisivopara a formulaode uma nova concepo
de intencionalidade ocorre nas cinco lies pronunciadas por Husserl, em abril-
maio de 1907, diante dos seus alunos da Universidade de Gttingen que ele deixa-
ria em 1916, indo para a Universidade de Freiburg-im-Breisgau. Somente aps a sua
morte tais lies seriampublicadas, sobo ttulo de AIdia da Fenomenologia (Die Idee
der Phnomenologie). A partir desse momento, assumindo, como modelo explcito, o
O Problema da Intencionalidade 387
mtodo cartesiano da dvida hiperblica, Husserl arma, na referida obra, que, para
fundar a losoa sobre um solo inabalvel, estabelecendo-lhe seus fundamentos, se-
ria preciso comear por duvidar de qualquer outra fonte de conhecimento (Husserl
[1907], p. 23). Em seu propsito de alcanar uma fundamentao rigorosa para a -
losoa, est em jogo uma reexo radical (Selbstbesinnung)
2
que dar sentido ou
consistncia racional a todas as cincias e Filosoa. No exerccio dessa reexo, a
nica realidade cuja existncia se revelaria de modo indubitvel seria a dos nossos
prprios pensamentos (cogitationes), ou seja, dos fenmenos que aparecem para o
nosso esprito desde que esse esprito seja denido no como eu emprico, mas
sim, como conscincia pura, dotada da capacidade de ver as essncias em si mes-
mas, independentemente de qualquer referncia a um mundo posto entre parnte-
ses. Abrem-se as portas para um nova losoa do sujeito, para um novo idealismo
transcendental. Desenvolver as grandes linhas deste novo idealismo constituir um
dos objetivos principais do pensamento husserliano. Neste sentido, A Idia da Fe-
nomenologia que constitui o ncleo das Cinco Lies pronunciadas em 1907, em
Gttingen assume um lugar de destaque no itinerrio traado por Husserl, pois,
nas Cinco Lies, o mesmo autor j anuncia o intuito de promover uma reforma total
da losoa para fazer desta uma cincia de fundamentos absolutos. Esta disciplina
losca fundamental denida como cincia dos fenmenos puros o que
Husserl denominar de fenomenologia. A partir das lies de 1907, possvel notar,
denitivamente, a aceitao no mais de uma fenomenologia meramente emprica
(ou de uma psicologia descritiva), restrita simples esfera das vivncias intelectivas,
das vivncias de um eu emprico (ou de um eu psicolgico), mas sim, de uma fe-
nomenologia transcendental, preocupada fundamentalmente em captar, atravs da
reduo fenomenolgica, o fenmeno puro, cuja essncia imanente exibida como
um dado absoluto. A respeito da sua nova posio, o prprio Husserl especica, em
um manuscrito de 1907 (setembro de 1907, B II 1), que, de certo modo, as Investi-
gaes Lgicas ainda faziam a fenomenologia passar por uma psicologia descritiva,
embora, conforme nos assinala o autor no referido manuscrito, no texto das Investi-
gaes j fosse determinante o interesse terico-cognoscitivo. O autor conrma, en-
to, a sua nova posio, armando-nos que:
As Investigaes Lgicas fazem passar a fenomenologia por psicologia descri-
tiva (embora fosse nelas determinante o interesse terico-cognoscitivo). Impor-
ta, porm, distinguir esta psicologia descritiva, e, claro, entendida como fenome-
nologia emprica, da fenomenologia transcendental . . . Oque nas minhas Inves-
tigaes Lgicas se designava como fenomenologia psicolgica descritiva con-
cerne simples esfera das vivncias, segundo o seu contedo incluso. As vivn-
cias so vivncias do eu que vive, e nessa referem-se empiricamente s objecti-
dades da natureza. Mas, para uma fenomenologia que pretende ser gnosiolgica,
para uma doutrina da essncia do conhecimento (a priori), ca desligada a re-
ferncia emprica. Surge assim uma fenomenologia transcendental . . . (Husserl
[1907], p. 134).
388 Carlos Digenes C. Tourinho
Neste sentido, Husserl alerta-nos para a importncia de se distinguir essa psi-
cologia descritiva, entendida como fenomenologia emprica, de uma fenomeno-
logia transcendental, voltada para uma conscincia constituinte capaz ver as es-
sncias em si mesmas. Surge assim uma fenomenologia transcendental, que foi efe-
tivamente aquela que se exps em fragmentos, nas Investigaes Lgicas (Husserl
[1907], p. 14). nesse nvel que a funo intencional, recriando um lao entre a
minha conscincia e o objeto que esta lies, possvel notar, portanto, de forma de-
nitiva, a aceitao no mais de uma fenomenologia meramente emprica, restrita
simples esfera das vivncias intencionais de um eu emprico, mas sim, de uma fe-
nomenologia transcendental, voltada para uma conscincia pura capaz de intuir as
essncias universais (entendidas como idealidades meramente signicativas). Sob
a gide desta nova diretriz, a fenomenologia de Husserl tomaria novos rumos, no
deixando de prescindir de um mtodo de evidenciao dos fenmenos.
Husserl opta, ento, como estratgia metodolgica para o alcance de evidncias
plenas (cuja revelao implica em uma absoluta ausncia de dvidas), pelo exerccio
da suspenso de juzo (epoch) em relao ao mundo natural: me abstenho de tecer
consideraes acerca da existncia ou no existncia das coisas mundanas (a facti-
cidade do mundo ca fora de circuito). Husserl defende o exerccio da epoch em
relao aos fatos, ao eu psicolgico que os vivencia e as prprias vivncias deste eu.
A epoch proporcionar o deslocamento da ateno, inicialmente voltada para os fa-
tos contingentes do mundo natural, para o domnio de uma subjetividade transcen-
dental (permanente e universal), onde as idealidades inteligveis se revelaro como
evidncias absolutas para uma conscincia pura, dotada da capacidade de ver ver-
dadeiramente os fenmenos enquanto essncias universais (trata-se do puro ver
das coisas). Da Husserl denir, por vezes, a fenomenologia como Doutrina Univer-
sal das Essncias ou Cincia dos Fenmenos Puros. O exerccio da epoch propor-
ciona, portanto, o acesso ao modo de considerao transcendental do objeto, pos-
sibilitando o retorno conscincia pura e, por conseguinte, ao modo como nela os
objetos se constituem.
Para Husserl, como se houvessem duas regies. De um lado, deparamo-nos
com o domnio dos fatos, do que tem existncia, do mundano, do que se encontra
submetido a uma dimenso espao-temporal. Paralelamente, como um recurso me-
todolgico para o alcance das evidncias apodticas, o exerccio da epoch e, con-
seqentemente, da reduo fenomenolgica, promover o salto para o domnio das
idealidades inteligveis, que se revelamna e para uma conscincia pura (ou transcen-
dental); puro aqui signica a priori (independente da experincia), aquilo que no
pode ser pensado em termos de dados empricos; se esta conscincia pura no pode
ser tomada a partir de dados empricos, cabe-nos apenas conceb-la a partir de sua
relao intencional com o seu objeto (no objeto no sentido de fato ou coisa, mas
sim, objeto enquanto uma idealidade, destitudo de qualquer contingncia ou fac-
ticidade). Trata-se de uma idealidade meramente signicativa, que se revela como
um dado absoluto e imediato para uma tal conscincia pura que o apreende intui-
O Problema da Intencionalidade 389
tivamente. O objeto, precisamente porque inconcebvel sem ser pensado, exige uma
doao de sentido que s pode vir atravs dos atos de conscincia (que nada mais so
do que atos de pensamento, cuja essncia a prpria intencionalidade), isto , as
unidades de sentido pressupe uma conscincia de sentido. Portanto, concentrando-
se na relao intencional entre a conscincia e o fenmeno, a fenomenologia ir se
ocupar no de uma conscincia emprica que porventura correspondesse ao fato na-
tural, mas sim, de uma conscincia pura voltada intencionalmente para o fenmeno
puro.
Tal conscincia pura (ou transcendental), dir Husserl, ser no fundo uma cons-
cincia doadora originria de sentido; na fenomenologia, as essncias (enquanto
unidades ideais de signicao) somente podemser pensadas na medida emque se
revelamna conscincia transcendental e para essa mesma conscincia. Tais sentidos
seriam constitudos por essa conscincia pura doadora de sentidos. Da tomarmos a
fenomenologia como um novo idealismo transcendental. Quando pensamos a re-
lao desta conscincia pura com os seus objetos (que rigorosamente falando, nada
mais so do que contedos intencionais da conscincia), pensamos primeiramente
emuma relao de imanncia, pois, o objeto se revela na conscincia. Mas pensamos
tambm em uma relao de transcendncia, pois, este mesmo objeto que se revela
na conscincia, , enquanto umsentido, constitudo por essa mesma conscincia. No
plano transcendental, poderamos, ento, dizer que, na relao intencional da cons-
cincia pura com o seu objeto, h uma relao da ordem de uma transcendncia
na imanncia. A fenomenologia transcendental ser ento uma fenomenologia da
conscincia constituinte. Exercer a epoch reduzir conscincia transcendental (o
mundo reduzido o mundo tal como se revela ou aparece na conscincia, no mais
como fato, mas sim, como umhorizonte de sentidos). A constituio de sentido se
faz, no plano transcendental, por intermdio da intencionalidade (a unidade de sen-
tido constituda encontra-se em minha vida intencional e a partir da minha vida in-
tencional). Ofenmeno puro o sentido que, uma vez constitudo, se revela de forma
imediata como um dado absolutamente evidente para a prpria conscincia que o
apreende intuitivamente. A epoch revela-nos que o mundo que existe para ns, tira
o seu sentido de ser da nossa vida intencional. Ao situar a intencionalidade em um
plano transcendental, o foco das atenes concentra-se emtorno dos elementos que,
na conscincia pura, so responsveis pela constituio do objeto (unidade de sen-
tido) e pelas diferentes formas ou modalidades do dar-se na conscincia (o aparecer
enquanto tal).
Portanto, a partir de A Idia da Fenomenologia, as investigaes em torno da in-
tencionalidade no habitariammais o domnio do que meramente emprico e, de-
nitivamente, no estariammais voltadas para a idia de uma objetividade imanente
(no sentido proposto por Brentano), nem tampouco para o problema da objetivi-
dade transcendente (isto , o problema de como possvel uma vivncia intelectiva
intentar algo que se encontra fora do domnio da prpria conscincia emprica). Ao
suspender o juzo em relao facticidade do mundo, a fenomenologia promover,
390 Carlos Digenes C. Tourinho
a partir da reduo fenomenolgica, o salto do domnio do que transcendente (no
sentido do que no auto-evidente) para o domnio de uma autntica imanncia
(de uma claridade absoluta, do dar-se em si mesmo), fazendo com que o fenmeno
puro se revele imediatamente para uma conscincia doadora de sentido. Recupera-
se a idia de objetividade imanente, porm, no plano transcendental. O mundo re-
duzido ser, ento, considerado apenas como signicado e, portanto, apresenta-se
como mero corolrio da conscincia pura que o signica, adquirindo assim um ca-
rter absoluto. Amplia-se a esfera de investigao em torno da intencionalidade, ca-
bendo agora examinar os elementos que, na conscincia pura, so responsveis pela
constituio das diferentes modalidades do aparecer enquanto tal (diferentes for-
mas do dar-se dos objetos na conscincia pura). Diferentemente de Brentano, para
quem a relao intencional ainda se mantinha em uma dimenso meramente psico-
lgica, Husserl procurou situar, atravs da reduo fenomenolgica, a intencionali-
dade em uma regio transcendental, independente de e anterior a toda descri-
o psicolgica, recuperando, assim, de um modo original, a idia de objetividade
imanente.
Bibliograa
Bell, D. 1995. Husserl. The Arguments of the Philosophers. Edited by Ted Honderich. London
and New York: Routledge.
Brentano, F. ([1874] 1973). Psychology from an Empirical Standpoint. Ed. by L. L. McAlister,
translated by A. C. Rancurello, D. B. Terrell and L. L. McAlister. London: Routledge &Kegan
Paul.
Fllesdal, D. 1998. Edmund Husserl (1859-1938). In: Craig, E. (ed.) Routledge Encyclopedia of
Philosophy. London: Routledge.
Fradique Morujo, A. 2002. Estudos Filoscos. Vol. 1. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da
Moeda.
Fragata Sj, J. 1956. A Fenomenologia de Husserl como fundamento da losoa. Braga: Livraria
Cruz.
. 1989. Problemas da Filosoa Contempornea. Braga: Publicaes da Faculdade de Filo-
soa da UCP.
Husserl, E. ([1900/1901] 2001). Logical Investigations (Volume II). London and NewYork: Rou-
tledge.
. ([1907] 2000). A Idia da Fenomenologia. Lisboa: Edies 70.
Thomas de Aquino. 1970. Quaestiones Disputatae de Veritate (Quaestio Prima). Opera Omnia,
Tomus XXII. Volumen I, Fasc. 2. Iussu Leonis XII P. M. Edita. Romae ad Sanctae Sabinae.
Notas
1
Trata-se da aceitao do princpio segundo o qual a relao de um fenmeno mental (ou de um ato
mental) com o seu contedo uma relao do todo com a sua prpria parte. Neste sentido, dizemos,
com o referido princpio, que o contedo de um ato in-existe como tal no prprio ato, desde que no
seja idntico a ele. Ou seja, o contedo b est contido no ato mental a, no entanto, a no idntico a b.
O Problema da Intencionalidade 391
2
Besinnung uma palavra que dicilmente se traduz para o portugus, como, em geral, para qualquer
outra lngua. Husserl caracteriza-a com suciente amplido, esclarecendo-a como uma manifestao
ntima do sentido (Sinn), ou seja, como uma exposio radical do sentido (ursprngliche Sinnesaus-
legung). Selbstbesinnung ser, portanto, uma claricao do sentido ntimo por meio de uma reexo
radical.
NOTA SOBRE O CONCEITO DE MOVIMENTO NO LE MONDE E NOS PRINCIPES
DE LA PHILOSOPHIE: CONTINUIDADE OU RUPTURA?
RICO ANDRADE M. DE OLIVEIRA
Universidade Federal de Alagoas / Universidade Federal de Pernambuco
ericoandrade@hotmail.com
1. Introduo
Descartes escreve os Principia Philosophiae (doravante: Princpios) com a inteno
de divulgar sua obra nas escolas.
1
Para realizar essa empresa ele teria que consentir
uma dupla adaptao de sua losoa; por um lado, ele deveria a dispor em forma
de manual escolstico o que implica a assimilao de um vocabulrio prximo ao
aristotlico, estranho ao esprito cartesiano.
2
Por outro, ele deveria obrigatoriamente
conciliar a sua fsica, notadamente a teoria heliocntrica, outrora defendida por ele
no Le Monde (doravante: Mundo), com as doutrinas da Igreja, visto que a ausncia
dessa conciliao j houvera custado a vida para alguns e condenado outros ao siln-
cio denitivo.
3
Essas exigncias talvez tenham tornado esse manual de losoa pa-
radoxalmente a obra cartesiana mais difcil. Primeiro, as crticas vorazes aos manuais
da escola foram de certa forma esquecidas por Descartes que resolve escolastitizar
sua prpria losoa.
4
Segundo, a conciliao do repouso da Terra com o movimento
dos turbilhes, que a conduzema mudar de posio emrelao ao Sol, demanda uma
teoria reconhecidamente pouco clara do movimento.
As diculdades resultantes da adaptao cartesiana dos Princpios aos manuais
da escola se multiplicam em diferentes nveis. No entanto, o escopo do presente ar-
tigo circunscreve-se anlise do conceito de movimento. Assim, poder-se-ia inquirir
se a mudana em alguns conceitos da cincia cartesiana, empreendida nos Princ-
pios, sobretudo sua indita crtica ao heliocentrismo conduziriam inevitavelmente a
uma mudana estrutural na concepo de movimento que resultaria, em ltima ins-
tncia, na produo de duas fsicas distintas. A questo que se impe, portanto, con-
siste em saber se a concepo de movimento dos Princpios seria antagnica quela
do Mundo, prescrevendo uma disjuno absoluta entre uma viso cinemtica ou ge-
omtrica do movimento (Mundo) face a uma compreenso dinmica (Princpios)?
Parte das interpretaes da cincia cartesiana insiste que a mudana de concep-
o de movimento subscreve a necessidade de se substituir a conotao cinemtica,
passvel de uma descrio geomtrica, por uma concepo dinmica em funo da
qual se poderia incluir a fora como uma varivel determinante para a compreenso
do movimento. Graas a essa renovao do conceito de movimento, seria possvel
fornecer subsdios tericos ao modelo dos turbilhes, empreendido nos Princpios.
Em outras palavras, a tese padro e tradicionalmente aceita pelo interpretes da f-
sica cartesiana defende que o conceito de fora desempenha um papel eminente nos
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 392408.
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 393
Princpios traduzido na absolutizao da dinmica em detrimento da cinemtica
esboada no Mundo devido nfase cartesiana ao dos turbilhes que desen-
cadeia o movimento do objeto face aos seus vizinhos (Koyr 1966, p. 131, 136 e 337;
Gaukroger 2002, p. 105). Infere-se dessa tese que a denio dos Princpios poderia
ser tomada como o eplogo da eliminao de uma descrio geomtrica do movi-
mento restrita variao espacial do corpo, conforme predissera o Mundo inca-
paz, portanto, de aplicar-se compreenso do corpo em sua interao coliso
com os outros corpos.
Por outro lado, outros intrpretes defendem que a denio dos Princpios em-
bora de fato acentue a dimenso dinmica do movimento, poderia guardar um certo
grau de similaridade em relao quela do Mundo no que concerne, pelo menos,
compreenso do movimento sem a varivel do tempo. No obstante essa similari-
dade, no se poderia obliterar o ponto de ruptura entre as referidas denies. Esse
ponto encontrar-se-ia mais na supresso problemtica porque marcada por uma
srie de diculdades tcnicas e prticas do movimento relativo em favor de um
movimento tomado no sentido absoluto (ontolgico) do que numa passagem da ci-
nemtica para a dinmica. A existncia de uma dupla denio do movimento: movi-
mento relativo e movimento absoluto desempenharia, segundo esses intrpretes, di-
ferentes papeis nos Princpios, aventando uma ambigidade inexistente no Mundo
inscrita numa dupla forma de conceber o movimento (Gueroult 1970, p. 913 e
p. 1047). Desse modo, se tomado no sentido relativo por isso condicionado a um
referencial arbitrrio conforme o qual se identica o deslocamento espacial de um
corpo (Mundo e Princpios parte I e II) o movimento seria considerado nos Prin-
cpios; vulgar. Se tomado no sentido absoluto translao de um corpo em relao
aos seus vizinhos o movimento seria considerado real (Garber 1999, p. 249, p. 253).
Contrariamente as duas correntes de interpretao que enfatizam, em diferentes
tons, a disjuno entre as denies do movimento estabelecidas no Mundo e nos
Princpios, tencionamos mostrar que a compreenso do movimento no seu aspecto
dinmico garimpa um terreno igualmente importante tanto na denio do movi-
mento do Mundo quanto naquela dos Princpios, sobretudo no tocante constituio
do modelo dos turbilhes. Assim, embora divirjamemrelao ao modo ou ao critrio
de identicao do movimento, as referidas denies cumpremuma mesma funo
no edifcio terico cartesiano. Elas apontampara a circularidade do movimento, bem
como para a sua assimilao enquanto varivel central para a composio do modelo
dos turbilhes, fomentando uma unidade entre as fsicas produzidas naquelas obras.
Nosso artigo arquiteta-se em quatro etapas. 1. A anlise do conceito de movi-
mento no Mundo no que diz respeito crtica cartesiana compreenso do movi-
mento em Aristteles e proximidade daquele conceito com a dinmica. 2. Tentare-
mos compreender a dupla signicao do termo movimento nos Princpios: vulgar e
absoluto enquanto uma reviso do modo de identicar o movimento de um corpo,
sem grandes repercusses no modelo terico dos turbilhes. 3. Apresentaremos as
possveis conuncias e divergncias em torno das diferentes denies do movi-
394 rico Andrade M. de Oliveira
mento estabelecidas por Descartes nas duas obras mencionadas no que se refere
assimilao do movimento circular e inexistncia do vazio. 4. Argumentaremos em
favor da coextenso das implicaes que decorremdas diferentes denies cartesia-
nas do movimento: em ambas as obras o movimento tomado, em ltima instncia,
como uma unidade de medida da variao dinmica da matria juntamente com a
grandeza dos corpos. Concluiremos que as denies de movimento oferecidas nas
referidas obras distanciam-se no que concerne forma de se identicar o movimento
de um corpo, mas proporcionam subsdios idnticos no que releva da instaurao da
dinmica cartesiana, apresentada por meio do modelo dos turbilhes.
2. Denio de movimento no Mundo como crtica ao conceito de movi-
mento aristotlico
A gnese da concepo de movimento em O Mundo estrutura-se sob uma crtica in-
cisiva denio aristotlica do movimento, amplamente retomada na Idade Mdia.
Para Aristteles pode-se denir o movimento, de maneira geral, como a passagemda-
quilo que est em potncia ao ato: o movimento o ato do ente em potncia enquanto
tal (Motus est actus entis in potentia, prout in potentia est, OMundo AT, XI, p. 39). Essa
denio coloca no mesmo plano a anlise metafsica do movimento, que o consi-
dera, de forma geral, como a travessia que conduz o ser metamorfose e a fsica que
desvela na estrutura material do corpo a indicao do lugar para o qual ele tende a se
direcionar no intuito de adequar-se ordem natural do mundo. Com efeito, essa du-
pla forma de considerar o movimento circunscrita numa mesma esfera terica que
visa compreend-lo enquanto um modo essencial do ser. Assim, fsica e metafsica
concorrem para a explicao da travessia da potncia ao ato por meio da qual ocorre
a metamorfose do ser, sua mudana, seu reposicionamento na ordem natural.
Descartes dirige uma crtica mordaz denio aristotlica do movimento por
sua vacuidade. Falta-lhe uma intenso precisa que permita a cincia decidir quanto
ao movimento de um corpo. A argumentao de Descartes incide sobre a impreci-
so da linguagem empregada para estabelecer a denio a diculdade da de-
nio dada em latim permanece na lngua francesa e, sobretudo, no objeto que
ela designa.
5
A denio aristotlica-escolstica envolve todo processo de mutao
do ente. Desse modo, sua extenso ampla, considerando que ela abrange no ape-
nas o ente submetido a um certo deslocamento, mas tambm se aplica explicao
de uma srie de qualidades sensveis, supostamente intrnsecas ao ente, que lhe im-
pulsionam ao movimento, ou, em alguns casos, metamorfose. Ele est, portanto,
subordinado s diversas qualidades do ser, existindo para cada uma delas um tipo de
movimento: movimento da forma, da quantidade, do calor, etc. (Mundo, AT, XI, p. 39).
A denio aristotlica , ento, subdividida em diversos nveis sem que haja um cri-
trio claro em razo do qual possa ser identicado o ponto que os renem na forma
de um conceito.
Para reverter o epicentro da denio aristotlica do movimento e restringi-la ao
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 395
deslocamento de umcorpo no espao Descartes realiza no Mundo uma dissecao e,
posteriormente, uma eliminao, dos diversos extratos da matria aristotlica a m
de compreend-la sob uma base formal, alheia a eventuais caractersticas sensveis
dos corpos suas qualidades. Assim, elimina-se, com Descartes, as qualidades do
objeto para que ele seja considerado como uma quantidade: . . . o que quer que seja
essa Matria primeira dos Filsofo, se a analisamos todas as suas formas e qualidades
permanece apenas aquilo que claramente extenso.
6
A concretude da matria sua
substancialidade est, portanto, na sua dimensionalidade: emuma palavra, na sua
abertura quanticao.
No Mundo podemos recuperar o caminho da ruptura que a denio da matria
como extenso introduzida e postulada por Descartes como crtica matria, dira-
mos, viva aristotlica, impe compreenso do movimento de Aristteles:
Os lsofos supem tambm vrios movimentos que eles pensam poder ser fei-
tos sem nenhum corpo mude de lugar, como aqueles que chamam: Motus ad
formam, motus ad calorem, motus ad quantitatem (movimento da forma, movi-
mento do calor, movimento da quantidade) e mil outros. E eu no conheo ne-
nhum que aquele que mais fcil de conceber que as linhas dos gemetras, que
faz com que o corpo passe de um lugar a outro, ocupando sucessivamente todos
os espaos que so entre eles (AT, IX, p. 39-40).
7
Ao invs de adscrever os fatores supostamente endmicos que concorrem para a
metamorfose do ente, a fsica cartesiana agir com parcimnia. Ela far uma notvel
economia no tocante ao conceito de movimento aristotlico na medida em que o
restringe ao deslocamento de um objeto extenso no espao.
A fsica cartesiana confere um carter inerte matria cuja decorrncia a trans-
posioda noode causalidade, compreendida por Aristteles comoa expressodas
qualidades sensveis do corpo, inscritas na essncia do mesmo e, por conseguinte,
responsveis pelo seu movimento em direo ordem natural, para a esfera do for-
tuito. Ou seja, retira-se da fsica os componentes que poderiam fornecer subsdios
para interpretaes fortemente qualitativas do movimento que se concentram em
cada um dos aspectos particulares da composio do corpo , tornando-a mais mo-
desta. Essa deao das variveis responsveis pela compreenso do movimento dos
objetos da fsica pode ser nalmente comparada , mas no identicada sim-
plicidade com a qual os gemetras denem o movimento das guras geomtricas no
espao, que se restringe variao de suas posies.
Descartes procede, ento, analogia entre o movimento na geometria e o movi-
mento dos objetos fsicos no intuito de sublinhar a simplicidade desse ltimo:
Mas, ao contrrio, a natureza do movimento da qual eupenso aqui falar to fcil
de ser conhecida que os gemetras mesmo que, entre todos os homens so aque-
les que so mais cultivados para bem distinguir as coisas que eles tomam como
objeto, tm julgado essa sorte de movimento mais simples e mais inteligvel que
aqueles de suas superfcies e de suas linhas; assim eles parecem ter explicado a
linha pelo movimento do ponto e a superfcie por aquele da linha (AT, XI, p. 39).
8
396 rico Andrade M. de Oliveira
Muitos intrpretes vem nessa analogia da natureza do movimento na fsica com
o movimento do ponto geomtrico no espao euclidiano como a descrio de uma
identidade entre fsica e geometria. Entretanto, essa passagem revela duas concep-
es de movimento distintas cuja comparao longe de visar uma subsuno de uma
pela outra, pretende enfatizar a simplicidade do movimento descrito pelos corpos
fsicos, mostrando que a despeito de sua subordinao a um maior nmero de vari-
veis, ele pode ser mais facilmente compreendido que o realizado pelos corpos geo-
mtricos. Assim, ainda que Descartes no desenvolva precisamente em que sentido
o movimento dos corpos mais fcil de ser compreendido que aqueles dos geme-
tras, parece-nos lcito perceber que a referida analogia assenta-se na identidade que
ambos os movimentos guardam no que tange a denio do movimento em funo
do deslocamento dos corpos no espao. O que nos permite concluir que assim como
os gemetras, que denem o movimento dos seus objetos em funo do seu deslo-
camento no espao, os fsicos devem ater-se apenas ao deslocamento dos corpos no
que concerne denio do movimento.
Contudo, ao contrrio do movimento do corpo no espao geomtrico, que pode
ser descrito sem levar em considerao a fora, o movimento no espao fsico no
pode desconsiderar esse fator. Por isso, os pargrafos que sucedem a analogia entre
o movimento dos corpos geomtricos e o movimento dos corpos fsicos remetem-se
relao das leis da natureza que traam a topograa da fora com a determi-
nao do estado da matria ou da disposio dos corpos fsicos no mundo (cf. AT, XI,
p. 40).
9
Na ordem argumentativa cartesiana primeiro necessrio se desfazer das qua-
litates reales que protagonizavam a subordinao da compreenso do movimento
estrutura interna de cada objeto. Uma vez deacionado o nmero de variveis que
concorria para a compreenso do movimento, a argumentao cartesiana se dirige
para as leis da natureza que regem o comportamento dos corpos em funo apenas
da fora que eles exercem um sobre os outros, quando colidem. Assim, para extraviar
qualquer possibilidade de um estudo geomtrico do movimento Descartes enuncia
a analogia supracitada no mesmo contexto em que so introduzidas as leis da natu-
reza, relativas ao comportamento dos corpos submetidos ao de foras, deixando
claro que a compreenso do movimento est subordinada compreenso das leis
que regem a ao das foras sobre o corpo.
A arquitetura do texto consolida-se numa oposio irrestrita entre as concepes
do movimento dos lsofos (compreenso aristotlica) e o movimento introduzido
no Mundo enquanto modelo de simplicidade econmico face enorme quanti-
dade de variveis que concorriam para a sua realizao no universo aristotlico. A
simplicidade que Descartes reivindica, por analogia com a geometria, do movimento
dos corpos fsicos tem sua raiz no estabelecimento de leis claras que regem todos os
corpos fsicos sem se restringir a certas regies do universo no que diz respeito
s foras desprendidas numa coliso.
Para a compreensodomovimentonoMundo nose pode abster-se da fora, pois
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 397
considerando que a estrutura do universo no comporta o vazio, o deslocamento dos
corpos implica sempre choques e, consequentemente, a ao de foras. A descrio
geomtrica do movimento, que poderia aproximar a denio cartesiana do movi-
mento da cinemtica, negligenciada por sua improcuidade no tocante ao estudo
do comportamento dos corpos. Descrever a trajetria dos corpos pouco. Sem as
leis da natureza que envolvem princpios prximos dinmica a prpria traje-
tria dos corpos torna-se incompreensvel. Do Mundo, possvel inferir apenas que
quando se pretende compreender o movimento dos corpos sem as leis da natureza
as quais regem a relao de fora entre os corpos em movimento incorre-se na
assimilao de uma fsica desenraizada do real refugiada no mbito da imagina-
o porque debitria do falso pressuposto da existncia de corpos imunes ao
de uma fora.
10
Por isso, a analogia do movimento dos corpos geomtricos com o dos corpos f-
sicos deveria ser interpretada como uma descrio antittica do movimento da fsica
cartesiana face ao movimento dos lsofos. A anttese assenta-se na certeza de que se
deve reduzir as diversas formas de se denir o movimento ao simples deslocamento
dos corpos, ocasionados pela coliso entre eles e regido pelas leis da natureza.
A denio do movimento do Mundo esvazia a matria de todas as suas quali-
dades menos para compreend-la sob um prisma cinemtico, enquanto um ponto
material, que para instituir como nicos elementos no estudo do comportamento dos
corpos: a grandeza e o movimento. Emoutras palavras, a fsica cartesiana afasta-se da
cinemtica, em diferentes aspectos: desprezo pelo tempo como varivel signicativa
para a determinao da variao da posio do objeto, assim como pela acelerao
do objeto em movimento, dada pela relao entre velocidade e tempo. No entanto,
poder-se-ia tomar as referidas lacunas na fsica cartesiana do ponto de vista aciden-
tal (falta de preciso conceptual, desconhecimento de certas propriedades da matria
etc.) que dicultariam a instaurao da cinemtica; caso no se atentasse para o ine-
gvel uso do movimento como o epicentro da formao do modelo dos turbilhes e,
conseqentemente, da explicao da disposio dos objetos no mundo em funo
da fora que um corpo exerce sobre outro (cf. AT, XI, p. 43). Voltaremos a esse tema
nas seces subseqentes desse artigo, apresentando a convergncia das denies
do movimento no Mundo e nos Princpios em funo da constituio do modelo dos
turbilhes.
3. Denio do movimento nos Princpios: dualidade e conciliao
Parece inequvoco que a denio do movimento dos Princpios se no estabele-
cida em funo da conciliao do movimento da Terra com as doutrinas do Santo
Ofcio, fortemente irnica emrelao doutrina da Igreja, pois, do contrrio, a refe-
rida obra no teria sido publicada. Mas, como sugeramos na introduo do presente
artigo, no nos ocuparemos dessa discusso. De sorte que as ponderaes e precau-
es cartesianas frente ao Santo Ofcio, que eventualmente tenhamlhe impulsionado
398 rico Andrade M. de Oliveira
a operar uma certa mudana na sua concepo do movimento, no sero objeto de
nossa anlise.
Se o movimento denido no Mundo em funo do deslocamento do corpo no
espao, o que inevitavelmente desembocaria no heliocentrismo dada a mudana da
posio da Terra em relao ao Sol, nos Princpios ele denido em funo do des-
locamento do corpo em relao aos outros corpos que lhe circundam sob a alegao
que tal denio aproxima-se de forma mais consistente do real. Conforme podemos
ler no seguinte pargrafo:
. . . o transporte de uma parte da matria, ou de um corpo, daqueles corpos vizi-
nhos que lhe tocame que ns os consideramos emrepouso, para a vizinhana de
outros
11
.
As diculdades desta denio comeam pelo termo transporte cujo emprego
pode sugerir uma referncia ao termo aristotlico translatio conforme o qual Aris-
tteles descreveu um dos movimentos mais relevante para a fsica: o deslocamento
(cf. Aristteles, Physique, 243a39, 260a20261a26, 265b17266a5). No entanto, as se-
melhanas que podem trazer a anlise etimolgica do termo transporte parecem ser
diludas quando se leva em considerao o termo no contexto da denio proposta
por Descartes. O termo transporte no denota na passagem citada apenas o desloca-
mento, visto que os objetos podem eventualmente se deslocar face a um referencial
xo sem que eles se desloquem em relao aos corpos que lhe so contguos.
Descartes pretende com o termo transporte arrolar uma denio indita do mo-
vimento cuja novidade estaria ligada relao do movimento com a disposio dos
corpos face aos outros corpos que lhe so contguos. Assim, se umdeterminado corpo
passa a ter outros corpos como vizinhos, isso indica que ele foi transportado ou trans-
ladado, a despeito dele mudar ou no de posio face a um referencial xo, arbitra-
riamente escolhido. O movimento seria uma espcie de indicao de uma separao
entra as partes de um corpo. Elas se deslocariam umas em relao s outras.
As diculdades de se denir o movimento emtermos de transporte proliferam-se
em diferentes dimenses o que parece ter impelido Descartes a tecer alguns esclare-
cimentos a respeito de sua prpria denio. Essa translao revelaria ainda, argu-
menta ele, que o movimento est sempre no corpo em movimento (. . . le mouvement
est toujours dans le mobile. Pr. II, Art. 25, AT, IX, p. 76). Esse apndice ou acrscimo da
denio de movimento a torna paradoxalmente mais obscura, pois ela sugere que
o movimento est no corpo, quando sabemos que na fsica cartesiana o corpo est
desprovido de qualquer qualidade inerente sua estrutura ontolgica que lhe impul-
sione ao deslocamento ou ao repouso. A matria para Descartes inerte.
Emrazo dessa diculdade sugeramos a leitura do pargrafo 28, no qual se apre-
senta, de certa forma, o propsito da denio do movimento, na medida em que
Descartes aponta a qu ela se ope:
Eu tenho acrescentado ainda que o transporte do corpo se faz da vizinhana da-
queles que ele toca, para a outra vizinhana e no de um lugar a outro porque o
lugar pode ser tomado em vrias formas que dependem do nosso pensamento
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 399
como eu tinha observado acima. Mas quando nos tomamos o movimento pelo
transporte de um corpo que deixa a vizinhana daqueles que lhe tocam, certo
que ns no saberemos atribuir a um corpo mais de um movimento, por causa
que h apenas um certa quantidade de corpos que o podem tocar ao mesmo
tempo. (Pr. II, art. 28. AT, IX-2, p. 78)
12
As vrias acepes do lugar podem obscurecer o conceito de movimento apre-
sentado nesta passagem, visto que esse termo pode denotar, entre outras coisas, a
posio no espao de um dado objeto, sugerindo, por conseguinte, que o transporte
seria a variao da posio de umobjeto no espao face a umreferencial xo, arbitra-
riamente escolhido. No intuito de usarmos o conceito de lugar como uma ferramenta
compreenso do conceito de movimento convmtraarmos algumas consideraes
sobre sua denio, dada a ambigidade que ela porta, pois embora o lugar designe
sempre o espao, ele pode, por meio da razo distinctio rationis ser concebido
distintamente do espao, segunda a noo de posio.
A dupla designao do termo lugar traada no pargrafo 14 da segunda parte
dos Princpios no qual esse termo pode designar, por umlado, a posio de uma coisa
face s outras, e, por outro, a grandeza e a gura que um determinado corpo ocupa
no espao (Pr. II, Art. 14, AT, IX, p. 70). O duplo signicado dessa palavra corresponde
a dupla maneira do pensamento considerar uma coisa face s outras no espao f-
sico. Contudo, a denio do movimento no pode pautar-se nessa duplicidade do
signicado do termo lugar,
13
condicionada a uma distiction ractionis, sob preo de
assimilar a divergncia terica do emprego deste termo como uma impossibilidade a
priori de se conceber a univocidade entre os fatos do mundo e uma nica descrio
cientca das implicaes conceptuais do conceito de movimento.
14
A compreenso espacial do lugar pode sugerir que movimento apenas o des-
locamento espacial de um objeto, subordinando a identicao do movimento re-
latividade do referencial em funo do qual um corpo se desloca. Com efeito, o mo-
vimento relativo no permite uma deciso quanto ao deslocamento do objeto que
permanece subordinado posio do observador. A compreenso relativa do mo-
vimento transcreve, desse modo, um empecilho ao objetivo cartesiano, radicalizado
nos Princpios, de compreender o movimento em sua abordagem, diramos, din-
mica conforme a qual se leva em considerao a causa individual porque circuns-
crita apenas coliso entre objetos que impulsiona um dado corpo a se deslocar
emrelao aos outros que lhe so contguos. Nessa perspectiva, a abordagemcartesi-
ana afasta-se da compreenso do lugar como posio no espao prxima deni-
o da geometria para compreend-lo enquanto gura e grandeza que um corpo
ocupa no espao. Elimina-se a inecincia da denio do Mundo (mais prxima de
uma denio geomtrica porque inscrita na variao da posio do corpo) em for-
necer uma descrio absoluta do movimento, instituindo o lugar como a congruncia
entre o corpo e o espao que so indissociveis e apontam para instituio do movi-
mento enquanto mudana do lugar em que um corpo encontrava-se face aos seus
vizinhos.
400 rico Andrade M. de Oliveira
Nessa perspectiva, o lugar deve expressar nos Princpios menos uma posio no
espao que a situao de um objeto face aos outros que lhe so contguos, pois caso
ele representasse uma posio, poder-se-ia atribuir a umobjeto, que est emrepouso
em relao aos outros objetos que esto adjacentes sua superfcie, um movimento:
dado sua mudana de posio face a um determinado referencial xo. Ou ainda,
poder-se-ia atribuir, num sentido inverso, o repouso, como nos mostra o exemplo
do barco na segunda parte dos Princpios (cf. Pr. II, art. 15, AT, IX, p. 71), a um objeto
considerando que ele mantm a mesma posio relativa face um determinado
referencial, por exemplo a margem quando esse objeto est efetivamente se des-
locando efetuando uma translao faces aos objetos que lhe so vizinhos, o rio.
Por conseguinte, deve-se observar que o objeto pode participar de vrios movimen-
tos quando se considera sua posio espacial, porm ele se move apenas quando h
uma fora atuando sobre ele que lhe impulsiona a se movimentar face aos outros que
lhe so contguos.
Podemos constatar as conseqncias dessa nova compreenso do movimento
nos Princpios revela um carter irnico em relao ao heliocentrismo. A Terra ar-
rastada pelos turbilhes, como umviajante arrastado pelo barco, semque ela se mova
emrelao s partes que lhe so contguas (Pr. III, art. 28, AT, IX, p. 1134), assimcomo
o viajante no se move em relao ao barco (Pr. III, art. 29, AT, IX, p. 115). A denio
dos Princpios permite esclarecer a ambigidade de considerar a Terra emmovimento
em relao s estrelas xas, mas em repouso face aos turbilhes (concepo vulgar:
Pr. III, art. 30, AT, IX, p. 1156) na medida em que ela dissolve a analogia com a geo-
metria, atravs da qual se enfatizava que a variao do lugar posio do objeto
no espao implicava o movimento, para acentuar que o movimento a translao de
um corpo em relao queles que lhes so contguos.
Como a Terra no se desloca em relao s partes do turbilho que lhe envolvem;
ainda que ela se desloque em relao aos outros planetas e ao sol, ela no se move
no sentido radical do termo, isto , no sentido absoluto do movimento. Assim, o des-
locamento do objeto, relativo a um referencial previamente estabelecido, no indica
que ele esteja emmovimento, pois apenas quando ele submetido uma coliso que
lhe desloca face aos outros corpos aos quais ele era contguo que se pode asseverar
o seu movimento. Descartes institui nos Princpios um referencial efetivamente xo
para se identicar o movimento: os corpos contguos aqueles que se transladam ou
se transportam. Resta saber se essa nova forma de se denir o movimento implica
uma mudana na fsica cartesiana, aproximando-o da dinmica e distanciando-a da
fsica apresentada no Mundo.
4. Omovimento no Mundo e nos Princpios: algumas aproximaes a partir
do corolrio da inexistncia do vazio
Ainda que as denies do movimento propostas por Descartes nos Princpios e no
Mundo pressuponham que haja, de fato, um deslocamento espacial em relao a um
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 401
referencial xo sejam os corpos vizinhos, onde o referencial so os prprios cor-
pos contguos, seja umreferencial xo arbitrrio a denio dos Princpios passa a
privilegiar a separao de umobjeto face aos outros que lhe so contguos como o re-
ferencial em funo do qual se pode fornecer a denio mais precisa do movimento
ou nas palavras de Descartes absoluta. Entretanto, essa forma diversa de identicar o
movimento nas referidas obras no indica necessariamente a constituio de uma f-
sica igualmente diversa. A divergncia de referencial num universo pleno de matria
no altera o modelo cientco cartesiano, sobretudo, porque pesa sobre a fsica carte-
siana uma necessidade irrestrita de conciliar o universo udo com o movimento dos
turbilhes para cuja constituio concorre uma mesma compreenso do movimento,
tomado, por um lado, enquanto medida da variao e disposio da matria, por ou-
tro, como imagemdo deslocamento circular da matria contida nos turbilhes. Nesse
sentido, teceremos na presente seco algumas linhas sobre a relao do corolrio da
inexistncia do vazio com a coextenso das denies do movimento dos Princpios
e do Mundo.
A inexistncia do vazio corolrio, diramos, do postulado do universo inde-
nidamente extenso, estabelecido no Mundo e nos Princpios (AT, XI, p. 1820, Pr. II
art. 16, AT, IX, p. 712) no permite que os objetos desloquem-se sem promo-
verem alguma coliso. Por isso, a advertncia cartesiana no m de sua analogia do
movimento fsico com aqueles descritos pela geometria requer ainda algumas consi-
deraes estranhamente obliteradas pelos intrpretes cartesianos. As linhas que en-
cerram a analogia entre os movimentos dos corpos fsicos e geomtricos sublinham
a importncia capital do referido corolrio. Considerando sua relevncia presente
discusso, repetiremos uma citao exposta neste artigo, referente denio do mo-
vimento no Mundo:
E quanto a mim eu no conheo nenhum outro que aquele que mais simples de
se conceber que as linhas dos gemetras, o qual faz com que os corpos passem
de umlugar a outro e ocupamsucessivamente todos os espaos que h entre dois
corpos.
15
O deslocamento do ponto sobre a linha transcreve um acento sobre o desloca-
mento do objeto em detrimento do estudo da fora propulsora desconsiderada
na descrio cinemtica do movimento, mas presente no Mundo do movimento.
Todavia, essa denio do Mundo j destaca, aquilo que ser enfatizado exausto
nos Princpios, que o deslocamento no pode ser compreendido sem considerar que
a dinmica das partculas em movimento prescreve uma sorte de harmonia na qual
elas se sucedem sem deixarem o mnimo espao entre elas. Por isso, a preocupao
de Descartes em acentuar que o deslocamento no acontece no vazio como subs-
creve e pressupe a cinemtica mas no espao plenamente preenchido por uma
quantidade indenida de partculas.
Devido inexistncia do vazio, as partculas so sempre constrangidas por ou-
tras partculas a desviarem suas rotas e descrevem invariavelmente um movimento
402 rico Andrade M. de Oliveira
circular ou curvilneo. A associao da circunferncia ao movimento das partes da
matria indica-nos um elo irreversvel que prolonga as questes tratadas no Mundo
para alm de suas fronteiras. Nos Princpios o movimento das partes da matria in-
variavelmente circular. Vejamos em paralelo as seguintes passagens do Mundo e dos
Princpios:
Teria diculdade em responder essa questo, caso houvesse reconhecido,
atravs de diversas experincias, que todos os movimentos que so realizados no
Mundo so de algum modo circulares, isto ; quando um corpo deixa seu lugar,
ele entra sempre no lugar de um outro e esse outro num naquele lugar referente
a um outro e assim se procede at o ltimo, que ocupa o lugar deixado pelo pri-
meiro corpo. (AT, XI, p. 19)
16
. . . devemos concluir que haja sempre um crculo na forma de um anel de
corpos que se movemjuntos nummesmo tempo de modo que quando umcorpo
deixa seu lugar h outro que lhe substitui (. . . ) e assim se segue at o ltimo que
ocupa o instantaneamente o lugar deixado pelo primeiro corpo.
17
Diante de um universo pleno de matria, compactada em indenveis partes, as
fsicas produzidas no Mundo e nos Princpios adotam o movimento circular como a
expresso mais el dinmica e disposio dos corpos constantemente submetidos a
choques. Por conseguinte, a analogia do movimento dos fsicos com o da geometria,
introduzida no Mundo, permanece ainda pertinente caso se leve em considerao
que a linha composta de innitos pontos, uns sucedendo aos outros, sem que haja
intervalos entre eles: as partculas so ligadas umas s outras, de sorte que no h
intervalos entre elas.
Ademais, com o condicionamento do movimento trajetria circular ou curvi-
lnea a fsica cartesiana extravia a necessidade de um estudo do movimento no que
concerne sua trajetria e direo. No possvel determinar a priori a trajetria e
direo dos corpos submetidos a uma quantidade indenida de colises que podem
ocorrer de diversos modos. A fsica cartesiana pe-se num caminho diametralmente
oposto cinemtica na medida em que considera o movimento apenas no que re-
vela da mecnica das partculas que compem a matria e, consequentemente, os
fenmenos naturais; relegando o estudo do movimento enquanto anlise a priori
da trajetria e direo dos corpos a um plano imaginativo, distante do real e, por-
tanto, desnecessrio por no se adequar a priori a umuniverso pleno de matria. Pro-
cedendo sempre dos efeitos para as causas, a fsica cartesiana no pode compreender
o movimento seno como umelemento capaz de mensurar os impactos responsveis
pela atual constituio e disposio da matria.
No entanto, o deslocamento espacial no pode ser considerado alicerce seguro
para se identicar o movimento de um corpo, pois ainda que o movimento seja um
estado puramente contingente do corpo, a sua descrio deve determinar de maneira
unvoca e absoluta se um objeto est em movimento ou no.
18
Por isso, Descartes
parece abandonar a analogia com o movimento dos gemetras permitida na de-
nio do Mundo, mas que perde em certa medida sua relevncia, sendo imputada
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 403
como ambgua nos Princpios no que concerne possibilidade de se determinar a
mobilidade de um corpo a partir do seu deslocamento espacial. Entretanto, a analo-
gia perde seu sentido apenas em parte, pois nos Princpios Descartes retomou, como
vimos na ltima citao, o exemplo do crculo para raticar a impossibilidade do va-
zio na estrutura do universo.
Nesse sentido, a passagemdos Princpios, acima citada, coaduna-se perfeitamen-
te com a denio geomtrica proposta no Mundo, pois o movimento continua
sendo umdeslocamento circular de partculas s que nos Princpios o referencial xo
determinado independente do contexto, referindo-se s partes que se separam no
movimento circular. Assim, ainda que nos Princpios haja um referencial absoluto
para a denio do movimento: as partculas que so contguas ao corpo em transla-
o, a denio do Mundo indica igualmente uma congruncia entre lugar e objeto
impassvel de deixar espaos vazios que desemboca na compreenso circular
do movimento, por meio da qual possvel mostrar que as partculas sucedem umas
s outras indenidamente.
Segue-se da ausncia dovazio, uma inquietaode Descartes a propsitoda men-
surao das colises entre os objetos proporo que se elimina qualquer pretenso
de um estudo cinemtico do movimento. Assim, as explicaes subseqentes ine-
xistncia do vazio valorizaro uma compreenso do movimento como unidade de
medida dos impactos, aos quais os corpos esto submetidos. Teceremos agora alguns
comentrios de como a postulao da matria sutil, em oposio existncia do va-
zio, arrola uma concepo do movimento como unidade de medida da coliso entre
os corpos.
5. Da impossibilidade do vazio matria sutil: o movimento como unidade
de medida
Descartes recorre a partculas imperceptveis matria sutil, contguas a todos os
corpos no intuito de dissuadir qualquer aspirao de se tomar o vazio como va-
rivel relevante para a compreenso da mecnica do universo, uma vez que mesmo
diminutas, essas partculas guardam uma certa extenso e compe todas as frestas
dos fragmentos da matria. Ele as postula do seguinte modo: . . . melhor, a m de no
ser constrangido a admitir algum vazio na natureza eu no lhes atribuo (matria su-
til) partes que no tenham nenhuma grandeza nem guras determinadas.
19
Essa ma-
tria sutil aponta para um universo udo que se constitui em virtude da interao
dinmica de inmeras partes da res extensa. Essas partes se submetem a diferentes
choques, inscritos nos diversos turbilhes que envolvem os corpos.
Para mensurar e descrever o comportamento dos turbilhes e dos corpos neles
imersos, o Mundo e os Princpios instituemessencialmente as mesmas variveis: mo-
vimento, grandeza, gura
20
. Leiamos as seguintes passagens do Mundo e dos Princ-
pios:
404 rico Andrade M. de Oliveira
. . . para explicar esses elementos [que compe a natureza], eu no me sirvo
das qualidades que se chamamcalor, frio, umidade e secura, assimcomo o fazem
os lsofos (. . . ) e que se eu no em engano no apenas essas qualidades, mas
todas as outras, e mesmo as formas inanimadas podem ser explicadas, sem que
seja necessrio supor para tal feito nenhuma outra coisa na sua matria, que o
movimento, a grandeza, a gura e a disposio de suas partes. (Mundo AT, XI,
p. 256)
. . . eu acrescento que no conheo outra matria nas coisas corporais seno
que elas podem ser divididas, possuem gura e se movem de diferentes modos
. . . (Pr. II, AT, IX, p. 102)
21
Subtrai-se da matria uma parcela signicativa dos diversos modos de se conce-
b-la, decompondo-a emdiferentes extratos de extenso cuja anlise remete-se sua
grandeza, gura e movimento. A reduo das variveis no estudo da natureza, ope-
rada nas passagens citadas, abre margem, desse modo, reconstituio da fsica que
se esmeira na simplicao do seu objeto. Em outras palavras, a fsica torna irrele-
vante eventuais qualidades perceptveis da matria para lhe aprisionar num quadro
conceptual por demais restrito que otimiza as variveis responsveis pela explicao
dos fenmenos naturais, centrando-se basicamente na grandeza, gura e movimento
das partes do universo.
Subseqente a essa restrio no escopo do estudo da fsica, ns temos a indica-
o dos turbilhes como a expresso mecnica do universo. A seguinte gura est
presente nas duas obras como uma espcie de topograa do universo:
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 405
Da gura do Mundo para aquela dos Princpios apenas se varia a notao relativa
aos astros envoltos no turbilho de sorte que ambas as guras prescrevem os turbi-
lhes que correspondem na gura acima as regies compostas pelos centros D, S,
L, V, E, N como um aglomerado difuso de matria no qual o movimento das partes
determina a constituio e forma (gura) dos fenmenos.
22
Graas agitation (movimento) das partculas que se entrechocam incessante-
mente, devido estrutura ontolgica do universo, que no comporta o vazio, opera-
se, segundo Descartes, a constituio da diversidade emprica do real. Essa diversi-
dade emprica seria uma conseqncia direta dos resultados dos impactos, aos quais
os corpos esto submetidos quando inseridos nos turbilhes (AT, IX, p. 75 e p. 128
31). A medida desses impactos dada pela intensidade do movimento que se insti-
tui, junto com a grandeza dos corpos, enquanto varivel que determina o comporta-
mento da matria e, por conseguinte, da disposio e organizao dos elementos que
compe os diferentes fenmenos no universo (cf. AT, IX, p. 1267, p. 1567, p. 1778
etc.). Desse modo, a diversidade de fenmenos que existem na natureza modelada
em funo do movimento dos fragmentos da matria, inseridos nos turbilhes.
Descartes encontra no movimento uma unidade de medida capaz de codicar a
os fenmenos do universo em conformidade com a variao dinmica, a qual esto
submetidos os fragmentos da extenso. Ele nose ocupa domovimentoenquantoum
objeto de estudo cujo campo de anlise comportaria uma descrio geomtrica ou
uma descrio cinemtica da variao temporal e espacial de um corpo em desloca-
mento. Em outras palavras, no se autorizado a tomar o Mundo, nem muito menos
os Princpios, como o expoente de uma cinemtica incipiente, visto que a compre-
enso do movimento na fsica cartesiana seja na verso proposta pelos Princpios,
seja por aquela ventilada no Mundo indissociada da ao das foras que o pro-
duzem; por compreender que nenhumcorpo do universo est isento da ao de uma
fora.
6. Concluso
Por m, o deslocamento espacial de um corpo, conforme fora estabelecido por Des-
cartes no Mundo, tem um duplo pressuposto: primeiro que haja choques visto que
os corpos esto imersos num espao plenamente repleto de outros corpos. Segundo,
que no h intervalo entre os corpos, mesmo no momento em que eles so submeti-
dos a umforte impacto, dada a inexistncia dovazio; oque implica tantono Mundo
quanto nos Princpios a assimilao irrestrita do movimento circular. A presena
desses dois pressupostos escamoteia uma explicao cinemtica do movimento por
ach-la pouco produtiva para apreender a dinmica dos corpos, uma vez que na ci-
nemtica o estudo da variao espacial dos corpos pressupe a existncia do vazio,
no mnimo hipoteticamente, ao passo que a compreenso do movimento cartesiana
critaliza-se sob a rejeio absoluta do vazio.
Portanto, poderamos dizer, ento, que as denies do Mundo e dos Princpios
406 rico Andrade M. de Oliveira
so semanticamente diferentes porque designam distintos modos de se identicar
o movimento de um corpo, entretanto, elas so coextensas, pois abrangem objetos
comuns: uma unidade de determinao da intensidade da variao dinmica da ma-
tria fora emfuno da qual se explica prpria mecnica do universo. Almde
apontarem para o movimento invariavelmente circular das partculas que compem
o universo.
Bibliograa
Adam, C. e Tannery (eds.) 1986. uvres de Descartes. 12v. 2. ed. Paris: Ed. Vrin.
Andrade M. de Oliveira, . 2006. A funo da hiptese e da experincia na constituio da
certeza cientca de Descartes. Cadernos de Histria e Filosoa da Cincia 16(2): 25980.
. 2006. Le Rle de la Mthode dans la Constitution de la physique cartsienne. Paris: Sor-
bonne.
Aristote. 2002. Physique. Ed. P. Pellegrin. 2d. Paris: Flammarion.
Beyssade, J.-M. (ed.) 1981. LEntretien avec Burman. Paris: PUF.
Descartes, R. 2008. O Mundo ou Tratado da Luz. Trad. rico Andrade. So Paulo: Hedra.
Eustache, S. 1609. Summa Philosophiae. Paris.
Garber, D. 2004. Corps Cartsiens. Paris: PUF.
. 1999. La Physique Mtaphysique de Descartes. Paris: PUF.
Gaukroger, S. 2002 emphDescartess system of natural philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press.
Gueroult, M. 1970. tudes sur Descartes, Spinoza, Malebranche et Leibinz. Hildesheim: Georg
Olms.
Harrison, P. 2000. The inuence of Cartesian cosmology in England. London: Routledge.
Koyr, A. 1966. tudes Galilennes. Paris: Hermann.
Notas
1
Descartes escreve a Mersenne essa inteno: . . . et je dirai, entre nous, que je commence en faire un
Abeg, o je mtai tout le cours par ordre, pour le faire imprimer avec un Abrg de la philosophie de
Lcole (Mersenne 12/1640, AT, III, p. 259). Todas as referncias das obras de Descartes sero atualizadas
quanto tipograa e posta segundo as inicias dos editores : AT, volume e pgina. As tradues para o
portugus so nossas.
2
Descartes escreve em cartas a Mersenne que pretende voltar sua anlise a certos manuais de losoa
contemporneos aos anos de 1610-1640. Ele j houvera consultado os de Conimbre, Toletus e Rubiusa,
mas pede a Mersenne algumde Charteux e Feuillant, cf. Mersenne AT, III, p. 185 e sobre Abra de Raconis.
Cf. AT, III, p. 234. Embora tenha pedido o concelho de Mersenne a respeito desses manuais, Descartes
no aparentava ter muita pacincia para dedicar-se a eles. Ele dedica-se apenas ao de S; Eustache que
lhe desperta uma certa admirao, cf. Mersenne 11/11/1640, AT, III, p. 232 e 03/12/1640 AT, III, p. 251.
Entretanto, a diferena dos Princpios para a Summa Philosophiae considervel. Na Summa termina
pela metafsica, ao passo que os Princpios comea por ela. Alm disso, a lgica, que marca o comeo
da Summa, no faz parte dos Princpios. A tica tambm ausente nos Princpios, ao passo que traba-
lhada na Summa. Enm, na Summa h uma parte relevante dedica discusso do mtodo o que no
realizada nos Princpios. Eustache S. Summa Philosophiae Paris, 1609, sobre o mtodo, particularmente;
p. 18592.
Nota sobre o conceito de movimento no Le Monde e nos Principes de la Philosophie 407
3
Um outro fator histrico importante para composio dos Princpios relativo ao desejo cartesiano
de divulgar os principais resultados de sua losoa para o grande pblico. Ele condencia seu desejo a
Mersenne: je dirai, ente nous, que je commence faire un Abrag, o je mettrai tout le cours par ordre,
pour le faire imprimer avec Abrage de la philosophie de LEcole (Mersenne 12/1640, AT, III, p. 529). Esse
desejo implica uma dupla adequao do mtodo cartesiano: por um lado, o mtodo de exposio dos
resultados dever, como se fazia nas Abrage Ecoles, apresentar a opinio dos adversrios e critic-las.
Por outro lado, todos os argumentos devem ser pautados na experincia. Alm disso, deve-se adequar
o vocabulrio ao pblico leitor, o que far com que essa obra, mais que qualquer outra, seja plena de
vocbulos escolsticos. Ainda sobre o carter de diramos divulgao cientca da referida obra: . . . jai
resolu demployer crir ma Philosophie en tel ordre quelle puisse aisment tre enseigne. Carta a Mer-
senne 31/12/1640, AT, III, p. 276. Descartes no se mostra constrangido em chamar seu Princpios de
sua summa philosophiae, Cf. carta a Huygens 31/01/1642, AT, II, p. 523.
4
So diversos os momentos em que Descartes defere uma crtica ao modo de proceder escolstico na-
quilo que revela da apresentao de uma obra. No Mundo, por exemplo, Descartes arma que no vai
perdre le temps disputer (AT, XI, p. 5). No Discours as disputas sero condenadas como inecazes na
busca pela verdade: Je nai jamais remarqu non plus que, par moyen des disputes qui se pratiquent dans
les coles, on ait dcouvert une vrit quon ignort auparavant. . . AT, VI, p. 69. No LEntretien avec Bur-
man, ele diz; Ce qui davrait en tout cas nous avertir que mieux vaut de beuacoup avoir une thologie
aussi simples queux (. . . ), que de lcraser sous la masse des controverses, et par l de la gter en ouvrant
la champ aux dissensions, aux querelles, aux guerres, etc. LEntretien avec Burman, ed. Jean-Marie Beys-
sade, Paris, PUF, 1981.
5
Et en effet ces mots : le mouvement est lacte dun tre en puissance, en tant quil est en puissance, ne sont
pas clairs, pour tre franais. AT, XI, p. 39.
6
. . . quelle soit cette Matire premire des Philosophes quon a si bien dpoille de toutes ses formes et
qualits quil ny est bien rien demeure de reste, qui puisse tre clairement tendu (AT, XI, p. 33).
7
Les philosophes supposent aussi plusieurs mouvements quils pensent pouvoir tre faits sans quacun
corps change de place, comme ceux quils appellent: Motus ad formam, motus ad calorem, motus ad
quantitatem (mouvement la forme, mouvement la chaleur, mouvement la quantit) et milles au-
tres. Et moi je nen connais aucun [movimento] que celui qui est plus ais concevoir que les lignes des
Gomtres, qui fait que les corps passent dun lieu en un autre et occupent successivement tous les espaces
qui sont entre deux. AT, IX, p. 39-40.
8
Mais, au contrai, la nature du mouvement duquel jentends ici parler est si facile connatre que les
gomtres mmes qui, entre tous les hommes, se sont le plus tudis concevoir bien distinctement les
choses quils ont considres, lont juge plus simple et plus intelligible qu celle de leurs supercies et de
leurs ligne; ainsi quil parat en ce quils ont expliqu la ligne par le mouvement dun point et la supercie
par celui dune ligne (AT, XI, p. 39).
9
Descartes usa diversas vezes o termo fora no Mundo e nos Princpios sem fornecer, contudo, uma
denio clara e preciso deste conceito. As leis da natureza no variam substancialmente no Mundo e
nos Princpios, permanecendo as mesmas. No Mundo elas so descritas do seguinte forma: L (1) Que
chaque partie de la matire, en particulier, continue toujours dtre en un mme tat, pendant que la
rencontre des autres ne la contraint point de changer (AT, XI, p. 38). L (2) Je suppose pour seconde Rgle:
Que, quand un corps en pousse un autre, il ne saurait lui donner aucun mouvement, quil nen perde en
mme temps autant du sien; ni lui en ter, que le sien ne saugmente dautant (AT, XI, p. 41). L(3): Que
lorsquun corps se meut, encore que son mouvement se fasse le plus souvent en ligne courbe et quil
ne sen puisse jamais faire aucun, qui ne soit en quelque faon circulaire, ainsi quil a t dit ci-dessus,
toutefois chacune de ses parties en particulier tend toujours continuer le sien en ligne droite (AT, XI,
p. 434).
10
Adiferena entre os objetos da geometria e os da fsica que so essencialmente extensos no traada
por Descartes em nenhuma das duas obras analisadas nesse artigo. Esse problema desemboca naquele
relativo ontologia da fora, pois se os objetos so extenso, desprovidos, por conseguinte de massa,
como eles podem agir sicamente sobre os outros corpos? Descartes parece resignar-se apenas em for-
408 rico Andrade M. de Oliveira
necer algumas raras indicaes sobre a ontologia deste conceito. Contudo, ele no pode ser inerente
extenso pelo fato do corpo ser desprovido de qualquer qualidade que no seja geomtrica. Esse pres-
suposto explica porque Descartes no aceitar a fora de atrao, visto que essa fora pressupe que os
corpos tm uma qualidade que no pode ser restringida ao mbito puramente geomtrico. Sobre essa
discusso ver: Garber 1999, p. 43848.
11
. . . le transport dune partie de la maprolifera-se tire, ou dun corps, du voisinage de ceux qui le tou-
chent immediatement, et que nous considrons comme en repos, dans le voisinage de quelque autres (Pr.
II, art. 25. AT, IX, p. 76). Cf. (Pr. II, art. 28. AT, IX, p. 78).
12
Jai aussi ajout que le transport du corps se fait du voisinage de ceux quil touche, dans le voisinage
de quelque autres, et non pas dun lieu en autre, parce que le lieu peut tre pris en plusieurs faon, qui
dpendent de notre pense, comme il a t remarqu ci-dessus. Mais quand nous prenons le mouvement
pour le transport dun corps qui quitte le voisinage de ceux quil touche, il est certain que nous ne saurions
attribuer un mme mobile plus dun mouvement, cause quil ny a quune certaine quantit de corps
qui le puissent toucher en mme temps (Pr. II, art. 28, AT, IX-2, p. 78).
13
O movimento nico em cada corpo, porm isso no consiste num empecilho participao de um
corpo em vrios outros movimentos (Pr. II, art. 3132, AT, IX, 801).
14
Notadamente o argumento central de Garber consiste na armao que ao abandonar a denio de
movimento do Mundo, Descartes caminha para uma fsica supostamente mais prxima ao real. Desse
modo, haveria uma tentativa cartesiana, segundo Garber, de extenuar a ambigidade, aderente de-
nio do movimento relativo, mediante um referencial absoluto que permitiria, por seu turno, uma
deciso quanto ao movimento ou repouso de um corpo. (Garber 1999, p. 2469). Nesse aspecto as de-
nies do Mundo e dos Princpios seriamdiferentes, posto seus interesses ontolgicos distintos. (Garber
1999, p. 2501).
15
Et moi je nen connais aucun que celui qui est plus ais concevoir que les lignes des Gomtres, qui fait
que les corps passent dun lieu en autre et ocupent succesivement tous les espaces qui sont entre deux (AT,
XI, p. 3940).
16
Cf. tambm AT, XI, p. 20, e AT, XI, p. 49.
17
. . . nous devons conclure quil faut ncessairement quil ait toujours tout un cercle de matire ou
anneau de corps qui se meuvent ensemble en mme temps; en sorte que, quand un corps quitte sa
place quelquautre qui le chasse, il entre en celle dune autre, et cet autre en celle dune autre, et ainsi
de suite jusquau dernier, qui occupe au mme instant le lieu laiss par premier (Pr. II, art. 33, AT, IX,
p. 81).
18
Essa deniono estranha aoMundo que j negara a possibilidade dovazioe postulara a existncia
de uma quantidade indenida de micro e macro partculas em todos o espao.
19
Ou plutt, an de ntre pas contraint dadmettre aucun vide en la Nature, je ne lui attribue point de
parties qui aient aucune grosseur ni gure dtermin (AT, XI, p. 24, cf. tambm no Mundo: AT, XI, p. 335
e p. 4850; nos Princpios: AT, IX, p. 834).
20
Devemos notar que a grossura desempenha um papel importante tanto no Mundo quanto nos Prin-
cpios, embora em nenhuma dessas obras Descartes a dena.
21
. . . pour expliquer ces lmentes (que compe a natureza), je ne me serve point des qualits quon
nomme chaleur, froideur, humidit, et scheresse, ainsi que font les philosophes (. . . ) et que, si je ne me
trompe, non seulement ces quatres qualits, mais aussi toutes les autres, et mme toutes les formes inani-
ms peuvent tre expliques, sans quil soit besoin de supposer pour cet effet aucune autre chose en leur
matire, que le mouvement, la grossuer, la gure, et larragement de ses parties (AT, XI, p. 256). . . . je ne
coinais point dautre matire des choses que celle qui peut tre divise, gure et meue e toute sorte de
direction . . . (AT, IX, p. 102).
22
Sobre a inuncia do modelo dos turbilhes cartesianos na fsica clssica ver: Harrison 2000, p. 168.
A PLENITUDE CUVIERIANA
F. FELIPE DE A. FARIA
Universidade Federal de Santa Catarina
felipeafaria@uol.com.br
1. Introduo
Ao perquirir a histria das idias, em seu livro A Grande Cadeia do Ser (1936), Arthur
Lovejoy destacou o que ele veio a chamar de princpio de plenitude. Investigado desde
os escritos de Plato, tal princpio visa responder, entre outras questes, o que deter-
mina o nmero de espcies de seres que formamo mundo sensvel e temporal (Love-
joy, 1936 p. 46). Lovejoy props usar o termo:
Para cobrir, a partir de premissas idnticas s de Plato, ummbito de inferncias
mais amplo do que ele mesmo extraiu; isto , no apenas a tese de que o universo
um plenum formarum no qual o mbito de diversidade concebvel de espcies
de coisas vivas exaustivamente exemplicado, mas tambm quaisquer outras
dedues feitas a partir da suposio de que nenhuma potencialidade de ser ge-
nuna pode permanecer incompleta, de que a extenso e abundncia da criao
devemser to grandes quanto possibilidade de existncia e comensuradas com
a capacidade produtiva de uma Fonte perfeita e inesgotvel e de que o mundo
melhor quanto mais coisas contiver (Lovejoy 1936, p. 52).
Este conceito de completude inuenciou o pensamento ocidental combinando-
se com a concepo de uma continuidade na histria natural (Lovejoy 1936, p. 60),
que compreendia a distribuio dos seres em uma ordem hierrquica, a qual recebe-
ria o nome de scala naturae.
Ao longo da histria da Biologia tal idia foi combatida, de forma veemente, por
alguns naturalistas, dos quais, Georges Cuvier (1769 - 1832) merece destaque. Em v-
rios de seus trabalhos, mas principalmente em suas obras, Lies de Anatomia Com-
parada, de 1805 e O Reino Animal, de 1817, que serviram como instrumentos de di-
vulgao de suas idias defensoras do estabelecimento de um sistema de distribui-
o dos seres vivos segundo sua organizao funcional, Cuvier negava a existncia de
uma escala de seres formando uma srie nica. Ele compreendia que os propositores
desta escala a deniam da seguinte forma:
. . . uma escala de seres que os rene emuma nica srie, iniciando-se como mais
perfeito e nalizando como mais simples, o qual ser dotado das propriedades as
menos numerosas e as mais comuns, e de tal forma que o esprito passar de um
ao outro quase sem distinguir um intervalo e como que por nuances insensveis
[. . . ] e estas nuances suaves e insensveis so to observveis que permanecem
sobre as mesmas combinaes dos rgos principais, tanto que as funes prin-
cipais permanecem as mesmas. (Cuvier 1805, p. 60)
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 409416.
410 F. Felipe de A. Faria
Entretanto, para aquele naturalista francs do sculo XIX, no seria esta a situao
ocorrente na natureza, pois, como j citado, ele argumentou em suas obras de 1805 e
1817, que:
Todos os animais que apresentam tal situao parecem formados sob um plano
em comum, que serve de base a todos as pequenas modicaes exteriores: mas
do momento onde se passa a estes que apresentam outras combinaes princi-
pais, no h nenhuma semelhana, e no se pode desconhecer o intervalo ou o
salto mais destacado. Qualquer arranjo que se d aos animais, vertebrados ou in-
vertebrados, no se consegue alocar ao m de uma destas grandes classes, nem
ao nal de uma outra, dois animais que se assemelhem, para servir de elo entre
elas (Cuvier 1805, p. 60).
Cuvier entendia que cada parte do corpo de um ser vivo estaria relacionada, fun-
cionalmente, s outras partes e que esta cooperao funcional orgnica seria a res-
ponsvel pela harmonia e o vigor do organismo, ambos baseados numa coordenao
siolgica e no em uma mera justaposio geomtrica anatmica. Desta maneira
qualquer combinao abstrata de rgos, facilmente concebida pela imaginao de
um naturalista, no deveria ocorrer, necessariamente, pois as partes, ao desempe-
nharem aes umas sobre as outras, concorrem a um objetivo em comum, o qual
determinado pela siologia do ser. Portanto, aquelas modicaes que no podem
ocorrer em conjunto so excludas reciprocamente, enquanto as outras so trazidas
existncia. Baseada na siologia do ser, esta explicao da ausncia de uma pleni-
tude das formas orgnicas foi empregada por Cuvier como argumento da defesa que
ele fez da existncia de lacunas na notria srie zoolgica (scala naturae), inclusive
considerando os seres desaparecidos
1
que estariam representados somente na forma
fssil (Coleman 1964, p. 68).
Mas apesar de contrapor-se idia da existncia de uma scala naturae, Cuvier
acreditava em uma relativa plenitude das formas, mas para que tal fenmeno ocor-
resse alguns pressupostos deveriam ser considerados. Estes pressupostos teriam co-
mo base a prpria siologia do animal, e como tal deveriam obedecer as condies
que garantissem a harmonia siolgica e o vigor do organismo. Esta obedincia a
tais condies acabaria funcionando como uma forma de constrio para a mani-
festao de qualquer forma imaginvel. Diante desta constatao, e considerando a
impossibilidade da aplicao de recursos suplementares como, por exemplo, o ma-
temtico, para a cincia da anatomia comparada, Cuvier avanou na compreenso
da propriedade constritiva pressuposta, aplicando um princpio losco conhecido
vulgarmente, na poca, como das causas nais e que veio a ser denominado por ele
de condies de existncia:
Como nada pode existir sem que rena as condies que tornem sua existncia
possvel, as diferentes partes de cada ser devem estar coordenadas de maneira a
tornar possvel a totalidade do ser, no somente consigo mesmo, mas nas rela-
es que mantmcomo entorno [aqui compreendido como o ambiente abitico
A Plenitude Cuvieriana 411
(N. A.)], e a anlise destas condies conduzem frequentemente s leis gerais
como as derivadas do clculo ou da experincia (Cuvier 1817, p. 7).
Tomando como ponto de partida este pressuposto, Cuvier pde ento, formular
os princpios que orientariam a compreenso das relaes de coexistncia entre as
partes de umser vivo. Oprimeiro deles foi exposto no Lies de Anatomia Comparada
e denominado pelo prprio Cuvier de Correlao das Partes. Em tal obra tal princpio
apresentado no momento em este naturalista discorre sobre a impossibilidade da
realizao de uma plenitude das formas:
Essas combinaes, que parecem possveis, quando consideradas de uma ma-
neira abstrata no existem na natureza, porque, no estado de vida, os rgos no
so simplesmente relacionados, mas agem uns sobre os outros e concorrem a
um objetivo em comum. Segundo este fato, as modicaes de um deles exer-
cemuma inuncia sobre todas as outras. Aquelas modicaes que no podem
existir conjuntamente, excluem-se reciprocamente, enquanto que as outras se
incluem, por assim dizer, no somente em uma relao imediata, mas ainda na-
quelas que parecema primeira vista as mais distantes e mais independentes (Cu-
vier 1805, p. 47).
Mais tarde Cuvier aprofunda esta idia defendendo que:
Ao permanecer sempre dentro dos limites que as condies necessrias da exis-
tncia prescrevem, a natureza entregue a toda sua fecundidade desde que estas
condies no a limitem; e semafastar-se jamais do pequeno nmero de combi-
naes possveis entre as modicaes essenciais dos rgos importantes ela pa-
rece divertir-se innitamente comtodas as partes acessrias (Cuvier 1805, p. 59).
E assim, mediante esta graduao da importncia das partes, entre essenciais e
acessrias, ele estabelece o segundo princpio da anatomia comparada cuvieriana, o
da subordinao dos caracteres:
H traos de conformao que excluem outros; h os que, ao contrrio, se in-
cluem; por isso, quando conhecemos tal trao em um ser, podemos calcular
aqueles outros que coexistemcomele, ou aqueles que so incompatveis. As par-
tes, as propriedades, ou os traos de conformao que possuem um maior n-
mero de tais relaes de incompatibilidade ou de coexistncia com os outros,
ou ainda em outros termos, que exercem sobre o conjunto do ser, a inuncia
mais marcante, so aqueles que chamamos caracteres dominadores, os outros
so denominados caracteres subordinados, ocorrendo em diferentes graus. (Cu-
vier 1817, p. 11)
Desta maneira, pode ser concludo que, os princpios da anatomia comparada
cuvierianos alm de estabelecerem limites para a ocorrncia de uma plenitude das
formas, que no caso so siolgicos, tambm os dispem de forma hierrquica, de
acordo com sua importncia na composio das partes segundo sua funo. Outro
limite que viria a se impor decorreu da constatao que o prprio Cuvier faria sobre a
412 F. Felipe de A. Faria
ocorrncia do fenmeno da extino e que com a rpida aceitao cientca que re-
cebeu, produziu, prontamente, algumas conseqncias. Segundo alguns naturalistas
e pensadores dos sculos XVIII e XIX tal limite relacionava-se integralmente, ques-
to temporal, pois a manifestao de todas as formas possveis no teria ocorrido de
forma simultnea, uma vez que somente para o Universo, emsua total extenso tem-
poral, o princpio de plenitude poderia seria vlido (Lovejoy 1936, p. 244). As realiza-
es possveis estariam dispostas ao longo do tempo e desta maneira algumas delas
desaparecidas (extintas) j teriam desaparecido ao passo que outras estariam
aguardando sua oportunidade de ocorrncia.
Entretanto, Georges Cuvier acreditava que a situao houvera sido diferente. Para
ele o mundo no passado fora ocupado por todas as formas possveis, respeitadas suas
constries, e com o decorrer do tempo estaria havendo um decrscimo nessa diver-
sidade de organizao, devido ao desaparecimento (extino) de determinados seres,
ou como ele percebia: tipos de organizao.
Assim, partindo do pressuposto, de que as formas orgnicas, emalgummomento,
atingiramuma plenitude emdiversidade, limitada, somente pelas constries impos-
tas pelos princpios da anatomia comparada, o que passa a requerer uma explica-
o o modo e o processo de ocorrncia destes fatores limitantes. Explicar de que
forma ocorrem tais constries torna-se, no mbito do programa cientco de Cu-
vier, um dos importantes objetivos cognitivos, uma vez que surgem como desvios do
que Stephen Toulmin denominou de ideal de ordem natural.
2. ODesvio do Ideal de OrdemNatural
Apresentado na obra de Toulmin, Foresight and Understanding, publicada no ano de
1961, o ideal de ordem natural procura denir o estado ou o devir das coisas que
se considera obvio, necessrio, natural e, portanto, compreensvel por si s, e deste
modo o que rompe ou se desvia desta ordem o que deve ser explicado (Toulmin
1961, p. 45). O estado que o ideal de ordem natural toulminiano estabelece funciona
como um pressuposto, em certo mbito disciplinar, ao denir o que ocorre quando
nada ocorre, estabelecendo assim o horizonte de permanncia sobre o qual emer-
gem os fatos a serem explicados, que so o desvio deste horizonte (Caponi 2004,
p. 13).
2
No obstante, alguns sculos tenham se passado, durantes os quais, no mbito
das cincias biolgicas, teorias cientcas foram aceitas e refutadas, cada uma das
quais com seus pressupostos internos, o advento da Biologia Evolutiva do Desenvol-
vimento (Evo-devo), vem, de alguma maneira, estabelecendo, aos moldes cuvieria-
nos, a plenitude das formas como um dos seus ideais de ordem natural. E tambm
para a Evo-devo, exatamente o desvio deste ideal, ou seja, a ausncia do pleno, que
deve ser explicada, pois o surgimento de inovaes evolutivas, neste caso as novida-
des morfolgicas, obedece a limites que a Evo-devo procura esclarecer.
A Plenitude Cuvieriana 413
H entre os programas cientcos cuvieriano e da Biologia Evolutiva do Desen-
volvimento, outros pontos coincidentes que tambm esto relacionados ao arranjo
funcional que as partes mantm entre si. Porm neste caso algumas ressalvas devem
ser feitas, pois comrelao Evo-devo este arranjo funcional est relacionado aos es-
tdios desenvolvimentais de um organismo e no apenas sua siologia de adulto, a
qual era o objeto de estudo de Cuvier.
Os princpios da Anatomia Comparada cuvierianos demandam que se despenda
uma ateno vigorosa a fatores internos, tais como as interaes que ocorrem entre
as partes do corpo de um organismo, e tambm para as decorrentes conseqncias
quando da alterao das mesmas. A teoria evolutiva Neo-sinttica vem, por sua vez,
dar maior ateno s interaes ocorridas entre organismos e seu entorno ou am-
biente, entendido aqui como ambiente fsico e bitico atentando pouco s muitas
e variadas interaes entre as partes internas de um organismo (Arthur 2004, p. 36).
A abordagem externalista da teoria sinttica neo-darwiniana claramente voltada a
adaptao ao ambiente a qual frequentemente referida como adaptao ecolgica.
Por outro lado, a abordagem internalista volta-se adaptao de uma parte do corpo
do organismo outra e assim, mediante a compreenso da interao entre estas par-
tes durante o processo do desenvolvimento, a Biologia Evolutiva do Desenvolvimento
procura explicar, sem descartar o papel da dinmica gentica e principalmente o da
Seleo Natural, como se d a construo da forma orgnica e o prprio fenmeno
da evoluo (Askonobieta 2005, p. 128). Tais interaes, ao ocorrerem, obedecem a
uma seqncia de eventos que, por sua vez, em cada ocorrncia tem como implica-
o o estabelecimento de via a ser seguida e, portanto deste ordenamento decorre
uma relativa subordinao ao evento anterior. De maneira semelhante ao caso da
anatomia comparada cuvieriana, onde surge uma hierarquia imposta pelo princpio
da subordinao dos caracteres, h uma graduao emimportncia entre os estdios
do desenvolvimento de um organismo, devida aos efeitos que estes estdios deter-
minam nas etapas subseqentes daquele processo desenvolvimental. A alterao em
umevento preliminar deve determinar a mudana emuma etapa ou emtoda uma via
do desenvolvimento. No entanto a alterao emestdios mais avanados reetemem
alteraes menos drsticas para aquele processo, pois um nmero menor de vias se
oferece a partir daquela etapa. (Arthur 2004, p. 133). Como exemplo, Wallace Arthur,
um dos promotores da Evo-devo, ao defender suas propostas, menciona, que a alte-
rao em um estdio do desenvolvimento do eixo antero-posterior de um embrio,
ocorrente nas primeiras fases deste processo, pode determinar a viabilidade de todo
um organismo. Ele complementa esta explanao descrevendo a observao que fez
de uma mudana ocorrida em uma etapa posterior do desenvolvimento, tal como
a alterao na formao dos dgitos de um vertebrado, que no inviabiliza a siolo-
gia daquele organismo, mesmo tendo aquela mudana provocada uma caracterstica
negativa em termos adaptativos.
Um exemplo relacionado este tipo de circunstncia foi pesquisado em 1985 por
Pere Alberch e resultou na publicao de um trabalho sobre o processo de forma-
414 F. Felipe de A. Faria
o do quinto dgito do membro posterior de ces de raas de grande porte. Alberch,
utilizando a raa So Bernardo, concluiu que variaes dimensionais da morfologia
do embrio devem implicar na ocorrncia ou ausncia deste dgito extra. Assim ele
pde concluir que estas variaes funcionariam como constries desenvolvimen-
tais (developmental constraints) (Alberch 1985, p. 4301). Segundo Wallace Arthur, a
manifestao destes caracteres superciais, como tambm o caso do melanismo,
relaciona-se expresso de um diminuto nmero de genes ao passo que na expres-
so de outros caracteres, tais como a conformao de uma estrutura orgnica, que
pode determinar a prpria viabilidade de um dado organismo, um nmero muito
maior de genes estaria envolvido. Tal diferena quantitativa implicaria desta forma
em uma conotao hierrquica entre a ocorrncia dos estdios de desenvolvimento
determinada por uma alterao na complexidade do aparelhamento gentico envol-
vido (Arthur 2004, p. 143).
3. Condies De Existncia Como Constraints
Apesar da abordagem evolutiva que as idias sobre interaes orgnicas tem rece-
bido, ao longo da histria da Biologia, e neste momento muito em decorrncia da
discusso provocada pelos defensores da Evo-devo, elas tambmfazemparte do pro-
grama de Cuvier e os princpios que ele formulou, os quais permanecemcomo funda-
mento da anatomia comparada at a atualidade, esto de certa forma, analogamente
relacionados base argumentativa dos seus defensores. Assimcomo o desvio do ideal
de ordem natural toulminiano de Cuvier, a Biologia Evolutiva do Desenvolvimento
tem tambm como um de seus objetivos cognitivos o esclarecimento da ausncia de
uma plenitude das formas no mundo orgnico.
Contudo, ao conceber as condies de existncia como a constrio (constraint)
da plenitude das formas orgnicas, Cuvier tinha em mente apenas o carter limi-
tante desta, ao passo que a Evo-Devo acrescenta este conceito o sentido direcio-
nador (drive) que pode conduzir o processo evolutivo. As similaridades entre idias
de naturalistas do sculo XIX e a Evo-devo, tambmneste caso, devemser analisadas,
levando-se emconsiderao a abordagemevolutiva que as mesmas receberamcoma
aceitao do evolucionismo, desde aqueles tempos. Em seu artigo intitulado Phylo-
genic Reconstruction Then and Now, publicado em 2002, Ron Amundson apresenta
evidncias, advindas da Gentica Molecular, que de certa forma, do suporte hi-
ptese da inverso da relao entre a posio do esqueleto e as vsceras, elaborada
pelo embriologista comparativo, Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire, para defender sua
idia de um tipo comum de organizao para os animais. Este colega de Cuvier no
Museu de Histria Natural de Paris utilizou tal conjectura para explicar como ambos
os grupos estariamsubmetidos umplano comumde composio zoolgica. As atu-
ais evidncias moleculares desta hiptese esto fundamentadas na existncia de uma
homologia entre os genes envolvidos na formao do eixo dorso-ventral dos corda-
dos e dos artrpodes, porm com uma polaridade revertida. Estes mesmos genes, de
A Plenitude Cuvieriana 415
acordo com sua homologia, determinam o plo dorsal em um cordado, assim como,
o plo ventral em um artrpode, determinando, desta maneira, se o animal ter um
esqueleto externo ou interno (Amundson 2002, p. 690).
Alm desta analogia, outras podem ser feitas entre as proposies da Biologia
Evolutiva do Desenvolvimento e as idias de Geoffroy de Saint-Hilaire, e como no
caso de Cuvier, devem estar condicionadas existncia de constries para uma ple-
nitude das formas imaginadas para o mundo orgnico.
A morfologia comparada de Geoffroy estabeleceu princpios, que por sua vez, es-
tabeleceram limites para a ocorrncia de qualquer tipo de morfologia. Um destes
princpios determina que a natureza faa reaparecer os mesmos elementos, em igual
nmero, nas mesmas circunstncias e com as mesmas conexes (Princpio das Co-
nexes). Por sua vez, o Princpio do Balanceamento dos rgos, vem a estabelecer
que as partes adjacentes no alcanam deu desenvolvimento habitual, se um rgo
empreende um crescimento extraordinrio. A aplicao destes princpios se deu na
anlise dos estgios de desenvolvimento de alguns grupos taxonmicos e serviu para
orientar as comparaes entre eles, com as quais Geoffroy defendia sua hiptese de
uma unidade de plano zoolgica (Caponi 2006, p. 40). Alis, segundo o trabalho de-
senvolvido por Casper Breuker, Vincent Debat e Christian Klingenberg, publicado em
2006 sob o ttulo de Functional Evo-devo e que discute a modularidade das vias de-
senvolvimentais, tal idia alavancou dentro do campo da Evo-devo, a elaborao do
conceito de zotipo. De acordo com o referido trabalho, este vem a ser um hipottico
plano bsico para todos os animais que apresentam simetria bilateral e age como
constrio (nos sentidos de drive e constraint) durante o desenvolvimento do orga-
nismo (p. 488).
Assimda mesma forma que na Anatomia Comparada de Georges Cuvier a Embri-
ologia Comparada de Geoffroy de Saint-Hilaire, tambm estabeleceu algumas condi-
es constritivas para uma plenitude das formas. Porm no caso de Geoffroy, o que
provavelmente emerge como um destaque a abordagem embriolgica que ele em-
preendeu, e que portanto relaciona-se mais diretamente aos objetivos cognitivos da
Evo-devo. Desvencilhado das teorias evolucionistas que surgiriam posteriormente,
Geoffroy considerado, por parte de defensores da Evo-devo, como Wallace Arthur e
Ron Amundson, como um dos precursores destas idias, mediante o ressurgimento
que a sua embriologia comparada experimentou com a crescente aceitao da Evo-
devo (Arthur 2004 p. 16 e 73).
Esta anlise dos pontos coincidentes entre as idias da Anatomia Comparada cu-
vieriana e as da Evo-devo e praticamente se limitou ao carter restritivo das cons-
tries, o que deve ser esperado, pois a anatomia e a embriologia comparadas, ao
reservarem entre si pressupostos tericos, tambm compartilham constries para a
ocorrncia de uma plenitude das formas. O carter direcional que estas constries,
ou neste caso, como melhor poderia ser denominada de coaes, possam ter, est
pouco relacionado aos princpios que Geoffroy e Cuvier pensaram para suas disci-
plinas cientcas. Entretanto os fatores limitantes que ambos defenderam se fazem
416 F. Felipe de A. Faria
presente na composio dos objetivos cognitivos de avanos tericos at nossos dias,
em vrias reas da Biologia, como por exemplo na Paleontologia, na Anatomia Com-
parada, na Biologia do Desenvolvimento e como este trabalho propem, tambm na
Biologia Evolutiva do Desenvolvimento ou Evo-devo.
Referncias Bibliogrcas
Alberch, P. 1985. Developmental Constraints: Why St.Bernards Often Have an Extra Digit and
Poodles Never Do. The American Naturalist 126(3): 430-433.
Amundson, R. 2002. Phylogenic Reconstruction Then and Now. Biology and Philosophy 17:
67994.
Arthur, W. 2004. Biased Embryos and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
Breuker, C.; Debat, V.; Klingenberg, C. M. 2006. Functional Evo-devo. Trends in Ecology and
Evolution 21(9): 48792.
Azkonobieta, T. G. 2005. Evolucin, Desarollo y (auto)organizacin. Un Estudio Sobre los Prin-
cipios Filoscos de la Evo-devo. San Sebastin. Tese (Doutorado em Filosoa) Univer-
sidad del Pais Basco. 217p. (Disponvel em: http:
//www.ehu.es/ias-research/garcia/index_es.html. Acesso em: 25 maro
2007.
Caponi, G. A. 2004. La Navaja de Darwin. Ludus Vitalis 12(22): 938.
. 2006. El Concepto de Organizacin en la Polmica de los Analogos. Revista da Sociedade
Brasileira de Histria da Cincia 4(1): 3454.
Coleman, W. 1964. Georges Cuvier: Zoologist. Cambridge, Harvard University Press.
Cuvier, G. 1805. Leons de Anatomie Compare. Paris, Baudouin.
. 1817. Le Rgne Animal. Paris, Deterville.
Lovejoy, A. O. 1936. The Great Chain of Being. Cambridge: Harvard University Press.
Toulmin, S. 1961. Foresight and Understanding. Indianapolis: Indiana University Press.
Notas
1
O Termo extino no aparece no vocabulrio cuvieriano. Este naturalista utilizava o termo desa-
parecido para se referir queles seres que somente ocorriam na forma fssil.
2
Toulmin utiliza para exemplicar paradigmaticamente este ideal, o princpio newtoniano da inrcia, o
qual reza que a permanncia de um corpo nos estados de repouso ou de movimento retilneo uniforme
o espervel, o normal, o natural. O que deve ser explicado, portanto, a sada do referido corpo de
qualquer um destes estados. Desta forma a fsica newtoniana procura uma maneira de explicar e calcu-
lar os desvios da inrcia, decorrente da ao de foras e princpios adicionais como, por exemplo, a lei
de gravitao universal (Toulmin 1961, p. 56).
TRANSCENDNCIA CRTICA SEM IDEAL TRANSCENDENTAL:
SOBRE A QUESTO DA CRTICA, EM FOUCAULT
ROMMEL LUZ F. BARBOSA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/CAPES
rommel.luz@gmail.com
Emuma entrevista concedida a Paul Rabinow, emmaio de 1984, intitulada Polmica,
poltica e problematizaes, Michel Foucault dizia que sua abordagem das questes
polticas nada tinha a ver com uma forma de crtica que, sob pretexto de um exame
metdico, recusaria todas as solues possveis, salvo uma que seria a boa
1
(Foucault
2001, p. 1412). Ele nunca pretendeu conceber uma teoria poltica ou estabelecer os
critrios de uma moralidade poltica. Em vez disso, buscou pensar como nossas ex-
perincias da sexualidade, da loucura e do crime, por exemplo, podempr problemas
poltica. justamente a esse propsito que surge a questo do critrio, de a partir
de onde ou em nome de qu se questiona a poltica, seno em nome de uma lei a
qual esta teria que, por alguma razo, se dobrar. O que pr um problema pol-
tica se tal no pode ser entendido como fazer sobre ela a lei? A esse respeito, Foucault
lembra uma crtica dirigida a ele por Richard Rorty. Diz Foucault: Richard Rorty as-
sinalou que, em minhas anlises, no fao apelo a nenhum ns a nenhum desses
ns cujos consenso, valores, tradicionalidade formam o quadro de um pensamento
e denem as condies nas quais se pode valid-lo. E prossegue: Mas o problema
justamente de saber se efetivamente no interior de um ns que convm se situar
para fazeremvaler os princpios que se reconheceme os valores que se aceitam; ou se
no preciso, elaborando as questes, tornar possvel a formao futura de umns
(Foucault 2001, p. 1413).
bem conhecido o procedimento crtico kantiano, onde se intenta estabelecer,
atravs de uma investigao de cunho transcendental, os limites para todo pensar e
agir humano legtimos. Tambm se conhece a crtica poltica operada pelo Contrato
Social, de Rousseau. Em ambos os casos, o emprico, o real questionado em nome
daquilo ao que ele deve se conformar. Trata-se de um modelo crtico que ope ser
e dever ser, o qual requer que se estabelea e justique, previamente ao questiona-
mento da realidade, o dever ser que se lhe contrape. preciso cindir ser e dever ser
e situar-se do lado deste para, emseu nome, ajuizar o que . Crtica judicativa que faz
para o real a lei.
A recusa em proceder desse modo o que faz com que Foucault por vezes seja
acusado de empreender uma crtica que careceria de critrio, uma condenao do
real que no se faria em nome de coisa alguma. No limite, Foucault se assemelharia a
uma criana caprichosa que se rebela to somente pelo prazer de se rebelar. Mas seria
ingnuo ver as coisas dessa maneira. Ele sabia bem o que lhe era demandado e quais
requisies no podia satisfazer, e por que no o podia. Como pretendo fazer ver, ao
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 417426.
418 Rommel Luz F. Barbosa
menos emparte, trata-se no de umjulgamento deciente, e simde umoutro tipo de
crtica. Rorty nota bem a ausncia de um quadro de pensamento prvio s anlises
de Foucault, sua carncia de critrio. Se se encaram suas anlises sob o modelo de
uma crtica judicativa, realmente causa assombro no encontrar nelas a formulao
de princpios segundo os quais o que analisado deva ser julgado, bem como a de-
vida justicao de tais princpios. Mas isso o que justamente no se pode achar
nos trabalhos de Foucault, e isso porque no se empreende ali uma crtica judicativa,
no se pretende, neles, dar a medida segundo a qual o real deva ser medido, a lei se-
gundo a qual ele deva ser julgado. O que ali se pretende problematizar, no apontar
inadequaes. Resta ento saber em que consiste essa crtica e como ela pode, no
tendo um carter judicativo, no carecer de critrios, isto , de princpios que a ori-
entem. primeira questo (emque consiste essa crtica) s responderemos, aqui, em
parte, na medida em que a abordagem do tipo de princpios que uma crtica como a
foucaultiana pode pr em jogo, que propriamente nosso ponto, fala a respeito do
modo de proceder dessa crtica.
Aesse respeito, esclarecedora a distino que Foucault opera, emuma entrevista
de abril de 1983, intitulada Poltica e tica, dessa vez concedida a vrios entrevista-
dores, dentre os quais P. Rabinow, R. Rorty e Charles Taylor, entre princpio regulador
e princpio crtico. Ela ajudar a entender como possvel questionar as prticas pol-
ticas sem partir de uma concepo poltica prvia nem pretender a realizao de um
projeto poltico denido, ou seja, uma crtica que no seja judicativa nem vise uma
reforma, mas que ainda assim no perde seu carter de crtica, isto , sem deixar de
ter por meta uma modicao do real que seja reetida e no arbitrria. Modicao
essa que no uma reforma do real, mas a de aspectos especcos da experincia.
2
A crtica judicativa, como armei, ope ser e dever ser, e julga aquele em nome
deste. Mas que tipo de princpios tal crtica pe em jogo? Pode-se dizer que a crtica
judicativa opera com princpios reguladores, se por princpio regulador se entender
aquilo em funo de que se deve organizar o fato, nos limites que podem ser deni-
dos pela experincia ou pelo contexto (Foucault 2001, p. 1409). Oprincpio regulador
serve de medida na lida com o real. Ele pode servir como ideal pelo qual julgar o real,
isto , posso avaliar o quanto este se apresenta em conformidade com aquele e, en-
to, tentar modic-lo de modo a aproxim-lo de seu ideal. O princpio regulador
aparece como o m daquilo de que ele a medida e, por conseguinte, anda de par
com o projeto de uma reforma do real. Pode-se lembrar a idia kantiana de autono-
mia, a qual se presta mesmo a ser vista como o o condutor pelo qual possvel traar
a histria da humanidade de um ponto de vista cosmopolita, isto , a partir da pers-
pectiva da espcie humana, pois a lei moral se confunde com a prpria humanidade
no homem.
3
Tambma idia de beleza, emFriedrichvonSchiller, corresponde idia
de humanidade e mobiliza um projeto de formao dos homens de modo a al-los
ainda que tal intento seja entendido como possvel de ser consumado apenas ao
nvel da espcie universalidade da humanidade. Se em Kant e Schiller a idia
de que a prpria histria tende realizao desse projeto busca impedir aes mais
Transcendncia crtica sem ideal transcendental 419
apressadas para lev-lo a cabo, o mesmo no se deu na Revoluo Francesa, onde
o rei foi condenado em nome da humanidade: a poltica teve que se curvar sob a
lei ditada por uma moral universal e alheia a consideraes empricas. Sobre isso,
deve-se conferir o excelente trabalho de Reinhart Koselleck, chamado Crtica e crise,
onde se pode ver a gnese poltica da crtica iluminista a partir da ciso, realizada pelo
absolutismo, com outros propsitos, claro, entre moral e poltica. Tem-se na trans-
formao desses conceitos as origens mais prximas de ns de uma forma de crtica
que cinde ser e dever ser, para julgar aquele em nome deste. O que, como Koselleck
faz ver muito bem, um tal procedimento mascara o carter poltico dessa crtica,
pois aqueles que falam em nome do universal, por isso mesmo no falam como in-
divduos particulares, mas como embaixadores do universal que representam. Falam
no eles, mas a humanidade neles. Como mascaramento do poltico operado nessa
forma de crtica, aqueles que a levam a cabo so inocentados, uma vez que aquilo
em cujo nome falam e agem no pode ser avaliado por parmetros desse mundo,
isto , polticos. A moral, como iluminismo, se torna o tribunal no qual se julga o real,
e o poltico sempre culpado diante da moral, pois no pode deixar de se estruturar
a partir do real tal qual ele , e no como deveria ser. A crtica iluminista mascara o
poltico, ela ao poltica dissimulada. Que me seja permitido, a ttulo de ilustrao,
lembrar as eloqentes palavras de Schiller, na segunda carta de A educao esttica do
homem. Referindo-se Revoluo Francesa, ele diz: Uma questo que sempre fora
resolvida pelo cego direito do mais forte passa agora, parece, a depender do tribunal
da razo pura, e quem quer que seja capaz de colocar-se no centro do todo, elevando
seu indivduo espcie, poder considerar-se um jurado nesta corte da razo, pois
na qualidade de homem e cidado do mundo ele tambm parte interessada, pr-
xima ou longinqamente envolvida no resultado. O que se decide neste litgio no
apenas uma causa particular; deve-se julgar, ademais, segundo leis que ele, enquanto
esprito racional, tem o direito e a capacidade de ditar (Schiller 2002, p. 22). Note-se
como o exerccio do poder soberano, centrado na ciso entre moral e poltica, onde
a liberdade de convico e crena pessoal (maior ou menor, dependendo do caso)
era equilibrada pela restrio de ao (a esfera da ao pblica estava sob o domnio
absoluto do soberano),
4
erigida num esforo de resoluo do problema das guerras
civis religiosas, tomado como mero exerccio do direito do mais forte.
5
A autori-
dade emanada da prpria poltica deixa de ser reconhecida, e passa a ser considerada
como emanando exclusivamente da fora, uma vez que a nica autoridade legtima
passa a ser a moral moral universal reconhecida como a lei da prpria humani-
dade. O que, na estrutura do absolutismo, era o exerccio legtimo do poder poltico,
que visava assegurar a paz, se torna mera imposio arbitrria cujo fundamento
to-s a fora.
6
justamente desse procedimento que Foucault busca se afastar em seus traba-
lhos. Enquanto o princpio regulador diz o que deve ser, o princpio crtico antes
uma idia crtica que se tem constantemente em vista na anlise de algo ou numa
prtica, mas que no diz de antemo o que deve e o que no deve ser considerado
420 Rommel Luz F. Barbosa
correto ou desejvel nessa prtica ou no que analisado. O primeiro da ordem da
lei, o segundo uma questo de prudncia, de reexo, de clculo na maneira pela
qual se distribui e se controla seus atos (Foucault 1988, p. 52). O princpio crtico
um princpio diretor; ele dirige, orienta, no julga propriamente. Na referida entre-
vista, Foucault pergunta-se o que seria tratar o consenso como um princpio crtico,
por exemplo, na anlise das relaes de poder? Tal implicaria perguntar-se qual a
parte de no consenso implicada em uma certa relao de poder, e se essa parte de
no consenso necessria ou no (Foucault 2001, p. 1409). O consenso no seria,
desse modo, para as relaes de poder, uma medida, uma lei, um dever ser, ele se-
ria antes um princpio que orientaria a anlise dessas relaes. Se se tratasse de uma
discusso, dir-se-ia que o consenso no o m da mesma, mas que se pode, numa
discusso, estar atento para que ela no se dilua no dissenso total. O consenso per-
mitiria, assim, que se agisse de modo reetido e prudente na discusso, que se esta-
belecessem estratgias que evitassem que ela colapsasse, mas no ajuiz-la segundo
uma maior ou menor adequao a ele. Dir-se-ia, no limite, como Foucault, que no
preciso talvez ser pelo consenso, mas preciso ser contra o dissenso (Foucault 2001,
p. 1409).
Tal carter do princpio crtico est de acordo com o conceito de problematiza-
o. Esse conceito pretende dar conta do que seria uma histria do pensamento que
no fosse nem uma anlise das representaes que fazemos sobre as coisas nem dos
comportamentos efetivos dos indivduos. Ele faz parte da retomada, por Foucault, da
questo da crtica. O que signica crtica? Como algo se torna, para ns, objeto de
crtica? Questo, portanto, de transcendncia, da possibilidade de distanciamento
frente ao modo como pensamos e agimos em relao a ns mesmos e ao mundo.
Como nosso prprio ser se nos oferece ao pensamento? Atravs de cincias onde nos
descobrimos como seres vivos, falantes e trabalhadores? Por meio de tcnicas que
nos permitem compreendermo-nos como sujeitos de um desejo que permeia nossa
conduta sem que tenhamos total clareza disso? Esses modos pelos quais nosso pr-
prio ser nos dado ao pensamento, as formas pelas quais podemos e devemos pensar
a ns mesmos so nossas formas de problematizar o que somos. Trata-se no tanto
das idias que temos sobre ns mesmos, mas da lgica prpria a essas idias. Sua
sintaxe mais do que sua semntica, se se quiser. Pode-se dizer que h uma diferena
de nvel na anlise de nossas idias sobre ns mesmos e da lgica que lhes prpria.
Isso porque o conceito de problematizao aponta no para as respostas que damos
aos nossos problemas, mas para a forma dos mesmos. O que, em algum momento e
por alguma razo, se torna para ns motivo de inquietao? E, mais ainda, como isso
que apresenta para ns diculdades, que no se deixa mais pensar como vinha sendo
at ento, ento elaborado, como o transformamos em problema? O conceito de
problematizao tenta dar conta dessas questes.
Se a crtica kantiana se perguntava pelas condies universais e necessrias pelas
quais poderamos pensar, as condies de possibilidade de toda experincia possvel,
Foucault se pergunta por como pensamos objetos especcos, como eles se consti-
Transcendncia crtica sem ideal transcendental 421
tuem como objetos, por exemplo, de um certo saber: ele se interessa por sua obje-
tivao. A ele interessam as condies de existncia em vez das condies de pos-
sibilidade, o a priori histrico em vez do a priori transcendental. Mas para o que
apontam esses termos, anal? No pretendo discutir aqui os problemas levantados
pelo projeto de uma arqueologia das formas de problematizao, mas apenas indicar
a direo de um movimento. Falar em condies de existncia e em a priori his-
trico implica uma renncia a um projeto crtico de carter transcendental feita em
nome de uma anlise das regras segundo as quais algo se constitui como objeto de
pensamento no interior de um recorte no tempo e no espao. Parte-se, por exemplo,
de domnios constitudos de saber, como as cincias humanas, e ento se questiona
como se constitui, para elas, seu objeto, no caso, o homem: como o que somos se d,
atravs delas, ao pensamento. Pode-se mesmo recuar e buscar como tais formas se
constituram, e, inclusive, chegar concluso de que o homem, como objeto des-
sas cincias, algo novo e que o que somos foi problematizado de formas totalmente
diferentes em outros momentos, e tambm que os saberes que formam a ascendn-
cia dessas cincias tinhamoutros objetos. Enm, o importante aqui fazer ver que o
trabalho crtico de Foucault se volta sobre as formas como pensamos, no em busca
do que pode haver de universal nelas, mas, ao contrrio, procura do que nelas pode
haver de contingente: que a arqueologia das formas como problematizamos o que so-
mos atravs das cincias humanas possa mostrar que, para que nos pensemos como
partcipes de uma humanidade qual prpria uma nitude que tem sua legali-
dade estabelecida em referncia a ela mesma, em vez de se constituir em contraposi-
o a uma innitude, preciso que a questo que somos ns? tenha uma determi-
nada forma e no outra. Ao qu responde-se quando se pergunta pelo que somos, tal
o ponto da problematizao, ou, mais precisamente, a problematizao concerne
denio dos elementos aos quais se responde emnossos saberes ouprticas. Ela ela-
bora as condies nas quais esses saberes e prticas podem apresentar solues para
problemas especcos, ou seja, ela dene como esses problemas podem ser formula-
dos, o que abre um campo limitado de respostas possveis. Nas palavras de Foucault,
ela torna possvel as transformaes de diculdades e embaraos de uma prtica
em um problema geral para o qual se propem diversas solues prticas (Foucault
2001, p. 1417).
A problematizao delineia um horizonte no interior do qual podemos pensar,
ela dene o que pode e o que no pode ser pensado, o que se impe como tarefa ou
objeto de pensamento, o que pode e deve ser pensado, e como o pode. Ela diz respeito
aos nossos limites. Entretanto, seria errneo perceber a um determinismo ou fata-
lismo onde o que se pode pensar estaria desde sempre j delimitado e de todo nos
escaparia. certo que esse horizonte permanece a maior parte do tempo como hori-
zonte mesmo, nossas prticas se movimentam em seu interior, mas assim como nos-
sas formas especcas de problematizao denem o que vem a ser problema, bem
pode ser que se torne problemtica nossa forma de problematizar algo, ela pode se
fragilizar. E isso porque a problematizao antes de tudo pensamento afrontando
422 Rommel Luz F. Barbosa
o real, jogando com ele, tentando lhe conferir forma. Para que uma diculdade real
se torne um problema para o qual se pode pensar em respostas cabveis, preciso
que se afronte essa diculdade atravs do pensamento e se lhe d uma forma, se o
transforme propriamente em um problema. Trata-se de um jogo onde a tenso entre
o pensamento e o real no se desfaz. O termo experincia guarda tambm o sentido
de experimento. Nas prticas que constituem nossa experincia (seja num laborat-
rio, numconsultrio psicanaltico, etc.) as formas de problematizao que perpassam
essas prticas so, a ums tempo, postas emao e postas prova. A experincia no
apenas vivncia, ela tambm prova. A maior fraqueza de As palavras e as coi-
sas, como testemunham as inmeras discusses surgidas a esse respeito poca do
lanamento do livro, est em Foucault no conseguir mostrar ali como o nvel ar-
queolgico das formas de problematizao perpassa as prticas da histria natural e
da biologia, como elas, ao mesmo tempo, conguram essas prticas e so nelas pos-
tas prova.
7
Por isso, o livro, embora mapeie as modicaes ocorridas entre uma
episteme e outra, no obstante aponte o que muda ao nvel arqueolgico da histria
natural para a biologia, no consegue mostrar o que, ao nvel das prticas que pu-
nham em ao os critrios dessa episteme, tornou necessrio que se questionassem
esses critrios, isto , como eles foram postos prova. quando surgem diculdades
em nossas prticas, diculdades graves o bastante para pr em xeque nossas formas
atuais de problematizao, que se novamente convocado tarefa especca de re-
problematizao: no apenas movimentar-se no interior de um horizonte que dene
o que problema e qual forma ele tem, mas trabalhar sobre esse horizonte mesmo,
sobre os limites do pensamento. No incorreto dizer que, no que concerne aos li-
mites do pensamento, somos mais e menos livres do que em geral supomos. Mais
livres porque esses limites no so imutveis, menos livres porque eles no se deixam
modicar facilmente nem a todo momento.
A problematizao tem esse carter dinmico que permite que se pensem trans-
formaes em seu interior sem que estas tenham que ser entendidas como advindas
do arbtrio humano. Ainventividade, a possibilidade de se repensar o que se pensa, de
afrontar os problemas que surgemde modo no previsvel, no se confunde comuma
inconcebvel capacidade de mudar as formas pelas quais se pensa sem que tenham
surgido diculdades no modo como se vinha pensando at ento, as quais incitam
umesforo de reproblematizao. A problematizao no diz respeito a uma espon-
taneidade criadora que seria uma faculdade prpria ao homeme que o faria externo
aos seus modos de pensamento, tal qual o criador da criatura. Ela aponta para a pos-
sibilidade de, quando diante de uma diculdade que perturbe o modo como vnha-
mos pensando algo at ento, podermos reelaborar os modos como o fazamos, para
a possibilidade de que algo se faa, uma vez mais, questo. Por isso mesmo o pen-
samento, enquanto ao de problematizar, transborda suas formas singulares pelas
quais o real se ordena, e, uma vez que ele no uma faculdade de que podemos dispor
segundo nossa vontade, ele tambmnos transborda. Oque o pensamento proporcio-
na a possibilidade de uma transcendncia crtica que de ordem diversa daquela
Transcendncia crtica sem ideal transcendental 423
propiciada pela capacidade de encontrar, para um caso particular, uma lei univer-
sal que lhe sirva de medida. O parmetro avaliativo no pode preceder a avaliao.
Em verdade, no se trata sequer de uma avaliao, mas da denio das condies
segundo as quais certas avaliaes podem ser reconhecidas como vlidas. Aqui, o
problema do critrio se faz ver com mais acuidade. Os critrios, os parmetros pe-
los quais se pode avaliar algo, no podem ser prvios s formas de problematizao
daquilo que se avalia porque, numa avaliao, quais critrios podem ser utilizados,
a respeito de que o podem, por quais razes, tendo em vista quais ns, so questes
que s podemser respondidas desde umcampo de problematizao. Por isso a crtica
consiste em assumirmos, quando instados a isso,
8
o trabalho do pensamento, traba-
lho sobre nossos limites. Em vez de julgar o real de fora dele, um trabalho sobre os
limites do real, trabalho esse que pe em jogo justamente o real e o pensamento que
o transcende. O que no pensamento transborda o real, o que nele no se concretiza
como nossas formas j singulares de pensar, no se pode obviamente pensar, pode-se
apenas experimentar a tenso indissolvel entre esse dentro e esse fora, a qual
prpria ao trabalho sobre nossos limites.
Assim, o consenso pode servir de princpio crtico na anlise das relaes de po-
der, mas no h nada que obrigue que tal seja feito. Podem-se usar outros princpios,
como a dominao, por exemplo, podem-se analisar as relaes de poder buscando,
nelas, a parcela de reversibilidade que lhes cabe, o quanto e como aquele sobre quem
se exerce o poder est em condies de reverter a relao, como ele pode reagir a ela,
os modos de se deixar conduzir ou de resistir s tentativas de conduo. Tal princpio
crtico porque ele pretende no apenas descrever essas relaes sob um determi-
nado aspecto, mas tornar possveis aes no interior das mesmas. Compreender a
lgica de tais relaes permite que possamos nos posicionar nelas de modo reetido,
que possamos estabelecer estratgias de ao. Trata-se de um distanciamento crtico
que se faz sem apelo a nenhum transcendental.
Que se pense nas discusses contemporneas a propsito da tica. Sobre elas, es-
creve John Rajchman: Dizem, vez por outra, que hoje vivemos em meio a diferentes
tradies ticas, sem mais sermos capazes de dizer por que devemos adot-las ou
como escolher entre elas. O pluralismo a viso de que devemos conserv-las to-
das ao mesmo tempo, ainda que ao preo da dissonncia ou incomensurabilidade
lgica; o monismo a viso de que precisamos ou devemos ter a nica teoria cor-
reta. Mas em nenhum desses casos surge o problema do que ainda poderia ocorrer
para rearranjar e repensar nossas tradies. (. . . ) A questo da tica sempre a ques-
to do que pode ser novo na tica, e portanto, implica uma desconana em relao
aos valores aceitos, como sempre aconteceu (Rajchman 1993, pp. 1678). Problema
de critrio, como se v. Mas, em vez de buscar um nico critrio ou a invalidao de
qualquer critrio a respeito dessas questes, pode-se perguntar pelo modo de formu-
lao do problema. Pode-se questionar que, quando se fala na impossibilidade de dar
razes consistentes para a adoo de um determinado conjunto de valores, faz-se
uma ciso entre aquele que pode adotar umconjunto de valores e os conjuntos que
424 Rommel Luz F. Barbosa
estariam sua disposio para avaliao e escolha. Se se parte desse esquema, como
aponta Rajchman, no se pode perguntar pelo que pode haver de novo na tica, no
se podem rearranjar essas tradies, no se podem reproblematiz-las. Primeiro
porque o distanciamento crtico frente a elas considerado como uma exterioridade,
poder-se-ia dizer, ontolgica, onde o que caracteriza fudamentalmente o indivduo
sua capacidade de julgar valores que lhe seriam, por isso, externos. Segundo porque,
nesse esquema, resta apenas a possibilidade de escolha entre a adoo e a rejeio,
bemcomo das diferentes razes que se podemoferecer para justicar a escolha feita,
as quais dependem, como lembrou Rorty, de um quadro de pensamento, ou seja
de formas de problematizao que denam quais razes so essas e qual seu alcance
legtimo.
Para que a questo da tica se ponha, do modo como a dene Rajchman, pre-
ciso que os valores que aceito no sejam entendidos como estando diante de mim,
sendo, por isso, passveis de uma avaliao imparcial. Eles precisam, ao contr-
rio, ser entendidos como valores que se encadeiam de uma certa forma, de modo
a constituir a maneira como eu posso pensar algo, umcomportamento, por exemplo,
tornando possvel que eu faa a respeito do mesmo certos juzos. Juzos que podem
mesmo ser antagnicos, pois o que a problematizao dene o campo onde juzos
opostos podem se enfrentar, os elementos em disputa pelas diferentes posies o
que interessa no que haja quemdefenda a moralidade ou imoralidade de umcom-
portamento, mas as bases a partir das quais o fazem, os elementos que, nesses juzos,
esto em jogo. Por exemplo, ante um homem efeminado, posso julg-lo imoral ou
no; o que interessa a uma anlise das formas de problematizao o que determina
a imoralidade ou no de tal comportamento: se meu juzo considera a passividade
de carter que tal comportamento traduz, ou se ele leva em considerao um dire-
cionamento do desejo denunciado por esse comportamento. Um juzo depreciativo
a respeito de um mesmo comportamento pode ser mobilizado a partir de formas de
problematizao do mesmo que so totalmente diversas. O que importa no se es-
ses juzos trazem a mesma sentena (moral ou imoral) sobre um comportamento,
mas os elementos mobilizados nesses juzos. Essas formas e suas transformaes per-
manecemimpensadas quando no se as reconhecemcomo umcampo de anlise es-
pecco.
preciso que se veja que compreender a questo da tica em termos de um indi-
vduo que tema capacidade de avaliar, como que de fora, seus prprios valores, como
se estes pudessemser distanciados da sua capacidade mesma de julgar, j ummodo
possvel, mas no inescapvel, de pr a questo, uma forma de problematizar a possi-
bilidade de nos distanciarmos criticamente de ns mesmos. E tal modo no permite
que se pense como modicar a lgica desses valores, em vez de apenas mobilizar cri-
trios j disposio para avali-los. O que h de comum entre o pluralismo e o mo-
nismo que ambos se enquadramdentro desse mesmo modo de problematizao da
possibilidade de transcendncia crtica; ambos partem de uma ciso radical entre o
indivduo e os valores que ele pode ou no adotar, bemcomo de uma compreenso
Transcendncia crtica sem ideal transcendental 425
demasiado esttica desses valores, como se os mesmos no fossemproblemticos ou
problematizveis.
Foucault no pretende julgar o real se posicionando do lado de um dever ser pre-
viamente estabelecido, de uma teoria que lhe assegurasse os princpios aos quais re-
correr na avaliao do real. Ele retoma a questo da crtica, que nos pertence to for-
temente desde o Iluminismo, redesenhando-a, buscando se desvencilhar da crtica
como projeto para torn-la ainda uma vez em questo, de soluo novamente em
problema. Em seus ltimos trabalhos tal esforo patente. Trata-se de reelaborar o
que entendemos por crtica, modicar no apenas a representao que dela fazemos,
mas a maneira como a pomos emao e prova. Emvez de uma crtica que se faz em
nome de uma razo universal, uma crtica que opera atravs da anlise de formas es-
peccas de racionalidade, de modos de problematizao. Princpios que orientam a
anlise ou as prticas, em vez de leis que permitem julg-las. Em suma, um esforo
de repensar a herana crtica.
9
Bibliograa
Barbosa, R. L. F. 2007. Foucault e a tica: algumas consideraes. Revista Aulas 3: 116.
Foucault, M. 1988. Histria da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Traduo de M. T. da Costa
Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 5
a
edio. Rio de Janeiro: Graal.
. 2001. Dits et crits II, 1976-1988. Edio estabelecida sob a direo de Daniel Defert e
Franois Ewald. Paris: Quarto-Gallimard.
Kant, I. 2002. Crtica da razo prtica. Traduo, introduo e notas de Valrio Rohden. So
Paulo: Martins Fontes.
Koselleck, R. 1999. Crtica e crise: uma contribuio patognese do mundo burgus. Traduo
de Luciana Villas-Boas Castelo-Branco. Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto.
Pessoa, F. 1977. Obra potica em um volume. Organizao, introduo e notas de Maria Aliete
Galhoz. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.
Rajchman, J. 1993. Eros e verdade: Lacan, Foucault e a questo da tica. Traduo de Vera Ri-
beiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Schiller, F. 2002. A educao esttica do homem. Numa srie de cartas. Traduo de Roberto
Schwarz e Mrcio Suzuki, introduo e notas de Mrcio Suzuki. 4
a
edio. So Paulo: Ilu-
minuras.
Notas
1
A verso para o portugus dos textos em francs de minha responsabilidade.
2
bem conhecida a insistncia de Foucault em pensar uma ao micro-poltica, por oposio a uma
revoluo de toda a realidade, bemcomo sobre a necessidade de intelectuais especcos, isto , intelec-
tuais que, em vez de estabelecerem ou justicarem um programa de reforma da realidade, ajam sobre
pontos especcos da experincia. A revoluo, em seu sentido moderno de reforma da totalidade do
real, veementemente rejeitada por Foucault e indissocivel do tipo de crtica que aqui chamamos
judicativa, cujos primeiros representantes contam entre os iluministas franceses e alemes, passando
por Rousseau, Fichte, Hegel, Marx, dos quais se poderia dizer, para usar palavras de Fernando Pessoa,
que levam a vida a querer inventar a mquina de fazer felicidade (Pessoa 1977, p. 231).
426 Rommel Luz F. Barbosa
3
Com efeito, diz Kant, em sua Crtica da razo prtica: A lei moral santa (inviolvel). O homem
deveras bastante mpio, mas a humanidade em sua pessoa tem que ser santa (Kant 2002, p. 141 / A
155).
4
Tal , grosso modo, o esquema da ciso entre moral e poltica, no absolutismo. Mas esse esquema se
apresentava bastante matizado, como se pode ver ao comparar os escritos de Hobbes e Locke.
5
Se se observar o Contrato Social, de Rousseau, ver-se- que a estrutura do poder soberano mantida,
mas seu representante legtimo deixa de ser o prncipe e passa a ser o povo, cuja expresso a von-
tade geral. Ora, uma vez que a vontade geral s se revela atravs do sufrgio, ningum, em especco,
responde por ela, ningum, em especial, responde pelo poltico, pois, se a vontade geral a vontade
de todos (mesmo daqueles que votaram contra a vontade da maioria vencedora no sufrgio), ningum,
em especco, responde por ela. No h mesmo perante quem se responsabilizar, pois o povo responde
apenas a si mesmo assim como o monarca soberano s respondia por seus atos perante si mesmo,
perante Deus, ou perante seus pares, no caso de relaes internacionais (lembrando que, antes da coro-
ao, na Inglaterra, o rei precisava ser aclamado pelo povo). Assim, e eis aqui o ponto central, o prprio
sufrgio no entendido como um meio de resoluo de um conito entre posies discordantes, mas
como meio de descoberta da real vontade de todos (a minoria vencida no um partido discordante,
mas indivduos que no esto ainda devidamente conscientes do que em verdade querem).
6
Para uma abordagem pormenorizada desses acontecimentos, conferir a supracitada obra de R. Kosel-
leck.
7
As metforas de um solo epistemolgico e de um a priori, ainda que histrico, se prestaram mais a
aumentar a confuso do que a dissolv-la, ao dar a impresso de que se tratava de uma causalidade da
episteme sobre as prticas ou de que a episteme dizia respeito a condies de possibilidade do discurso
verdadeiro que no tinham relao com aquilo a respeito do que se diz a verdade. No estava suci-
entemente clara nem a relao entre as formas de problematizao (com efeito, esse conceito s ser
cunhado por Foucault em seus ltimos escritos) e as prticas, nem a tenso entre essa formas e o real,
ou seja, que formas de problematizao e prticas se co-constituem na medida em que as formas de
problematizao conguram as prticas que, a um s tempo, as pem em ao e as pem prova na
lida com o real.
8
Na maior parte do tempo, como j foi dito, sequer concebemos a possibilidade de pensar diferente-
mente, e preciso que seja assim, pois, caso pudssemos sair de ns mesmos de forma completa,
seramos lanados no nada, numa possibilidade que tanto mais plena (pela ausncia de efetividade,
de determinao, de limite) seria quanto mais vazia fosse. A crtica, com efeito, no a dissoluo dos
limites, mas a reelaborao dos mesmos.
9
Este artigo faz parte de minha pesquisa desenvolvida no curso de mestrado do Programa de Ps-
graduao em Filosoa da UERJ, sob orientao da Profa. Dra. Vera Maria Portocarrero, com o auxlio
de uma bolsa da CAPES. Gostaria de agradecer tambm aos meus amigos e colegas de mestrado, Fbio
da Costa, Gabriel Leito e Tas Pereira, cuja leitura e discusso de diversos pontos aqui abordados foram
imprescindveis para que este artigo tenha a forma que tem agora.
ALGUMAS CONSIDERAES SOBRE O PAPEL DA AUTENTICIDADE NA ESFERA
PBLICA EM CHARLES TAYLOR
TAS SILVA PEREIRA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
tsp_br@terra.com.br
s vezes como complemento (cf. Ferrara 1997), outras como contraposio noo
de autonomia (cf. Thiebaut 1997), a questo acerca do lugar do conceito de autentici-
dade se agura central para as discusses de losoa poltica contempornea (exem-
plicada emtorno das investigaes concernentes ao multiculturalismo, ao naciona-
lismo, a teorias legais etc.), uma vez que remete a um modo de prtica coletiva e
prpria concepo de sociedade a ele ligada. O pensamento do lsofo canadense
Charles Taylor destaca-se, neste sentido, pela recuperao deste conceito tendo em
vista uma defesa dos pressupostos ontolgico-morais constitudos nas formulaes
de sociedade de nossa poca. Recuperar o lugar e o poder normativo da autentici-
dade , em ltima instncia, repensar a modernidade nos limites de suas prprias
prticas.
Por sua vez, uma teoria da modernidade, nos termos propostos por este lsofo,
requer uma inextrincvel conexo entre quatro termos, a saber: (1) as noes de bem;
(2) os modos de ser do self ; (3) umconceito de histria e (4) concepes de sociedade.
A proposta da presente exposio se insere no interior da relao entre o primeiro e
o quarto termos, isto , pretende explicitar a defesa tayloriana de que toda sociedade
se constitui atravs de certos bens que so comuns aos cidados. E, partindo desta
tese mais geral, procuro mais especicamente tratar do papel normativo do conceito
moderno de autenticidade para a formao do que chamamos, hoje, esfera pblica.
Acredito que uma maior ateno a esta relao no pensamento de Taylor poder nos
auxiliar a compreender como seu posicionamento frente a questes polticas tem de
pressupor a defesa de uma ontologia temporalizada da moral que, por seu turno, no
se coaduna com o liberalismo do tipo procedimental e tampouco com qualquer es-
pcie de relativismo dos valores ticos. Porque, ao tratar de bens comuns, este lsofo
parece apontar para conceitos imprescindveis nossa experincia e que, ao m e ao
cabo, social. Para esse objetivo, esta apresentao visa a percorrer o seguinte per-
curso: (I) veremos como autenticidade uma fonte moral, a partir da tese tayloriana
de que bens ou fontes morais no so subjetivos e por isso; (II) pode ser comunicada
por meio de uma linguagem intersubjetiva em um espao comum, linguagem esta
que no pode ser cindida dos prprios bens que esto emjogo (por isso, substantiva);
para, nalmente, (III) mostrar como a esfera pblica umdestes espaos comuns por
excelncia, no interior do qual a noo autenticidade elaborada e re-elaborada na
dinmica social.
Dutra, L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.) 2009. Anais do V Simpsio Internacional Principia.
Florianpolis: NEL/UFSC, pp. 427435.
428 Tas Silva Pereira
I
Em um primeiro momento, o ttulo deste trabalho pode nos sugerir uma impresso
errnea de que a importncia do conceito de autenticidade reside na sua precedn-
cia lgica ou ontolgica ao conceito de autonomia e que de alguma forma mais va-
lioso aloc-lo como o foco principal de toda discusso poltica. Poderamos atribuir
a Taylor apenas uma inverso de tal precedncia conferida por autores como Haber-
mas, Rawls e Dworkin, etc. os quais defendem, cada um a seu modo, a prioridade
da autonomia como um processo de autodeterminao em detrimento de concep-
es divergentes de beme, emltima instncia, conferir autenticidade umpapel
mais pleno para todas as prticas sociais. Contudo, este primeiro olhar tende a se
dissipar quando atentamos para o projeto losco de Taylor como um todo, o qual
no se prope perguntar pelo critrio ou princpio a partir do qual as instituies e
tais prticas precisam se pautar em sociedades democrticas. Antes, o que est em
jogo a questo referente ao modo como certas coisas se mantm, desaparecem ou
so re-elaboradas emnossas prticas comuns, ou seja, como certos conceitos so im-
prescindveis de nosso domnio prtico-moral, compreendido enquanto um nvel da
prpria realidade (cf. Taylor [1988], [1989]).
Tais conceitos dos quais no podemos nos furtar em meio a nossa prpria ex-
perincia e pensamento morais, Taylor denomina bens constitutivos que se do no
interior de uma congurao especca da totalidade de nossa realidade moral. Em
contraposio aos chamados bens de vida, de sentido estrito, que signicam todas
as coisas valiosas que buscamos, o lsofo refere-se, aqui, a bens em sentido amplo,
concernente aos planos ou modos de vida assim avaliados (Taylor [1995], p.210). Di-
ferente da concepo de valor, denida segundo termos individuais ou comunitrios
(de umgrupo especco e sentido estrito), os bens constitutivos ou bens comuns no
so objetos de escolha dos indivduos e tampouco determinam completamente as
nossas aes, istoporque os bens e os selves se constituemmutuamente emuma certa
congurao de nosso espao moral. E, porque o self e os bens so co-constitudos,
essa relao no esttica, mas sim uida e dinmica, pois assim nossa prpria
experincia.
1
Desta forma, o conceito de autenticidade no , seguindo o raciocnio de Taylor,
um valor esposado por um ou alguns indivduos. Ao contrrio, a partir dele que
uma gama de discursos, teorias, questionamentos, dilemas e mesmo tentativas de
negar sua vigncia ou importncia tornam-se inescapveis a qualquer indivduo mo-
derno. Em outros termos, certos problemas s podem existir para ns como tais a
partir desse conceito, visto que ele congura, d forma, ao nosso modo de ser, agir e
pensar. A autenticidade um conceito moderno e s pode ser inteligvel nos limites
de nossa poca. Ela central porque um horizonte moral a partir do qual nos com-
preendemos de uma maneira e no de outra, uma possibilidade de descrio do
que seria um modo de vida melhor ou superior, na medida em que melhor ou su-
perior se denem no em funo do que nos ocorre desejar ou necessitar, seno de
Algumas consideraes sobre o papel da autenticidade na esfera pblica em Charles Taylor 429
oferecerem uma norma do que deveramos desejar (Taylor [1991], p. 51).
2
Esta des-
crio no pode, por conseguinte, prescindir de uma ordem normativa, isto , de um
pano de fundo comum a todos, no qual as coisas tm sentido para ns, congurado
por nossas experincias morais neste espao compartilhado.
Uma tica da autenticidade muito mais um trabalho de recuperao do seu lu-
gar emnossa prpria formao e de nosso tempo (porque se mantmemnossa expe-
rincia e pensamento morais) do que uma investigao desta noo enquanto uma
capacidade intrnseca ao ser humano ou um princpio geral que possibilite normas
morais e instituies polticas. Enquanto bemconstitutivo e no regulativo,
3
a auten-
ticidade abre emnossa poca uma gama de possibilidades que s existemno interior
de um espao especco de indagaes, o campo da moralidade.
4
Assim, o seu lugar
anterior a julgamentos de certo e errado, melhor e superior (porque tais julgamen-
tos se manifestamnas diversas tentativas de resposta no interior da moralidade e no
emsua existncia enquanto objeto de conitos), por isso se oferece como uma norma
daquilo que deveramos desejar. uma espcie de padro a partir do qual no pode-
mos deixar de nos mover e de nos apoiar. No podemos discorrer sobre a identidade e
igualdade, sobre a questo do multiculturalismo e sobre teorias do direito, por exem-
plo, semque este modo de descrever nossa realidade moral no esteja de algummodo
presente h uma ressonncia entre tais conceitos.
Entretanto, isso no implica sua vigncia absoluta (ela no um a priori de nos-
sas aes). Um tal bem participa da histria de nossa prpria experincia moral e
pode ser re-elaborada em nossas descries de formas diferentes a partir de arran-
jos e rearranjos possveis no interior das conguraes, ou simplesmente deixar de
ser um problema para ns. Com efeito, no h um nico bem constitutivo, no nos
constitumos apenas por meio do conceito como o de autenticidade. A autonomia
mesma, a dignidade, entre outros, so hoje indispensveis para nossas prticas: seja
no cumprimento de obrigaes, seja no que diz respeito a nossa auto-realizao, seja
em nossa postura, em nossos papis sociais (que so, para Taylor, os trs eixos de
nosso domnio moral). A diversidade dos bens divergentes e muitas vezes concorren-
tes o pressuposto para o que Taylor denomina domnio moral como um espao de
conito, no qual a autenticidade um dos bens que esto em jogo. Mas, este conito
comunicvel porque pressupe um pano de fundo comum a todos. Assim, as des-
cries que sempre fazemos e buscamos partem de uma linguagem compartilhada e
substantiva, visto que no so separveis dos bens que os conformam.
Todavia, poder-se-ia objetar a Taylor de que a autenticidade, na medida em que
perfaz nosso horizonte moral, no qual descrevemos nossa vida em termos de me-
lhor ou superior, restrita a uma existncia individual, ou, no mximo, a uma tradi-
o muito especca e que no pode ser universalizada por completo, como pretende
uma sociedade liberal. De fato, a preocupao deste lsofo se atm mais s possi-
bilidades, ou melhor, s fontes morais, que nos impeliram a adotar o universalismo
irrestrito emnossa poca, a sua imediata defesa, posto que essa postura no neutra.
E, em resposta ao objetor, diria que a noo de experincia nunca individual, mas
430 Tas Silva Pereira
sempre compartilhada por uma gramtica comum. Tal como no podemos inven-
tar uma linguagem a partir do nada, um bem, como a autenticidade, est atrelado a
um pano de fundo experienciado por todos, por isso nossa vida no diz respeito ape-
nas a certos indivduos mais prximos. Antes, nossas descries so compartilhadas
e comunicadas substantivamente.
II
Essa ltima considerao nos leva, pois, ao segundo ponto desta apresentao, a sa-
ber, o carter intersubjetivo dos bens por meio da defesa tayloriana de uma lingua-
gem substantiva ou qualitativa que tenta descrever de forma mais plena aquelas coi-
sas que se mantm por serem boas, tal como a noo de autenticidade. Em outros
termos, uma linguagem substantiva , segundo Taylor:
umpadro de atividade mediante o qual exprimimos/ realizamos umcerto modo
de ser no mundo, aquele que dene a dimenso lingstica; mas esse padro s
pode ser apresentado contra um pano de fundo que nunca podemos dominar
por inteiro. tambm um pano de fundo pelo qual nunca estamos plenamente
dominados, visto que o remoldamos constantemente. Remold-lo sem domin-
lo, ou ser capaz de supervis-lo, signica que nunca sabemos de modo integral
o que fazemos com ele. No que se refere linguagem, somos tanto construtores
como construdos. (Taylor [1995], p. 111, grifo meu)
Por expresso Taylor entende a tentativa de tornar manifesto algo at ento obs-
curo. Expressar um certo modo de ser no mundo , neste sentido, claricar quem
somos, isto , articular nossa relao com ns mesmos e com o mundo. So articula-
es possveis entre o indivduo, o self, e o bem, as quais vo alm de proferimentos
ou mesmo de pressupostos lgico-pragmticos da linguagem. No interior de nossa
linguagem moral no apenas designamos objetos (falamos sobre), mas preponde-
rantemente fazemos distines qualitativas, hierarquizamos bens aqui, em sen-
tido amplo. Mas, estas distines s podemser realizadas a partir de umhorizonte de
inteligibilidade, de bens comuns, conceitos compartilhveis. A linguagem enquanto
expresso de um modo de ser no mundo no interior da prpria atividade da fala, no
se restringe ao falar com algum e/ ou sobre algo, porque tambm nos constitumos
e nos fazemos entender uns aos outros por meio de gestos, pelo modo como nos ori-
entamos no espao, nas consideraes que tomamos por relevantes, na fruio de
uma obra de arte, em uma atividade fsica, etc. O dilogo em sentido amplo pres-
supe todas estas formas de comunicao. As palavras ganham sentido a partir de
nossos gestos e posturas; ao dialogarmos construmos um espao comum entre ns,
moldamos um mundo, ao mesmo tempo em que tal espao nos possibilita dialogar-
mos de um certo modo. No podemos determinar completamente nossa dimenso
lingstica porque o espao criado entre ns resiste a uma escolha totalmente arbi-
trria das palavras e gestos. Do mesmo modo, ele no fechado o suciente para que
novas formas de modelao do mundo sejam feitas no interior de nossa experincia
Algumas consideraes sobre o papel da autenticidade na esfera pblica em Charles Taylor 431
prtica. Assim, por prticas dialgicas Taylor no denomina a convergncia de pro-
psitos comuns (a soma de interesses especcos ou ainda o ideal de consenso), mas
uma espcie de coordenao, de ritmo entre os seus participantes a partir de umfoco
que os irmana. esta freqncia comumentre os participantes emsua relao comsi
e com o mundo, esta ressonncia, que tem um papel capital para a formao de uma
comunidade. nesta relao que uma rede de conceitos construda, afetando, por
seu turno, os prprios construtores, visto que h, aqui, uma via de mo dupla.
Por outro lado, a ateno ao carter substantivo da linguagem afasta Taylor de
uma defesa dos pressupostos lgicos da mesma, uma vez que estes, segundo seu as-
pecto formal, esto de uma certa maneira almda prpria experincia, na medida em
que so as condies de possibilidades dos prprios proferimentos. A defesa do uso
constitutivo da linguagem se d na prpria atividade do falar e substantiva porque
no apenas designa estados de coisas neutros, mas est em estreita conexo com os
bens comuns, inseparveis de nossos modos de ser.
Se nos descrevemos e descrevemos nossa relao com o nosso entorno a partir
de distines qualitativas, nossa linguagem no pode de maneira alguma se dar fora
das hierarquizaes que fazemos em nossa prtica. Antes, ela j pressupe uma or-
dem normativa e s pode ser comunicada luz deste horizonte, ou seja, dessa rede
de conceitos. E, tal como os bens no so acabados porque so inseparveis de nossa
atitude, o modo como nos comunicamos no est dado, posto que no nos porta-
mos da mesma forma diante de diferentes circunstncias e indivduos. Com efeito,
no que tange estes bens, o xito de nossa interao debitrio tanto da clareza da re-
lao consigo quanto com os demais em situaes distintas. A linguagem, enquanto
articulao de distines qualitativas, corre sempre o risco de fracassar em seu obje-
tivo por no expressar adequadamente uma postura, seja por desconhecer quais os
motivos (enquanto fontes morais) e como eles esto rearranjados em nosso quadro
descritivo da moral, seja por confundir tais fontes, seja por no conseguir torn-las
compatveis com sua prpria prtica. Saber usar tal linguagem , para Taylor, antes
de tudo saber conect-la com suas fontes morais, com a diversidade de bens poss-
veis no espao de nossa experincia moral para que uma certa hierarquia se d: Se
a autenticidade consiste em ser el a ns mesmos, em recuperar nosso prprio sen-
timent d lexistence, nesse caso, talvez s podemos alcan-lo em sua integridade se
reconhecermos que este sentimento nos coloca em relao com um todo mais am-
plo (Taylor [1991], p. 120).
A autenticidade, na medida em que um bem, tem uma linguagem prpria por-
que no apenas discursamos sobre ela, mas igualmente tal conceito nos proporciona
uma fonte para nossos dilemas polticos-morais. Ela tema de questes e discur-
sos, tambm nos colocamos frente aos outros a partir da valorizao de ser el a si
mesmo e julgamos nossas aes e de outrem a partir deste horizonte. Em outras pa-
lavras, ela no objeto separvel do self, mas o self moderno tambmgraas a bens
constitutivos, neste caso especco, noo de autenticidade. Emnossos dilemas nos
movemos e nos apoiamos a partir da congurao de algo como este conceito. Por
432 Tas Silva Pereira
exemplo, hoje quando um el questiona-se a si prprio se seus propsitos e aes
so condizentes com a doutrina abraada, ou quando nos perguntamos sobre o pa-
pel de nosso Estado com respeito s diferentes naes e culturas, ou ainda quando
valorizamos a existncia e o trabalho de certas organizaes internacionais, a auten-
ticidade, enquanto fonte, aparece como uma grande mobilizadora de tais perguntas.
Um membro de uma dada religio pode estar procurando ser o mais el possvel em
seu modo de vida, pois ser um membro de fato viver plenamente sua prosso de
f: ser el consigo mesmo implica encarnar tal doutrina de modo que no haja sepa-
rao entre ele e sua comunidade religiosa. De maneira anloga, quando nos pergun-
tamos pelo modo como ou deve ser um Estado, estamos igualmente colocando em
considerao nossa postura de participantes deste meio comum e igualmente o seu
signicado. A descrio acerca da melhor organizao governamental no cindida
de nossas prticas enquanto cidados (pois quando denimos ou defendemos uma
dada sociedade, denimos tambm os seus membros), ou pelo menos, no deveria
estar, pois ainda que ajamos de forma contrria a nossa descrio, medimos nossa
postura a partir dela. Ainda assim a questo gira em torno mais profundamente so-
bre o que somos e sobre o que pretendemos/ queremos ser, ou seja, a linguagem da
autenticidade.
Todavia, cabe ressaltar que, ao dizer linguagem da autenticidade, no signica
armar que tal linguagem pronta. Tal como vimos anteriormente, se a linguagem e
os bens no esto dados de antemo, o modo pelo qual descrevemos nossa situao
a partir do conceito de autenticidade no nico nemuniversal emsentido estrito. O
modo como a linguagem autntica expressa depender de outras fontes morais, do
rearranjo das possibilidades no interior da congurao delineada pela autenticidade
ao longo de uma narrativa de vida (a qual no se restringe a um indivduo) que, por
sua vez, no pode ser separvel da histria de seus conceitos.
Por isto Charles Taylor pode falar em formas depravadas ou no deste horizonte,
tal como o subjetivismo, declaraes a respeito da autenticidade como umfenmeno
puramente individual e por isso, impossvel de possuir valor de verdade (como a po-
sio relativista defenderia) ou de ser estendida a todo e qualquer indivduo. Uma
perspectiva subjetivista do horizonte da autenticidade tem de partir do pressuposto
de que ns, em algum aspecto, podemos prescindir de um pano de fundo anterior
a ns mesmos, sublimar o carter dialgico substancial da prpria linguagem cons-
truda pelos selves ao mesmo tempo em que os constri. De fato, segundo Taylor, tal
perspectiva justamente umdos arranjos possveis dos diversos bens que se colocam
para ns na modernidade e no signica de pronto sua validade ou no.
III
Podemos perceber at aqui como a autenticidade no pode ser um valor subjetivo,
mas umconceito semo qual no nos compreendemos emnossa poca. Ela, enquanto
umbemconstitutivo, s faz sentido a partir de umpano de fundo comuma todos, na
Algumas consideraes sobre o papel da autenticidade na esfera pblica em Charles Taylor 433
qual a interao por meio de uma linguagem substantiva e corporicada que no
est apartada do self se d. E, umdestes lugares comuns , para Taylor, justamente
a esfera pblica.
A sua importncia se deve peculiaridade da esfera pblica para a prtica deli-
berativa nas sociedades contemporneas, principalmente as democrticas. Diferente
de outros espaos compartilhados que promovem uma ao conjunta com um pro-
psito comum (como um jogo, uma conversao, uma cerimnia), a esfera pblica
no um lugar delimitado, mas sim formada por uma mirade de meios e conexes
almde encontros diretos para a discusso de questes emcomum: A discusso que
podemos estar vendo na televiso agora trata daquilo que foi dito no jornal pela ma-
nh, que por sua vez relata o debate radiofnico de onteme assimpor diante (Taylor
[1995], p. 277). Ela , nas palavras de Taylor, um espao metatpico
5
posto que no
possui uma delimitao especca, tambm no em si um exerccio de poder
aqui, poder institucional, ou seja, no uma instituio especca e tampouco de-
pendente de um governo.
A rede de conexes que perpassa a esfera pblica exprime no apenas informa-
es a respeito de interesses individuais que, porventura, possam coincidir com os
de outrem. Na medida em que um lugar comum, a linguagem das discusses no
perfaz a soma de interesses e tampouco apela necessariamente a um consenso nor-
mativo, mas aponta muito mais para uma compreenso comum deste espao como
um locus de dilemas e divergncias que so comunicveis, visto que podem tocar a
todos. Por isto, arma Taylor: Partilhamos de uma opinio pblica comum, quando
partilhamos, porque a elaboramos juntos. No simplesmente que tenhamos por
acaso concepes idnticas; elaboramos nossas convices num ato comum de de-
nio ([1995], p. 279). Estes dilemas, vale ressaltar, no so concernentes maior
satisfao de interesses em seu sentido mais imediato, ao bem-estar dos concerni-
dos. Antes, so conitos de ordem normativa, tal como Taylor os entende, a saber: a
tentativa de explicitao de nossa relao conosco e coma prpria sociedade no inte-
rior de suas prticas por meio dos mais diversos meios de propagao. O bem-estar,
neste sentido, apenas mais um modo de como a compreenso comum articulada
publicamente, pois no h tal como vimos na discusso da primeira seo uma
escolha deliberada dos agentes individuais. Em outras palavras, as questes que nos
tocam no so determinadas tout court por ns mesmos, o prprio espao compar-
tilhado tambm nos demanda certas aes e posturas.
Os diversos modos da linguagem da esfera pblica so, neste sentido, tambm
substantivos, porque as compreenses comuns so expressas preponderantemente
por meio de descries qualitativas: as demandas feitas ao governo e a forma com
que so difundidas pressupem expectativas do que signique a prpria sociedade e
nossa relao com ela. Tudo isto pressupe o nosso modo de ser em sociedade.
De forma anloga s consideraes feitas a respeito dos bens constitutivos, estas
expectativas formadas na esfera pblica, constituem-se pelas mais diversas fontes,
acarretando em diferentes usos deste espao, como a tentativa de manipulao de
434 Tas Silva Pereira
seus meios em prol de certos interesses (seja do governo, seja de certas instituies),
a falta de transparncia dos diferentes lados das discusses, etc. Isto se d justamente
porque esse espao concretiza, no interior de sociedades democrticas, o campo de
conito entre diversos bens atravs de rearranjos possveis dos prprios conceitos
que os constituem.
O papel normativo da autenticidade um destes bens constituintes de nossa
compreenso comum publicamente disponvel. Se for tomado de forma subjetiva e
seu papel dialgico for desconsiderado, apenas, implicar uma concepo de socie-
dade enquanto somatrio de interesses individuais como o caso da defesa utilita-
rista de sociedade, a qual amplamente criticada por este lsofo. Por outro lado,
considerado enquanto um bem que co-constitutivo de nosso prprio modo ser
no mundo dialogicamente compartilhado, a autenticidade contribui para explicitar
a atuao comunitria como a tentativa de expressar mais plenamente a diversidade
das fontes morais para um m que seja efetivamente comum atravs de suas pr-
prias aes. O carter metatpico da esfera pblica viabilizaria diferentes modos de
ao por meio da expresso de um bem (visto que capaz de congregar diferentes
meios e lugares comuns que esto de fora do poder governamental, como as ONGs,
as mdias, o meio acadmico etc.), enquanto a autenticidade, defendida em termos
dialgicos, apontaria para uma comunidade que busca propsitos comuns enquanto
um corpo multifacetado, mas ainda assim um corpo deliberativo. Ela , ento, elabo-
rada e re-elaborada em uma sociedade que tem de pressupor o compartilhar deste
prprio bem.
A autenticidade, por conseguinte, incide sobre a prpria noo de republicanis-
mo defendida por Taylor, marcada pelo contnuo resgate destes propsitos comuns
luz de sua ontologia moral. Seu lugar tem de ser visto antes de qualquer coisa como
uma fonte inextrincvel de nossas sociedades democrticas que pressupem bens
compartilhados em sentido forte, isto , conceitos comuns que no podem ser esgo-
tados ou ultrapassados por procedimentos formais.
Decerto, essa apreciao nos conduz, inevitavelmente, ao problema da incomen-
surabilidade entre bens completamente distintos que no fazem parte da rede de
conceitos de certas comunidades. Em outras palavras, voltaramos ao problema do
arbtrio entre bens concorrentes. Contudo, se tivermos em vista as argumentaes
das pginas precedentes, no poderemos vincular a Taylor um projeto crtico que es-
teja alm das prprias prticas sociais. Isso signica que no podemos atrelar a esse
lsofo um procedimento formal para resoluo de conitos polticos e morais, mas
disso tambm no se segue a ausncia de qualquer crtica. Antes, o que parece estar
em jogo, aqui, uma audaciosa tentativa de escapar tanto da exigncia radical de um
universalismo quanto da inevitabilidade da incomensurabilidade, isto , parece ha-
ver no pensamento tayloriano uma nova e outra forma de pensar a objetividade dos
bens e possveis resolues de conitos entre comunidades. Entretanto, esse tema s
poder ser propriamente desdobrado em estudos posteriores.
6
Algumas consideraes sobre o papel da autenticidade na esfera pblica em Charles Taylor 435
Referncias
Ferrara, A. 1997. Authenticity as a normative category. Philosophy and Social Criticism 3(3):
7792.
Taylor, Ch. [1988]. Lo justo y el bien. Revista de Ciencia Poltica 12(1-2): 6588, 1990.
. [1989]. As fontes do self: a construo da identidade moderna. Traduo de Adail Ubirajara
Sobral e Dinah de Abreu Azevedo. So Paulo: Loyola, 1997.
. [1991]. La tica de la autenticidad. Traduo de Pablo Carbajosa Prez. Barcelona: Paids,
1994.
. [1995]. Argumentos loscos. Traduo de Adail Ubirajara Sobral. So Paulo: Loyola,
2000.
Thiebaut, C. 1997. The logic of autonomy and the logic of authenticity: a two-tiered concep-
tion of moral subjectivity. Philosophy and Social Criticism 3(3): 93108.
Tully, J. (ed.) 1994. Philosophy in an age of pluralism: the philosophy of Charles Taylor in ques-
tion. Cambridge: Cambridge University Press.
Notas
1
H de se notar a insistncia do autor no que tange ao carter inextrincvel entre bem e self, principal-
mente na primeira parte de sua obra de 1989. Tal posio implica, sobretudo, a impossibilidade de se
tratar o bem como valor a ser escolhido por indivduos ou comunidades. No escolhemos ou determi-
namos um bem, ao mesmo tempo em que eles no nos determinam completamente.
2
A traduo das passagens dessa obra de minha responsabilidade.
3
Esse contraste capital para o pensamento tayloriano, pois acarreta em sua posio sobre o que con-
siste um domnio moral, quais os seus limites. Por bem constitutivo o autor compreende aqueles con-
ceitos a partir dos quais j sempre nos movemos em nossas prticas sociais, eles esto, deste modo,
arraigados a nossa prpria experincia. Ao passo que por bem regulativo, Taylor toma conceitos que es-
tariamalmde uma maneira ou de outra das prticas sociais. Esse ponto car mais claro a seguir,
quando apontarmos as consideraes sobre a linguagem dos bens.
4
Exatamente pelo pensamento de Taylor se afastar emvirtude de uma concepo ontolgica da mo-
ralidade, que visa a explicar a totalidade da realidade de nossas prticas da querela deontologismo x
teleologismo, no h diviso entre tica e moral enquanto esferas da razo prtica. Tais denominaes
so sinnimas na teoria deste autor.
5
Mas uma metatopicalidade que no ultrapassa a prpria atividade comum, isto , no remete a um
outro tempo (neste sentido, ela radicalmente secular). Para mais consideraes sobre a relao entre
secularizao e esfera pblica, ver Taylor [1995], p. 28190, principalmente.
6
Esta exposio faz parte da pesquisa empreendida no mestrado, na linha de pesquisa de tica e Filo-
soa Poltica do Programa de Ps-graduao em Filosoa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), com apoio de uma bolsa da CAPES.
Anda mungkin juga menyukai
- Geometria Euclidiana 9o Ano - ResumoDokumen6 halamanGeometria Euclidiana 9o Ano - ResumoConceição LopesBelum ada peringkat
- A racionalidade retórica em Aristóteles: origens, análise e atualidadeDokumen7 halamanA racionalidade retórica em Aristóteles: origens, análise e atualidadeRivânia CarvalhoBelum ada peringkat
- O Grafo Do Ato AnalíticoDokumen16 halamanO Grafo Do Ato AnalíticoDeivson Filipe BarrosBelum ada peringkat
- Lógica Simbólica - Texto-BaseDokumen6 halamanLógica Simbólica - Texto-BaseJosé Aristides da Silva GamitoBelum ada peringkat
- Tese Márcia Braz Versão FinalDokumen205 halamanTese Márcia Braz Versão FinalMárcia BrazBelum ada peringkat
- Merleau PontyDokumen32 halamanMerleau PontyCassia_TulBelum ada peringkat
- Métodos indutivo e dedutivo na pesquisa jurídicaDokumen2 halamanMétodos indutivo e dedutivo na pesquisa jurídicaPaula Nalyne TelesBelum ada peringkat
- A Categoria de (Des) Ordem Na Antropologia - R. Cardoso de Oliveira PDFDokumen17 halamanA Categoria de (Des) Ordem Na Antropologia - R. Cardoso de Oliveira PDFPierre de Aguiar Azevedo100% (1)
- Evolução LógicaDokumen2 halamanEvolução LógicaDomsans MellriskBelum ada peringkat
- Rigor Metodológico - Pesquisa QualitativaDokumen175 halamanRigor Metodológico - Pesquisa QualitativaFernanda Quatorze Voltas SaulBelum ada peringkat
- Ementa Teoria Do ConhecimentoDokumen3 halamanEmenta Teoria Do ConhecimentoFernando DannerBelum ada peringkat
- E-Book de Logica CompletoDokumen39 halamanE-Book de Logica CompletoTamara Dos AnjosBelum ada peringkat
- Introdução À Metafísica - Atividade de InterpretaçãoDokumen2 halamanIntrodução À Metafísica - Atividade de Interpretaçãorenato_paranoiaBelum ada peringkat
- Texto 01 - Metodologia Científica 2018Dokumen20 halamanTexto 01 - Metodologia Científica 2018Nikolas Roger CristofoliniBelum ada peringkat
- ARDOINODokumen11 halamanARDOINOEmanuel Monteiro100% (1)
- Representação Do Conhecimento - Parte II - Regras de ProduçãoDokumen35 halamanRepresentação Do Conhecimento - Parte II - Regras de ProduçãothoomaswillBelum ada peringkat
- O que é Silogismo: Formas e ExemplosDokumen3 halamanO que é Silogismo: Formas e ExemplosFabricio GoulartBelum ada peringkat
- Eqt11 Teste 4Dokumen5 halamanEqt11 Teste 4OCosta DacosttBelum ada peringkat
- A Transposição Didática Como Intermediadora Entre o Conhecimento Científico e o Conhecimento Escolar PDFDokumen16 halamanA Transposição Didática Como Intermediadora Entre o Conhecimento Científico e o Conhecimento Escolar PDFjessicavvvvvvBelum ada peringkat
- Fichamento Tratado Da Natureza HumanaDokumen6 halamanFichamento Tratado Da Natureza HumanaEduardo FreitasBelum ada peringkat
- Raciocínio lógico - tipos e exercíciosDokumen10 halamanRaciocínio lógico - tipos e exercíciosÉrika CaldasBelum ada peringkat
- História Da Filosofia 13Dokumen138 halamanHistória Da Filosofia 13Elisangela BritoBelum ada peringkat
- Lógica proposicional exercíciosDokumen3 halamanLógica proposicional exercícioshugonunes890% (1)
- História da Lógica no Brasil nas Primeiras Décadas do Século XXDokumen146 halamanHistória da Lógica no Brasil nas Primeiras Décadas do Século XXJuliana CecciBelum ada peringkat
- Santo Tomás de Aquino - Razão A Serviço Da Fé - Pesquisa Escolar - UOL EducaçãoDokumen3 halamanSanto Tomás de Aquino - Razão A Serviço Da Fé - Pesquisa Escolar - UOL Educaçãominick_dnmBelum ada peringkat
- Carta de Kant sobre a origem dos conceitos puros do entendimentoDokumen8 halamanCarta de Kant sobre a origem dos conceitos puros do entendimentoIgor SouzaBelum ada peringkat
- Breve Incursão À Fenomenologia de Edmund HusserlDokumen12 halamanBreve Incursão À Fenomenologia de Edmund HusserlMperroneYaBelum ada peringkat
- Objetivos e procedimento da investigação socialDokumen142 halamanObjetivos e procedimento da investigação socialRogerio Resende100% (1)
- 1 Ano - Filosofia 1º BimestreDokumen3 halaman1 Ano - Filosofia 1º BimestreTaci MoreiraBelum ada peringkat
- Logica Aula 2Dokumen39 halamanLogica Aula 2Marco AntonioBelum ada peringkat