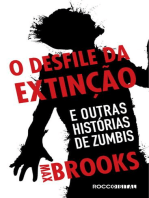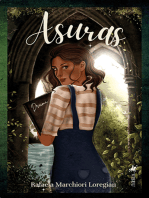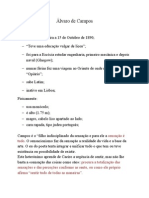Corpos duros em estrada assombrada
Diunggah oleh
CassiopfDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Corpos duros em estrada assombrada
Diunggah oleh
CassiopfHak Cipta:
Format Tersedia
BLECAUTE Marcelo Rubens Paiva "Os temas que escolhem o escritor.
. Tenho sempre a sensao de que havia certas histri as que eu tinha de escrever, que no havia jeito de evit-las. Mas existe um element o muito difcil de ser captado por um leitor mdio: o narrador de uma histria no nunca o autor. sempre uma inveno. " Mrio Vargas Dosa Este livro inspirado no seriado americano "Twilight Zone", conhecido no Brasil p or "Alm da Imaginao". Mas tambm fruto de um sonho de criana, desses que todo mundo j eve. Afinal, nada melhor do que ir alm da imaginao. O autor O princpio No fico mais aflito por saber que nada sei. O que ? De qu? De onde veio? Para onde? So perguntas cujas respostas no me interessam. O tempo no precisa ser medido; essa frase tem ficado muito tempo na minha cabea. No existe diferena entre verdade e me ntira, nem a possibilidade de encontrar o bem e o mal; no sei por que catso comec ei a pensar nisso. No fico alegre, nem triste. H muito no dou uma risada, nem choro . As palavras no significam nada. Meu corpo se curvou para a frente, cansado, des iludido. No consigo entender o sentido da minha vida. No consigo entender nada. E isso no me comove mais. Os homens fizeram a sua prpria histria, mas no imaginaram on de iriam desembocar. No princpio, o Cu e a Terra eram fenmenos divinos; e s. Em segu ida, a Razo, a Cincia encontrou teorias que os definissem. A luta da humanidade era explicar o inexplicvel. Hoje... meu corpo se curvou para a frente, cansado, desiludido. Dane-se! Me lembro de uma msica que falava "Tudo, tudo, tudo vai dar certo..." e acho engraado. Nada deu certo. J me falaram de uma nova Era. J me falaram do universo em expanso. Mas nada deu certo. Nada. Comeou h m uito tempo. Sei l, h uma porrada de tempo... Fui a uma palestra sobre Espeleologia , cincia que estuda as cavernas. No sei por que fui; acho que no tinha o que fazer. O orador falava em italiano. Apesar de eu no ter entendido quase nada, me apaixo nei pelo assunto. Junto com Martina, estudante de letras que tambm se envolvera, procurei um grupo de exploradores profissionais para nos juntarmos a ele. Imagin ava encontrar um ambiente interessante, cheio de aventureiros, cientistas loucos , desbravadores de cavernas. Que nada! Fomos barrados por uma secretria de voz fi na que, olhando nossos currculos, exclamou: - Vocs no tm experincia no assunto! Era uma idiota. Humilhados, compramos alguns man uais e criamos nosso prprio grupo de espeleologia. Afixamos cartazes no restauran te universitrio, ganhando a adeso de um estudante de fsica, Clrico, um sujeito esqui sito e cheio de tiques nervosos. Era muito magro, quase escondido dentro de um g rande sobretudo. Nos fins de semana, comeamos a nos reunir na minha casa para ler biografias e estudar mapas de cavernas. Aos poucos, fui descobrindo que o tal C lrico era mais esquisito do que eu imaginara. A primeira coisa que fazia, quando chegava em casa, era se trancar no banheiro e s sair depois de insistirmos muito. Numa dessas reunies Mrio apareceu; ele ia sempre l em casa. Se interessou pelo ass unto e pelo membro feminino do grupo; reparei no esforo que ele fez em parecer si mptico e inteligente, representando sua personagem favorita: o conquistador. E ho uve recproca. Martina devolveu o interesse jogando sorrisos para ele, para Clrico, para mim, at para as paredes. Nessa noite, eles dormiram no meu "quarto de hspede s". Pelo menos, ela sabia quem era o dono da casa. Num feriado prolongado, decid imos pr em prtica nossos estudos. Seguimos os quatro para Betari, uma regio cheia d e cavernas no Vale do Ribeira, levando o equipamento necessrio. J na entrada da Gr uta da Rainha, a primeira briga. Clrico ficou com medo, disse, entre outras bobag ens, que no entrava. Foi expulso do grupo e teve de voltar sozinho. - Esse cara vai se perder... - disse Martina preocupada. - Foda-se! - respondemos ao mesmo tempo. Entramos na gruta e... foi um desastre. Nunca poderamos prever. Enquanto cochilvamos num grande salo, o riacho que corria p or dentro da caverna subiu, deixando a sada coberta pela gua. Ficamos presos, sem saber o que fazer. Folheamos os manuais, mas no diziam nada que nos ajudasse. Pro vavelmente tinha havido uma grande cheia no rio Ribeira. Pensvamos em retornar po r baixo da gua, mas no sabamos a extenso da abertura. Esperamos, esperamos. Como esp eramos... Nada. Economizamos luz e comida. Martina chorou. Eu rezei. Mrio dormiu.
Tentvamos contar piadas, histrias, qualquer coisa para passar o tempo. Nada. Eu d ormi. Martina chorou. Mrio riu. Nos odiamos. Nos xingamos. No nos falamos. E esperamos, esperamos... Finalmente, depois de uns trs ou quatro dias (numa cave rna perde-se a noo do tempo), o riacho baixou, descobrindo a sada. Samos. Morcegos p endurados na entrada da gruta gargalharam da nossa incompetncia. Acho que foi o d ia mais idiota da minha vida. Foi ento que tudo comeou. Tudo. Foi ento que tudo com eou. Mrio voltou dirigindo (o carro era dele), despreocupado com os perigos da est rada, deixando para trs um cogumelo de poeira. Reclamava de tudo: da caverna, da estrada, at de estar reclamando. Liguei o rdio sem conseguir sintonizar nenhuma es tao. Vai ver est quebrado. - novinho em folha. No est quebrado porra nenhuma! - ele d isse sem tirar os olhos da estrada. Martina fingia dormir no banco traseiro. Dip lomtica, preferiu manter distncia daquele mau humor todo. Eu estava cansado, muito cansado. BR 116 A 500 METROS Asfalto adiante. Mais duas horas e estaramos em So Paulo. - E o Clrico? - perguntei. - Foda-se o Clrico! - respondeu. Eu tinha mesmo ficado preocupado com ele. Naquela poca, eu ainda me preocupava com algumas pessoas. Imaginei se ele tinha conseguido encontrar algum banheiro interessante naquela regio. Besteira. Entramos na estrada que tinha a f ama de ser a mais perigosa do estado; neblina, pista estreita, uma serra sem lug ar de ultrapassagem, entre outras desgraas. No era uma estrada. Era o prprio infern o. J no primeiro quilmetro, cruzamos com um caminho arrebentado num barranco. A cabine se transformara numa lata amassada. Era desses que transportam combustve l; estava todo chamuscado. Aquilo no era uma estrada... - Deve ter havido uma guerra nuclear - brincou Martina. No foi engraado. Martina no era uma pessoa engraada. Mrio deu uma brecada brusca; logo depois de uma lombada, havia um caminho parado no meio da pista com o motor desligado. Um perigo. - VIADO! - Mrio gritou assim que ultrapassamos. Na reta, vrios caminhes parados. Por que no u sam o acostamento? Os motoristas nem se mexiam quando passvamos buzinando. - Vai ver alguma greve - disse Martina. Aquela estrada estava muito estranha. Nu ma curva, um carro atravessado impedia a nossa passagem; s dava pelo acostamento. As pessoas dentro dele tambm no se mexiam. Mrio aproximou o carro e abaixou o vidr o. Era uma famlia de japoneses. - Esto procurando a estrada pro Japo? - ele perguntou. Tambm no foi engraado. Naquele dia, ningum conseguia ser engraado. Os japoneses nem ligaram. Continuaram imvis. Mu ito imveis. Como manequins. Esttuas. Estranho... Descemos do carro e ficamos do la do, olhando. Por que no se mexiam? Encostei no motorista e... estava completamente duro. O que era aquilo?? Encoste i de novo. Nem quente, nem frio. Corpos de borracha. Mas to perfeitos? Aquilo que no tinha a menor graa. Nem sentido. Minha cabea dava voltas tentando achar explicaes . Naquele instante quis que tudo fosse apenas um pesadelo. A voz deMrio mostrou q ue no era. - Claro que um corpo humano! - Duro?? - Sei l! Que loucura... No respiravam. No reagiam a nada. No piscavam. Imveis, com os olhos bem abertos, mas imveis. O que era aquilo? Corpos humanos duros, sem mexerem um milmetro sequer. L oucura. Seguimos viagem, perplexos. Mais caminhes parados, batidos, atravessados, com motoristas duros, esttuas, perfeitos corpos humanos absolutamente paralisado s. O que era aquilo? De onde veio? Um fenmeno extraterreno? Uma guerra bacteriolgi ca? Gs paralisante? Um absurdo! Loucura. POLCIA RODOVIRIA FEDERAL A 500 METROS No acostamento, havia um policial cado, com uma lanterna na mo. Duro, como todos o s outros. O brao esticado, apontando a lanterna para o cu. Sua expresso era serena, normal. Tudo ao redor parecia normal. Exceto pelo corpo petrificado. Entramos n a cabine. Devagar, olhando para todo lado. Havia outro policial, sentado em fren te de um aparelho de rdio, com o microfone na mo. Ironicamente, ele parecia rir. U m guarda rodovirio, duro, rindo, com um microfone na mo. O que era aquilo? O que a
conteceu? Inacreditvel. O rdio chiava. Girei o sintetizador. Em todas as freqncias, chiado, nada, ningum. Dos fundos, um barulho de passos. Num gesto rpido, Mrio pegou a arma do policial. - Larga isso! - falei sem ser atendido. A manivela da porta do fundo se mexeu. Mrio se protegeu atrs de uma mesa em posio de tiro. A porta se abriu. Era Martina. - Que coisa maluca! Todo o mundo virou esttua? Loucura. De volta para a maldita e strada, eu passei a dirigir. Mrio, com o revlver na mo, olhava fixamente para fora. Estvamos todos nervosos. Ele disse que a arma era uma precauo. Contra o qu? Contra quem? Meu Deus, o que estava acontecendo?! Martina comeou a contar. Ela era uma g rande contadora de histrias. - Uma vez vi um filme, se no me engano com o Charlton Heston fazendo o papel de u m qumico; acho que se chamava A ltima Esperana da Terra; ele se injetou uma vacina contra radiao que ele mesmo tinha inventado. Acho que era contra radiao. Uma bobagem . Mas o interessante que, depois disso, estourou uma guerra nuclear e s ele sobre viveu. Alis, sobreviveram tambm uns sujeitos deformados, cegos, que perambulavam p ela cidade. Iam morrendo aos poucos. Os ltimos sobreviventes. Mas atacavam o Char lton Heston. No me lembro por qu. Ento, ele passou a viver sozinho e armado - concl uiu olhando para o revlver de Mrio. Viver sozinho. Como? Ela continuou: - Tinha outro filme. Bem antigo. Preto e branco. A mesma histria. Uma guerra nuclear matou todo o mundo e s sobrou um sujeito aficionado por livros. Ele ficou andando at encontrar uma biblioteca e norme. A, ele se trancou nela. feliz da vida, sentado em cima de pilhas de livros . S que ele pisou sem querer nos culos. Sem querer. E sem eles, ele no conseguia le r. Imagine, quebrou os culos... Ah, que bobagem. Eu tinha gostado da histria, por isso perguntei: - E como que acaba? - perguntei. Ela deu um tempo. Tentou se lembrar do final. A t que se virou e disse: - Ah, Rindu, sei l! Pena. Eu tinha gostado da histria. Queria saber o fim. - A vida no um filme. E eu no sou Charlton Heston - resmungou Mrio. Claro que ele no era Charlton Heston. - Mas os filmes so baseados na vida - respondeu Martina enigmaticamente. Loucura. Tentei pensar racionalmente. No se a vida baseada em filmes ou vice-versa: Tente i pensar no que tinha acontecido. Tomamos alguma droga e estamos tendo alucinaes, vises, uma loucura qualquer. Ou ento estamos ainda na caverna imaginando tudo isso . Ou ento estamos mortos. possvel. Vai ver, morte isso. Talvez tenhamos entrado nu ma outra dimenso que tenha modificado o tempo. Para os outros normal. Para ns supe racelerado. To acelerado que vemos todo o mundo parado. J ouvi falar nessa teoria. O tempo curvo. Estamos mortos, intoxicados por algum tipo de gs. BEM-VINDOS A SO PAULO A cidade estava parada, silenciosa. No havia nenhum movimento. - Merda! Merda! - foram as melhores palavras que Mrio conseguiu dizer. - Vai devagar! - alertou Martina apontando para o farol vermelho. Parei na faixa . No passou nenhum pedestre. Nenhum carro tambm. E aquele lugar era bastante movimentado. Arranquei quando acendeu o verde. O far ol estava funcionando. As luzes de algumas casas tambm. Os postes de iluminao estav am acesos. Eletricidade. Mas ningum nas ruas. Comrcio, bancas de jornal, tudo fech ado, esquinas desertas, um silncio estrangulador. Uma cidade de presente. Subimos a Avenida Rebouas. Os poucos carros que vamos na rua estavam parados; os m otoristas petrificados. Como aconteceu tudo aquilo? Por qu? Na Avenida Paulista, nada se mexia. Nada! Parei o carro na frente do Conjunto Nacional. Desliguei e d esci, seguido pelo casal. Parecia outra avenida, sem o tpico movimento. Parecia o utra cidade, outro mundo. O vento batia forte, contnuo. Dava para ouvir o barulho do sapato no asfalto. Algumas folhas voavam sobre o cho. Um pequeno arbusto atra vessou a esquina, empurrado pelo vento. Ningum. Ao longo de toda a avenida avista va os faris mudarem de cor automaticamente. Mudavam ao mesmo tempo, uns para verd e, outros para vermelho. O grande relgio digital, instalado no topo de um edifcio, marcava onze horas. Estranho, mas aquele relgio ficava desligado durante o dia. Mrio tocou a buzina e gritou: - TEM ALGUM A?? Pausa. Ningum respondeu. Martina comentou que o "fenmeno" deveria te r acontecido durante a noite. Por isso os poucos carros nas ruas, as luzes acesa s, o guarda rodovirio com a lanterna na mo, o relgio digital...
- Ser que esses carros funcionam?- perguntei. - Tudo nessa cidade funciona- Mrio respondeu. Talvez. - TEM ALGUM A?? - gritaram. Pausa. Ningum. - TEM ALGUM A?? - gritamos. Pausa. Nenhuma resposta. Fiquei ainda mais aflito. Fazer o qu? No era possvel aquilo estar acontecendo. No ti nha a menor lgica. Uma cidade abandonada. Ningum. Pessoas duras, petrificadas, rai os paralisantes, morte, tempo superacelerado... As idias comearam a se embaralhar. Uma tremenda confuso na minha cabea. Merda! O que fazer? Mrio foi at a casa de suco s que ficava aberta dia e noite. Me chamou l de dentro. Acabei indo. Ele me ofere ceu uma lata de cerveja; gelada. Eu odiava cerveja e ele sabia disso. Tudo bem. Peguei por educao. - O congelador est cheio e funcionando - ele me explicou. Havia um forte cheiro d e frutas podres. Vrias moscas sobrevoavam o balco. Algumas pessoas duras seguravam copos j embolorados. Estavam apoiadas no balco. Ou tras estavam no cho, como esttuas cadas. Aquilo era estranho. Comecei a ficar muito deprimido. No era possvel... Num canto, uma menina parada na frente de um cartaz. Devia estar lendo. Seus olhos se mantinham fixos. Ser que est pensando? Falei no seu ouvido: - Se voc estiver ouvindo d um sinal qualquer. Lembrava uma pessoa em coma profunda , s que de p e de olhos abertos. Se equilibrava nos prprios ossos; se eu a empurras se ela cairia. Coloquei meu dedo no seu lbio. Completamente seco. Parecia borrach a. Falei no ouvido dela novamente: - Se voc estiver ouvindo, morde meu dedo, mexe o lbio... Nada. Ela no mordeu, ela no fez nada. - O que voc est fazendo?! - reprimiu Martina me vendo com o dedo na boca da menina . Deixa pra l. Eu no ia conseguir explicar. A sairmos, Mrio pegou uma pedra grande e atirou com toda a fora contra a vitrina d e um banco. O vidro se estilhaou com um estrondo enorme. - Voc est maluco!?- gritou Martina. Ele se esquivou e, passando por mim, disse: - Sempre quis fazer isso. Mrio me deixou em casa; meu sobradinho em Pinheiros. Co mbinamos nos encontrar mais tarde. Ao abrir a porta, vi aliviado que tudo estava no lugar. A luz da sala acendia, a geladeira ainda funcionava. O gs, que era de rua, foi suficiente para fazer um caf. Eu era fantico por caf. Em seguida, o gs paro u de sair. Estava ainda angustiado com aquilo tudo. Mesmo assim, fiz um lanche; quando ficava angustiado perdia a fome completamente. Subi para tomar um banho e desci limpo. Deitei no sof, exausto. No sabia em que pensar: nos dias preso na ca verna, na cidade abandonada, nas pessoas duras, nos caminhes batidos. Era ridculo o que estava acontecendo. Ridculo! Parecia um sonho Confuso e louco. Tive a sensao de que, se eu dormisse, tudo voltaria ao normal e eu iria rir muito daquele sonh o confuso e louco. Dormi. Algumas horas depois, fui acordado com uma batida de p orta. Eram Mrio e Martina. Ela passou feito uma bala, subiu e se trancou no quarto. No era um sonho confuso, nem louco. - Eles estavam deitados, dormindo - disse Mrio se atirando na poltrona e estirand o a perna em cima da mesa. - muito estranho. Teve uma hora que eu ri, vendo o pa i dela no banheiro, sentado na privada, durinho, durinho. muito estranho. No fiquei triste. At ri. muito absurdo. Eu ri de nervoso. Martina sim, ficou choca da. Eles no morreram. S esto l, duros. Meus pais e os dela. Minha empregada e a dela . Mas a minha casa estava normal. A dela tambm. - Aqui tambm - disse. Mas meus pais, em Sorocaba... Pausa. Olhou em direo da escada , como que procurando Martina. Depois, finalizou: - Ainda descubro o que est acontecendo. Levantou a ligou a TV. Girou o boto de can ais. Todas as estaes fora do ar. Desligou e pegou a xcara de caf j velho. Deu um gole e reclamou: - Que caf ruim! Voc nunca vai aprender a fazer caf? Mais tarde, esquentamos alguns enlatados numa fogueira improvisada. Mastigvamos cuidadosamente, pois vnhamos come ndo muito pouco at ento. Antes de escurecer, demos uma volta pela cidade. Era incrv el: nem uma alma viva se movendo. Luzes de outdoors piscando, painis de neon aces os, propaganda de cigarros, de carros, de calcinhas. "Um prazer de fumar"... "Vi
aje bem"... "A deciso inteligente"... Que situao mais imbecil. Pensvamos em todas as possibilidades. Deus se irritou com o destino da Humanidade e castigou todo o m undo, esquecendo trs idiotas que se perderam numa caverna. - Eu no acredito em Deus - disse Mrio. - Por isso voc foi poupado - eu disse. - Existem mais pessoas que no acreditam falou Martina compenetrada. Ela tinha lev ado a srio o que eu havia dito. O cu escurecia sem se importar com o que acontecer a. Respirei fundo. - Se eu contasse, ningum ia acreditar - falei. - Contar pra quem? - Mrio perguntou. Ele tambm estava srio. Dormimos os trs na minha casa em Pinheiros. No os convidei, nem os expulsei. Eu tambm tinha decidido ficar srio. Estava amanhe cendo quando comecei a ouvir os berros da gata que sempre trepava no meu telhado . Eram berros que se confundiam com choro de criana. Miava alto at arranhar sua pe quena garganta num orgasmo comprido. No sei por que escolhia sempre o meu telhado . O que esta gata est fazendo a!?. Me levantei correndo e fui at o quarto de Mrio, q ue dormia abraado Martina. - Tem um gato l fora! O mesmo gato de todas as noites... - V dormir... - ele reclamou. Desci at o porto. Esperei por um outro miado que no ve io. Sondei o telhado. Procurei debaixo do carro. Parei quando ouvi vrios pssaros a nunciando a manh. Gatos, pssaros. O pesadelo acabou. Ansioso, entrei no carro e fu i at o Centro. O pesadelo no acabara. Cruzei com muitas pessoas ainda duras. O mes mo de antes. Na Praa da S parei. O cu estava limpo e claro. Elas estavam ali, milha res delas, voando desordenadamente por entre postes, telhados, rvores, bancos, po mbais. Estavam vivas, provavelmente como todas as pombas da cidade. Dei um grito , provocando uma revoada barulhenta. A praa estava estranha, sem os vrios camels, o ffice-boys apressados, pastores pregando, ndios brincando com cobras, executivos com medo de ser assaltados, velhinhas reclamando de tudo, policiais desconfiando de todos, pivetes assaltando todos. Por alguma razo, a fonte continuava ligada, espirrando jatos de gua azuis, vermelhos, amarelos. Azuis, vermelhos, amarelos. E stava olhando para os mendigos duros nos bancos, quando os sinos da Catedral der am seis badaladas. Me assustei. Seis horas da manh. As pombas ficaram histricas. O s mendigos nem se mexeram. A porta principal da igreja estava fechada. Caminhei pela lateral e encontrei uma pequena entrada. Diante do altar, um homem ajoelhad o rezava. Duro. Devia estar cansado de tanto rezar. - Espero que adiante alguma coisa -falei dando-lhe tapinhas no ombro. Estava esc uro. Subindo as escadas que levavam torre pude ler, numa caixa de fora, que os si nos eram automticos. Nenhum padre tinha se pendurado nas cordas. Pena. Naquele di a eu gostaria de encontrar um padre. No sei por qu. Eles sempre tm respostas para t udo. Talvez pudessem explicar o que estava acontecendo. Ao redor, muitos vitrais , bancos, imagens de madeira e um crucifixo com a figura de Cristo exprimindo... paz? Estranho, um sujeito pregado numa madeira, com sangue escorrendo, um arame farpado na cabea, exprimindo... paz. Estranho. Sa pela porta da frente, destranca ndo tudo, abrindo tudo. Os portes da... paz. Fiquei um bom tempo circulando pelo CentroVelho. Ptio do Colgio, Largo de So Bento, Vale do Anhangaba. No havia ningum. Me rda! Muitos mendigos deitados nos bancos. Na Rua Major Sertrio, boca do luxo, a c oisa estava mais "quente". Luminosos ainda chamavam para shows de strip-tease, s exo total, explcito, garotas lindas, topam tudo, tiram tudo, cobram tudo. Passou pela minha cabea a imunda idia de colocar um cartaz daquele no altar da Catedral. Algumas prostitutas duras estavam nas caladas, extravagantes e explcitas e solcitas e abandonadas. Pobres coitadas: nenhum cliente. Porteiros duros no barravam ning um. Pobres coitados. Perto do Hotel Hilton, tive de ir pela contramo, pois os carr os no meio da rua impediam a passagem. Era o ponto dos travestis. Desci pela Ave nida Tiradentes desrespeitando os faris vermelhos. Na ponte, sa do carro. Me apoie i no parapeito para observar o barrento Rio Tiet se movendo lentamente. Era bom v er o movimento do rio. Imaginei as grandes hlices de uma hidreltrica empurrada por milhares de metros cbicos de gua, transformando o movimento em eletricidade. Linh as de transmisso, postes, transformadores, fios, lmpadas, luz. Essas gotas barrentas transformadas em neon, painis luminosos, telas de TV, frigo
rficos, som. Incrvel. Fiquei por um bom tempo olhando o rio. Era to feio, to feio, q ue ficava bonito. Eu no era um cara de bom gosto. Voltando pela mesma avenida, vi uma placa: COMANDO TOBIAS DE AGUIAR - ROTA A polcia de elite de So Paulo. Um casaro antigo que lembrava um forte, ou um castelo, ou sei l o que lembrava aqu ilo. Tudo, menos departamento de polcia. Um frio na espinha. Sempre tive medo de polcia. Atravessei a guarita e estacionei o carro num ptio cheio de. "viaturas". O s guardas com metralhadoras pareciam esttuas de chumbo, por causa dos uniformes c inzentos. Todos duros. Caminhei sem nenhum objetivo especfico, xeretando as salas com apreenso. Investigadores velhos e barbados, sentados, lendo jornal, rindo de alguma piada estpida ou contando as "proezas" da ltima ronda. Usavam culos escuros e, na cintura, uma arma. Eram todos idnticos; deviam ser feitos em srie. Numa sala, um oficial jogava pacincia. No sei por qu, peguei os ases abertos sobre a mesa e os rasguei. s vezes eu fazia coisas muito infantis. A porta da sala ao l ado estava trancada, o que mexeu com a minha curiosidade. Dei um pontap no trinco , como um heri de cinema. mas no consegui abri-la. Malditos filmes! Pelo buraco da fechadura, vi um garoto amarrado num pau-de-arar a. Fiquei subitamente tonto, enjoado. Um cheiro podre no ar. Sa de l. Malditos pol iciais! A gasolina do carro de Mrio estava na reserva. Havia vrios cambures cinza d a ROTA estacionados. Um deles tinha talas largas e era novinho em folha. A chave estava no contato. Se eu pegar esse carro serei um ladro. Mas quem vai me prende r? Dei a partida e arranquei. Foda-se! Embaixo do volante, um boto. Voei pela ave nida com a sirene ligada. Agitao na cidade deserta. - Cad meu carro? - perguntou Mrio com cara de sono. - L no Centro. - Voc est brincando - ele se indignou. - Tem um monte de carros por a dando sopa. Temos disposio at as fbricas: Ford, Genera l Motors... - Eu quero meu carro, porra! Temi levar uma porrada. - Eu estava sem gasolina -foi .a minha desculpa. - Tem um monte de postos dando sopa - ele revidou. - Shell, Esso, Petrobrs... Ficou examinando a Veraneio. Abriu o porta-luvas e rev irou tudo. Tirou um saquinho e jogou para mim, dizendo: - Agora voc tem o que fazer. Era maconha. Abriu a traseira da "viatura" e puxou u ma caixa metlica. Dentro: duas metralhadoras, vrios pentes de bala, granada de gs, revlveres, coletes prova de balas, um verdadeiro equipamento antimotim. Ele pegou a caixa, sem cerimnia, e levou para dentro. - Agora voc tem o que fazer - devolvi. s vezes nossa relao era uma idiotice. Enquant o eu fechava o carro, Martina apareceu. Tambm com cara de sono, perguntou: - Voc viu algum? - No. S pessoas duras. Esttuas, iguais s outras. Ela bocejou, esfregou os olhos, olh ou para o cu e me perguntou: - O que voc acha? - Eu? No acho nada. A cidade est deserta. Como se todos tivessem ido embora. - Meu Deus... - ela lamentou. Olhando para o carro, comentou: - Voc pode ser preso por roubar isso. - Eu conto tudo pra eles. - Ah, e eles acreditariam? - ironizou. Ela tinha roubado minha frase. Li na cont racapa de um livro de poesias: "A vida est na concretude da merda que move o mund o A vida est na indstria impulsionada a sangue humano A vida comer e cagar. E logo preciso comer de novo Ou encontrar com quem fazer amor Ou participar da matana g eral, ou esfolar um porco. Qualquer coisa que me ponha em contato com a vida cha mada real..." Fiquei impressionado. Comer e cagar, ou esfolar um porco. A vida.. . No era muito chegado em poesias. Mas aquela me impressionou. Havia uma pequena foto da poeta. Maria Rita, uma menina bonita, cara de garota, com os cabelos esc orridos, loiros. Muito bonita. Como uma menina to bonita podia escrever "comer e cagar, esfolar um porco"? Era bonita e rude. - O que voc fez essa manh? - Martina me perguntou.
- Descobri que no estamos sozinhos - respondi. - Eu fui de manh para a Praa da S e vi pombas, milhares de pombas. Gatos, pssaros, pombas... - S hoje voc percebeu? - interrompeu Mrio tomando o seu lugar na mesa. - Voc no se lembra dos mosquitos na loja de sucos, nem das vacas pastando? - Est quente, muito quente - reclamou Martins mudando de posio no banco do carro. E ra vero e estava muito abafado; daqueles dias em que no h nenhum vento. Descamos uma das alamedas dos Jardins, que de jardim tinha s uma meia dzia de rvores e centenas de arranha-cus. Gritvamos: - TEM AGUM A!!!!? Nada. - TEM ALGUM A!!!!? Ningum. Tudo era mesmo absurdo. Rodvamos devagar, gritando ou toc ando a sirene. Andar num carro de polcia nos deixava tranqilos: nenhum louco iria nos atacar; pelo menos, achvamos que no. Mas estvamos tensos, principalmente quando dobrvamos uma esquina. Ningum sabia o que podia encontrar na frente. J no Jardim A mrica, onde existem mais casas que prdios, ouvamos vrios cachorros latindo desespera dos. H quanto tempo estariam sem comer? Martins queria parar e soltar todos eles. Impossvel. Iramos ficar dias soltando os cachorros de toda a cidade. Fomos at a La pa, passando pela Avenida Heitor Penteado. Paramos num mirante de onde avistvamos um bom pedao da cidade. Silncio. Vento. Pssaros. Nada mais. Um cemitrio. Casas em v ez de jazigos. Nada mais. Bem ao longe, a rabeira da pista do Aeroporto de Congo nhas. - A gente podia sobrevoar a cidade com um avio - sugeriu Mrio. - Voc sabe pilotar? Ele no respondeu. Responder por qu? - A Bomba de Nutrons no tem esse efeito? Mata as pessoas e deixa as construes intact as? perguntou Martina. - Mais ou menos - respondeu seu namorado. Quando ele respondia a uma pergunta co m "mais ou menos" era porque no estava com saco de responder. - Ela tambm mata os animais - respondi. Continuamos um bom tempo olhando a cidade , incrdulos. Casas em vez de jazigos. Por qu? - Se eu contasse, ningum ia acreditar... - resmungou Mrio. Mais um ladro de frases. Podiam inventar outra! No, no temos bananas. Nem abacaxis, mas, uvas, pras. Nem ver duras que prestassem. A maioria estava podre. Tnhamos cereais, enlatados e congel ados. O tempo no foi suficiente para derrotar a grande indstria de conservantes, a cidulantes 1, 2 ou 3. J as frutas e verduras... Entramos no Shopping Center Eldor ado, o "mundaru das compras". Cheiro de comida podre por todo lado, escadas rolan tes desligadas, prateleiras e lojas entregues a fantasmas, guardas e vigias duro s cados no cho: como que a gente podia se acostumar a uma coisa dessa? Fomos enche ndo os carrinhos com massas, leite em p, enlatados, queijos, bebidas, hambrgueres e congelados de todas as espcies. Mrio, com uma metralhadora no ombro, preferia ch amar de "mantimentos". Parecia viver em estado de guerra, tenso, sondando todos os cantos e com uma pressa injustificada. s vezes ele ficava assim. Era um cara i ntranqilo. Me cansei de carregar tantos produtos e fui dar uma volta. Subi at o lti mo andar e de l avistava todo o Shopping. Era muito feio. Imaginei que, se dali a cinco mil anos existisse uma outra civilizao, ainda haveria excurses de turistas c uriosos em conhecer as vrias etapas da histria da raa humana. Primeiro visitariam a s misteriosas pirmides do Egito. O homem primitivo. Em seguida fariam visitas aos shopping centers, para conhecer o auge de uma sociedade "arcaica"', quando um c urioso papel chamado "dinheiro" determinava o que o cidado da poca poderia ter ou no ter. Uma variedade enorme de produtos seria exposta em prateleiras, como nas b ibliotecas. A esttua de uma tpica dona-de-casa, em frente de uma prateleira, simbo lizaria a dvida entre um sabo em p que faz bolinhas e outro que deixa mais branco. Bolinhas ou brancura? Que dvida! O que deixaria estes visitantes do futuro mais e xcitados seria a forma de pirmide do Shopping Center Eldorado, a mesma dos monume ntos do Egito. Os guias falariam da genialidade da engenharia do sculo XX e da an tigidade. Porm, os turistas desconfiados se perguntariam: "Eram os deuses astronau tas?". Que besteira... - , RINDU! RINDU! - Calma, estou aqui! - respondi ao chamado de Mrio. Ele estava nervoso; subiu as escadas correndo. - Porra, cara! Voc some! - reclamou apontando a metralhadora para mim.
- Voc sabe mexer nisso? - perguntei, olhando a arma. - No. Mas aprendo. Olhou para mim e perguntou: - O que voc est fazendo aqui? - Nada. Estava pensando se eram os deuses astronautas. Desci para ajudar. Shampo os, sabonetes, pastas de dente e mais bobagens. Um aparelho de vdeo-cassete, uma grande televiso, fitas de vdeo. Tinha tanta coisa que nem sabia por onde comear. Av istei Mrio, na sala da administrao, sentado numa mesa cheia de telefones. Telefones ??? Corri para ajud-lo. Davam linha. Mas discvamos um nmero e no acontecia nada: dava linha novamente. A ligao no se comple tava. Que merda! - O tcnico da Telesp deve estar duro - disse desistindo. - Essa porra computadorizada. Tudo automtico. No existe nenhum tcnico - ele disse d iscando nmeros sem a menor lgica. Testava outros telefones e no acontecia nada. Uma pena. Falaramos com Tquio se pudssemos. Buscar algum que explicasse o que acontecer a e, principalmente, saber se existia algum. Desistimos. Merda! Descemos at o trreo para guardar os "mantimentos" no carro. De repente, ele se vir ou para trs e disparou a metralhadora em direo seo de bebidas. Pipocou vidro por todo lado. O estrondo permaneceu ecoando, enquanto vrios tipos de bebida escorriam pe lo cho. Cacos de vidro ainda rolavam quando percebi que o alvo fora um gato. A ca bea arrancada, ao lado do corpo, tudo numa poa de sangue. Me deu nsia de vmito. - Eu me assustei - ele se defendeu. - Voc est completamente louco! - bronqueou Martina vindo assustada em nossa direo. - Maluco! - No enche! - gritou para ela. Depois, virou-se para mim, me apontou a arma e dis se: E voc fica fora disso! Eu no tinha dito nada. Ele deu meia volta e foi embora. Estvamos todos nervosos. Descarregamos os "mantimentos" na minha casa. Mrio sumir a. No esperamos por ele. Eu e Martina voltamos do shopping e organizamos tudo. Co mida na geladeira. Um botijo de gs para o fogo. Mantimentos nos armrios. Montei o eq uipamento de vdeo na sala, selecionando as melhores fitas. Fui tomar um banho enq uanto ela cozinhava. Com a comida j na mesa, esperamos por Mrio. Ele no apareceu. Q uando a fome apertou decidimos comer e abrir uma boa garrafa de vinho. Assistimo s a um filme de gangsters. Rajadas de metralhadora do comeo ao fim. Eu sorri para Martina. Ela sorriu para mim. O filme acabou. Disse "boa-noite" e fui dormir. E la fez o mesmo. Mrio no apareceu. Era um cara muito intranqilo. Muito. Eu e Mrio nos conhecemos h muito tempo. H uma porrada de tempo. No lembro exatamente quando. Nas cemos em Sorocaba. Passamos a infncia na mesma rua, a Humberto de Campos. Disputva mos os campeonatos de duplas de carrinhos de rolim: ele nos pedais, eu no impulso e contrapeso. Vovamos sobre o asfalto numa frgil estrutura de madeira, de olho no s adversrios e nos buracos da pista. Nunca chegamos em primeiro ao fim da ladeira . Nunca ganhamos uma corrida. Foi a minha primeira lio de vida: nem todos nasceram para campeo. Nem todos. Estudamos no Estado, colgio convencional da comunidade cla sse mdia de Sorocaba. Eu era um aluno mediano, com um comportamento mediano, dess es que se um dia encontrasse a professora no meio da rua, no seria reconhecido. J Mrio era do tipo que no obedecia s ordens nem s regras. Achavam que ele era revoltad o; um exagero. Uma vez quase foi expulso por fumar escondido no banheiro; ele ti nha 10 anos. Seu comportamento era como o de um garoto mais velho: vestia cala ju sta, usava sempre culos escuros e fumava o tempo todo; ele tinha 10 anos. Fazia p ropostas amorosas para algumas alunas, se correspondia com uma atriz de televiso e vivia com revistas de sacanagem; ele tinha 10 anos. Talvez fosse mesmo um revo ltado. Mas era um bom sujeito. Todos gostavam dele. Um dia entrou uma aluna nova . Roberta, uma garota muito alta que parecia ter trs anos a mais do que ns. Lembra va uma personagem de histria em quadrinhos de to alta. Mrio se apaixonou. Ela no deu a menor bola para ele. Ele passou a se dedicar aos estudos para chamar a ateno de la. Mas no conseguiu nada. Chegou a me confessar que o que mais o atraa era a esta tura da garota. Foi minha segunda lio: tamanho documento. O dia em que Roberta foi embora de Sorocaba (seu pai fora promovido), Mrio foi at minha casa e chorou. Era um cara sensvel. Foi quando ele me pediu para nunca abandon-lo. Eu prometi. Faz tanto tempo... No c onheo um momento da minha vida em que Mrio no tenha estado presente. Aos quinze ano
s decidimos nos desvirginar. Uma resoluo histrica, aps duas exaustivas reunies em que consumimos um mao de cigarros roubado do pai dele e uma garrafa de licor de ment a. Tomamos a tal deliberao com o auxlio de fotos de mulher, pelada, um manual sobre educao sexual, uma palestra dada por Mrio sobre a relao sexoadolescncia e uma exposi inha a respeito das dificuldades de se arrumar uma parceira. Fizemos uma lista c om todas as possibilidades. - Carla ainda uma criana. Acho que ela no topa, alm do fato lamentvel de ser virgem. - Como , voc sabe? - perguntei desconfiado. - Pela postura, seu jeito de sentar. A mulher que j realizou alguma experincia sex ual seguida de coito introdutivo, quando senta com um copo na mo, no o coloca sobr e a mesinha ao lado - dizia representando. - Ela coloca o copo entre as pernas. - Qual a diferena? - perguntei. - Smbolo flico - respondeu com um ar de mestre no assunto. - J li sobre isso. Era um cara bastante esperto, ou pelo menos me enganava direitinho. Havia a poss ibilidade de escolhermos uma prostituta. Mas seria a ltima carta do baralho. Cont inuvamos a lista: - A Andria fiel ao Antenor. - A Paulinha muito espinhuda. Naquela poca, ser espinhuda era um dos piores defei tos. - A professora de Geografia... - Voc est maluco? - perguntei indignado pela mente suja de Mrio. - Ouvi dizer que ela transou com um cara do primeiro colegial. - Duvido! Ela professora, no ia fazer isso respondi defendendo a minha professora preferida. Mas era verdade. Tanto que, anos mais tarde, pegaram os dois se amas sando na sala dos professores. Foram expulsos da escola. Alm de boa professora, e la era muito romntica; foi o que me garantiu o cara do primeiro colegial, antes d e ser descoberto e expulso. Nunca aprendi tanto Geografia como com aquela profes sora romntica. - A filha do dono da padaria - continuou Mrio a lista. - Quem? Foi ela, depois de um ms de trabalho duro para convenc-la. Dissemos que ou vamos boatos a respeito de sua frigidez, e que isso era doena. Mesmo sem saber o q ue significava a palavra frigidez e preocupada com sua "doena", ficou alguns dias perturbada, at nos provar o contrrio no forro da padaria. Aparentemente, me senti outro homem depois do ato. Mas, no fundo no fundo, aquilo mais me deprimiu do q ue outra coisa. Principalmente porque a menina continuou acreditando que era doe nte. Foi minha terceira lio: sexo no tudo na vida. Depois de termos nos desvirginad o, percebemos que no havia mais nenhum grande problema para ser resolvido em noss as vidas. E isso era um problema muito srio. Passamos a freqentar a fbrica de sabo abandonada para colecionarmos conversas sobre a nossa situao existencial. Nunca chegamos a ne nhuma concluso. Mas era um lugar bonito, afastado da cidade, afastado de tudo. Fi cvamos horas olhando para o cu, deitados no grande gramado, reclamando do tdio, faz endo planos para o futuro, reclamando do solido da adolescncia e de como ramos infe lizes fora daquela fbrica abandonada. ramos muito infelizes. E solitrios. De uma co isa tnhamos certeza: no iramos mofar naquela cidade. Isso no. Num domingo, Mrio jogav a sinuca no Shopping Scarpa. Ele era fera em sinuca. Eu ficava do seu lado, s admirando. O sujeito que perdeu o jogo ficou revoltado p ela humilhao e chamou a sua turminha. Insinuou que ns ramos "viados" por estarmos se mpre juntos. Brigamos. Mrio jogou um deles contra a vitrina de uma livraria. Eu m ais apanhei que bati. Depois daquele domingo, sair de Sorocaba passou a ser ques to de honra. Mrio ganhou a parada: seu pai foi remanejado para So Paulo e toda a fa mlia se mudou. Nos despedimos na noite anterior, deitados no gramado da fbrica de sabo abandonada. Estvamos tristes. Quase no falvamos. Olhvamos para o cu estrelado e pensvamos: a vida. Num dado momento ele falou, sem t irar os olhos das estrelas. - Antes, imaginavam que o universo era esttico. Mas no. J se sabe que ele est em expanso. Houve uma exploso e ele est em expanso. Olho para mim e disse mais uma vez:
- O universo est se expandindo. Continuei olhando para as estrelas. Caiu uma lgrim a do meu olho. Caiu uma estrela. a vida... Ele se foi. Passei a sentir muita fal ta do amigo e muita inveja. Ele estava estudando num colgio de nvel, se preparando para entrar numa faculdade. At que comecei a perturbar os jantares da minha famli a. Vocs esto me tornando um homem sem futuro! Um dia joguei a cartada final: iria fazer cursinho em So Paulo para tentar entrar numa Faculdade de Direito. Isto emo cionou meu pai: um advogado na famlia. Uma estrela em expanso. No ano seguinte, eu estava morando numa penso na Bela Vista, So Paulo, matriculado no Cursinho Univer sitrio, na mesma classe que Mrio. No princpio me instalei num quarto grande, com trs beliches onde, alm de outros estudantes, moravam figuras estranhas, que estavam sempre isoladas. Figuras de poucas palavras e muitos mistrios: parecia que fugiam da polcia. Quando vagou um pequeno e mido quarto no poro, insisti com o dono da penso na necessidade de um futuro advogado ter o seu prprio espao. Prometi que, assim que me formasse, iria defend-lo durante cinco anos sem cobrar nada. Encantado com a possibilidade de ter um advogado, mesmo sem nunca ter precisado de um em toda sua vida, ele c oncordou. Passei para o pequeno quarto de duas camas, um armrio grande com um esp elho quebrado, uma mesa de frmica vermelha, uma cadeira e um rdio. Estava timo. Ach o que foi a primeira vez que me senti dono de mim mesmo. Na primeira noite, me l embro de mal ter conseguido dormir, tamanho o nmero de possibilidades que se abri am. Foi minha quarta lio de vida: todos tm o direito de se sentir o chefe. Mrio pass ou a dormir com freqncia na outra cama. Com o rdio a mil, aquele pequeno mundo se t ransformou numa pista para a decolagem das nossas fantasias. Se no entrssemos na f aculdade, poderamos assaltar bancos, seqestrar filhas de milionrios, montar organiz aes guerrilheiras, ser figuras estranhas, de poucas palavras e muitos mistrios. Est a guerra invisvel comeou com o roubo de placas de trnsito. "Proibido Estacionar", " D a Preferncia", "80 km/h", "Respeite a Sinalizao"... Meus dias eram quase sempre ig uais. Assim que acordava, enfrentava uma fila no nico banheiro da penso. Quando no tinha saco para esperar, me lavava num tanque de gua gelada que ficava ao lado do quarto. Em seguida, tomava caf da manh na companhia de outros hspedes (o preo estav a includo). Ia para o cursinho a p, caminhando umas cinco quadras. Assistia s aulas , almoava um sanduche por ali mesmo e passava as tardes andando sem destino, desco brindo a cidade. Quase todos os dias me perdia, at que percebi que no havia nenhuma lgica nas ruas e avenidas de So Paulo. Com o tempo percebi que o prprio bairro da Bela Vista no tin ha a menor lgica. Moravam desde negros descendentes de escravos a imigrantes ital ianos, que se estabeleceram ali com as melhores cantinas da cidade. Vrios cortios; num deles moravam s travestis. Vrias bocas de fumo, escritrios de multinacionais, muitos colgios, muitos mendigos, prostitutas solitrias, drogados. Aquilo no era um bairro. Parecia mais um zoolgico. noite sempre jantava na penso (p reo tambm includo), trocando olhares com a filha do dono, que nos servia. Ela era cafona mas gostosa. Usava um batom preto que me impressionava muito. Foi a primeira mulher que vi usando um batom preto. Era uma pessoa enigmtica: s apare cia na hora do jantar. Eu tinha curiosidade de saber o que ela fazia o resto do dia, mas o mximo que conseguia era olhar para ela entre pratos e talheres. Um dia cheguei tarde na penso e, ao tentar abrir a porta do quarto, vi que estava tranc ada. Subi para a sala de TV e esperei. Depois de quase uma hora, passou apressad a a menina do batom. Mais atrs, noutro ritmo, veio Mrio. Foi quando descobri que e m nossa amizade havia uma diferena fundamental: ele tinha sorte com as mulheres. Eu no. Talvez fosse um dom. No fundo no fundo, nunca tive muita competncia no meu desemp enho com uma mulher. Timidez. Complexo de inferioridade. Falta de talento. Sei l. Isto me preocupou no auge da adolescncia. Como me preocupou... Cheguei a pensar que eu podia ser um homossexual. Mas, com o tempo, aprendi que o que eu queria n uma mulher no se encontrava a cada esquina. Alis, acho que nunca se encontra. Um d ia fomos convidados para uma festa na casa de uma colega do cursinho. Era a filh a do dono de uma companhia area que morava no Morumbi. Dois convites transados on de se lia em letras garrafais: traje a rigor. Alugamos a roupa numa loja barata de figurins de teatro, pegamos um nibus e descemos a duas quadras da manso. Na port a, um bando de penetras era barrado por um porteiro elegante com um walkietalkie
na mo. Duas Mercedes estacionadas em cima da calada impunham respeito. Eu nunca t inha visto algo semelhante. Furamos o bloco de penetras, pedindo licena com voz f irme. Mostrando os convites para o leo-de-chcara, Mrio abusou: - Avise por esse aparelhinho que j chegamos. No precisam se preocupar. Entramos, e , j no fim do corredor, percebemos que ramos dois patinhos fora d'gua: cara de burg us, burgus ! ngela Sauer, a dona da festa, nos ue recebeu simpaticamente; ficamos vo ntade. Garons serviam bebidas e salgadinhos. Me servi de Ballantines com gelo. Nu ma das salas, msica, umas pessoas danando meio devagar. Vrios grupinhos conversavam ; pareciam animados, num deles, uns cinco sujeitos altos, loiros, queimados do s ol. Eram caras fortes, que riam alto e tinham dentes lindos e brancos. No eram ho mens. Eram robs. Mquinas perfeitas. Provavelmente jogavam bem futebol, nadavam melhor ai nda, esquiavam na neve, no mar, voavam de pra-quedas, de asa-delta, surfavam. Fiquei deprimido e deixei Mrio para trs. Fui at a piscina, onde havia pessoas menos perfeitas. Todos, de uma maneira geral, eram bonitos, o que confirmava uma anti ga teoria minha de que a beleza diretamente proporcional ao dinheiro. O cu estava limpo, estrelado. Fiquei caminhando pelo jardim. Desci por uma escada e fui dar numa quadra de tnis, cercada por umas rvores. Ao longe via a Marginal do Pinheiro s e o contorno iluminado da cidade. Era uma bela vista. Fiquei com vontade de su bir e perguntar ngela Sauer se por acaso ela, ou seu pai, tinham o costume de ir at a quadra de tnis para ver a vista. Era to bonita. - No sou mais adolescente! - disse uma menina quase aos gritos, encostada no muro . Era um casal que discutia. Sa um pouco de lado, fingindo que no ouvia. O rapaz c horava. - Voc precisa crescer, parar de ser to reservado - ela dizia meio maternal mas fur iosa. - No d mais... No d mais! Pegou a bolsa, deu meia volta e saiu sem deixar rastro. Ele abriu um be rreiro. Senti pena. - , RINDU! - algum me chamava do outro extremo da quadra, deba ixo de umas rvores mal iluminadas. - CHEGA MAIS... Caminhei na direo da voz pulando por cima da rede. Ao me aproximar , percebi que eram cinco pessoas. No centro, Candi me apresentou: - Este aqui o Rindu, um colega do cursinho, surpreendente figura... - disse dand o uns tapinhas irritantes nas minhas costas. - Oi -murmuraram. O que ser que ele quis dizer com "surpreendente figura"? Eu nem conhecia o cara direito! Me passaram um cigarro aceso. Dei uma tragada que arde u na garganta. Olhei o filtro procura da marca. - Isso maconha - me alertou um deles. - claro que maconha - eu disse. Nunca tinh a visto, nem fumado. Traguei, e continuei tragando, tragando... - Nossos ideais, por mais que lutemos contra, so os ideais da concentrao de renda d isse o barbudinho. - S! - respondeu um mirradinho com os olhos bem vermelhos. - Estamos aqui para defender o sistema e prosseguir com ele - continuou o barbud inho. - S, eh, eh, eh! - repetiu o mirradinho. - Eu no sou de direita - foi categrico o barbudinho. Respirou fundo, deu uma pausa e, nos olhando por cima do ombro, continuou. - Sou um liberal... - E da? - perguntei. - E da? Ora, e da. E da nada! - me olhou furioso. Eu no queria ofend-lo. S estava inte ressado. - E que a gente estava discutindo o socialismo disse Candi percebendo que eu tin ha pego o bonde andando. Quase perguntei "e da?" para Candi, mas fiquei quieto. - S, eh, eh, eh! - repetiu o mirradinho. Continuei tragando, tragando... - Eu acho que no s isso - disse uma menina curvada. - Existem mais coisas na vida alm de poltica. Existe uma energia que... Depois de ouvir a palavra "energia" desliguei. Odiava esta palavra. Passei a observar a ex presso de cada um. O mirradinho no parava de rir, balanando a cabea constantemente. Ao mesmo tempo, Candi conversava com outra menina. A curvada era a que parecia m
ais entretida. O barbudinho... Era desses barbudinhos que falam sem parar, sempr e com um ar de dono da verdade, mantendo um profundo desprezo pelo seu pblico. Er a um idiota. De onde eu estava, dava para ver o contorno da cidade. Como era bon ita! Me lembrei de perguntar para ngela Sauer se ela ia l, de vez em quando. De re pente, a curvada pegou no meu brao e perguntou: - No verdade? Eu no tinha prestado ateno a uma s palavra. - S! - respondi para a felicidade do mirradinho. Estava com muita sede e um pouco tonto. Sa da rodinha sem ser notado. Subi a escada, deixando para trs aquele deba te intil. Ao redor da piscina, as pessoas estavam mais animadas. Molhei meu rosto com um pouco de gua e peguei mais um copo de Ballantines. Um rapaz danava com ele gncia, com os braos bem abertos e o palet desabotoado. Fiquei preocupado achando qu e ele poderia cair na piscina. Mas no. Ele girava sobre um eixo imaginrio, numa co mbinao perfeita com o ritmo da msica. Sua parceira, em compensao, era um desastre com pleto. Uma baixinha desengonada que parecia ter os ps chuibados no cho. Dava pena. A festinha animava e mais e mais pessoas iam at a piscina, saltitantes e alegres. Pareciam pipocas. Tirando o rapaz do terno desabotoado, o resto era medocre. Enco stado sem muito equilbrio a uma mesa, acabei derrubando uns copos que se estraalha ram no cho. Sa de mansinho, atravessando o ptio, at entrar numa das vrias salas da ca sa. - Por que voc est fazendo isso? Olhei para trs; era novamente o casalzinho brigo. De sta vez, era ele quem perguntava e ela quem chorava. Que tdio... Percebi que a sa la estava vazia; talvez quisessem deixar o parzinho a ss. No sei por que continuei ali sem ser notado. Ele a acusava: - Voc se acha a dona da verdade, com esse ar orgulhoso! Mas no consegue enxergar q ue eu sou um cara diferente. - No qu? - ela perguntou ironicamente. - Qual que ? Desde quando voc deu para desejar emoes, paixes? Voc uma garota mimada q e devia fazer anlise! - PARA DE FALAR SO DE MIM! - ela gritou. Estava furiosa. Pegou a bolsa e disse: Estou cheia desse papo! Passou por mim esbarrando no meu brao. A bolsa caiu. Eu a peguei pedindo desculpas. Sem me encarar, tomou a bolsa e saiu. O rapaz se apro ximou e disse alguma coisa que no entendi. Concordei com a cabea. No fazia diferena. - No um absurdo? - perguntou. - . um absurdo. Passei para outra sala onde vi Mrio a nimado, conversando em uma roda, o centro das atenes. Me aproximei. - Ah, ei-lo! Queria apresentar meu confidente mais sacana. Rindu. - Oi! - murmuraram. Ele estava bbado. O que quis dizer com "confidente mais sacan a"? Se apoiou meio torto no meu ombro e sussurrou no meu ouvido: - No vai roubar nada pois estou paquerando a dona da festa. Foi quando percebi Mri o segurando a mo de Angela Sauer. Perdi a vontade de lhe perguntar se ela conheci a a vista da quadra de tnis. Olhando para uma parede cheia de quadros, Mrio pergun tou: - Que retrato aquele? - Sou eu quando criana - respondeu ngela sorrindo. - Um tio pintou. Essa ngela era realmente simptica. - E aquela mulata, a empregada? - Mrio perguntou se referindo a uma pintura no muito antiga. - Aquele Di - respondeu ngela. - E o nome da empregada? - perguntei tentando ser simptico. - No. Di Cavalcanti, um pintor. Pausa. No falamos mais nada. Jogaram algum na pisci na; a velha cena da festinha em que todo mundo cai na piscina. Fiquei fora dessa . Mrio se amassava com Angela Sauer num sof. Percebi que ele tentava enfiar a mo po r dentro da camisa dela. No canto, os mesmos cinco superhomens riam alto. Estava m na mesma posio. Voltei a ficar deprimido. Vi que poderia fazer o papel de palhao e me atirar na piscina ou ir embora. Fiquei com a segunda opo. Na porta, uma menin a com pressa esbarrou em mim. Era a namorada chorona do garoto choro. Estava chorando. Nervosa, reclamou: - Voc vai sempre se colocar na minha frente quando eu passar? - Fui contratado para dar encontres nas pessoas - respondi. 22 de 131
- Ora, eu tenho problemas demais. V se me esquece! Ela estava bastante nervosa. A ndvamos na mesma direo. - Calma, j te esqueci. No se preocupe: se um dia assassinar seu namorado, no vou te reconhecer. Eu tambm e stava nervoso. - Qual que ?! Nem te conheo... Deixei este "interessante" dilogo para trs e virei a esquina indo para o ponto de nibus. Tinha pavor de pessoas nervosas. A rua estava deserta. Dava para ouvir de longe o barulho da festa. Que festa... No passava nenhum carro e era bem provvel que nibus, s de manh. Comecei a me arrepender de ter ido tal festa. Esperaria meia hora, seno, iria a p. Parou u m carro na minha frente. O vidro abaixou e, inclinando o corpo, vi que quem esta va dentro era a garota da briga. Ficamos nos olhando por um tempo, at que ela fal ou: - No passa nibus a esta hora. - Eu s vou roubar este poste - respondi. Ela abriu um sorriso bonito. - Quer uma carona? Aceitei. Foi a minha primeira namorada. Nome: Cntia Strasburgu er, a menina com o sorriso mais bonito que j vi, filha do dono de uma cadeia de s upermercados e a melhor amiga de ngela Sauer; que tambm iniciou um romance com Mrio . Foi uma poca interessante: saamos em pares pelos bares de So Paulo. No existia uma grande paixo, apesar de Angela ser uma garota muito simptica e Cntia ter uma sorri so muito bonito. Alm da companhia, o que mais me atraa naquela histria era poder do rmir com a filha de um milionrio numa cama de molas de uma penso vagabunda. Creio que Mrio pensava a mesma coisa. Da parte delas houve a mesma curiosidade: transar em com dois sorocabanos que no pertenciam aristocracia paulista. A luta de classe s foi o ponto de partida do nosso relacionamento. Mas era bom. Cntia era uma meni na inteligente, cheia de idias malucas e criativas. Passvamos horas falando de tud o, discutindo at os detalhes. Eu adorava discutir com ela. No se entregava. Mesmo que eu conseguisse provar que ela estava errada, no se entregava. Era uma guerrei ra. Nunca queria perder. Finalmente, quando ela se cansava, abria o sorriso lind o. Comecei a achar que aquele sorriso era uma arma, pois eu sempre falava "est be m, voc ganhou", s para v-la sorrir novamente. Era um lindo sorriso. Com o tempo as discusses foram ficando compridas e mais agressivas. Um dia, ela falou num acesso de raiva que eu era pssimo na cama. Fiz fora para no me importar, mas acabei ganha ndo um dos maiores complexos da minha vida. Brigamos. Foi o fim. Em seguida, Mrio acabou dispensando a coitada da Angela Sauer que no tinha nada a ver com a briga . "O povo, unido, jamais ser vencido." O que mais lamentava era saber que no teria uma discusso daquelas to cedo, nem veria um sorriso to bonito. O universo em expan so... Mas isso foi h muito tempo. Acordei cedo, um costume da minha vida interiorana: "A vida dura para quem cedo madruga", o ditado. Abri a porta do outro quarto e vi que Martina dormia profund amente; sozinha. Mrio ainda no voltara. Fui dar uma volta na Veraneio. Tive um pen samento idiota: se estvamos numa caverna quando o "fenmeno" comeou, poderiam existi r outros sobreviventes, se que posso dizer assim, nas profundezas da Terra. Era idiota, mas no custava sondar. Debaixo do Viaduto Paraso, encostei o carro rente p arede e pulei para dentro da estao do metr atravessando um vo. As luzes de mercrio es tavam acesas. Madrugada, hora de limpeza e manuteno. Circulei perto das bilheteria s; pisava leve, precavido. No havia sinal de vida. Fiquei um pouco apreensivo j qu e a estao era imensa, cheia de corredores, becos, escadas; um labirinto. Esse tipo de lugar me deixava muito apreensivo. Mesmo assim, fui em frente. Pulei as role tas e desci uma escadarolante desligada. Um rudo, quase como um apito, aumentava medida que eu me aproximava da plataforma. Era o vento que soprava. Havia alguns faxineiros lavando o cho. Estavam duros, como que cobertos por uma fina capa de plstico; o reflexo da luz branca das lmpadas de mercrio produzia esse efeito. Encos tado parede, um rdio chiava. Desliguei-o. Fiquei um tempo observando os faxineiro s. No mexiam um milmetro. No respiravam, no piscavam, nada. Que ridiculo... Ouvi um barulho vindo do tnel. Alguma coisa se mexeu. Estranho. Cheguei perto e ouvi novamente; parecia que alguma coisa se arrastava por entre os trilhos. Estava escuro. Fiquei quieto, sem me mover. Pausa. De repe nte, o estouro: vrias ratazanas saram em histeria de dentro do tnel. Gritavam se am ontoando umas nas outras, correndo loucamente em minha direo. Seus olhos estavam v
ermelhos: me encaravam com os dentes para fora. Filhas da puta! Estavam me ataca ndo. Comecei a correr. Elas me perseguiram. Percebi que estavam me forando a corr er para a outra extremidade da plataforma, para dentro do tnel. Desgraadas! Havia uma cmera de circuito interno presa no teto. Dei um pulo e me agarrei nela com os dois braos. Com as pernas balanando no ar, deixei que passassem por mim descontro ladas. Corriam, corriam: uma procisso macabra. Foram passando, vrias delas. Me agarrei mais firme aumentando a distncia entre meus ps e elas. Entraram na outr a extremidade at sumirem, deixando para trs um rastro de plos, mijo, bosta e fedor. Filhas da puta! Devia ter levado a metralhadora para arrebentar aquelas cabeas n ojentas. Fiquei um tempo na mesma posio, olhando para baixo. O brao comeou a doer. F ui me soltando aos poucos at ficar com os ps no cho, mantendo os braos esticados, pr onto para mais um salto, se fosse preciso. Como sou estpido! Por que tinha de me meter ali? Por que no subi as escadas para fugir? Porque ness as horas em que se tem de tomar uma deciso rpida, eu sempre tomo a mais idiota? Ficar pendurado numa cmera de circuito interno com ratazanas malditas me ameaando. Puto e assustado, voltei subindo a escada rolante, prestando ateno at no movimento da poeira suspensa. Parecia que de um momento para o outro iriam voar sobre mim ratazanas de todos os tamanhos e cores. Pulei para fora da estao e me tranquei no carro por um bom tempo, depois de examinar se no havia ratos no cho, debaixo do b anco, no porta-luvas, at no meu bolso. Ento eram vocs os sobreviventes que eu esper ava encontrar? Malditos! Me lembrando de Mrio, fui at o prdio da ROTA; castelo, for te, ou sei l o que era aquilo. Seu carro no estava onde eu tinha deixado. Sabia. E le era tarado por aquele carro; talvez por isso eu o tivesse deixado no departam ento de polcia para provoc-lo. Isto, de uma certa maneira, me tranqilizou. Mrio est por a, com o seu carro. Logo el e aparece. Guiei at o Centro Velho. Na Praa da S, a Catedral permanecia com os porte s abertos; os portes da... paz. As pombas estavam completamente neurticas e agress ivas. Davam rasantes ameaadores sobre a minha cabea ou pousavam a poucos metros te ntando me intimidar. Revoluo dos bichos?! Vrias se encontravam estateladas no cho, m ortas. Outras brigavam entre si, distribuindo bicadas e patadas. Havia penas por todos os lados e um cheiro ruim. Arrombei a porta de um pequeno supermercado na extremidade da praa e arrastei para fora alguns sacos de farinha, arroz e milho. Fui amontoando tudo no centro da praa. - COMIDA, SUAS ESTPIDAS! Como se entendessem o que eu tinha dito, um bando de pom bas chegou de todas as partes se jogando umas contra as outras. - CALMA. SEJAM EDUCADAS. Subitamente comecei a ouvir o ronco de um motor. A prin cpio pensei que fosse um gerador qualquer, ligando automaticamente. Mas medida qu e o ronco se aproximava, confirmei que estava ouvindo um jato. Esperei. No havia dvidas: um avio sobrevoava a cidade deSo Paulo. Olhei para o cu procura de confirmao. Mas no consegui localizar nada. At as pombas repararam, pois pararam de comer e fi caram mais apreensivas. Um avio sobrevoava a cidade. Entrei na Veraneio e corri at o Aeroporto de Cumbica. O avio poderia pousar na cidade! Uma misso de resgate! Os japoneses! Ou um pas qua lquer. Desci a toda a Marginal, desembocando na Dutra. Uma misso de resgate vinda de um lugar onde o "fenmeno" no tinha ocorrido. Vieram investigar a maior cidade do pas. Souberam do que aconteceu e vieram nos salvar. Pisava fundo, tocando a bu zina, olhando para o cu. Eles tm de pousar no aeroporto. Claro que eles vo. Ao me a proximar de Cumbica, no notei nenhum sinal do ronco do jato. Estacionei no porto d e desembarque, tirando a chave do contato por precauo. Peguei o machado e atravess ei o saguo, onde algumas pessoas permaneciam imveis. Corri at o ptio dos avies. No sen ti aquele cheiro de querosene que qualquer aeroporto tem. Vi uma dezena de Boein gs estacionados. O vento carregava papis e mato. Uma camada fina de poeira cobria toda a extenso da pista. Esperei. Onde esto os japoneses? Nada! Depois de um tempo, peguei um jipe carregador de bagagens e sem dificuldad e andei por entre os avies. Nada. Nenhum sinal de uso. Foi imaginao? No era um avio a jato que sobrevoava a cidade? Esperei. Nada. Fui at a cabeceira da pista pensando em como seria bom encontrar alguma testemunh a de todo aquele caos. Comecei a pensar que podia enlouquecer. Ratos atacando. P essoas duras como que cobertas por uma fina camada de plstico. Poeira cobrindo a pista. Avies abandonados. A cidade deserta: Pombas esfomeadas. Portes da Catedral
escancarados. Jesus, preso a uma cruz, exprimindo... paz. Observei a imensido da cidade. O que seria feito daquilo tudo...? No era possvel que depois de uma histria cheia de guerras, pestes, invenes, a raa humana terminasse num abandono completo. Era ridculo. Esperei. Nada. Voltei a pensar na possibilidade de estar morto. Ante s de virar p, percorria espaos guardados na memria. A cidade. Os animais. No. No era possvel. Eu nunca tinha ido ao Aeroporto de Cumbica. Eu o via claramente, no poder ia estar imaginando, muito menos estar morto. No. Ter entrado numa outra dimenso d o tempo tambm no era possvel. Os animais se mexiam normalmente. Se por acaso eles e stivessem tambm paralisados, seria uma hiptese forte: o meu tempo, o de Mrio e o de Martina estaria superacelerado, dando a impresso de tudo parado. Mas no. Os anima is, a poeira, os relgios, contestavam esta teoria. Ento, que merda estava acontece ndo?! Uma meia dzia de cachorros andando juntos atravessaram a pista lentamente. Estava m calmos e despreocupados. O ltimo deles era um filhote, que pulava, brincava com os outros, parava e corria para alcan-los. Eles no sabiam o que estava acontecendo . Fiquei com inveja deles. Encontrei Martina deitada no sof, com um livro na mo. - Por onde voc andou? - Por a. Examinando a cidade. Est abandonada, vazia... - Seu amigo ainda no apareceu - disse irritada. - Daqui a pouco ele aparece. Ele precisa disso: ficar sozinho. Era verdade; eu conhecia Mrio como ningum. - E, mas a gente tem de ficar junto! Ela estava mesmo irritada. Me sentei na sua frente, estiquei as pernas sobre a mesa e relaxei. Pausa. - Voc ouviu algum avio a jato sobrevoar a cidade hoje? - perguntei. - No - respondeu sem tirar os olhos do livro. Ser que imaginei aquilo? Suspirei de cansao; muito cansao. Martina parecia atenta a o livro, ou pelo menos fingia muito bem. Pausa. Ela no estava muito a fim de papo . Mesmo assim, perguntei honestamente: - Voc acha que morremos? Percebi que o dia estava rendendo mais. O tempo demorava para passar e, pior, no tinha muito o que fazer. A vista da janela parecia uma p intura: esttica. Fui dar uma volta. Passou a ventar umidamente. Em seguida, pingo s grossos comearam a batucar 26 de131 no cape. Chuva. O ritmo mecnico dos limpador es de prabrisa me mantinham atento. Eu gostava de chuva principalmente quando est ava dentro de um carro. Dirigia com cuidado para no ser surpreendido por carros l argados no meio da rua. Parei em frente ao edifcio do Nariz, um traficante que fa zia ponto no cursinho da Bela Vista. A chuva aumentou escondendo o enorme prdio c om formato de um "S", um agitado cortio. No tinha nada para fazer. Peguei o machad o, abri a porta e corri at o hall me desviando dos pingos. No cheguei a me molhar muito. Olhei ao redor; no havia ningum. Um forte cheiro de mijo por toda parte. As paredes estavam descascadas, pichadas com vrios palavres. O lixo, amontoado no cho. Um agitado e sujo cortio. Caminhei at o elevador chutando uma sandlia perdida. Era um vcio: chutar coisas perdidas no cho. Subi at o dcimo andar e procurei o apart amento do Nariz entre dezenas de portas. No me lembrava do nmero, mas no seria difci l, j que a maioria dos seus fregueses deixava recados escritos em cdigo no batente da porta. Nariz era batuqueiro da Vai-Vai, escola de samba vizinha ao cursinho. Ficamos amigos por causa do seu ofcio. Era um bom profissional, diferente dos ou tros mal-humorados traficantes da regio, que trabalhavam sempre apressados e nerv osos, como se houvesse um policial escondido em nossos bolsos. Nariz servia a su a clientela diferentes tipos de maconha e deixava experimentar sem nenhuma press a. O estranho era que ele prprio no sabia avaliar a qualidade da mercadoria. Se eu dissesse que era bom, ele me segurava nos braos e dizia orgulhoso: - Voc sabe, Alemo, que s trabalho com coisa boa. Mas se eu dissesse que era ruim, e le concordava. Se desculpando, afirmava que havia uma tremenda crise no mercado. Engraado que eu tambm no sabia avaliar se era bom ou no. Era inexperiente. No entant o, sempre chutava: um dia dizia que era bom, outro, que era ruim. E tudo bem. "A lemo" era como ele chamava os que no eram negros. Uma vez fomos fumar no estaciona mento. No meio do baseado, pintou no sei de onde um Ttico Mvel. Engoli aquele cigar ro aceso. Eles desceram do carro de arma na mo. - Mo na cabea, os dois! Quietinhos... Sentiram o cheiro, examinaram nossos olhos, mas no encontraram nada. Onde que est o bagulho? - perguntou um deles rindo. No saba
mos de nada, j ouvimos falar de maconha, t bom, j fumamos, uma vez, no, no conhecamos nenhum traficante, ramos estudantes do cursinho, estvamos ali passeando, temos faml ia, sim senhor, no, no somos vagabundos, no senhor. Documento, claro, documento. Nome, pai, me, RG, data de nascimento, sim senhor, no senhor... Ficamos um bom tem po naquela situao. Eu cagava de medo. Nariz era rude com os caras, falando no mesm o tom, declamando alguns chaves de Direito. Um deles no se conformava. Queria dar um pau na gente ali mesmo. O filho da puta me dava chutes na canela. Doa demais. Era um covarde, filho da puta. O que parecia ser de patente mais alta era o mais calmo e objetivo. Sabia que no tinha provas contra ns. Fez um longo discurso mora lista; pedindo para no nos envolvermos com traficantes ou drogas, que deveramos es tudar para o bem do Brasil. Nos ameaou caso nos encontrasse mais uma vez naquele ponto. Finalmente foram embora, depois de o inconformado me dar um ltimo pontap na canela. Filho da puta! - A partir de hoje, voc meu scio - declarou Nariz apertando a minha mo. Sabia que o termo "scio" no queria dizer que iramos repartir os dividendos do seu negcio. Scio e ra a categoria que adquiria o direito de filar alguns baseados sem pagar. Era o segundo escalo nesta estranha ligao: consumidor e vendedor.. Encontrei a porta do meu "scio". Dei uma machadada na madeira e consegui entrar. Fcil. No havia ningum dentro do apartamento. A sala tinha uma TV em cores, um jogo de sof de plstico imitando couro e um enorme poster do Palmeiras na parede. Fui at a cozinha procurar a panela de presso dentro do forno. Era onde ele guardava a me rcadoria (o lugar ideal, pois qualquer problema, era s ligar o forno). Na panela havia de tudo: quase um quilo de maconha, vrios pacotinhos de cocana, uns comprimi dos e ampolas. Enfiei tudo dentro de um saco e fui embora. Descendo de elevador, me assustei com um raio que caiu por perto. A luz foi enfraquecendo at apagar. T udo escuro. Merda! Apertei os botes do painel, mas nada aconteceu. Bosta! Forcei a porta at abri-la. Estava parado entre um andar e outro. No era meu dia. Com um p ulo consegui alcanar a sada de emergncia e ficar na parte de fora do elevador. Tudo escuro. Apalpando, senti a porta pesada de um andar qualquer. Enfiei o machado. - O Mrio apareceu? - perguntei entrando. - No! - respondeu secamente Martina, sem tirar os olhos do livro. O mesmo livro. Subindo a escada, ouvi quando perguntou: - Onde que voc esteve? Numa noite, ficamos com a sensao de que de um momento para o outro a porta se abriria e Mrio, com um enorme sorriso, iria nos explicar as raze s do que estava acontecendo. Mas nada dele. Martina lia. Vez ou outra eu provoca va: - Vamos jantar fora? Ela ficava parada, concentrada nas pginas do livro. Tentava enxergar atravs de seus olhos. O que estava pensando? Eu tinha mania de fazer iss o. Imaginar o que os outros estavam pensando. No fundo, no fundo, meu grande son ho era ser telepata. Desses que do shows na TV. Entraria com uma belssima assisten te loira. Ela vestida com uma roupa transparente, sexy. Eu, de fraque e cartola. Ela circularia pela platia, escolheria um espectador e perguntaria: "Mestre Rind u, o que esse homem est pensando?". E eu responderia e acertaria na mosca. Aplaus os. Eu me inclinaria e adivinharia outros pensamentos. Este foi meu grande sonho . Para falar a verdade, eu queria mesmo era saber o que os outros pensavam. Eu e ra to confuso. Pensava em quinze coisas ao mesmo tempo, embaralhava as idias e era difcil de tomar decises. Se eu soubesse o que as pessoas pensavam, eu diria as pa lavras certas, as palavras que elas queriam ouvir. Um dos meus maiores problemas era que nunca dizia as palavras certas, na hora certa, com a pessoa certa. Mas isso faz muito tempo. Por que Martina est lendo aquilo? No tem outra coisa para fazer? Se bem que no tinh a nada para fazer. Pena que eu no gosto de ler. A chuva continuava forte. - Vamos remar por a? - brinquei mais uma vez. Ela no riu. Logo a Martina que gosta va tanto de falar, contar histrias. O que ser dela? O que ser de mim? Era como esta r preso num labirinto. O tempo. O vazio. E ela no tirava os olhos do livro. - O que voc est fazendo? - perguntei j angustiado. - Estudando. Tinha um trabalho para entregar. Por precauo... Foi a coisa mais estpi da que ouvi naquelas duas semanas. Mrio no apareceu. E eu j estava de saco cheio. O s japoneses no apareceram. Nem no Aeroporto de Congonhas, aonde eu fui dar uma so
ndada. Tinha recomeado a roer as unhas feito um condenado; um vcio da infncia. Ro ta nto que j no tinha mais unhas. Passei para um vcio indito: esfregar os cabelos. noit e, ficava esfregando os cabelos, torcendo para que as unhas crescessem. Martina continuava a estudar. Eu, bem, eu bolava um prximo vcio. Me lembrei da nica vez em que eu estudei pra valer. Foi quando chegou a hora e a vez do vestibular, h uma p orrada de tempo. No dia da inscrio, assim que recebi a ficha, numa atitude que nun ca compreendi direito, acabei colocando como primeira opo de carreira Biologia. Fi quei excitado quando vi a quantidade de opes no formulrio e que poderia decidir o f uturo da minha vida com um msero "xis" num msero quadradinho. Achei pouco para a i mportncia da minha vida. Por isso mudei. No comentei com meu pai que no haveria mai s um advogado na famlia. Talvez um professor de Biologia de uma escola pblica. O d ono da penso tambm foi privado da notcia. Ele sempre me lembrava do acordo que tnham os estabelecido (cinco anos sem cobrar nada). Mrio se inscreveu em Engenharia, so rteando Engenharia Civil como primeira opo. Ficamos neurticos. As placas de trnsito foram substitudas por esquemas, formulrios e mapas. Meu forte era Histria e, obviam ente, Geografia. O dele: Matemtica, Fsica e Qumica. Por incrvel que parea, eu tinha u ma noo medocre de Biologia. Toda tarde, depois das aulas, nos trancvamos no quarto d a penso onde dvamos verdadeiros shows um para o outro. Nosso cotidiano se transfor mou numa prova de vestibular. No jantar, comparaes entre enzimas e protenas. Debaix o do chuveiro eltrico, os eltrons. Fazamos sambinhas: "H2O na Avenida", "Cromossomo Sambista", "Esta noite eu vou cair de clula", assim por diante. Era uma poca gosto sa. Eu estava completamente tomado pela loucura do exame quando participei, junt o com toda a classe, de um saque e quebra-quebra na feira livre que funcionava s quintas na rua de trs do cursinho. Roubei trs melancias, apesar de detest-las. Misso cumprida. Entramos na faculdade. A famlia vibrou. Acho que foi a primeira ve z que senti orgulho de mim mesmo. Meu pai me deu de presente um exemplar da Cons tituioBrasileira e do Cdigo Penal (de grande "utilidade" para um bilogo...). J Mrio ga nhou um carro zero. Ele no tinha entrado na primeira opo, mas em EngenhariaEltrica ( para quem tinha sorteado, no fazia a menor diferena). Num fim de semana que passei em Sorocaba, meu pai me convidou para bater um papo na Churrascaria Jardim Tropical, a melhor da cidade. O resto da famlia no foi convidado. Estava orgulhoso, e abraado a mim me levou para uma mesa do fundo. Pediu uma picanha e pela primeira vez deixou escolher meu pr ato. Brindamos com cerveja (que odiava, mas tudo bem) e ficamos um tempo em silnc io. Pude observar que sua calvcie havia aumentado e que ele estava com o tique de alisar os poucos cabelos que restavam. - Voc est realizando um grande sonho... Meu pai, ao contrrio, me obrigou a trabalha r quando eu ainda era garoto. No me deu a chance de estudar numa faculdade - deu um tempo, alisou os cabelos e perguntou com um sorriso maroto: - Como que l? - No conheci direito. Eu s fui fazer matrcula. - Tem muitas garotas? - perguntou olhando para os lados. - Talvez. Pausa. Deu um gole na cerveja. Eu fiz o mesmo para no decepcion-lo. - A gente precisa conversar mais. Voc nunca me falou das suas namoradas, sua vida l em So Paulo, seus "pobremas"... Meu pai era desses caras que falavam "pobremas" . - Pois . Precisamos conversar mais - foi a nica resposta que encontrei. Eu estava comeando a ficar triste. No consegui conversar mais, apesar de ter tentado pensare m algo. Chegou a comida. Ficamos um bom tempo em silncio. Nos servimos e comemos sem nos encarar. Quando terminou de comer, ele enxugou a boca com o guardanapo, alisou os cabelos e falou: - Sabe, Rindu. Seu pai, apesar de muita batalha pela vida, um sujeito frustrado. No quanto a minha famlia, pelo contrrio, vocs s me do motivo de orgulho. Mas que a m ioria dos meus colegas aqui de Sorocaba subiram na vida, estudaram. Hoje eles so algum. Tm uma profisso digna. Meu sonho na juventude era ser veterinrio. Um grande v eterinrio. Mas o mximo que consegui foi esta loja de ferramentas. O pai do Mrio, po r exemplo, trabalha na capital, deu um carro de presente para o filho... Garanto que o Mrio se orgulha do pai que tem. Agora eu... - os olhos ficaram umedecidos. Voc se orgulha de mim? - Claro, pai- respondi. Eu j estava completamente triste.
- Ah, voc nem se lembra do seu pai... - ficou um tempo quieto at se recompor. Depo is, passando a mo no cabelo, perguntou, para o meu alvio, se eu queria sobremesa. Naquele momento me imaginei velho levando um filho para o restaurante, falando d as minhas frustraes como bilogo. A cena se repetiria. Como a vida triste... E no h o que fazer. Vou levar meu filho para o restaurante e vou falar que sou um frustra do. Que merda! O universo se expande, mas a vida continua triste. Na sada, depois de ter pago a conta, ele me abraou perguntando: - Como so as mulheres paulistas? Ele me mostrou, sem querer, que a vida uma idiot ice. Eu o abracei e disse: - So mulheres incrveis... Comecei o curso sem muito entusiasmo. As nicas coisas que me motivavam eram as vi agens que fazamos para pesquisa de campo. A primeira foi uma excurso pela Serra do Mar, para analisar a vegetao da regio. Um tempo depois eu arrumei um emprego, pens ando em alugar uma casa s para mim: empalhar cobras no Instituto Butant. Um professor havia me arrumado a vaga com a promessa de que com o tempo eu seria promovido a inspetor. Era um trabalho solitrio e fedorento. Minha sala era no fi m do corredor, um lugar escuro e deserto onde eu passava despercebido, a tal pon to que um dia o segurana do Instituto me barrou a entrada com o chavo "no permitida a entrada de estranhos"; eu j estava h trs meses trabalhando l. Minhas companhias n o trabalho eram duas cobras, que viviam em cativeiro na minha sala, e nunca seri am empalhadas por serem de uma espcie rara; talvez por isso gostassem de mim. Qua ndo eu chegava, elas ficavam excitadas dentro do cativeiro, se movendo de um lad o para o outro. Era a nica hora em que se mexiam. No resto do dia, ficavam imveis com os olhos grudados no meu trabalho. Sacanas, gozavam das pobres cobras que eu ia empalhar. Sacanas e sdicas. De fato, depois de seis meses, eu fui promovido. Passei a fazer malabarismo com as duas cobras sacanas quando recebia excurses de estudantes. o que eles chamavam de inspetor. Resumindo, deixava que passeassem p elo meu brao, beijava suas cabecinhas e explicava algumas peculiaridades desse es tranho rptil ovdeo, com o nome cientfico de Lystrophis Cope, popularmente conhecido por Cobra Coral. Eu adorava aquelas cobras. O salrio melhorou e eu pude alugar o pequeno sobrado em Pinheiros, claro que somando uma ajuda mensal do meu pai. Os anos foram passando e descobri que a nica coisa que fazia relacionada comBiologi a era malabarismos com cobras. Pensei at em montar um show no Largo do Paissandu e ganhar mais dinheiro. Porm o respeito cincia me fez mudar de idia. Fiz presso e consegui ser novamente promovido: passei a coletar veneno de cobras para soro antiofdico. Mudei de prdio, deixando minhas companheiras sacanas para trs . Ganhei um salrio melhor. Mas fiquei arrependido quando soube, um ms depois, que as pobres corais morreram de inanio. Tinham ficado tristes com a minha ausncia. Com o a vida triste... Mrio era um aluno irregular, sempre rachando de estudar na vspe ra das provas. Ficou popular no dia em que trocou socos com o professor mais odi ado da Politcnica. Depois, quase foi jubilado; por pouco no esmurrou o diretor do curso. Era um cara intranqilo. Cheguei a perguntar por que ele no largava engenhar ia e entrava para o mundo do boxe. Continuvamos superamigos, confidentes, padres, mdicos... O segundo quarto do meu pequeno sobrado era freqentado por ele e suas m uitas amiguinhas. Havia manhs em que eu cruzava com absolutas desconhecidas prepa rando caf e me perguntando: - O que voc est fazendo aqui? - Esta casa MINHA! - eu respondia sem pensar muito. Eu nunca agredi nenhuma daqu elas intrometidas. Ao contrrio, fui o imbecil que disse para uma delas que ele teve de viajar, enqua nto ele estava com outra no quarto. Fui o imbecil que teve de fazer sala para ou tras garotas, comprar OB no meio da noite, esperar mocinhas apanhar um txi, entre outras coisas. Eu era um imbecil. Tudo por causa de uma maldita promessa; nunca o abandonar... Depois disso, veio o italiano, a espeleologia, Martina, Clrico, a viagem para a G ruta da Rainha... O universo em expanso. Faz tempo. Outono
Ainda chovia torrencialmente: Como chovia... A gasolina da Veraneio estava na re serva. Fui at um posto e enchi o tanque sem pagar; ainda estranhava este abuso. Aproveitei e fui circular pela cidade com os, vidros fechados e faris acesos. Peg uei a Radial Leste e atravessei toda a periferia me enfiando na desordem de ruas e vielas e avenidas e alamedas e praas e ruas... aquilo parecia no ter incio ou fi m, como um ovo estalado. No vi nenhuma alma viva; estava j completamente desespera do com a situao toda. E sem a ajuda de Mrio, que continuava sumido. Cruzei morros e vales cercados por muretas. Terrenos baldios, prdios, favelas, fbricas caindo aos pedaos, casas de todos os tamanhos e cores. Cruzei com cachorros que perseguiam gatos que perseguiam ratos que, desta vez, no me perseguiam. Se assustavam com o barulho do motor e estupidamente, ao invs de se esconderem, corriam atravessando na frente do carro. Alguns duros "conversavam" em suas varandas. Nos pontos de ni bus sempre havia um, ou em p ou cado, exposto ao tempo. Quantas palavras estariam sendo ditas ao mesmo tempo se no tivesse acontecido o "fenmeno"? Quantos casais se amando? Olhava ao redor e percebia que era dono de todas as coisas, mas me sent ia distante e com medo, absorvido por pensamentos embaralhados. Nada fazia senti do. Aquela cidade cheia de coisas estava me dando um tremendo vazio. Onde estava o nosso universo em expanso? Maldito universo! Acelerei at o limite da velocidade do carro, deixando o volante tremer na minha mo. Os pneus espalhavam a gua que a chuva deixara sobre o asfalto. Acendi um baseado. Merda de vida! Fiz de tudo par a passar o tempo, mas parecia que os relgios andavam para trs. Assisti a uma porra da de filmes, li uma porrada de revistas velhas e andei por quase toda a cidade na porcaria daquela Veraneio. Estava desesperado. At quando? Tinha arrepios toa; quando ficava desesperado sempre tinha uns arrepios estranhos. Martina foi se en clausurando aos poucos, como se estivesse se punindo por alguma coisa. Mal trocva mos uma palavra. Para falar a verdade, nos conhecamos muito pouco. Ainda estranha va seu jeito: conhecia a Martina da USP, da rua, do social, mas a Martina do dia -a-dia era diferente, alis, como todo mundo. Eu no tinha com quem conversar, j que ela no me inspirava. Passei a falar sozinho. Falava de tudo. Contava piadas, narr ava jogos de futebol, qualquer coisa para fazer o tempo passar e diminuir os arr epios. Me lembrei muito de Cntia Strasburguer com o seu lindo sorriso e suas idias maluca s. Lamentei estar dura. Poderamos ter grandes discusses. Cheguei a ir at a sua casa , perto da de ngela Sauer. Mas no havia ningum. Ela e a famlia deviam ter endurecido em Campos ou em Ubatuba, j que tudo acontecera num feriado prolongado. Uma vez, eu e Cntia discutimos horas porque ela queria que queria ir para a frica, "recuperar as razes perdidas". No conseguia acreditar: uma burguesinha paulista, loira como uma nrdica, achar que tinha alguma raiz na frica. Ela argumentava falan do que, antes de ser descendente de europeus, ela era brasileira e portanto tinh a influncia africana. Era uma menina engraada, cheia de idias malucas. Comecei a se ntir falta de Mrio. Saudade e raiva por ele ter desaparecido, me deixando na mo. E u prometi nunca abandon-lo. Ele no. Por que no fiz ele prometer? Ao mesmo tempo pas sei a duvidar de que ele estivesse apenas querendo ficar sozinho. Poderia ter ac ontecido alguma coisa. Certa manh cheguei a pegar a estrada para Sorocaba convenc ido de que ele tinha estado por l. Estava tambm curioso para ver a minha casa, min ha me, meu pai, meus irmos gmeos. Meus pais estariam provavelmente dormindo tranqilo s no seu quarto. Meus irmos, ou cavando buracos no quintal, coisa que eles adorav am fazer de madrugada (pareciam dois tatus), ou jogando baralho no meu antigo qu arto. Eram verdadeiras pestinhas. Nunca dormiam. Nem de noite, nem de dia. Tinham energia para fazer as maiores ba gunas. Mas eram dois garotos muito legais. Acho que herdaram s as coisas boas do m eu pai. Eu, provavelmente, as ruins. Dirigia naquela estrada sentindo saudades d o Cludio e do Clvis, seus nomes. Mas no sei por que, depois de uns vinte quilmetros, a meia hora de Sorocaba, parei o carro. Fiquei com medo. Medo de ver a famlia du rinha. Medo de ver o Clvis e o Cludio duros, cavando buracos. Medo de ver Sorocaba tambm naquela situao. Abandonada. Era bvio que Sorocaba tambm fora atingida. Se no, j teriam vindo at a capital. Merda! Voltei. Finalmente a chuva parou. Ufa! Fez um dia limpo, azul de ofuscar a vista. Entrei no quarto de Martina, abr i bem a janela e tirei sua coberta: - Vamos dar uma volta antes que voc apodrea!
Ela foi. Fomos at a Avenida Paulista. A luz do sol fazia do asfalto um espelho. S ubi no cap e percorri com os olhos toda a extenso da avenida. A luz dos faris verde , vermelho, verde, vermelho, refletida no asfalto. Nenhum movimento, exceto o ve rde, vermelho... Invadimos uma lanchonete, onde com sorvete e sucrilhos tomamos um estranho caf da manh. Era daqueles caras que no ligavam a mnima para a alimentao, p ara a sade, para nada. Um rudo ritmado se aproximava aos poucos. Era um galope. Vi mos um cavalo correndo em nossa direo. Um cavalo! As patas batiam fazendo um barul ho por toda a avenida. Passou por ns espirrando gotas de suor. Era um puro-sangue, preto, alto, galopando velozmente at sumir. Parecia fugir de alguma coisa. Mrio. Entramos no carro e peguei a Avenida Rebouas em direo aoJquei. Ma is adiante cruzamos com outros cavalos em disparada. Jquei, s podiam ser de l. Na p onte que cruza o Rio Pinheiros, logo aps o Shopping Eldorado, diminu a velocidade at parar. Mrio estava sentado no cap do seu carro. Estava rindo. Nos viu e estourou de rir. Apontou para a margem do rio. - a lei da selva! Lei da selva! Selva fil ha da puta! Duas jaguatiricas devoravam o corpo de um cavalo estatelado no cho. C omiam arrancando a carne do animal, deixando aquilo balanar entre os dentes. O gr amado estava coberto pelo sangue do pobre cavalo. Fiquei horrorizado. Martina qu ase vomitou e tapou os olhos com a mo. Eram jaguatiricas, podia reconhecer: esbel tas e manchadas. Estranhei, pois so carnvoras, mas no costumam atacar animais de gr ande porte. Alm do mais, o que estavam fazendo ali? Olhei para Mrio. Ele riu. Martina reclamou: - Voc est bbado! Em seguida entrou no carro. - V se foder! V pra casinha da mame! V criar galinhas! - ele revidou. - Voc no liga a mnima para o que est acontecendo? Martina fechou o vidro. - a selva. Selva So Paulo!!! - ele gritou atirando uma garrafa vazia no rio. Ele contou que passou os dias rodando pelo interior. Campinas, Limeira, Piracicaba e, como eu tinha imaginado, Sorocaba. Disse que no tinha uma porra de uma pessoa viva. Pergu ntei se ele tinha estado na casa dos meus pais. Tinha, tinha estado l; estava tud o quieto. Perguntei se ele tinha visto meus irmos gmeos, cavando buracos no jardim . Ele disse que no. Ainda bem: melhor estarem duros no meu quarto, jogando baralh o. Um falava mais que o outro, quase ao mesmo tempo. Disparei e contei tudo o qu e tinha acontecido, dos ratos, do elevador quebrado, dos filmes, das pessoas dur as na periferia. - Voc acha que estamos mortos? - perguntei. - Bem, acho que... - Eu ouvi um jato. - Jato?! - ele estranhou. - Um avio a jato? - Ro quase todas as minhas unhas... - Um jato? Ser possvel? Eu tambm vi um jato, um Jumbo, s que espatifado perto de Vir acopos... - Olha s, nem tenho mais unhas. Agora esfrego o cabelo o tempo todo. - Um jato... ser que era alguma expedio? - Voc se lembra da Cntia Strasburguer? Eu fui na casa dela, l no Morumbi. No tinha n ingum. - Quer parar de falar! - ele reclamou. - Voc est me deixando confuso. Pausa. Fiquei quieto. Mas louco para voltar a falar. Ele estava pensativo. Recla mou mais uma vez: - E quer parar de esfregar os cabelos! Parei. Estava morrendo de saudade dele. M e sentia fraco quando Mrio no estava ao meu lado. Sempre sentia isso. E no tenho ve rgonha de dizer. Era profundamente dependente dele e incapaz de tomar grandes de cises sem antes consult-lo, mesmo conhecendo a sua irresponsabilidade, a sua impru dncia. Era um cara intranqilo, mas quando tomava uma deciso era to convicto que suas atitudes, por mais doidas que fossem, pareciam sempre as mais lcidas. Ele podia fazer as maiores cagadas, mas para mim sempre tinha um toque de genialidade. Era o lder ideal da minha guerra invisvel. Foi o meu dolo por muito tempo. Muito tempo . - O que vamos fazer? - perguntei ansioso. Ele abriu um leve sorriso e respondeu: - Vamos esperar. E tomar um porre. O sol tinha acabado de nascer e j estvamos na e
strada, atravessando uma forte neblina sem preocupaes com o que estaria na frente. A rodovia cortava bairros do subrbio, fbricas, algumas reservas florestais. Nas cinco pistas bem sinalizadas, havia alguns carros largados, espalhados aleat oriamente. Corramos a 150 km por hora. Destino: baixada santista. Martina no quis ir. Nada se movia na Rodovia dos Imigrantes. Saindo dos limites da cidade, a veg etao da Serra do Mar comeava a tomar conta do asfalto; pequenos arbustos cresciam n o acostamento. Ficvamos de olhos bem abertos, vasculhando as entranhas da florest a, procurando fumaa nas chamins das casas... Na descida da serra percebemos uma co rtina de fumaa escura que nos chamou a ateno. Algo tinha acontecido em Cubato. Param os no primeiro mirante. Ao longe, quase encostada no horizonte, a cidade de Sant os e seus vrios arranha-cus acompanhando a orla martima. Ao p da serra, uma viso estr anha: a floresta toda chamuscada. Subindo no parapeito do mirante, avistamos Cub ato destruda. Nenhuma construo em p, nem mesmo as refinarias ou tanques de leo. Tudo c oberto de cinzas e densa fumaa. No centro, uma enorme cratera. O que era aquilo!!!? O horror... No acreditvamos. A cidade completamente destruda.. . Descemos a serra at onde era possvel; a exploso arrancara um longo trecho do asfa lto. Caminhamos sobre tocos carbonizados, fagulhas, pedaos de ferro, cinzas. Havi a um forte cheiro de queimado e alguns focos de incndio ainda resistiam ao vento. Os pequenos barracos de madeira que margeavam a estrada foram reduzidos a p. O i nferno de Cubato. - Deve ter explodido a merda da refinaria comentouMrio. Fiquei chocado. At ento as pessoas, as cidades, as mquinas e at os animais se encontravam intactos. Parados m as intactos. J Cubato, destruda, era a imagem do caos, o fim de tudo. Fiquei tonto de repente. Imaginei os corpos dos moradores carbonizados, tostados, p. Era horrve l ver aquilo. Era horrvel o inferno, o fim. Merda! - Vamos at a praia! - falou Mrio com uma voz calma. Fomos at a outra extremidade da pista; a parte intacta. Mrio fez uma ligao direta num caminho com a agilidade de um entendido. Prosseguimos viagem. Estvamos chocados. E se isso acontecesse em So Pa ulo? O fim. Entramos em Santos cruzando os grandes armazns do porto. Seguimos pel o tnel at as praias. Santos no fora atingida pela exploso. Santos estava em ordem de serta, mas em ordem. Pelo menos isso... Descemos na praia do Gonzaga. Ventava bastante e o sol estava forte. Caminhamos at perto da gua. Havia pequenas ondas que quebravam na areia. Havia movimento. Gai votas mergulhando em busca de peixes. Peixes emergindo em busca de ar. Vento emp urrando gros de areia. Movimento. Ao longe, uma fileira de cargueiros estava esta cionada na linha do horizonte. Abandonados. Aves marinhas voavam sobre eles. Ima ginei cruzar aquelas guas como os antigos exploradores e descobrir o que existia por trs do alcance dos olhos. frica, onde Cntia Strasburguer acreditava estarem sua s razes. Seguimos a p por uma tal de Avenida AnaCosta, que cortava a linha de arra nha-cus e ia at o centro. Gritamos: - TEM ALGUM A? Repetimos vrias vezes, olhando para as janelas dos prdios. Mas no havi a respostas. - TEM ALGUM A? Pelo jeito, ningum. Paramos na tal Praa Independncia (qual cidade no te m uma praa chamada Independncia? Se no se chama Independncia, se chama Liberdade). - Isso parece uma piada - disse Mrio. - S pode ser uma piada. Ns somos pessoas sem nenhuma importncia. Eu, voc e aquela me nina babaca, fazendo o qu? - Ser que esta exploso causou tudo isso? perguntei. Ele no respondeu. Ele nem prest ou ateno no que eu dissera. Ele quase nunca prestava ateno no que eu dizia. Era um do lo fajuto. - O que me intriga por que eu, voc e Martina? Por que estamos vivos? Por que nos deixaram vivos? O que eles querem da gente? - perguntou apontando para algumas pessoas duras sentadas num bar. - Viemos aqui para ver se encontrvamos alguma coisa e o que achamos foi aquela ci dade queimada e esta aqui cheia de areia. Merda de areia! - disse chutando um pe queno bolo que tinha se formado na guia. Fomos at o porto. Velhos armazns, contain ers e caixotes no meio do ptio. Navios de vrias nacionalidades acorrentados no cai s. Guindastes gigantescos largados, com os cabos de ao pendurados. Alguns ratos c orriam. Muitos pssaros. Bandeiras de vrios pases. Inteis bandeiras. Na Ponta da Prai a, entrada do porto, havia um grande cargueiro encalhado prximo areia. Estava inc
linado e imvel. Muitas gaivotas no convs. Circulavam por entre os mastros, expulsa ndo pequenas aves intrusas. Tudo ali lembrava abandono. At mais que em So Paulo. A t quando?... frica. Olhei mais uma vez para a linha do horizonte. - Eles vm nos buscar. Temos de esperar - comentou Mrio. - Chega de viajar, de encontrar estas merdas de cidades vazias! Estou cansado. V amos esperar que eles vm nos buscar - repetiu apontando para o horizonte, para a f rica. Ser? Ele virou o brao mais esquerda, deixando de apontar o horizonte para apontar a ou tra margem do canal. Ele apostou: Vamos ver quem chega primeiro? Mexeu com meus brios atlticos. Poderia ser o meu dia de ganhar: nadar no era o seu forte. Tirei a roupa ficando s de cueca. Ele tirou tudo. Um, dois, e, j! Corremos e mergulhamos ao mesmo tempo. Nos primeiros cem metros eu estava com uma vantagem de dez corpo s. Era realmente um dolo fajuto. Mais cem metros e os msculos comearam a repuxar. E le nadava de costas. Era um otrio. Mais cem metros, comeou a me faltar flego. Ele e stava ao meu lado. Estava cantando. O desgraado nadava cantando! Quando finalment e cheguei a um pequeno cais sujo de leo, sa da gua me arrastando, com o pulmo para f ora e pernas e braos estraalhados. Levantei a cabea e vi Mrio sentado num grande pne u de borracha. Ele no disse uma palavra. Era um gentleman. Recuperado o flego, ele me perguntou: - Por que voc nada de cueca? Que pergunta! Sei l por que nadava de cueca. - Pro pau no balanar - respondi. Ele me deu um tapinha no ombro dizendo: - Velhas encanaes... Que papo idiota. Velhas encanaes... Mrio s vezes era um idiota co mpleto. Depois de um tempo, ele disse: - Sabe, sempre tive a impresso de que todo mundo estava de olho em mim. Todo mund o. A famlia, os professores, as garotas, o mecnico do meu carro, o porteiro do meu prdio, o cara da padaria, o jornaleiro... - Voc meio paranico- disse dando um tapinha no seu ombro. Ele continuou: - Agora... estamos sozinhos. to estranho, mas estamos sozinhos. No tem ningum de ol ho em mim. Posso me sentar em qualquer lugar, entrar em qualquer lugar, gritar, nadar pelado, fazer o que quiser que no incomodo ningum. Abriu os braos, olhou para mina e disse: - Estamos livres... Livres? Voltamos para So Paulo noite. Martina passou por ns se m fazer qualquer comentrio. Eu estava cansado. Antes que comeassem a discutir, fui para o meu quarto. Tranquei a porta. Me deitei, ser que a exploso de Cubato tem al go a ver com tudo aquilo? S perguntei. No respondi. Afundei a cabea no travesseiro. Livres. Estvamos livres? Uma porta bateu. Martina chorando. Me afundei mais no t ravesseiro e no colcho. Entre a vida e o sonho, apostei no sonho. frica! Era estranho andar por So Paulo noite, sem nenhum teatro ou cinema ou restaurante ou bar ou uma porra qualquer para ir. Era estranho no ver os milhares de carros levando casais a um programa misterioso, no ver. uma garota expondo o corpo numa pista de dana qualquer. Onde estavam os mistrios de uma esquina mal iluminada, o b eco sem sada. o mendigo tropeando nos prprios calcanhares de bbado, o balco de bar, o travesti de bunda de fora, o chofer de txi sonolento, o adolescente fumando nerv oso? Onde estavam as peregrinaes da vida e da morte? Onde estava a noite? - Se isso estivesse funcionando, te convidava prum cineminha - ele me disse quan do passamos em frente ao Cine Belas Artes. Pensei se no poderamos entrar e ligar o projetor. Poderamos. Descemos a Rua da Consolao. A maioria das lmpadas nos postes ainda estava acesa. At quando? No por muito tempo, tnhamos certeza. Fomos at a Boca. Os neons e luminosos continuavam acesos. Porteiros duros e prostitutas ainda se ofereciam pateticamente a fantasmas. Para mos o carro na Boate Hollywood (Ginger Rogers estaria fazendo um strip ?). Uma n uvem de fumaa se espalhou com a abertura da porta. Uma lmpada vermelha piscava epi leticamente no teto. Meninas sem roupas faziam poses sensuais, num palco cercado por espelhos. Lembravam manequins de vitrina de loja. Vrios homens sentados ao r edor olhavam, indiferentes. Mrio pulou o balco e voltou com uma garrafa de vodka e dois copos. Sentamos de frente para as meninas. - Ser que elas no esto sentindo frio? - perguntei. Mrio segurou um cinzeiro de vidro , mirou o teto e jogou, acertando em cheio a frentica lmpada. Pausa. - Sabe o que engraado? - perguntou.
- O que engraado? - perguntei. - Parece que estamos numa grande exposio de fotografias. Fotografias em trs dimenses. So Paulo se transformou numa galeria de arte, cheia de fotografias... No era engraado. No era nada. Mas era uma grande galeria de arte ch eia de fotografias. - Olha s - disse apontando para as meninas peladas. - No parece uma foto? Uma foto porn. Parecia. Principalmente por elas estarem bril hantes, como os funcionrios do metr, cobertas por plstico transparente. Olhei mais de perto. No era plstico. No era nada. Apenas impresso. - Ns j no estivemos aqui antes? - ele perguntou. No me lembrava. Era verdade que a m aioria daquelas casas tinha a mesma cara. Era verdade que j havamos estado numa bo ate da boca. Mas a Hollywood? Jamais guardava detalhes dos lugares a que amos. Co mo um caipira de Sorocaba, sempre me sentia como se estivesse invadindo propried ade alheia, quando ia a lugares noturnos. Um penetra. Depois que Mrio ganhou o seu carro, nos preocupamos mais intensamente com a vida. noturna da cidade. O problema era que no conhecamos os lugares moderninhos, com g ente moderninha, falando de coisas moderninhas. amos a locais sem nenhuma refernci a, sem saber se eram modernos ou antiquados, sem saber qual papel os fregueses r epresentavam, por vezes nos metendo em emboscadas: paquerar mulheres no gueto da s homossexuais. Uma noite, esperando um farol abrir, fomos atrados pelo nimo do gr upo que estava no carro ao lado. Quando acendeu o verde, passamos a seguir o tal carro, decididos a realizar o mesmo programa que eles. Eram duas garotas e um s ujeito que, divertidos, riam e apontavam para pedestres nas caladas: desatentos n a avenida, balanavam a cabea num ritmo qualquer acompanhando uma msica do rdio. Eram animados. Numa alameda estacionaram e desceram agitados. Seguimos o grupo. Compraram bilhetes num cinema e entraram. - Voc j viu esse filme? - perguntei aMrio. - Sei l! - respondeu tirando a carteira do bolso e comprando o ingresso. Duas hor as depois, estvamos novamente atrs deles, seguindo-os com cuidado para no sermos no tados. A menina guiava muito rpido, o que levou Mrio a imit-la com prazer. Finaliza ram a noite entrando num motel. Ficamos escandalizados. Os trs? O roubo do cotidiano dos outros virou rotina. Entramos em milhares de filmes, pea s e shows atrs de figuras annimas. Vrios vernissages, exposies, festas, sem despertar mos a menor suspeita. Era como se no tivssemos personalidade, gosto ou objetivo. E ntregvamos uma noite inteira aos outros. A regra era: escolhido o carro, teramos d e segui-lo sem objees. Doce sabor de no ter destino... Eu e Mrio ficamos em silncio v endo a "fotografia" das strip-girls : o silncio para ns no era constrangedor. Perce bi que estava sentindo saudades da multido nas ruas, dos bares cheios, da fumaa de cigarro, do "com licena", "um passinho frente, por favor", "o senhor vai beber a lguma coisa?", "quanto custa?", "muito obrigado". Estranho. Antes eu ficava afli to quando saa noite, para um programa qualquer. Depois, fiquei com saudades. Na v erdade, quando olhava para as outras pessoas, me sentia confortado em saber que eu no era o nico infeliz e que havia outros. Alm do mais, por mais que eu no gostass e de sair noite, era sempre bom ficar falando mal de tudo. - Vocs vo ficar nesse estado por muito tempo?- perguntei em voz alta. Mrio me olhou estranhando. Acordei cedo, encontrando Martina perdida entre a loua e os talhere s na cozinha. Foi a primeira vez que ela acordou antes de mim. - O que est acontecendo com seu amigo? perguntou invadindo meu estado sonolento. Martina nunca fazia rodeios: ia direto ao assunto. Me concentrei, apesar das est relinhas que passeavam na minha cabea. De manh eu era pssimo para conversar. - Talvez ele no goste mais de voc - tambm no fiz muitos rodeios. - Isso eu j tinha percebido. O problema que ele tem me tratado como se eu fosse uma imbecil. Voc sabe que eu no sou uma imbecil - disse coando o ouvido esquerdo. No, no era uma imbecil. Se bem q ue, coando o ouvido, fazia uma cara engraada. Mas no imbecil. - Acho que no est sendo fcil para nenhum de ns - ela prosseguiu. - Eu tambm estou sofrendo... Olhou para o cho como se no estivesse agentando o peso da cabea. Algumas lgrimas apareceram. Fiquei sem graa. Ela se recomps e assoou o nar iz num leno. Nossa, ela estava muito triste.
- Eu preferia estar na minha casa e que nada disso tivesse acontecido... E ainda por cima vocs me tratam como se eu no existisse. Comecei a ficar triste. - Eu estou to sozinha... Triste. Toquei em sua cabea. Nos abraamos. O choro aumento u. Suas lgrimas molharam o meu ombro. Pausa. Ela se virou, enxugou os olhos, me e ncarou e pediu desculpas. - Por favor, me ajuda. Ele no fala comigo. Diz que grudo no p dele. Eu estou sofre ndo... Se recomps mais uma vez e desgrudou de mim. Abriu a torneira e lavou o ros to. Com uma voz engasgada, anunciou: - J tomei uma deciso. S estava esperando voc acordar. Vou ficar um tempo na casa dos meus pais. Reparei na mala feita no canto da cozinha. - Mas por favor, Rindu, no me despreze. No voc. - No melhor a gente ficar junto? - tentei convenc-la a mudar de idia. - Tudo bem - ela tocou no meu rosto. - Eu vou estar bem... Pausa. Ficamos em silncio olhando o cho. No parecia mais aque la menina contadora de histrias. Muito menos a enclausurada, sentada sempre no me smo canto do sof, lendo sempre o mesmo livro. Ela estava triste, muito triste. E como se no bastasse, me deixou triste tambm. - Bom - ela falou me chamando a ateno. Te cuida, t? Deu um sorriso e um beijo na mi nha testa. - Voc sabe onde me encontrar... - Martina, deixa disso... Ela se foi. Que chato... Mais tarde, Mrio acordou, se s entou na mesa feito um porco e perguntou: - Onde est aquela babaca? No respondi. Martina foi decidida. Se instalou na casa d os pais sem dar notcias por um bom tempo. Mrio nem ligou. - timo, estou em paz! Fiq uei sensibilizado com seu sofrimento solitrio, indo visit-la alguns dias depois. A recepo foi calorosa. - Rindu, que bom que voc veio... - me deu um forte abrao. Ficou horas falando sem parar, contando da limpeza que fizera na casa, dos pratos que estava cozinhando, dos livros que estava lendo. Disse que tinha parado de estudar para o tal exame (j era tempo). Ela tinha encontrado um caderno cheio de anotaes, onde havia escrit o algumas confidncias da adolescncia; engraado, mas toda a mulher que conheci tinha um caderno desses (no sei como no existem mais escritoras que escritores). Ela le u para mim uma passagem. Uma bobagem qualquer a respeito de umas frias em que ela andou a cavalo. Gastou pginas descrevendo o cavalo. No era boa escritora, apesar de eu no entender nada de literatura. Sentado tmido, com as mos no joelho, eu parti cipava com breves "puxa", " mesmo", "e depois". Ela prosseguia rindo das besteira s que tinha escrito e de como era ingnua. Eu ia tambm. Passei a roer a unha do min dinho esquerdo, que j tinha crescido um pouquinho (enfim!). Depois, Martina se em ocionou quando disse da aflio que sentia em dormir no quarto vizinho ao de seus pa is endurecidos. Sempre amou a famlia, especialmente sua me, que considerava sua me lhor amiga, capaz de guardar os segredos mais ntimos da filha. Engasgou quando se lembrou de como a me ficara preocupada na primeira decepo amorosa; com um tal deFlv io. Ela fez cara de nojo quando se lembrou do sujeito; as mulheres sempre com ca ra de nojo quando se lembram de um antigo namorado. Quebrando um longo silncio, e la deu um sorriso e me ofereceu um ch. Aproveitei a deixa para lhe pedir mais uma vez que voltasse. Sua resposta foi resumida por uma frase: - Existem coisas entre um homem e uma mulher que nem uma bomba atmica resolve. Fi quei boquiaberto: achei a frase meio exagerada. - Como ele est? - perguntou interessada. Percebi que ela olhava com ateno as vrias c olheradas de acar que eu punha na xcara de ch. - Est bem - respondi ansioso para que ela mudasse de assunto. - Voc no devia pr tanto acar. Estraga o gosto. Parei, recolocando a colher no aucareir o. - Voc to engraado... - ela disse rindo. Por qu? Foi um pssimo comentrio. O que E faria depois? Mostraria a lngua e sairia fa zendo piruetas como um palhao? Foi um pssimo comentrio. Nunca antes algum me dissera que eu era engraado! - Voc est bem? - perguntou maternalmente aps me servir. Dei um gole no ch. - No. No est - ela respondeu por mim. Foi um alvio j que eu no sabia o que estava sent
indo. Voc est triste... Eu estava triste, era isso que eu estava sentindo. Encontr andoMrio, falei de Martina, de como ela estava sofrendo. Ele foi claro: - Voc no tem nada a ver com isso. Talvez no tivesse mesmo. - Como que se liga isso? - Sei l. No voc o engenheiro? - perguntei. Fez uma cara de sabido, voltou a examina r os painis e disse por cima dos ombros: - Fcil! Mexeu em alguns botes, girou o seletor de canal, deu uma porrada no monito r e perguntou categrico: - Ser que no tem um manual por a? Fui ver se os fios estavam conectados. Sa da loja, olhei para a imponente antena parablica. Sei l! Deve estar OK. No entanto, a imag em do monitor se mantinha cheia de rabiscos e sem nenhum som. Deixei Mrio vontade com o aparelho complicado e fui sondar a loja. Numa outra repartio, encontrei o q ue procurava: um vdeo-clube. J estava fazendo coleo de filmes: via um quase todas as noites. Eram os nicos seres humanos que se movimentavam, falavam, viviam. Estran hava assistir a um filme e em seguida sair por nossas ruas desertas. A paisagem deserta montona. como ficar um dia inteiro olhando para a mesma fotografia. Senti a falta do colorido dos transeuntes: roupas abbora, verdes, vermelhas... Pessoas de vrios formatos. Gordos desengonados. Camels aleijados. Uma menina lamben do um sorvete, um pai carregando um filho nos ombros, um vendedor de balas, outr o de bolas. Porm, me distraa com os atores maquilados, obedecendo aos berros de um diretor e de um produtor: "Represento, logo existo!". No era a mesma coisa, mesm o assim eu estava assistindo a uma porrada de filmes; qualquer dia meus sonhos s eriam legendados. Mrio resmungou qualquer coisa. Ao me aproximar notei que havia algumas imagens no monitor. Estavam pouco ntidas e com vozes que arranhavam os al to-falantes. Vrios crioulos sentados ao redor de uma mesa. A imagem saa do ar e vo ltava, ficando neste vaivm por algum tempo. - Esta antena est voltada para um satlite perto do Brasil. - O que esses caras esto fazendo a? - perguntei incrdulo. - Sei l. Podem ser marcianos. Podem ser da frica - disse me batendo no ombro. frica ! Um avio sobrevoa a cidade. Crioulos captados por uma antena parablica. Ou no estva mos sozinhos, ou comevamos a delirar. - Vai ficar com essa cara de bunda? - reclamei dando um tapinha no seu ombro. El e fumava sem parar, apoiado na janela do carro, pensativo, com um ar entristecid o; s vezes ele me roubava essa personagem. O engraado que quando Mrio ficava assim, imediatamente me batia uma agitao esquisita: tentava anim-lo, falava sem parar par a levantar o seu astral. Talvez fosse o equilbrio que tanto nos uniu: quando um s egurava, o outro empurrava. Tocava a buzina com insistncia, gritando pelas ruas d o subrbio. APAREAM, SEUS VIADOS! AL... VAMOS!!! TEM ALGUM A? - Se voc continuar falando "viado", ningum aparece - reclamou Mrio. Estava comeando a melhorar o humor. Na Marginal do Tiet, cruzvamos com placas que indicavam as estradas para outras ci dades. Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Braslia. - Vamos dar uma viajada - sugeri. Eu estava eltrico. - No. Melhor no. - Por que no? - perguntei. Ele demorou para responder. - Pelo menos aqui no tem sobreviventes neurticos perambulando por a ou nos atacando . Foi uma desculpa. Percebi pela sua entonao. Estaria preocupado com a Martina? No. No deveria me meter. Provoquei mais uma vez. - Vamos viajar. Melhor que ficar mofando nesta cidade. Foi pura provocao. Eu no queria nem um pouco viajar. Medo. - Mofando? Ento arruma alguma coisa pra fazer! No respondi. Para se manter a amizade era preciso tambm uma dose de surdez. Um pacto de compla cncia. Chegamos em casa j ao anoitecer. Nada de sobreviventes, muito menos de crio ulos. Eu continuava animadinho. Tomei um banho caprichado e desci para mais uma aventura cinematogrfica. Estiquei as pernas, estalei os dedos e fumei mais um, at ento s emoes da stima arte. Era um western, desses bem violentos. Mrio desceu mais ta
rde. A cidade de Ouro Vermelho j estava em chamas, seis otrios assassinados e o ba ndido com uma tremenda loira no colo. Ele se sentou ao meu lado (no o bandido), a briu uma garrafa de gim e ficou olhando para a tela sem perguntar do que tratava o filme. Olhava sem prestar ateno, longe, muito longe. Bebia no gargalo, bufava, olhava para a tela e ia para longe. Ficou em silncio, repetindo esses gestos at o final do filme. - Voc parecido com ela - eu disse. - Enquanto voc viajava e soltava os cavalos do Jquei, ela ficava nesta mesma posio, com a mesma cara. A diferena que ela lia. Era mais esperta... - Cala a boca! s vezes, a tal complacncia derretia. Uns dias depois, quando abri a janela do meu quarto, vi uma grande faixa pendurada no muro da frente. REUNIO DOS SOBREVIVENTES HOJE, DUAS DA TARDE NO CENTRO DE CONVENES REBOUAS COMPAREAM! Marti na. S podia ser. Fomos a p, j que o Centro de Convenes ficava perto. No sei por que, resolvi me vestir bem; raspei a barba, penteei o cabelo e passei um perfume que eu havia ganho quando tinha uns dez anos. Acho que queria impress ionar os "sobreviventes". Mrio caminhava tropeando nas fendas da calada. Estava bbad o. No dissemos uma palavra. Eu estava animado, ansioso por chegar reunio. Acho que vou me candidatar a lder dos sobreviventes. Talvez a prefeito da cidade. Farei um grande mandato, voc vai ver - eu estava infernal. Logo no hall de entra da, outro cartaz. A mesma letra. REUNIO DOS SOBREVIVENTES - 2? ANDAR Subimos por uma escada; tive de ceder meu ombro para ele se apoiar. Entramos numa sala de re unio que tinha uma mesa redonda, cadeiras e um crucifixo na parede. - Ah, ele tambm sobreviveu! - exclamei apontando para o crucifixo. Mrio riu. No da gracinha. Mas da situao. - Ridculo... - ironizou balanando a cabea. No centro da mesa, uma bandeja com bule, xcaras e um aucareiro. Caf quente. At nisso ela tinha pensado. Eu me servi pensando se muito acar estragava tambm o caf. Antes que a porta abrisse, enchi a xcara de acar e tomei o caf num gole. No estragou o gosto. Acho que no. Limpei com a manga do palet o pouco que cara sobre a mesa. Finalmente Martina entrou. Estava bonita, com uma cara viva, bronzeada. Quando me viu, sorr iu e me deu um longo abrao; estava querendo provocar os cimes de Mrio. Logo em segu ida, disse um oi para ele e me perguntou como eu ia indo. - Eu estou timo. Sentou-se de frente para Mrio e insistiu para que eu me sentasse ao seu lado. Rec usei educadamente, preferindo permanecer de p; no queria criar atritos. Ela comeou o discurso. - No vamos esperar os outros "sobreviventes"? - interrompeu Mrio irnico. Ela fingiu que no ouviu. Continuou. - O tempo est passando e estamos nessa situao sem muita escapatria. Estou ficando pr eocupada com o que vai acontecer. Apesar de ter algum que acha que no me preocupo com nada... - disse fitando Mrio. Ele fingiu que no ouviu. Martina se levantou, ap oiou as duas mos na mesa e falou num tom srio, representando sua personagem favori ta: - Qualquer sociedade vive em funo de uma meta, uma ideologia. Ns trs atualmente form amos uma microssociedade que precisa de alguns objetivos mais palpveis. Podemos d eixar o tempo passar, esperar que tudo volte ao normal, ou que chovam mortais. Mas a espera s pode nos levar loucura. Faz o qu? Dois meses? - Tentamos fazer contato com algum sobrevivente. - Mrio interrompeu. - Certo! Mas s isso basta? Estou tentando desenvolver uma idia mais profunda... - Profunda... - repetiu Mrio balanando a cabea. Se olharam rispidamente. Percebi qu e o crucifixo estava ligeiramente torto, alguns graus de diferena com as linhas d a parede. Fiquei perturbado com isso. - Voc parece uma sociloga falando em sociedade, ideologia - reclamou Mrio. - O que voc tem contra essas palavras? - perguntou Martina. Continuava aflito com o crucifixo. Caminhei at a parede e com um leve toque na base desentortei-o. Mar tina continuou pacientemente: - Somos o que est parecendo, uma raa em extino. Algum fenmeno idiota acabou com a hum anidade, por enquanto.
- Ainda cedo... - , e tem os crioulos - eu disse. - Isso besteira. Pode ser um aparelho retransmissor ligado a uma fita contnua exp licou Mrio, parecendo ter se informado; ou estava chutando. O crucifixo voltou a entortar. Arrumei de novo mexendo no prego que o sustentava. - O que voc prope? Esperar algum descer no aeroporto procurando por voc? - E o que voc prope? - ele perguntou finalmente para Martina. Ela se inclinou na c adeira e disse: - Temos o dever de continuar a espcie. Somos os escolhidos. Cabe a NS a tarefa de dar prosseguimento ao que j foi construdo. Tenho um filho com Rindu, outro com voc, e assim por diante. Podemos iniciar um e stilo novo de sociedade. - Que besteira! - interrompeu Mrio indignado. - Voc tem tanto amor assim pela espcie humana? Acabou de falar. O crucifixo foi ao cho. O prego no agentou. - Ela realmente se sente na responsabilidade de continuar... Bobagem. - Estou me referindo nossa prpria sobrevivncia. Seno, vamos ficar malucos - ela ins istiu. - Eu no vou ficar maluco, pelo contrrio, estou at me sentindo melhor - ele mentiu. - Por que voc no me leva a srio? - ela partiu para o plano pessoal. - Como vou te levar a srio com esse plano de engravidar, fantasiando criancinhas? - ele apelou. - E o que voc entende de gravidez? - ela revidou. - No entendo, mas sei que diferente de brincar de bonecas. Imaginei Martina rodea da por dez crianas, em frente de um quadro-negro, ensinando seus princpios poticos e coloridos de uma nova sociedade, exalando felicidade por todos os poros, com u m trofu de mulher do ano enfeitando o bero do mais novo. - Muito bem, e quando voc quer comear? perguntou Mrio desabotoando a cala. - Eu no acredito!!! - ela gritou. - O que voc tem na cabea? - O que VOC tem na cabea? - ele devolveu. Um crebro acinzentado e gorduroso, tmpanos ... Enfiei o prego num buraco da parede sem sucesso. Deixei o crucifixo em cima da mesa e sa sem ser notado. noite, fiquei sentado no meu lugar preferido, hipnot izado pelos movimentos na tela da televiso. Mrio entrou quebrando minha total conc entrao nas aventuras de um soldado solitrio. Foi direto cozinha, voltando com sua g arrafa preferida. Estava deprimido. - Dei um soco na cara daquela menina. Recebi de troco uma cadeira nas costas. - Bravo! - comentei. - Discutimos desde quando voc saiu, at nos atracarmos. - Que romntico... - Ela saiu correndo e eu fui atrs. Agarrei ela e tentei um beijo. - Choveram ptalas de rosas? - Ela me mordeu at conseguir se soltar - me mostrou marcas de dentes em seu brao. Acho que sou um idiota. Encostou a cabea na poltrona e, olhando para o infinito, no disse mais nada. Era u m idiota. Voltei a prestar ateno no filme. Meu soldado solitrio estava cercado por agentes da Gestapo. Se atirou da janela d o trem em movimento caindo num amontoado de feno. Limpou seu casaco com as mos, r iu do trem que seguia viagem, acendeu um cigarro e continuou pelos trilhos solit ariamente. Era um soldado e tanto. Rodava pela Avenida Celso Garcia para mais um a viagem de... reconhecimento: na realidade, quando no tinha o que fazer e queria ficar sozinho, saa pela cidade. Uma grande muralha circundava um casaro com uma p laca: FUNABEM FUNDAO NACIONAL PARA O BEM-ESTAR DO MENOR Pulei o muro. Passei pelo casaro que parecia ser a parte administrativa. Atravessei um extenso gramado: tal vez um campo de futebol. O vento estava forte, muito forte. Eu caminhava com cui dado, com os ouvidos e olhos atentos (m influncia dos filmes de guerra a que estav a assistindo). Era um "alvo" fcil naquele campo aberto. Cheguei perto de uns galpe s, todos fechados. Forcei a porta do maior deles; a maaneta estava enferrujada. Um vigia estava sentado imvel com uma barra de ferro perto dele. Segui um corredo
r at abrir uma porta dupla. Vi o enorme dormitrio repleto de beliches onde uma por rada de menores dormia de calo, cuecas, estirados, de bruos, completamente imveis. A lguns dormiam no cho, porque no havia camas para todos; eram os mais fraquinhos. O bservei cada um, garotos de quinze a dezoito anos, com expresso levemente triste. Fiquei triste. O saco que me deixava influenciar muito rpido. E a coisa mais fcil do mundo era me deixar triste. No era muito chegado em poesia mas, se fosse, seria o mais melanclico dos poetas, desses que so lidos em missas d e stimo dia, enterros, etc. Tinha meus dias de euforia, mas eram poucos. O resto do tempo, eu estava triste. Dane-se! No havia outros mveis no quarto. S beliches. Numa outra porta, encontrei um guarda-roupa coletivo. Tudo largado em prateleira s que iam do teto ao cho. Imaginei a prole de Martina dormindo em beliches, num g rande quarto com armrio coletivo e sendo preparada para dominar a cidade. Haveia quartos masculinos e femininos? No. Iriam dormir todos juntos. E a iniciao sexual? Permitiramos que garotas de 11 anos transassem com os moleques? Talvez. Iramos man ter a monogamia? Virgindade antes do casamento? Talvez. E se predominasse o homo ssexualismo? A "espcie" a que Martina se referia desapareceria. E quanto religio? Jesus? Moiss? Buda? Maom? A propriedade seria abolida? Bonecas coletivas? E quem seria chamado de "papai", eu ou Mrio? Papai-A e papai-B? A que tipo de fil mes eles teriam permisso de assistir? Drogas? Sem dvida, prolongar a espcie humana era uma tarefa complicada. Por preguia, decidi pensar depois. Fechei a porta do q uarto dos garotos levemente tristes e fui embora. Pensar melhor... EncontreiMrio agarrado a uma mangueira, lavando o seu carro. Lavando o carro... - Hoje domingo? - perguntei. - Vou sair por a; dar uma paquerada, j que a minha... Deu uma pausa comovente. Ten tou ser engraado e acabou se entregando. Parecia cansado. Falou num outro tom: - Eu fui at a casa dela hoje. Mas ela no estava. Toquei a campainha umas dez vezes . Acho que no tinha ningum. Ela tinha o direito de no abrir a porta se no quisesse m e ver. Mas acho que ela no estava. Responderia se estivesse. Ser que ele estava ap aixonado? Muito engraado se estivesse. Ele disse desligando a mangueira: - De uma coisa eu tenho certeza: no quero ter filhos. Isso ridculo! Subimos a Rua Augusta a 120 por hora. Era noite e eu estava guiando, completamente bbado. Preci sava de toda a pista para conseguir guiar, j que as luzes se fundiam na minha fre nte, como formas embaadas, engraadas. Os postes no paravam de balanar. Malditos post es! Eu ria feito um cavalo. Mrio, mais acostumado com o lcool passeando nas veias, gritava ao meu lado s gargalhadas: - Olha o poste! Em cheio. Bati de lado, amassando toda a Jataria. Parei, olhei p ara ele. Gargalhamos. Continuamos. Dane-se o carro! Cruzando a Avenida Paulista, diminu a velocidade quando no distingui mais a rua da calada. Cheguei a jurar que podia entrar com o carro numa lanchonete. Parei, fiz a manobra ficando bem de fr ente. Ele gritava: - No d! Eu gritava: - D! No deu. Amassei toda a frente do carro. Porra, jurava que dava. Merda de port a! Quase no final da rua, paramos o carro ao lado de duas meninas de minissaia e ncostadas a um outro carro. Mrio, abaixando a janela: - Vocs tm as pernas mais bonitas da cidade... Eu me estourei de rir. - Esse aqui o Rindu. Ele fica assim quando v muita televiso. - Oi - acenei envergonhado. - Vocs no querem juntar esses dois pares de pernas bonitas com outros dois pares m ais cabeludos? - Olha aqui - levantei minha cala e mostrei. - Qual o preo? - Shhhhh! - protestei. Mrio era um grosso. No entendia nada de mulheres. - U, so prostitutas, esto trabalhando. No entendia nada de mulheres. Um babaca ao lado de duas meninas to inocentes e que tinham pernas bonitas. - Ns estamos muito solitrios. Fomos abandonados por todo mundo - ele disse meio melanclico. Eu me estourei de r ir novamente.
- Venham com a gente. Meu amigo sabe contar timas piadas. Eu nunca soube contar p iadas. - O carro est meio amassado, mas que tm uns postes por a que no sabem dirigir ele er a bom de conversa. Ousadamente desceu do carro. Eu o imitei: abri a porta e desc i. Comeou a me subir um forte mal-estar do estmago. Respirei fundo. Ele falava faz endo carinho no cabelo de uma delas: - Todo mundo foi embora! S ficamos ns... No ouvi mais nada. As luzes passaram a gir ar. Meus lbios coavam. Tudo estava girando. Se concentre! Observei as duas sorrind o. Que pernas... Uma delas piscou para mim. Fiz fora pra retribuir dando um sorri so, mas meus lbios no me obedeceram. Mordi, mordi sem sentir nada. Meus lbios morre ram! O corpo no estava agentando. Fechei os olhos. Se concentre! Mrio estava entretido. Falava sem parar, j com o brao ao redor de uma delas. Preciso ir at l. As luzes giravam novamente. Mrio apontava para mim dizendo alguma coisa. Elas rir am. Gargalharam. Tentei retribuir. Olhei para o cu. Apaguei. Acordei com a cabea c humbada na cama. Fiz um esforo descomunal para me erguer. O lbio j tinha mais ou me nos ressuscitado (estava em coma). Eu estava de roupa e sapatos. A boca completa mente seca. Ressaca. Enfiei a cabea debaixo da torneira e bebi mais de um litro d 'gua. Me olhei no espelho e quase desmaiei: tinha olheiras do tamanho de um prato . Uma msica vinha do trreo. Desci encontrando Mrio sentado na frente do aparelho de som. - Voc podia pelo menos ter tirado meus sapatos - reclamei. Me sentei perto dele e perguntei no seu ouvido: - E a, como foi com as garotas? Minha cabea doa a cada acorde. Reclamei: - Tira esse disco! - No disco. Era o rdio que estava ligado. Como? Fiquei arrepiado. - Algum veio aqui e ligou. Quando acordei, encontrei a porta aberta. Voc sabe que freqncia essa? 100.9 Mhz. Uma rdio num prdio da Avenida Paulista. Fomos para l. No carro, ligamos o rdio. As msicas se sucediam, at que num dado momento, entrou a voz de algum: "ALO, OUVINTES DA RDIO FENMENO. ESTAMOS TRANSMITINDO EM CARTER EXPERIMENTAL, DEPOIS DE U M TEMPO EM QUE FICAMOS FORA DO AR POR PROBLEMAS TCNICOS...". No prdio, a maaneta da porta da frente tinha sido forada. Atingimos o ltimo andar por um dos elevadores. Entramos num salo. Mesas, telefone s, mquinas de escrever... Atrs de uma parede de vidro, avistamos Martina, com um h ead phone na cabea, ao lado de uma porrada de fitas e um sofisticado equipamento. Ele entrou no estdio e ficou de frente para Martina. Trocaram algumas palavras. Trocaram um longo abrao. Um beijo. Comovido, deixei os dois a ss. Mrio no dormiu em casa naquela noite. Muito menos Martina. Encostei a cabea no trav esseiro. Estava tudo muito quieto. Comecei a ter pensamentos sem nenhuma lgica, e mbaralhando rostos, paisagens. Eu, criana, cercado pelos meus pais. Eu levando Clv is e Cludio para o estdio de futebol. So Bento entrando em campo. O campo de trigo na estrada. Eu estava sozinho. Quando ficava sozinho pensava em muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem ficar sozinho. Tudo bem. Me imaginei fazendo amor com a p equena prostituta de pernas bonitas. Me imaginei fazendo amor sobre um tapete br anco, peludo. Ela no mudava de cara; sempre sorrindo, como uma esttua de gesso. Su as pernas no se mexiam. Brilhavam. Me lembrei da primeira vez que Cntia Strasburgu er arrancou o vestido e ficou nua na minha frente. Fiquei cinco minutos olhando para ela, boquiaberto. Parecia um corpo fosforescente; desvendando os segredos. As mulheres ficam diferentes quando esto sem roupa. Provavelmente os homens tambm. Cntia Strasburguer era outra. Era calma. Era frgil. Era um pouco envergonhada. Er a um pouco quieta. Ela, que gostava tanto de discutir, sem roupa no falava nada. Tinha outra cor. As mulheres ficam muito diferentes quando esto sem roupa. Muito. Me lembrei de Mrio, tirando a roupa e entrando no canal da Ponta da Praia, em Sa ntos. Suas pernas nadando. Seus braos esticando como borracha. Suas costas tensas . Molhadas, arrepiadas. No consegui parar de pensar. O passado e o presente se mi sturavam. O passado e o presente no tinham a menor importncia. O futuro no tinha a menor importncia: fotogramas soltos, espalhados na minha cabea. Uma bola de gs, sol ta na atmosfera. Eu no precisava viver. Bastava embaralhar os fotogramas. O prese nte pouco importava. Bastavam os fotogramas. Tirei a roupa e dormi.
Dormi pelado. Eu tinha muito pouco que fazer: um porto espera de navios. O casal vez ou outra vinha almoar comigo, mas dormia fora. No perguntei onde, apesar de c urioso; estava com preguia de perguntar onde. Eu os tratava educadamente. Parecia m envolvidos num romance exclusivo, intenso, sem papel para uma terceira persona gem. Ele espalhou por toda a cidade vrios aparelhos de rdio, sintonizados na estao de ond e Martina transmitia diariamente. Ela misturava msicas com avisos aos supostos so breviventes. A cidade ficou um pouco mais barulhenta. Fiquei entediado. Fiquei solitrio. Minha nica diverso era procurar lugares de onde eu pudesse ver, no s fins de tarde, o pr-do-sol. No perdia um. No topo de edifcios, nas praas, nos morros. Via a cidade, o cu e o avermelhado do pr do-sol. No sei por que fazia aquilo. Alis, eu nunca sabia por que fazia uma porrad a de coisas. Mas eu gostava de ver as muitas tonalidades que o cu ganhava nos fin s de tarde. Gostava principalmente de ver o sol afundando no horizonte. "O sol no apenas novo a cada dia, mas sempre novo continuamente", era o que estav a pichado numa pracinha. O universo em expanso. Assim so as coisas. Um dia eu quis mais, muito mais. Fui ao mirante do Pico do Jaragu. L eu via tudo. A cidade imvel e o cu se transformando a cada minuto. As luzes da cidade piscando, a luz do sol explodindo. As ruas sem sada, o infinito do universo se expandindo contra todas a s foras. A lei da desordem, da perfeio, do equilbrio, da entropia. Eu desejava ser uma parte dele. Eu gostaria de ser tudo. Menos um sujeito perdid o numa cidade perdida num deserto de tijolo. A cidade me deixava vazio. O Univer so, no. Entropia... Perfeio. O casal veio me visitar interrompendo as aventuras do primeiro astronauta americano a ir para o espao. Fazia tempo que eu no via os dois . Desliguei o vdeo, ofereci um vinho gelado e ouvi. Propuseram morarmos todos jun tos, mais bem instalados. Montar uma fortaleza bem equipada. Me lembrei de quand o eu era criana; adorava construir castelos de areia. Mas quando eles ficavam pro ntos, deixava a gua derrub-los. Construir era mais gostoso. Pronto ele no tinha graa . Montar uma fortaleza bem equipada... - Somos donos da cidade inteira. Por que morar num sobradinho escroto? Mrio me of endeu. Sobradinho escroto! Eu era superapegado quela casa. Tive uma lembrana idiot a: h muito no pagava aluguel. Eu sempre tinha lembranas idiotas quando discutamos co isas srias. Martina disse que queria se sentir dona do lugar onde morasse. Estran ho, ela nunca tinha morado em outro lugar que no na casa dos pais. - Podemos ir para um lugar mais espaoso. Eu fingia estar ouvindo com dedicao e inte resse. Mas no estava. No sei por qu. Eles falavam, eu no entendia nem pensava se era certo ou errado, se era bom ou ruim. Eu s ouvia. Acho que porque fazia tempo que eu no os ouvia, que eu no conversava com algum. O astronauta americano s falava com as estrelas. Comigo no. - Vamos morar num lugar grande. Para mim, tanto fazia. Uma casa grande, um caste lo, uma gruta. Me lembrei de quando era criana. A coisa que mais queria era ter u m aparelho que me deixasse pequeno, mnimo, do tamanho de um dedo. S assim poderia saber como eram por dentro os castelos de areia que eu construa. Passaram toda a noite tentando me convencer. Eu no sei o que respondi, mas num dado momento eles ficaram felizes, me abraaram, me aplaudiram. Eu devo ter concordado, no me lembro. - Isso! - Martina disse. - J pensamos em quase tudo. Uma casa com quintal para podermos plantar uma horta. Perto do Centro: se acontecer alguma coisa a gente fica logo sabendo. Concorda? - Concordo - naquele momento eu responderia qualquer coisa. Eles estavam me deix ando cansado. - timo! Voc conhece uma casa enorme que tem na Avenida Paulista? Esq uina com a Pamplona? Conhecia. Era uma casa enorme. Ocupava a metade de um quart eiro. Uma casa amarela. Enorme. No foi difcil arrombar o porto. Nem entrar na casa. Martina e suas brilhantes idias; pegou um molho de chaves do bolso do vigia duro na guarita. A casa estava aband onada: o jardim descuidado, esttuas empoeiradas, bancos de ferro enferrujados. Er a em estilo mediterrneo, neoclssico, burgus, sei l que estilo era aquele. Tinha uma grande porta de correr de frente para a avenida; provavelmente usada e
m dias de festa. Eu estava inseguro por invadir propriedade alheia. Ainda no me a costumara. Talvez nunca me acostumasse. Era um covarde por natureza. Dane-se! En tramos na manso por uma porta lateral, que parecia ser a mais usada. Logo de cara , o enorme lustre de cristal do hall fez da nossa entrada um espetculo; um efeito esplndido: refletiu pingos de luz por toda a parte. Um supersticioso diria que e ra um bom sinal. Eu, que era esplndido. Dali saa uma escada de mrmore com um monte de quadros na parede: membros da famlia. Havia uma grande sala esquerda: mveis pes ados, mais quadros, uma estante de vasos raros e uma esquisita poltrona com cabea s de elefante no encosto esculpidas em marfim. Martina era a mais vontade. Mexia nos cinzeiros, olhava os tapetes, abria os armrios, examinava as janelas, c ortinas, era uma menina supercuriosa. Mais adiante, uma sala de jantar para quin ze pessoas (contamos). Uma cozinha que parecia de restaurante. Despensa. Na outr a ala, biblioteca e, finalmente, o salo em frente da avenida, com um piano de cau da e piso de mrmore. Num impulso, abri a grande porta de correr. - O que voc acha? - perguntou Mrio. - tudo seu agora - disse tocando um acorde des afinado no piano. No segundo andar, no fim de um corredor cheio de portas, um quarto gigantesco; o maior quarto que j vi na minha vida. Cabiam umas quinhentas camas. Mas s havia um a. Uma cama Lus XV (ou XIV, ou XIII, ...) onde estava deitada uma velhinha elegan te, confortavelmente enrolada num cobertor felpudo. Uma condessa. sua volta, vrio s gatos parados, olhando para ns como se tomassem conta dela, da velhinha elegant e, simptica, condessa. - Deve ser a dona - disse Martina. Havia espelhos por toda parte; era uma mulher narcisista. Fui at o banheiro, no dcimo espelho direita. Um banheiro tambm enorme, de ladrilhos pretos. O banheiro dela era preto! Estranho... Fechei a porta e me sentei na privada acolchoada. Senti- um frio na espinha. Sa da privada. No tive coragem de fazer nada: era um banheiro muito elega nte, e preto! Na pia, uma infindvel coleo de sabonetinhos de todas as cores, cheiro s e formatos. Lavei as mos com um que tinha a forma de uma orelha. Eles decidiram muito rpido. Eles sempre decidiam tudo muito rpido. Mudaramos para l, sem mais nem menos. E eu estava com uma preguia... Passei minha ltima noite no sobradinho de Pi nheiros olhando tudo com carinho, saudade, entre outras babaquices sentimentais; eu nunca fui disso, mas eu estava com tanta preguia... Imaginei que se por algum a razo o fenmeno terminasse de um momento para o outro, eu teria de dar muitas exp licaes para aquela velhinha. Antes que ela dissesse qualquer coisa, eu beijaria su a mo reverenciando-a e diria"a senhora est mais jovem do que nunca...". Elas adora m ouvir esse tipo de coisa. Olhava para o meu quarto, minha cama, as bobagens pe nduradas nas paredes. Saudade... (eu nunca fui disso, mas a preguia...). O universo em... preguia. O casal estava d e timo humor: se beijavam a cada cinco minutos, cantavam, danavam carregando os "m antimentos"... Eles estavam muito felizes. Enchemos um pequeno caminho com todas as bobagens que eu tinha colecionado: fitas, discos, vdeos, roupas. Deixamos a ma ioria das coisas para trs, j que faramos novas instalaes na manso: novos petiscos elet rnicos. Deixei o "sobradinho escroto" sem frescura: ele estaria sempre l, pronto p ara me receber. Alm do mais, j no estava com tanta preguia. Ajudei na arrumao da manso A primeira coisa que fiz foi abrir todas as portas e janelas. Ar. Luz. Vida. Co mecei a varrer tudo que encontrava pela frente. Levei as fitas de vdeo para uma c onfortvel saleta no segundo andar, onde j havia uma grande TV e um aparelho de vdeo . Me instalei num modesto quarto, joguei as roupas num armrio, desarrumei de props ito a cama para criar um ambiente mais vivo e fui tomar um banho, no no banheiro preto (eu no iria conseguir), mas num que ficava em frente ao meu novo quarto. Ha via uma banheira. Incrvel. Eu, fantico por banho, nunca tinha entrado numa. No tive dvidas. Enchi de gua quente e me enfiei deslumbrado l dentro. Como uma criana, brin quei de estar me afogando, peidei para ver subirem bolinhas, joguei gua fora molh ando todo o cho... Como j disse, s vezes eu era tremendamente infantil. Numa banhei ra ento... Deixei meu corpo amolecer. Quase dormi. - Est na mesa! - gritou Martina batendo na porta. Por mim, eu ficava uma semana n aquela banheira. Ela era incrvel. Vesti uma roupa qualquer e desci, estranhando a s luzes todas apagadas e velas acesas espalhadas por todos os cantos. Na sala de jantar, o nimo estava em alta: mais velas, loua chinesa, talheres de prata e taas
de cristal. Balde de gelo com champanhe e uma bandeja de prata com carne e batat as. Fora o caviar. - Comemorando o qu? - perguntei. Ora, comemorando o qu! Comemorando tudo. Tudo - respondeu Martina animadinha. - l uxria. Ao prazer - brindou Mrio. Brindei. No sabia o que estava havendo comigo. No via graa em nada. No estava triste, no estava com preguia, no estava deprimido, no stava nada. Tinha dias em que sentia isso. Era dos piores dias. Preferia estar t riste. Brindei. A comida estava idntica s muitas que j havamos comido: as firmas de congelados inventavam muitos nomes para os seus pratos, mas o gosto era sempre o mesmo. - Deixa de ser bobo. Aproveita... - disse Martina. - Me desculpem - respondi. - Hoje eu estou meio esquisito. Quando eu queria, era muito sincero. Principalmente nos tais dias em que eu no sentia nada. - Ah, vai, esquisito, relaxa... - disse Mrio. Eu ri. Achei engraado o tom em que e le falou "ah, vai, esquisito". Comemos, bebemos. Brindamos umas quinze vezes a umas quinze coisas idiotas. Mart ina se levantou e foi levar o carrinho com a loua suja. - Ela no est uma gracinha? - Mrio me perguntou com um ar meio safado. - Eu acho ela muito legal - respondi. To estranho chamar algum de "legal". No quer dizer muito. Legal. No quer dizer quase nada. Legal. No entanto eu disse "acho el a muito legal". No era isso que eu achava de Martina. Eu achava mais coisa dela. Mas aquele dia... saco! Martina deu um grito. Fomos at a cozinha e a vimos horror izada, olhando para a despensa: - Isso no estava assim! Tenho certeza! Estava inteiramente revirada, com sacos ra sgados espalhados no cho. Num canto, a pegada de uma grande pata. Jaguatiricas? No , a pegada era muito grande. Tigre? Imediatamente nos demos conta de que todas a s portas e janelas estavam abertas. Mrio sugeriu: - Vou at o carro pegar uma metralhadora. Vocs fiquem quietos e fechem tudo. Tudo. Martina colou em mim, fazendo tudo o que eu fazia. Tigre?! - Ser que ele ainda est a? - perguntou apavorada. Havia uma pegada na escada. Ele h avia subido. Eu e Mrio subimos, deixando Martina para trs. Da porta do ltimo quarto ouvimos um rugido. O quarto da condessa. Mrio engatilhou. Encostados parede, pisv amos com cuidado, sem respirar, sem falar, sem pensar. Ele rugiu novamente. Sabi a que estvamos ali. No podia ser um animal perigoso, seno j teria nos atacado. Camin hamos atentos at a porta do quarto. Olhamos. Ele estava l. Um puma. Estava sentado. Nos encarou com os olhos amarelos . Um puma. Ficou imvel, mais assustado que ns. - No atira! - implorei. Tinha um focinho branco e uma pelagem marrom-clara. Um pu ma (ou suuarana). Era enorme. No ia nos atacar. Ou ia? Manteve a cabea abaixada. Rosnou novamente e caminhou lentamente at a janela, bem atento. Subiu no parapeit o e, em cmera lenta, saltou para fora. Um puma. Foi embora. Um puma, fugitivo de alguma reserva florestal, passeando pelas ruas de So Paulo, tomando conta da cidade. Interessante combinao. Ao redor da velha, mei a dzia de gatos dormia sossegadamente enquanto o menorzinho comeava a brincar com o cadaro do meu sapato. Estranhava estar naquela casa. No devia ter concordado. No devia ter feito nada. Devia ter ficado no meu "sobradinho escroto" sem me mete r. Estranhava tudo: a casa, o casal, a mim mesmo. Eu estava ficando cansado do n ada. E o pior que no tinha o que fazer seno arrumar aquela casa, viver naquela cas a. Saco! Queria ser uma merda de um bicho qualquer para no ter de pensar. Um puma... Mrio percebeu que eu estava deprimido e ficou o dia inteiro tentando m e animar, mostrando a casa, me puxando para cima e para baixo. Eu ia, desinteres sado, mas ia, mais pelo esforo que ele fazia do que por vontade prpria. Odiava ver algum tentando animar os outros e no ter resposta. Ele me levou at um pequeno depsi to no fundo do quintal, onde encontramos rolos de arame farpado. Ajudei a desenr olar o arame ao redor do muro e o amarramos na caixa de fora: uma improvisada cer ca eltrica. A maldita casa estava se transformando num bunker. Imaginei um pobre gato encostar a pata naquela cerca: seria tostado em um segundo. Pobre gato. E o puma?
Tambm levaria um choque? No sabia. Aquele bicho no saa da minha cabea. O que um puma fazia em So Paulo? Mais um jantar de gala, no mesmo estilo do primeiro. Mais animao, mais velas, mais brindes a idiotices. E eu me sentindo mais vazio, ma is cansado. Cansado de tudo. - , Rindu, por que voc est com essa cara? Voc devia faz er anlise... - comentou Martina. Coitada, no teve a menor graa. S o otrio do Mrio acho u divertido. Ela estava de pileque. No era de beber muito, mas estava de pileque. E quando ela ficava de pileque, ela ficava bem diferente. Mais solta. Num dado momento, depois de comermos, ela foi cambaleando at onde eu estava e se sentou no meu colo. Passou a mo no meu pescoo, provocando arrepios. Lnguida e solta, ela con tinuou: - Ns vamos te arrumar uma namorada linda. Voc pode escolher a mais bonita da cidad e, quem voc quiser. Ela vai estar um pouquinho imvel, mas voc d um jeitinho... Mrio s e esborrachou de rir. quela altura, ele riria de qualquer bobagem. - Obrigado, eu no preciso - disse serissimo, tirando-a do meu colo. Me levantei, e nxuguei a boca com o guardanapo e falei com uma voz grossa: - Boa-noite. Devo ter falado to srio que eles nem comentaram nada. Me virei e subi para o quarto. Eu estava cansado. Cansado de tudo. Queria ser uma porra de um b icho qualquer. InvernoO tal do puma no apareceu mais. Alis, ningum apareceu. Nem expedies, nem sobre viventes, nem jatos, nem crioulos, nem nada, nem nada. Uma noite, antes de dormi r, eu decidi parar de ficar deprimido, parar de ser to chato e participar um pouc o da vida da casa. Decidi deixar de me sentir mal por estar l. Decidi uma porrada de coisas. Tudo na mesma noite. Achava que era a nica maneira de sair da depresso : simplesmente decidir sair. Era pegar, pensar e decidir. Parecia difcil, mas no e ra. Era bastante fcil. Alm do mais, no tinha outra coisa a ser feita seno decidir sa ir daquela depresso. E acho que sa. Acho. O tempo foi passando e tudo que fazamos e ra em funo da casa. Roubamos de um edifcio um porto automtico que funcionava por cont role remoto. Por toda a parte externa da casa instalamos cmeras de circuito fecha do. Conectamos as cmeras em televisores espalhados na cozinha, numa das salas e n a saleta de televiso. Segurana. A casa estava parecendo uma embaixada se prevenind o contra ataques terroristas. Trouxemos de uma loja especiali: ada em aparelhos eltricos enormes caixas de som que acoplamos a uma mesa de 16 canais. Uma extrava gncia. No salo de festas, montamos um telo de vdeo. Outra extravagncia. Estvamos hipno tizados pela eletrnica e por tudo que fosse extravagncia. Influncias da manso. Influn cias do tdio. Com o tempo, alguns cachorros comearam a freqentar as redondezas. Sen tiam cheiro de comida. Sentiam carncia: o melhor amigo do homem. Latiam, choravam , imploravam. Dormiam encostados no porto. Ficavam o dia inteiro ali carentes e f amintos. Eu, assumindo o papel de melhor amigo do co, resolvi recolh-los para dent ro. Foi uma tima idia. Deu mais vida casa, alm de boa proteo; seriam os primeiros a p ressentir qualquer perigo. Coloquei vrios colches na garagem e passei a aliment-los com rao. Eram uns dez, de todos os tamanhos, a maioria vira-lata. Foi uma boa idia . O problema era noite, quando eles resolviam fazer um concerto em homenagem lua , ou coisa parecida. No tinha jeito; no paravam de latir, uivar. Eram cachorros bom ios, muito sentimentais. A soluo foi temperar a rao com doses de Novalgina. Melhorou : ficaram mais calminhos. Me lembrei do professor Antenor, um, professor da facu ldade de biologia que estudava os ces. Era um sujeito aficionado, que passava a m aior parte da aula mostrando gravaes de uivos de ces. Dizia que eles tinham pesadel os noite e latiam em estado de alucinao, vendo vultos, fantasmas e outras loucuras . E quando h lua cheia, eles sonham mais por causa da claridade, vem mais vultos. Talvez fosse uma grande bobagem. Mas ele era to aficionado que conseguia fazer co m que ns acreditssemos. Ele sim, era o melhor amigo dos ces. Os tratava to bem, mas to bem que comearam a espalhar pela faculdade que ele era um lobisomem. Bobagem. M artina foi quem mais gostou de eu ter recolhido os ces. Ela estava diferente, mai s feliz, mais bonita. Ia quase diariamente rdio transmitir o seu programa "inform ativomusical". Ficava a duas quadras do bunker, o que ela percorria a p tranqilame nte. Estava mais experiente em mexer com os cartuchos e com o equipamento. s quat ro da tarde, transmitia uma novela radiofnica; ficou uma semana lendo a pea Romeu e Julieta. que ela estava romntica e apaixonada por Mrio. Parecia outra pessoa. Fe liz. noite, nos encontrvamos para jantar os malditos congelados. Sabamos que, com
o tempo, precisariam ser substitudos, j que eram garantidos por apenas seis meses. O maior problema era competir com os gatos por um lugar mesa. Eram umas pestinh as; os cachorros eram proibidos de entrar na casa. Depois, ou vamos um filme, ou representvamos textos teatrais. ramos pssimos atores, mas nos divertamos bastante. Porm, s vezes eu me sentia distant e. Era natural, afinal, havia algo entre eles que eu no compartilhava. Era natural. Minha maior mania era a banheira: passava horas naquela maldita ban heira. Martina me ensinou a usar espumas e sais de banho. Eu estava tomando banh os como uma dessas atrizes porra-louca de Hollywood. Um dia eu deixei a porcaria da porta aberta. Foi sem querer. Os dois entraram para comemorar o que pensavam ser o aniversrio de Mrio. Caram de roupa na banheira, jogaram espuma um no outro, entre outras criancices. Eu morri de vergonha do meu corpo nu mostra. Mrio, perce bendo, comeou a me fazer ccegas maliciosas. Odiava ccegas, principalmente na frente de uma mulher. Acabamos por comemorar o tal aniversrio nos embebedando completam ente. Ficamos enrolados em um cobertor grande, deitados em frente lareira. Depois, pin tou uma ligeira angstia, cansao. Permanecemos um bom tempo sem falar nada, olhando o fogo. Eu j cochilava quando Martina fez um preguioso brinde ao homem um ano mai s velho. Sade. Dormimos ali mesmo. Um ano mais velho. - Sei l. preto porque preto... - respondi inusitada pergunta. Martina se levantou , apontou para a janela e disse solenemente: - Pois a partir desta data, eu determino que o asfalto vermelho. A cor preta ver melha. Pel foi vermelho. A noite vermelha. E fim de papo! Fim de papo... Pode par ecer estranho, mas estvamos ficando malucos mesmo. s vezes entrvamos em discusses absolutamente desnecessrias, como transformar redondo s em quadrados, leves em pesados, pretos em vermelhos. Dava pena de ver, mas era engraado. Mudvamos as coisas sem nos importar se era verdade ou no. No fundo. no f undo, podamos inventar palavras, ou at mudar o significado delas. As palavras no tinham o menor valor. Combinava com a nossa situao. Talvez fosse a t al liberdade a que Mrio se referiu uma vez. Talvez estivssemos mesmo ficando louco s. Talvez o preto tivesse de transformado de vez. A verdade que gastvamos horas d iscutindo o que discutir; e tudo era uma grande bobagem. - Muito bem, sua vontade ser feita - disse Mrio. - O preto ser vermelho. Vamos! - me convidou. Eu fui. Martina, que transbordava a legria, se despediu de ns acenando um lencinho branco. - Se minhas ordens no forem cumpridas, vocs sero decapitados. Mrio riu e mandou beijinhos com cara de idiota. Eu ri com cara de idiota. E Marti na... era a prpria. Estvamos mesmo ficando loucos. Fomos at a Praa da S, no prdio do Corpo de Bombeiros. Enquanto Mrio examinava os cami nhes, fiquei sondando ao redor, reparando que estava tudo muito sujo. Havia menos pombas e a fonte de gua no funcionava mais. Os portes do "templo da paz " continuavam escancarados e tambm muito sujos. Fiquei olhando tudo. Eu sempre fi cava olhando tudo. Um manaco. - Vamos, porra- Mrio me puxou pelo brao. Eu sempre olhava tudo e sempre tinha o br ao puxado. A vida era to repetitiva... Quando me dei conta, estava ao lado de Mrio subindo a Avenida Brigadeiro num caminho de bombeiro. Um carro-tanque, com mangue iras e mangueiras. Pegou numa loja vrias latas de tinta vermelha e jogou dentro d o tanque. Ele era esperto. Passamos o dia inteiro "pintando" o asfalto da Avenid a Paulista. amos e voltvamos ao comeo da avenida vrias vezes; as mangueiras abertas jorrando tinta vermelha. Uma bobagem, mas uma bobagem bem criativa. Criamos a pr imeira avenida vermelha do mundo. Se eu contasse, ningum acreditaria. Ningum. No princpio, mantnhamos os ces sempre afa stados de dentro da casa, deixando as portas fechadas ou expulsando aos berros q ualquer intruso. Mas no dava. Alguns ficavam na porta, fazendo cara de coitado, b alanando o rabo, o tronco, balanando tudo. Liberamos a casa para eles. Timidamente, foram-se acomodando, at o dia em que passamos a disputar as poltrona s com os cachorros e gatos. Um deles tinha uma cara muito engraada, era todo espi chado; um vira-lata marrom, desses com focinho e orelhas pretas. Fui com a cara dele e ele com a minha. Comecei a cham-lo de Alfredo. Era pssimo para dar nomes a cachorros.
Me lembro de ter ficado uma tarde inteira procurando um nome para ele. Mas pinto u Alfredo, e assim foi. Um dia ele se aproximou quando eu estava fumando um no t errao; eu ficava muito tempo fumando um naquele terrao. A cada tragada ele arregal ava os olhos, levantava as orelhas e acompanhava a dana que a fumaa fazia no ar. P assei a assoprar a fumaa no seu focinho. Ele respirava e levantava a cabea com int eresse. Depois, quando acabamos de "fumar", sentou do meu lado e ficou examinand o o mesmo vazio que eu. Seus olhos caram avermelhados. Era um co muito simptico. Er a um cojunky. Ouvi pelo rdio Martina narrar: "Quem me trouxer um cafezinho, ganha uma msica." Me levantei da cadeira acordando o Alfredo. Apanhei uma garrafa trmica . Ele veio atrs. No porto, pensei em mand-lo voltar, mas desisti ao ver a sua cara de doido. Deixei que me acompanhasse. Na avenida vermelha ele corria animado de u m lado para o outro, dando trombadas nas minhas pernas, pulando, balanando o rabo ... Era um cachorro simptico. Subimos juntos o elevador at o estdio. - Que festa... - Martina nos recebeu diminuindo o volume do som. - Voc e o seu amiguinho acabaram de ganhar uma msica... - disse se abaixando para acarici-lo. Foi ento que, pelo vo de sua camisa, contemplei o que no via h muito temp o: um 59 de131 par de seios. Fiquei nervoso e tenso de um momento para o outro. Um par de seios branquinhos, delicados. Tirei os olhos dali por respeito, mas vo ltei a olhar por admirao. Lindos... Minha mo comeou a suar. Ela falava algumas coisa s que eu no entendia. S queria continuar olhando aquele par de seios. Torci para q ue aquele momento nunca acabasse. Ela continuava acariciando Alfredo e falando a lguma coisa e deixando mostra, pelo vo de sua camisa, o par de seios. Minha mo j es tava ensopada e tive tonturas. Lindos... - , Rindu? - disse me puxando o brao. Voc est se sentindo bem? Est plido. Ps a mo na minha testa. - Voc est suando?! Eu estava ensopado... - Voc deve parar de fumar essas coisas, est ficando muito fraco. Eu estava mesmo, ficando muito fraco. Que seios... - Que msica vocs querem? Eu respondi qualquer bobagem. Nem sei se era nome de msica . Falei uma frase rpida em ingls. Eu e Alfredo voltamos para casa felizes, com a ms ica e a bela imagem. Era um co muito simptico e muito malandro. Eram seios lindos. .. Eu estava fraco, muito fraco. Ficava tonto toa. Alm do tdio e mais tdio. A sensao de inutilidade me corroia por dentro; parecia que eu tinha mofo nas juntas. Me l evantava cansado, dormia cansado, me arrastava pela casa cansado. Tudo parecia m uito difcil e pesado. Talvez estivesse doente, com cncer; sempre achei que tinha cn cer, desde os cinco anos de idade. A verdade que eu estava fraco. Deveria fazer algum esporte, se bem que isso nunca foi o meu forte. A cidade vazia e eu ali, f raco. Racionalmente pensava: d pra viver. No devia nada a ningum. No tinha um patro, sndico, famlia, prefeito ou polcia de olho em mim. No tinha trabalho, responsabilida des. Tudo era, teoricamente, permitido. E isso era bastante angustiante; saber que tudo era, teoricamente, permitido. No havia regras me controlando. No havia nada me controlando. Estava livre, mas no sa bia onde procurar a tal liberdade. Era um intil, um impotente, um fraco. noite, a ntes de dormir, as preocupaes e vazios tomavam forma de dolorosos demnios. Procurando a melhor posio no travesseiro, virava a cabea de um lado para o outro. A o tentar refazer o roteiro do dia, apareciam imagens de lugar nenhum, pessoas oc as, vazio. Era como se eu fosse uma ave marinha sobrevoando um deserto, um enorm e deserto. Cansao.. Uma ave que precisava de um comprimido para dormir e acordava com um constante formigamento nos olhos. Uma ave cansada e fraca. Maldito tdio! Maldito vazio! Acordei com o corpo todo dolorido. Fizera muito frio durante a ma drugada, o que me obrigou a me esconder sob pesados cobertores. No espelho, vi q ue estava muito magro. Parecia um velho. O corpo pendia para a esquerda. Um velh o torto. Fiquei aflito ao me ver to magro, to torto. Comecei a pular na frente do espelho. Pular, chacoalhar os braos, levantar o tronco. Fiquei tonto. Parei. Um v elho torto e tonto. Viver to difcil... O que fazer? Circular pela cidade? Tomar ba nhos de banheira? Ver filmes no aparelho de vdeo? Mas e depois? Viver... Enfiei u ma roupa qualquer. No banheiro quase pisei num gato deitado no tapete. Perguntei para ele: - O que voc vai fazer hoje? Ele sorriu e voltou a dormir abraado ao tapete. Ouvi Mr
io ligar o carro. Ele provavelmente iria dar uma volta. Pensei em correr e ir co m ele. Mas as minhas pernas no me obedeceriam. O carro foi se afastando at o barul ho sumir. Eu fiquei no mesmo lugar. Minhas pernas no me obedeceram; eu estava com cncer, s podia estar. Descendo a escada, ouvi uma msica vinda do salo de festas. A porta no estava totalmente fechada. Martina fazia ginstica, acompanhando as explic aes do telo de vdeo. Era mais dana que ginstica. Um, dois, trs, quatro. Ela acompanhav sem me ver. Vestia uma roupa justa, colorida. Pernas, coxas. Um, dois, trs, quat ro. Seu rosto suava. Seus braos esticavam. Pernas, coxas. Um, dois, trs, quatro. Msculos, quadril, mexia tudo, mexia. Deitou. As mos agarraram o tapete para lhe dar firmeza. As mos agarravam. Suor. Um, dois, trs, quatro. Suas pernas flutuavam. Meu corao comeou a bater forte. Alguns raios de sol davam brilho poeira suspensa. Alguns gatos olhavam para ela admirados. Um, dois, trs, quatro. Seus seios estavam duros, firmes. Suor. Cabelo. Ela respir ava forte. Forte. Acabou a fita. Ela ficou de bruos, respirando forte, exausta. Alfredo se aproximou de mim. Antes que ele me repreendesse, olhei-o como se diss esse: "Ela est demais...". Ela, forte; eu, cncer. A vida to... Apaguei as luzes da sala de exibio, ouvindo Mrio assobiar feito um dbil mental. Se engasgava com pipocas . Era um dbil. Liguei o projetor que iluminou a tela com um facho de luz. Atravs d e uma pequena janelinha, observei o filme comeando. Preferi me manter ao lado do projetor, sem descer at a platia. Me sentei num banco e revezava os olhos no filme , no projetor, no casal. s vezes, eles trocavam longos beijos. Notei a mo dele roan do os peitos dela. Aqueles seios lindos... Suspirei. Eles estavam verdadeirament e apaixonados. E isso, de uma certa maneira, os afastava de mim. Tudo bem. Fazia tempo que no trocava uma idia com Mrio. Ele mal sabia o que eu estava passando e e u no o culpava por isso. Tudo bem. Todo dia era dia para tentar se libertar das d ependncias. E Mrio era uma. Estava assim, meio longe, quando ouvi o grito de Marti na. "Desta vez ele foi longe demais...", pensei. Ela deu outro grito e ficou em p sobre a poltrona. Mrio fez o mesmo. Pediram que eu acendesse as luzes. Parei o p rojetor e acendi. Metendo minha cabea atravs da janelinha, reparei o cho do cinema abarrotado de ratos que corriam de um lado para o outro, grunhindo furiosamente. Malditos ratos! Mrio passou a atirar com a sua metralhadora; ele nunca largava d ela. Pulou de poltrona em poltrona sempre atirando. - FAA ALGUMA COISA, RINDU! Fazer o qu? Pensei rpido: se descesse, no ajudaria em nad a e seria apenas mais um alvo. Mrio continuou atirando, mas ao invs de se assustar em, os ratos ficavam mais neurticos. O caminho de bombeiros! Desci por uma escada de emergncia e corri feito um louco. Sete quadras at o bunker. O que aqueles ratos faziam ali? Meu corpo no se agentava. A cabea doa. A cabea ia exp lodir. Maldito cncer! Corria sem sentir as pernas, os braos, o cho. Corria tonto. V enci. Voltei com o caminho e entrei na galeria do cinema. Acelerei contra a porta de emergncia quebrando tudo. Desci correndo, peguei a mangueira, coloquei-a entr e as pernas vendo o casal cercado por ratos que cobriam o tapete da platia. Algun s deles comearam a correr em minha direo. Abri a gua vencendo aos poucos a dificulda de em controlar o jato. Tentava acertar os desgraados bem no focinho. Os desgraado s rolavam pelo cho. Abri mais a mangueira tentando proteger o casal. Criei uma br echa que Mrio e Martina aproveitaram, escapulindo. - Sou ou no sou um heri?! - perguntei orgulhoso assim que saram. - Isso no hora de piadas! So os mesmos que te atacaram no metr? - Mrio perguntou nervoso. - Sei l - disse desligando a mangueira. - Filhos da puta! Vo ver. Me puxou pelo brao e deu um tiro no tanque do caminho. - No faz isso! - tentei evitar. Intil. O caminho explodiu e comeou a pegar fogo em t udo. Recuamos at a calada. Comeou a pegar fogo em tudo. Loucura. No passou muito tempo e o incndio aumentou. Mrio e Martina foram embora. Eu no conseguia sair de l, hipnotiz ado pela cena da destruio; fogo sem barreiras, um retrato do inferno. O calor cheg ava a torrar a minha cara. Vez ou outra, mais exploses, janelas pipocando estilhao s de vidro, madeiras estalando com fora, como que torturadas pelo fogo. Paredes c aindo. Um retrato do inferno. Voltei para casa. De vez em quando, ia at a varanda admirar o claro. Pegava fogo em tudo. Aquela noite foi a menos escura de todas. Acordei com Mrio me sacudindo. Ainda era noite.
- Acorda. Vamos sair daqui! - disse pegando nos meus ombros. Sua voz estava assu stada. Abri os olhos com dificuldade, tentando vencer os efeitos de dois comprim idos sonferos. Assim que pus o p no cho, uma exploso enorme fez tremer as paredes. V esti uma porra qualquer e corri at o jardim, onde os cachorros estavam aterroriza dos, latindo sem parar. Mrio e Martina estavam esquentando o carro; eu entrei na Veraneio com Alfredo. Abri o porto com o controle remoto e arranquei. Parei na av enida vermelha. Prximo ao edifcio em chamas, o cho pegava fogo; labaredas se batiam como serpentes. Peguei a direo oposta; Mrio me seguiu. J longe da avenida, desacelerei deixando Mrio encostar ao meu lado. - Voc podia nos matar! Idiota! - reclamei abrindo a janela. - E que diferena faz? - perguntou passando por mim. Que diferena faz?! Essa boa! F icamos quatro dias sem sair do "sobradinho escroto". De l, vamos os clares e as exp loses. Cheguei a temer uma reao em cadeia, destroando tubulaes por todas as partes. In ferno. Mas o incndio terminou com a forte chuva que cara no quarto dia. Depois de um tempo, voltamos para o bunker. Ces e gatos esfomeados foram nos receber. A exp resso deles lembrava o clima de horror por que passaram. A casa estava OK. Mas a regio do incndio... Constatamos que da regio do incndio para o lado oposto ao bunker no havia luz. Imaginei que a corrente eltrica seguia a direo oeste, nos deixando na rabeira de um enorme curto. Mrio riu. - No tem nada a ver uma coisa com a outra... Ele poderia estar certo. Mas eu semp re tentava dar explicaes para tudo. Sempre. Uma mania. Peguei um revlver e fui sond ar de perto o cenrio do espetculo. Levei Alfredo como testemunha. Vrios edifcios tin ham virado escombros. O asfalto vermelho rachara ao meio. Por um vo dava para obs ervar os vrios tubos subterrneos, destrudos. Tudo cinza, preto ou branco. Entrei na galeria do cinema, me desviando de barras de sustentao cadas; vidros estilhaados por todos os lados e muita cinza. Tratei de no tocar em nada. O caminho de bombeiro, que antes era vermelho, ficou manchado po r tons escuros e com os pneus totalmente derretidos. O fogo destrura a cor. O fogo destri a cor. Vai ver o inferno um eterno filme em preto e branco. Bobagem ... Alfredo farejou algo debaixo de uma marquise cada. Ele latiu e correu se esco ndendo entre minhas pernas. Um rato grande saiu correndo. Dei um tiro de revlver. A bala o fez girar no cho. O demnio se levantou e, cambaleando, se enfiou num bur aco, desaparecendo. Sa de l segurando firme a arma. Demnio. Como poderia estar vivo ? Estava sentindo falta do esgoto, do podre. Desgraado! Dei um tiro para dentro d a galeria sem acertar nada. Voltei para o bunker. Subi a escada ouvindo uns gemi dos vindos do quarto do casal. A porta estava aberta. Eles, agarrados no cho. Mar tina de quatro, com a cabea encostada num travesseiro. Grunhia a cada penetrada b rusca. O choque dos corpos produzia um rudo quase metlico. O murmrio era ao mesmo t empo lamento e prazer. Estavam seminus. Estavam se amando. Animais... Martina te ve uma idia agradvel; como sempre. - Vamos a um restaurante bem fino. Era uma idia bem agradvel. Tudo que eu estava precisando era ir a um restaurante b em fino; tinha de fazer alguma coisa para parar de pensar que eu estava com cncer ou coisa parecida. Eu e Mrio raspmos a barba, cortamos o cabelo e vestimos casaca sem esquecer a cartola e a bengala. Os lordes da cidade. Ela vestiu um longo de paets prateado e coloriu seu cabelo de azul. Parecia um pirulito. Dois gentlemen e uma lady extraterrena. Fomos at o Centro, levando alguns pacotes de camaro cong elado. Edifcio Itlia, o mais alto da cidade. No topo ficava o restaurante Terrao Itl ia. Desci do carro correndo e abri a porta da lady, oferecendo gentilmente a mo. Mrio saiu sozinho. Deu uma baforada de charuto na minha cara e enfiou uma nota al ta no meu bolso. Era um babaca. Seguimos as placas que indicavam troca de elevad or no trigsimo segundo (de to alto, tnhamos de pegar dois elevadores). Entramos no restaurante. O maitre endurecido deu boas-vindas e indicou uma mesa nos fundos. Enfiei a nota alta no seu bolso. De l avistvamos quase toda a cidade. Um lugar mui to bonito. (Martins achou tudo muito cafona.) Enquanto eu pegava uma garrafa de vinho branco no congelador, Mrio colocou os camares no microondas. Voltamos mesa, brindamos e comemos. - Estou pressentindo que alguma coisa vai acontecer com a gente - disse Martina. Alguma coisa muito boa.
- Tomara - eu disse. - Sabe, uma vez... Pronto. Ela disse "uma vez". Sabia que depois disso vinha mai s uma das boas histrias que ela contava. Era uma especialista: representava as ou tras personagens, usava as mos para chamar a ateno do espectador, usava o humor na hora certa... Se um dia algum estivesse com a Martina e ela comeasse com um "sabe, uma vez..." iria ver como ela era boa contadora de histrias. Desta vez, no preste i ateno. Fiquei reparando nas suas mos se mexendo, seus olhos arregalados. Mrio rind o, ela sria (um bom contador de histrias nunca pode rir junto com seus espectadore s). Martina, quando queria, era a pessoa. mais agradvel do mundo. Era uma expert. Dem orou uma meia hora contando a tal histria. Nesse tempo, abri trs garrafas de vinho . Ficamos de pileque. Num dado momento, ela se levantou e comeou a danar em volta da mesa. Imitava uma danarina de cabar. Sapateou, cantou, abriu os braos e deu um l ongo agudo que quase quebrou as taas de cristal. Mrio foi at o canto e ligou um toc a-fitas. Ficou por l mesmo. Ela me puxou. - Vamos danar... - Ah, vai - reclamei. - Vamos... Me abraou e danamos. Eu no estava levando a srio. Nem ela. Era um msica it aliana, dessas que falam "Aurore mio..." o tempo todo. - Ah... eu estou feliz... - Eu tambm - eu disse. E estava mesmo. De pileque e feliz. Nos abraamos mais forte . Nossos corpos se encontraram. Nossos corpos se encaixaram. Arrepios. Suas mos seguravam o meu pescoo. Seu rosto descansava no meu ombro. Arre pios. Ela passou a mexer as mos. Carinhos. Segurei seu cabelo. Carinhos. Nervoso. Olhei com o rabo do olho; Mrio estava deitado, com um head phone na cabea e olhos fechados. Nos agarramos mais forte. Nervoso. Tmido. Comecei a ficar tonto. Cncer. Me afastei um pouco. - O que foi? - ela perguntou. - No sei. - Voc est plido de novo. O que voc tem, Rindu? - Nada. - melhor voc se sentar. Eu vou te pegar um copo d'gua. Sentei. Em boa hora , pois estava quase desmaiando. gua. Quando eu morrer do maldito cncer, quero ser cremado. Respirar fundo. Preferia morrer com um tiro que com cncer. Fechar os olh os. Cncer uma doena muito chata. - Voc um cara atraente... - ela disse sem mais nem menos. Cncer. Uma coisa que eu no era: atraente. Nunca fui. Disso eu tinha certeza. Abaixei a cabea. Tonto ainda. - Atraente e tmido - ela disse. Tmido. Isso eu era bastante. Mas atraente... Fechei os olhos e me deitei no cho. S assim melhorei. Nossa, eu estava mal mesmo. - Nossa, Rindu, voc est mal mesmo - ela disse se deitando ao meu lado. Molhou a mo na gua e ficou passando no meu rosto. - Respira fundo... Respirei. - Isso, com calma, relaxa... Com calma, relaxei. - Agora fica quietinho... Fiquei. Ela continuou molhando a mo na gua e passando no meu rosto. Ela estva sendo bastante agradvel e gentil. Ficou fazendo carinhos em mim. Melhorei mais ainda. No estava com cncer e devia parar de pensar nisso. Estav a cansado e fraco. S isso. Me levantei. Ela abriu um enorme sorriso. - Viva! Viva. Ela entornou mais uma taa me obrigando a abrir a quarta garrafa. De pois de um tempo, fomos os trs at o terrao. Ar fresco. Mrio nos puxava, ela esquerda e eu direita. - No emocionante? - ela dizia. - Herdamos tudinho... Era emocionante, mas muito angustiante. Estvamos felizes, c arinhosos, gentis, agradveis. Mas a cidade imensa estava vazia, apodrecendo, se d estruindo. Era muito triste estar feliz naquela cidade. Era muito triste. Fomos embora. Pegamos o primeiro elevador at o trigsimo segundo. Martina falava. - Estou tontinha... Ao atravessarmos um longo corredor para trocarmos de elevado r, ouvimos passos na escada. - Pssiu! - Mrio ordenou. Eram passos que pareciam correr. Descia a escada. Subitamente parou. - O que isso? - perguntei.
- Nada. Deve ser um canguru - riu Martina. - Que engraado... Do hall da escada no vamos os outros andares. - Vamos embora - disse Mrio. Entramos no segundo elevador desconfiados. Passos? A pertei o trreo e comeamos a descer. - Canguru... - continuava rindo. De repente, o elevador comeou a parar; a campain ha tocou do lado de fora. O visor marcava vigsimo nono andar, Mrio destravou a met ralhadora, se encostando parede. - O que isso? - Martina perguntou. O elevador parou e abriu a porta. Uma velha estava parada d e frente para ns. Martina comeou a gritar de pavor. Segurei o pulso dele para no at irar. A velha estava vestida com uns trapos sujos e tinha um pano sobre a cabea q ue tapava os olhos. Martina se virou, continuando a gritar. A campainha tocou. A velha segurava um p au. A porta foi se fechando sem que a impedssemos. Pude perceber que ela estava s orrindo. Finalmente a porta se fechou por inteiro e o elevador voltou a descer. Mrio me olhou: no era um duro. No era um duro. Na manh seguinte, com uma arma, volte i ao Edifcio Itlia. Desci os cinqenta andares pela escada examinando todos os detal hes: pegadas, cigarros, restos de comida, trapos... Mas no havia nada. A poeira sobre o cho permanecia intacta. Ou aquela velhinha misteriosa flutuava, ou era um fantasma. O que mais me intrigava era por que no havia entrado em conta to. Estvamos to visveis naquela cidade que at os animais nos descobriam. Jaguatiricas, p umas, cavalos, gatos, cachorros, at os malditos ratos. No entanto, a velha nunca dera sinal de vida. Nem mesmo com os apelos transmitidos por Martina. Ser que se assustou com nosso comportamento? Na Avenida Ipiranga, olhei para as inmeras jane las amontoadas dos edifcios. Onde ela mora? O que ela faz? Sabe dirigir um carro? Circula sempre com aquele pedao de pau na mo? Fui at a Avenida So Lus. Ela deveria saber que eu estava ali. Viu e me ouviu chegar; qualquer rudo parecia um trovo, naquele labirinto de edifcios altos. Ser que existem mais sobreviventes que perambulam pela cidade, com paus na mo, sorrindo o tempo todo? Dois cavalos p astavam na Praa da Repblica. No se assustaram com a minha presena, mas mantiveram um a distncia prudente, de olho em mim. Me sentei num banco sob o sol; na sombra est ava muito frio. Suspirei. Parado, sem parecer uma ameaa, ela poderia se interessar em fazer contato. Como c onseguir sobreviver? minha esquerda, trs crianas "dormiam" sobre uma grade do metr. Pareciam mortas. Mas no. Eram duros, com a tal capa de plstico, que no era de plsti co, em volta do corpo. Permaneci em absoluto silncio, atento a todos os sons; con seguia at ouvir os cavalos mastigando a grama. De repente, tive a impresso de esta r sendo vigiado. Olhei para trs. No vi ningum. Examinei minha volta. Parania? A sens ao continuou. Me deu arrepios. Me levantei sob o olhar atento dos cavalos. Respire i fundo, erguendo o rosto na direo do sol; um pouquinho de calor. Olhei rapidament e para trs. Nada. Parania. Claustrofobia. Imaginei que os cavalos no estavam entend endo nada: um cara que ficava o tempo todo se virando para trs? Sa da praa e voltei a caminhar pelas avenidas. No havia ningum. Ningum. Na cozinha do bunker, encontre i Mrio esquentando uma comida. Estava de saia. Comecei a rir. - Foi institudo - ele disse sem graa. - Os homens so mulheres e as mulheres so homens. No acreditei. Mais uma ordem. Depo is de termos encontrado uma velha sobrevivente, mais uma ordem. No era toa que el a no tinha feito contato. Martina apareceu. - Finalmente voc chegou. V pegar as suas roupas novas. Esto em cima da sua cama. Ta lvez fosse melhor assim. Talvez fosse melhor enlouquecer de vez. Nos alienar de tudo. Sermos autosuficientes. Os sobreviventes que se preocupassem em fazer cont ato. Ns nos bastvamos. Talvez fosse melhor assim. Seno, o que adiantaria? Esperar, esperar. Talvez por esta razo eu vesti uma saia xadrez e uma camisa transparente que deixava mostra um enorme suti. Passei a noite vestido de mulher. Foi divertid o. Confesso que gostei. Talvez fosse melhor assim, enlouquecermos de vez. Talvez no. Devia procurar mais. Maldita velha! Caminhava no calado da Baro de Itapetininga . Lojas e mais lojas fechadas; o que j foi o melhor comrcio da cidade. Procurava v estgios de alguma porta arrombada. No batia sol e estava muito frio. Quebrei a vit
rina de uma doceria, enchi meu bolso de chocolates e voltei a caminhar. Entrei e m galerias perdidas em galerias, corredores escuros, ruelas entupidas de lojas. Mendigos "dormindo"; prostitutas cadas? Pederastas? Assaltantes? Olhavam com mais cuidado; um deles poderia estar vivo, prestes a me atacar. Maldita parania! Entr ei num Fliperama. Peguei uma ficha da gaveta e enfiei numa mquina. Puxei o gancho , colocando a bola no jogo. Poderiam entrar em contato. Seramos todos amigos. Pod eramos conversar sobre o passado, contar piadas, dar festas, bolar novas formas d e passar o tempo, de curtir a cidade. Martina contaria grandes histrias. Bem que eles podiam entrar em contato... A bola percorreu o seu caminho, marcou pontos sem que eu fizesse nada. Bateu num dos fpper e rolou para dentro da mquina. No a salvei. Voltei a circular pela Praa da Repblica. Desta vez eram trs cavalos que pastavam. Pensei em cavalgar num deles. Se havia alguma coisa que eu fazia direito era and ar a cavalo; pelo menos isso... Mas no me arrisquei. Sabia andar em pangars, no em cavalos do Jquei. Alguns patos boiavam no lago imundo . Como podiam boiar num lago to imundo? Se eu fosse um pato, jamais estaria naque le lago. So uns patos idiotas e sujos. Poucas pombas caminhavam no cho procura de comida. Me lembrei da vez em que levei Cntia Strasburguer quela praa. Sentamos num daqueles bancos para namorar. Comprei milho e joguei no cho, esperan do que as pombas nos cercassem, como nos filmes romnticos. Veneza. Mas assim que a primeira pomba pousou no seu colo, ela deu um grito: "Que nojo!". Obviamente c omeamos uma interminvel discusso. Cntia Strasburguer no era romntica; ou no conhecia f lmes italianos. Fui novamente para a Avenida So Lus e comecei a gritar: - AL, DONA VELHINHA! AL! "Dona Velhinha"... Desse jeito ela nunca iria se aproxima r. - ALO! SABEMOS QUE A SENHORA EST A! NO PRECISA TER MEDO! Medo? Ela estava rindo qua ndo nos encontrou! Medo... Esfriou. Olhei para as janelas. Nada. Decidi ir embora. Saco! Percebi que tanto Martina como Mrio no estavam em casa. Li guei a gua da banheira. Quando fui fechar a janela, observei o chafariz do quinta l dos fundos ligado. Estranho. Me debrucei na janela e pude ver Mrio enfiando a c abea de Martina debaixo d'gua, afogando-a. Louco!! Corri para fora do banheiro at o terrao. Me apoiei no parapeito e vi que estavam pelados. Os dois. No falei nada. Eles no lutavam, nem brigavam. Ela estava de costas, sorrindo e com falta de ar. Ele a currava por trs, segurando os cabelos dela. Mexia seu corpo com fora, com br utalidade. No os interrompi. Ele enfiava a cabea de Martina dentro d'gua e penetrav a com mais fora, at ela comear a se debater, tentando subir. Ele finalmente a puxav a. Ela suspirava engasgada e ria. Ria histericamente, se curvando para facilitar a penetrao. No alto do chafariz, a esttua de um Cupido apontava uma flecha para o cu. Amor. Horror. Loucura. Comecei a ficar enjoado. Me apoiei no parapeito para v omitar. Amor. Horror. Loucura. Me arrastei tonto at o banheiro e vomitei tudo o q ue podia. Perverso. Sadismo. Tdio. Nunca vomitei tanto na minha vida. Maldito cncer . Maldita vida. Um gato comeava a atravessar a rua na minha frente. Um gato qualq uer. No sei por que, acelerei a Veraneio tentando acert-lo. Ele correu. Subi na calada e ele foi obrigado a voar por cima de uma pequena mure ta. Foi de raspo. Um dia ainda acerto um. No sabia se estava no Brs ou na Moca. Dirigia sem olhar para as placas de sinalizao; h muito no olhava para elas. Alm do ma is, no fazia a menor diferena estar num ou noutro bairro. Peguei uma avenida de pa raleleppedos. Uma longa avenida, que cruzava com armazns e mais armazns. Parecia qu e nunca tinha fim. Pisei fundo, atropelando galhos, valetas, arbustos. Quanto mais acelerava, maior ela ficava. Parecia que nunca tinha fim. Armazns, ar mazns. Nunca tinha estado l. Ela nunca acabava; virei uma rua qualquer direita par a sair de l; j estava me cansando. Mais algumas quadras e fui dar no Museu do Ipir anga. No sei por que parei o carro e desci. Um enorme museu, um enorme jardim, um a enorme esttua de Dom Pedro; sentados na espada do Imperador, dois urubus tomava m sol. Nosso libertador. Fui caminhando sobre a grama descuidada. Descobri um ga mb morto, j em decomposio. Fiquei enjoado de novo. Saco! No agentava mais os malditos enjos. Por que que tinha de agentar aquilo? Por que que tinha de agentar tudo? Saco ! Subi por uma escada enorme. Observei alguns tamandus passando. Tamandus, no Muse u do Ipiranga? Essa boa. Sentei no corrimo da escada e enrolei mais um. No alto d a colina, uma fileira de cachorros me olhava com ateno. Tamandus, gambs, estavam tom
ando a cidade. Jaguatiricas, pumas. Ratos, gatos e cachorros. Urubus, patos, pombas. A seleo natural com placas de sinalizao. A lei da selva, a le i do trnsito. Era tudo muito estranho. Fumei. Imaginei bandos de homens chegando aos poucos, tomando a cidade. Cada bando com seu costume, ocupando seu prprio esp ao. Eu, Mrio e Martina seramos o bando dos desocupados, dos barulhentos, habitando a avenida vermelha. A velha e vrios velhos seriam conhecidos como a tribo dos anc ios sorridentes, morando no Centro Velho. Haveria a tribo dos homens perdidos, mo rando em Perdizes. Haveria o bando dos mijes, morando no Bexiga. Os comedores de marimbondo morariam no Morumbi. Bandos de homens e placas de sinalizao. A sensao de estar sendo vigiado voltou. Olhei ao redor com ateno. Os urubus j no estav am na espada. No estavam em lugar nenhum. Nem os cachorros, no alto da colina. Ti ve um mau pressentimento. Bem ao longe, na extremidade do parque, alguns vultos corriam em minha direo. Me ergui. Eram trs jaguatiricas pintadas. Voltei disparado para o carro. Entrei, fechei os vidros e tranquei a porta. Elas passaram por mim e, mais adiante, a maior delas agarrou um tamandu pelo pescoo e o arrastou pelo gramado. O bicho s parou de se debater quando ficou com o pescoo e straalhado. O bando cercou o bicho e arrancou pedaos de carne fresca. Implacveis. Jaguatiricas implacveis: olfato, viso. Pode parecer ridculo, mas, naquele instante, quis ser uma jaguatirica e caar pelas ruas da cidade. Naquele instante, eu quis ser implacvel. Inventei mais uma teoria para explicar a presena daqueles animais. Escapuliram da Serra do Mar, ou da Mantiqueira, ou de alguma reserva do sul do p as. Sem os homens e com uma grande quantidade de animais domsticos, a cidade acabo u se transformando num restaurante farto. Um trouxe o outro. Pode ser uma teoria bem idiota, mas faria minha classe de Biologia discutir durante meses. Dei a pa rtida e sa lentamente. Ratos perseguidos por gatos perseguidos por cachorros pers eguidos por jaguatiricas perseguidas por pumas. Viver perseguir (outra teoria be m idiota). Rodei ao redor do parque at entrar pelas ruas do bairro. Numa delas, e ncontrei ossos espalhados e manchas de sangue coagulado sobre o asfalto. Farto r estaurante. Andando em marcha lenta, encontrei um caminho frigorfico com as portas escancaradas, parado ao lado de um armazm de carne. Mais ossos no cho. Manobrei a Veraneio at ficar de frente para o porto do armazm. Acendi o farol. Consegui enxer gar vrias carcaas de boi penduradas. S ossos. De repente, vrios cachorros saram l de d entro se atropelando. Restaurante So Paulo. Engraado... Comam tudo, comam tudo, no gramado, no armazm, no chafariz. Somos todos animais. Todos. Acordei no meio da noite ouvindo algumas exploses distantes. Poderiam ser botijes de gs. Fogos de artifcios. Tubulaes. No dava para saber. Mas eram exploses distantes, que duravam alguns minutos e paravam. Cheguei a procurar na manh seguinte alguma pista ou indcio de incndio. Mas no encontrei nada; aumentava alista de aconteciment os misteriosos. Pensava na velha nmade. Mas ela no dava sinal de vida. Nunca poder ia saber se as tais exploses tinham alguma coisa a ver com ela. As luzes na maior ia dos postes se apagaram. Em alguns bairros, a eletricidade se fora para sempre . Estvamos certos de que o bunker seria atingido pelo blecaute em questo de meses, ou semanas, ou dias. Foi ento que, finalmente, descobri onde Mrio passava a maior parte do tempo. Na biblioteca da Politcnica, estudando os detalhes da instalao de geradores eltricos movidos a leo diesel. Entusiasmado, me mostrou projetos que fiz era: moinhos a vento, captadores de energia solar e um biodigestor. Ele at tinha feito uma maquete do bunker e vrios desenhos de mquinas. A biblioteca da Poli esta va toda revirada, com livros espalhados, garrafas de bebida, uma mesa de sinuca, um colcho, geladeira e fogo. Ele ficava l todo o tempo. Quem diria. Se eu contasse , ningum acreditaria. Martina abandonou as transmisses e inventou outro hobby : a fotografia. Ficava ho ras instalando potentssimos spots em torno dos objetos mais estranhos. Fotografav a e se trancava no laboratrio de revelao montado num dos quartos da manso. Certo dia ela me "contratou" para servir de modelo. Fiz manha, no queria, sou tmido. Ah, deixa disso, s um pouquinho, vai... Cedi. Afinal, no tinha o que fazer. Ela me obrigou a vestir uma farda de soldado e, com. a cara suja de graxa, fazer poses , como se eu estivesse numa trincheira vigiando o inimigo. Dei tudo de mim, expe riente que era em assistir a filmes de soldados vigiando o inimigo. Fiz a pose, serissimo. Ela bateu a foto, deu um sorriso e foi imediatamente revelar. Continuei fazendo
pose. O inimigo estava na mira. Fiz cara de soldado atirando no inimigo. O inimi go se escondeu. Rolei pelo cho e fiz cara de soldado preocupado, soldado se levan tando decidido, soldado invadindo a casamata. Fui atingido. Fiz cara de soldado sendo covardemente metralhado, soldado desabando no cho, morto. Fiquei bastante t empo deitado no cho, morto. Ela voltou e jogou a foto ampliada do soldado vigiand o o inimigo. Deu um sorriso enigmtico e disse: - Voc tem o seu charme... Provavelmente seu outro hobby era me deixar embaraado: e stava ficando especialista. Soldado vigiando o inimigo tem seu charme. O inverno nos dava dias muito frios. Talvez por isso, eu estava ficando mais em casa. Dos trs, eu era o mais inconformado com tudo. Iria tudo voltar ao normal? Uma cidade de presente? No, obrigado, no precisava... Uma cidade ou um pas? O universo de pre sente? E eu, onde me encaixava? Quem eu era? Sabia que nunca fui o que desejei ser. Sabia que nunca havia feito uma escolha por mim mesmo. Como qualquer pessoa, nunca me senti responsvel pelo q ue eu era. Estranho pensar naquilo tudo; quem eu era? Mas sempre pensei nesse ti po de coisa. J imaginei eu ter nascido no Rio de Janeiro. Seria um Rindu com plet amente diferente. Imaginei um Rindu filho de um industrial. Rindu Strasburguer. Uma bobagem pensar nisso tudo; garanto que a metade da minha vida foi gasta pens ando em bobagens. A verdade que eu no sabia qual personagem eu deveria representa r; no havia mais nenhuma platia. Um soldado charmoso. Uma jaguatirica implacvel. Ac ho que o inverno me fazia pensar nessas coisas idiotas. Acho que se ele durasse mais tempo, eu acabaria me transformando em uma esttua; na esttua de um pensador. Acordei assustado. Os pesadelos noturnos viraram rotina. Estava sempre acordando , entre trs e quatro da manh, assustado. Dois comprimidos j no estavam bastando para me tirar algumas horas do real. E quando tiravam, me davam pesadelos horrveis. O dilema, quando acordava, era: tomar ou no o terceiro comprimido? Encarei o vidro de sedativos e no tomei. O corao batia bem forte. Procurei encaixar a cabea na melh or dobra do travesseiro. De olhos abertos, via as vrias formas que sombras e luze s desenhavam na parede. Fantasmas. No tomei o terceiro. No consegui dormir novamen te. Sa do quarto e desci pensando em tomar um leite quente. Encontrei Mrio, insone, de dilhando no piano. - difcil dormir com tanto silncio - eu disse. Trs cachorros, tam bm com insnia, estavam por ali. No sei por que, comecei a falar sem parar, mesmo sa bendo que ele quase nunca me ouvia: - Acho que enlouqueci completamente. Penso em milhes de coisas ao mesmo tempo. Essa porrada de bicho que tem por a. Ess a velha louca que no d sinal de vida. O puma. At no maldito cncer. - Voc ainda acha que est com cncer? - ele riu. - Chego at a me perguntar quem sou eu. Voc j viu algum se perguntar "quem sou eu"? No , nunca viu. Eu pergunto. Fico o dia todo sem fazer nada me perguntando quem sou eu. At parei de roer as unhas de tanto que eu fico me perguntando. Que saco! Ach o que estou enlouquecendo. Ele se virou e disse, me encarando: - Pode ficar tranqilo, voc no o nico. No sei por que, ele comeou a falar sem parar Eu sempre o ouvia. - A gente precisa de algo grande. Uma meta - disse exatamente o que Martina tinh a sugerido h tempos. Ele continuou. - A gente se acostumou a viver numa cidade agitada, televiso, rdio, cinemas, eleies, violncia urbana, catstrofes. Como que vive um ndio? Um montanhs, como que vive um m ontanhs? Ou um campons, que s precisa de uma terrinha e das prprias mos para viver? Ns temos de ser iguais a eles! Iguais a eles. Campons. Terra, mo. Talvez... Ele pass ou a tocar acordes dissonantes. Montanhs? Me sentei numa poltrona estirando as pernas. Como que eles vivem? Ele parou de t ocar, deu um gole numa bebida qualquer, me encarou perguntando: - O que que voc tem? Como? Fiquei surpreso. H muito no ouvia Mrio perguntar o que eu tinha. H muito tempo ele no demonstrava interesse por mim. Fiquei parado, pensando numa r esposta consistente. Surpreso, pensando. Por que ele perguntara aquilo, naquele momento? Era uma possibilidade de reaproximao. Mudei a posio na poltrona. Tossi. Ele aguardava ansioso. Olhei para le. Acho que o prprio Mrio se surpreendeu com a perg unta. Por qu? Pensei mais profundamente. Respirei fundo, tossi mais uma vez e res
pondi: - Nada. Ele permaneceu me olhando e, no satisfeito, comeou a falar: - Eu sei o que voc tem... Sabe? - Est desesperado por no encontrar lgica na vida que estamos vivendo. Voc sempre foi assim... Fui? - Ctico, racional, meticuloso. Pra voc, tudo tem de ter uma explicao... Talvez. - Esquece. Pensa numa fora extraterrena, um raio qualquer... J pensei nisso. - Ou ento imagine que foi algum vrus, alguma contaminao... Tambm j pensei nisso. - Ou ento, simplesmente morremos. Ah! - Esquece. No adianta ficar procurando chaves para destrancar o mistrio. Ora, o ho mem viveu centenas de milhares de anos sem saber que a Terra era redonda e, gara nto, ningum se importava; redonda, quadrada, triangular... tanto faz. Triangular? ?? - Ao contrrio, eram at criativos. Criavam os deuses mais loucos: deus do trovo, deu s do amor... - Deus do amor, tipo Cupido apontando flechas? - perguntei. Ele me olhou tenso. Me arrependi no ato. No devia ter provocado, mostrando que eu havia visto a cena no chafariz. Ele voltou a falar quebrando uma caixa de fsforos: ele sempre fazia isso. - Cupido no tem nada a ver com deus do amor. Acendeu um cigarro, deu outros goles na bebida e tocou outro acorde dissonante. - J ouviu falarem Medusa? Uma deusa grega. Transformava as pessoas em pedra. Vivi a numa ilha, sozinha. Era linda... - ele disse olhando para o piano. - Sorria!!! Virei para trs. Era Martina estourando um flash na nossa cara. Tirara uma fotografia com uma Polaroid. A foto, revelada automaticamente, mostrava Mrio sorrindo no canto. Eu, na poltrona, no estava sorrindo. Eu no estava sorrindo. - Sobre o que vocs estavam falando? - Em planetas triangulares - respondi. Acho que eu estava meio chato aquela noit e. Ele nem ouviu a resposta. - Ningum dorme nesta casa?! - apontou para os cachorros insones. Depois, fez o co nvite: - Vamos ver o sol nascer. Faz tanto tempo que eu no fao isso... Fomos. Pico do Jar agu: um lugar privilegiado para ver o sol nascer. Eu conhecia aquele lugar muito bem. Estacionei a Veraneio no ptio de uma torre de transmisso. Assim que pus o p pa ra fora, percebi o erro que cometemos: estava gelado; uma fina geada cobria todo o gramado. Mas, pelo jeito, fui o nico que se arrependeu. - Que lindo... - correuMartina apontando o claro que anunciava a manh. Temi que um tombo naquele gelo estragasse sua admirao. Estava lindo mesmo. Olhando toda a fai xa do horizonte, dava para perceber o dia empurrando a noite. "O sol no novo a ca da dia, mas novo continuamente." Estava lindo. Notei que em vrias regies da cidade j no havia luzes acesas. Dane-se! - Um dia, filho, isso tudo ser seu - brincou Mrio me abraando. - Talvez j seja -respondi. - No. Um tero seu. Daquele pedao para l- apontou a parte mais feia. No perguntei o pe dao -da maldita velha. Alis, apaguei a imagem dela rapidamente. Me sentei num banc o, ao lado de Martina. Ficamos em silncio. Por respeito, j que assistamos a uma sin fonia de luzes. Mrio desceu por uma trilha. Quando finalmente a bola de fogo apar eceu, Martina me olhou emocionada. O sol parecia uma grande atriz entrando no palco, nua. A platia, hipnotizada, pre ndeu a respirao. Finalmente de corpo inteiro, enorme e brilhante - no resistimos: a plaudimos. Estava lindo. E muito frio. Eu e Martina nos abraamos, um bem coladinh o no outro, e vimos o sol representar. Mrio voltou de uma pedreira ali perto, com um grande saco na mo. - Dinamite! - nos mostrou. Bananas de dinamite com pavio. - Voc sabe mexer nisso? - perguntei apreensivo. - No. Mas aprendo. Ofereceu a Martina. - Faa um pedido. Qualquer um. O que a madame quer explodir? s acender o pavio e bu m. Vamos, escolhe, vai te fazer bem. Ela relutou no comeo. Mas ficou pensando, pe nsando, at seus olhos adquirirem outro brilho. Abriu um largo sorriso e perguntou maliciosamente:
- Posso destruir o que quiser? - Claro. s escolher- Mrio respondeu. Ela exagerou. Foi longe demais. - Quero derrubar a antena da Rede Globo na Avenida Paulista. Foi longe demais. E ra uma antena enorme, instalada no topo de um edifcio que ficava a duas quadras d o bunker. Me lembrei do dia de sua inaugurao e do estardalhao que a emissora fez pa ra incentivar a populao a acreditar que a tal antena seria o novo marco da cidade. Martina no foi incentivada o suficiente. - Quero aquela antena no cho. - Pra que derrubar aquilo? - tentei faz-la mudar de idia, j que teramos um trabalho. - Ele foi claro - disse apontando para Mrio. - Eu poderia escolher o que bem entendesse. Eu no me conformava. - Deve ser fcil. acender o pavio e correr Mrio disse. Fcil. Ns podamos explodir nosso s corpos, isso sim. Sabendo que Mrio iria dizer "que diferena faz", fiquei quieto. Dane-se. Os refletores que iluminavam a torre estavam acesos. Da avenida, olhan do para o alto, quase perdamos o equilbrio de to alta; vinte andares de prdio, duzen tos metros de torre, muito alto. - OK, mos obra - me puxou pelo brao. Pegamos um dos elevadores. - No sou nenhum especialista, mas no deve ser difcil. - E se ela cair em cima da nossa casa? - perguntei. - No cai. Como que um cara que no era especialista podia afirmar to categoricamente "no cai"? Ah, meu saco, por que que no sobreviveram pessoas mais simples? No hall do vigsimo segundo andar, tivemos de subir trs lances de escada para chega rmos ao topo do prdio. Ventava bastante e, de l, avistvamos quase toda a cidade. So bre nossas cabeas, a gigantesca torre, apoiada em quatro bases de ao; um emaranhad o de barras e parafusos e concreto e... ia ser difcil. Mrio, depois de olhar tudo em volta, concluiu: - mais fcil colocarmos toda a carga numa coluna do prprio edifc io. A torre se inclina e cai sozinha - explicou usando o brao para descrever o mo vimento. Descemos e subimos vrias vezes; uma delas para cronometrar o tempo que l evvamos de cima at embaixo(42 segundos). Martina nos esperaria com o carro ligado. Assim que sassemos do elevador, escaparamos o mais depressa possvel. Mrio fez teste s com o pavio para saber o tempo que demorava para queimar. Eu... rezei. Ele cer cou uma pilastra que dava para a frente do edifcio, na Avenida Paulista. Colocou uma porrada de bananas e estendeu um longo pavio. Jogamos ainda plvora em todas a s emendas para no haver a possibilidade de o fogo se apagar. Era arriscado: podera mos ficar presos no elevador, alm de no termos a menor noo do efeito da carga. Danes e! Tudo pronto. Eu fiquei segurando a porta do elevador no vigsimo segundo. Mrio s ubiu at o topo. Concentrao. Ouvi o apito combinado. Ps fogo. Em seguida, passos acel erados pela escada. Entrou no elevador como uma bala. Comeamos a descer. - Tudo certo. Est a caminho... - ele disse. Vigsimo primeiro. Vigsimo. Parecia que descamos em cmer a lenta. - Vamos logo! - eu dizia impaciente, olhando para o cronmetro. Tnhamos a impresso de que, de um momento para o outro, poderia haver a exploso. E n ada pior no mundo do que a impresso de que de um momento para o outro pode haver uma exproso. De repente, me lembrei da cena do elevador no Edifcio Itlia. - Se ela aparecer, eu metralho- Mrio respondeu. Trs, dois, um, trreo. Mal a porta s e abriu, corremos em direo Veraneio que estava... desligada! - O carro morreu... - se desculpou Martina afobada. - Vamos! - eu disse correndo. Fomos o mais longe possvel, sem olhar para trs, sem respirar, sem pensar. Simplesmente corremos. Olhei para o cronmetro. Sessenta seg undos. Quando as pernas j no obedeciam, a uma distncia razovel, paramos atrs de uma b anca de jornal. Esperamos. Nada. Tentando recuperar o flego, Mrio disse desapontad o: - O fogo deve ter apagado. Martina disse mais desapontada: - Seus incompetentes! Acabou de dizer, uma enorme exploso fez voar a viga de conc reto em pedacinhos. Comearam a chover pedras quebrando tudo nossa volta. A antena foi se inclinando aos poucos. Uma nuvem de fumaa cobria a base. Se inclinou mais at cair fazendo um grande estrondo. Bateu no edifcio do outro lado e ficou apoiad a nele, como uma ponte. Eu ri. No imaginvamos que isso pudesse acontecer. Ela fico
u atravessada um tempo, mas, finalmente, rachou ao meio e desabou sobre a avenid a, levantando uma nuvem de poeira. At o cho tremeu. Um barulho ensurdecedor ficou ecoando por um tempo. Impressionante. Demos pulos de alegria, gritos de emoo. Beij os, abraos, uma festa. Eu no parava de gritar feito um histrico. Adrenalina. Um org asmo. A cidade era nossa. Tudo era nosso. Poderamos destruir o que quisssemos. Estava tudo nas nossas mos. Uma cidade escrava . O poder... A poeira foi assentando quando, atrs das estruturas destroadas, perce bi um vulto escuro se movendo. Mrio e Martina estavam abraados num longo beijo. O vulto se mexia acelerado de um lado para o outro, por dentro da fumaa. Mesmo estando a uma quadra de distncia, pude ver a velha e seu pedao de pau entrar numa das ruas transversais e sumir. Era o vulto. Demorou alguns dias a euforia de destruir pontos importantes da cidade. Chegvamos a jogar as bananas de dinamit e acesas da janela do carro explodindo esttuas, vitrinas, telefones pblicos, banca s de jornal, fachadas de prdios. A cada exploso, um arrepio de prazer. Estvamos de fato tomando posse do que nos pertencia, ou do que nos fora presenteado. Ou ento estvamos ficando completamente neurticos; mas isso pouco importava. Tnhamos vontade de ao, barulho, movimento, fumaa, chuvas de pedra, chuvas de vidro, transfo rmar smbolos da civilizao em migalhas. Pensei se no tentvamos, inconscientemente, apa gar o passado de quase quinhentos anos de So Paulo para viver um presente que fiz esse sentido. Mas foi s uma teoria, pouco importava. No fundo, estvamos destroando a ligao que havia entre a cidade e a humanidade. Estvamos comemorando o possvel fim da espcie humana. E isso pouco importava. Um brinde loucura. Estava sentado na va randa, olhando para o vazio. Ficava muito tempo naquela varanda olhando para o v azio. No sei o que havia naquele tal vazio para eu ter perdido tanto tempo olhand o para ele. Garanto que gastei a metade da minha vida olhando para um vazio. E g aranto que no me preocupava com isso. Acho que no. E, naquela tarde, estava sentad o tranqilo na varanda, olhando para o vazio, quando Mrio entrou pelo porto automtico numa motocicleta. Chegou at perto de mim e comeou a andar em crculos, acelerando b em forte. - Voc j andou numa destas? - perguntou gritando. Nunca havia andado. Nunca tive op ortunidade. - Ento monta - ele sugeriu parando na minha frente. Montei. Ao apoiar os braos no bagageiro, ele reclamou. - Me abraa, benzinho, seno voc cai... Acabou de falar e arrancou. Para no cair, segurei no seu quadril, timidamente. Mri o pegou a avenida e, para me impressionar, acelerou tudo, passando entre os carr os largados, cruzando as transversais e desviando com habilidade dos vrios buraco s na rua. Minhas pernas comearam a tremer. Vento e barulho. A curva fechada, o as falto a um palmo do meu joelho. No me contive: fechei os olhos e apertei forte o seu corpo. - Assim voc no v nada, benzinho - ele gritou. Abri os olhos. A nica maneira de supor tar aquela aflio foi comear a gritar feito uma besta: - IIIAAAAA!!! BABABABABA!!! IIIAAAAA!!! Descemos toda a AvenidaRebouas. S parei de berrar quando chegamos Cidade Universitria. Ele desacelerou e quis saber minhas impresses. Sei l o que respondi. S que era gostoso gritar. Ele finalmente parou e sugeriu: - Quer aprender? No queria, sei l, tenho medo. Ah, vai, deixa de ser bobo, voc apre nde rapidinho, superfcil. Est bem, mas olha l... Mrio me entregou o comando. Cinco m archas. Acelerador, embreagem, breque. Trabalho dos ps conjugados com o das mos. M eio complicado esse papo de conjugado. Engatei a primeira e soltei a embreagem. A moto deu um pulo e morreu. Repeti o g esto umas dez vezes. No consegui. Desisti. - fcil, olha s. Ele pegou, ligou, engato u e soltou a embreagem. - Tem que acelerar junto. Andou. Sentei no banco, engatei, soltei a embreagem e acelerei junto. Ela deu um pulo e morreu. Desisti. No nasci James Dean. Para disfarar, ele disse que era a moto que estava desregulad a e que at mesmo ele estava tendo dificuldades. Quando queria, Mrio era bastante e legante. Olhando a universidade ao redor, ele comentou: - Pena no ter trazido dinamite. Adoraria explodir a porra do arquivo que tem as m inhas notas. Perguntei elegantemente:
- So to ruins assim? - Quer ir ver? Fomos Politcnica. Rebeldes, entramos de moto e tudo nos corredores da escola. Devia ter arrumado um casaco de couro e um canivete para dar mais au tenticidade: juventude transviada. Encolhi a cabea, comecei a mascar a lngua e a a ndar com as mos no bolso chutando tudo o que via pela frente. Rebelde sem causa. Esfreguei o cabelo para trs e em hiptese nenhuma falava sem antes dar uma cuspida no cho. Mrio no entendeu nada. Ele era o motoqueiro e eu o jovem transviado, invadi ndo a escola para "riscar com canivetes palavres por toda a parte". Essa boa, log o eu que fui to babaca na escola... Quebrei uma porta com um pontap! - Yeah! Era a seo dos alunos. Num dos arquivos, ele encontrou sua pasta. - Olha aqui, t vendo? - perguntou. - Yeah! - Olha as notas. Desgraados! - Yeah! - Esse filho da puta j estava me reprovando por falta - disse apontando para uma observao escrita a tinta. - Fuck him! Tirou uma caixa de fsforos do bolso. Eu o afastei. - Deixa comigo, man. Risquei o fsforo e, desajustado, pus fogo no papel. - Yeah! Coloquei a folha sobre o arquivo. Em pouco tempo, estava pegando fogo em tudo. Cuspi no cho, coloquei as mos no bolso, encolhi a cabea e sa chutando umas qu inze latas de lixo. Rebelde sem causa. No entanto, voltei para casa sentado na g arupa da moto, de olhos fechados, agarrado no corpo do Mrio, pois morria de medo. Rebelde sem causa e sem coragem. Rebelde babaca. Isso me lembrou um vero. No sei de onde nossos pais tiraram a idia. Foi h muito tempo, quando eu e Mrio tnhamos uns 14 anos. Eles nos inscreveram num acampamento de vero, BeloRecanto, junto com cen tenas de outros adolescentes. Algo que estava mais para treinamento militar que para acampamento. Nos apresentamos num colgio da zona sul de So Paulo, onde havia uma dezena de nibus enfileirados e muitas mezinhas aos prantos, preocupadas com se us filhinhos desprotegidos. Um padre se encarregou de dar as boasvindas, assegur ando aos pais o tradicional tratamento dispensado no acampamento, a importncia da sade fsica e mental para as crianas e que em um ms voltariam felizes e coradas. Uma s freirinhas balanaram a cabea concordando com tudo o que ele dizia. A confuso era tamanha que algumas crianas embarcaram num nibus circular da cidade. Foram resgata das algumas horas depois. As freirinhas, sorridentes, trocavam gentilezas com as mes, com as crianas e at com as malas. Palavras de conforto era o que mais ouvamos; o que j me deixava desconfiado. Final mente, depois de muitos desmaios e choradeiras de crianas e mes, eu e Mrio fomos em purrados para dentro de um nibus. Destino: Seminrio So Francisco, em Bauru, interio r do estado. J na estrada, o instrutor responsvel pelo nibus substituiu as canes reli giosas por piadas sujas, dando goles em uma garrafinha de whisky. Cinqenta quilmetros depois, dormiu. A maioria j se conhecia dos outros veres. Estrel inhas penduradas na lapela eram o sinal da assiduidade: os que tinham uma estrel inha j tinham ido uma vez; os que tinham duas, tinham ido duas vezes, assim por d iante. O garoto mais enfezadinho tinha cinco estrelinhas. Imaginei o tdio que dev eria ter sido passar cinco veres no mesmo lugar. Ao observar nossas lapelas vazia s, ele perguntou com um filete de baba escorrendo: - Vocs so viados? - No. Somos camelos - respondeu Mrio. - Engraadinho... Vocs vo ver nos trotes disse com um riso entre sdico e histrico. A v iagem prosseguiu num clima de camaradagem e cristianismo: veteranos esmurrando c alouros, casacos dos mais fracos atirados pela janela, isqueiros queimando o cab elo de quem dormia, guerra de cuspe e outras trocas de gentilezas como "Vocs esto fudidos, ah, ah, ah...". Na primeira poltrona, alheio a tudo, o instrutor roncav a com uma cara satisfeita. O seminrio era afastado da cidade. Uma enorme fazenda; campos de futebol, piscina s, quadras, estbulo para cavalos, um jardim supercuidado e um pomar. Lembrava mai s um complexo hoteleiro que uma escola de formao religiosa. Era um prdio enorme, co m grandes portas, grandes janelas, grandes corredores, grandes escadas, grandes banheiros, grandes dormitrios, grandes anfiteatros, grandes sales de jogos... Ah, a igreja era pequena, escondida no alto de uma colina. Um padre nos levou para o
dormitrio masculino. Um dormitrio comprido, com camas em fileira e pequenos armrio s individuais. Era um dos dormitrios dos seminaristas que, em frias, "gentilmente" nos emprestavam. Dormi na cama de um tal Jos Benemrito da Cruz (com esse nome, s p oderia ter sido seminarista). noite, um padre mais velho nos deu as ltimas instrues . Foram divididas as vrias equipes que disputariam uma espcie de gincana. Durante o dia, tarefas como lavar o corredor, cortar a grama, limpar o refeitrio, varrer os quartos, pintar a igreja e lavar e passar a roupa. Na ltima semana, futebol, c orrida, natao, etc. A equipe que somasse o maior nmero de pontos ganharia prmios. A noite era livre; s dez, todos na cama. Olhei para Mrio. Que vero... Sem dvida estvamo s l para fazer uma reforma completa no seminrio. Passei a entender o filete de bab a do garoto cinco estrelas. Na primeira manh, um cartaz afixado na porta do quart o indicava a tarefa da minha equipe: lavar as escadas. Passei toda a maldita man h com outros dez garotos idiotas lavando as escadas do prdio, seguindo as instrues d o chefe da equipe que, por no ter ganho nada no ano anterior, gritava como um obs tinado, molhando com escarro tudo o que limpvamos. Era um seis estrelas que parec ia um sargento de tropa. A tarde, ficamos correndo feito uns idiotas, "treinando " para a ltima semana. Trs horas dando voltas num campo de futebol. E se algum para sse, o seis estrelas gritava at voltar a correr. Que vero... noite, o tal trote. F omos obrigados a desfilar de cuecas no cemitrio que ficava atrs da pequena igreja. Depois disso, os simpticos veteranos trancaram todas as portas do seminrio. - ".. . calouro dorme no relento, veterano faz festa aqui dentro..." - cantavam feito uns imbecis. Eu, Mrio e uma dzia de babacas dormimos de cueca, no estbulo dos cavalos. Foi assim o primeiro dia do "tratamento dispensado"; e lembrar do padre falando que amos v oltar felizes e corados... Os dias foram passando e continuvamos a ouvir gritos d o seis estrelas. Porm, durante a noite, eu e Mrio escapulamos do dormitrio para perc orrer os vrios corredores escuros do seminrio. Entrvamos em salas misteriosas, com o peso da religio cravado nas paredes. As vezes, nos perdamos nos labirintos de po rtas e corredores. Visitvamos catacumbas, tumbas, sarcfagos... Meu maior desejo er a encontrar aparelhos de tortura medievais, mas no encontramos. O aspecto geral e ra de sofrimento, penitncia, dor. Pouca luz, poucos mveis e muitos cantos. Num del es, encontramos escondida uma pilha de revistas pornogrficas. Passamos a escrever legendas nas fotos: "Ai, Jesus, no faa isso comigo", "Mas que orgasmo divino...", "Deixe eu ver o tamanho de sua f". Era a nossa vingana contra os padres militaris tas do maldito seminrio. O sucesso ou insucesso da nossa equipe j no importava mais . Realizvamos as tarefas displicentes, sem nos deixarmos levar pelos berros e cus pidas do lder. Numa noite de recreao, reunidos em um salo de jogos, os veteranos mon taram a tabela do campeonato de sinuca paralelo competio oficial. A dinheiro. Insc revi Mrio conhecendo seus excelentes dotes de jogador. Eles riram de mim e s aceit aram Mrio depois que paguei o dobro da taxa. O campeonato era do tipo eliminatrio: quem perdesse, caa fora. Mrio estraalhou o primeiro adversrio. Fcil. Passamos a ganh ar respeito. Esnobou a segunda com estilo: pedia silncio platia, passava giz no ta co com carinho, dava tacadas com poses cinematogrficas. Era fera. Ganhou a segund a. Fcil. Na terceira partida, s deu tacadas com efeito. Ganhou, o que lhe assegurou l ugar nas semifinais. Nesta noite, dormimos sem provocaes. No dia seguinte, seu mor al estava alto. Foi cumprimentado por muitos calouros. Algumas meninas jogaram c harme e sorriso em cima dele. Virou o dolo dos fracos. Vrios tapinhas nas costas e uma frase cheia de revolta: "Mostra pra eles!". No almoo, o adversrio seguinte se ntou na nossa mesa e depois de contar a histria da vida dele, fez uma oferta para que Mrio desistisse. Grana. Suborno. - Por favor, no atrapalhe a minha concentrao. Fale com o meu agente - esnobou Mrio m e apresentando a ele. Ouvi a proposta, fiz um pouco de charme e declarei, com a mo no seu ombro: - Jogo jogo. noite, entramos no salo como reis. O coitado do adversrio corrupto es tava desesperado. Muitos calouros saudaram a entrada de Mrio com aplausos e hurra s. Lembro que ele vestia uma camiseta grande, dessas que vo at o joelho. Na cabea, um bon, presente de algum admirador. Escolheu seu taco com cuidado, examinando a envergadura da madeira. Quando o jogo comeou, eu me sentei num canto afastado par a admir-lo de longe. Sentia uma coisa estranha vendo Mrio jogar: observava as suas
expresses, as suas poses, no as tacadas, bolas, caapas. Era como se tudo em volta fosse preto e ele branco. Era como se no houvesse nenhum barulho, somente o de su a respirao. Olhava para ele feliz. Olhava para ele aflito. Nervoso. Meu corao batia forte. Ele brilhava, branco, nico. Desejo. Uma coisa muito estranha . Vez ou outra ele me encarava e sorria. Cada vez que ele me encarava e sorria e u ficava mais aflito, mais nervoso, mais feliz. Sua camiseta grande, seus gestos , seu sorriso. Eu era o presenteado. Era para mim que ele jogava. Era para mim que ele representava, sorria. Parecia que o tempo fora congelado. T udo tinha durado um sculo. Desejo. Finalmente aplausos. Fim do jogo. Ele me abraou e disse rindo: - Ganhamos! Ganhamos! Estamos na final! Ele falou no plural. Ns. Um abrao mais for te. Era a primeira vez que um calouro chegava final. Ele acabava de entrar para a histria de Belo Recanto; o defensor dos fracos e dos oprimidos. Foi uma festa. Um seis estrelas ganhou a outra semifinal. Seria o adversrio. Nos encontramos no corredor. Estava cercado por assessores fortinhos e bonites, desses que parecem p ertencer ao time de futebol de uma universidade americana. Ele encostou seu brao bronzeado no peito de Mrio e ameaou: - Se voc ganhar eu te quebro! Os olhos de Mrio ferveram. Eu me assustei. Cheguei a sugerir que desistisse, perdesse, ou inventasse que tinha distentido o pulso, o u contrado uma doena contagiosa, ou qualquer merda. No deu. Havia razes de sobra par a ganhar daquele seis estrelas bonito. A noite da final despertou tanto interesse que tiveram de fechar as portas do salo, pois no cabia mais ningum l dentro. Um esp ertinho vendia lugares da janela para os que no conseguiam entrar. Um garoto tira va fotos de tudo, registrando a histrica partida. Nervosismo e tenso. As presses er am imensas; veteranos atrapalhavam a movimentao de Mrio e ostentavam seus poderosos bceps bronzeados. A peleja foi tumultuada, com vrias interrupes. Mrio estava srio. Se rissimo. Nada de poses, nada de bolas de efeito. O fraco venceu. Festa dos calouros. Frus trao dos bceps. Como um bom desportista, Mrio disse que tinha sido sorte, lembrando as qualidades do adversrio. Mas nem todos eram bons desportistas. A promessa foi cumprida. Mrio foi encurralado no banheiro e espancado. Outros filhos da puta me seguraram na cama diante de impassveis instrutores e chefes de equipe. Ouvia os g ritos de dor de Mrio, enquanto os animais quase me sufocavam apertando o travesse iro contra a minha cara. Covardes. Filhos da puta. Animais. Dez horas. Eles se d eitaram. A luz apagou. Mrio entrou no quarto, foi para a sua cama mancando e se d eitou em silncio. Dei um tempo e engatinhei at perto dele. - Voc est bem? Ele tossiu, respirou fundo e disse com uma voz arranhada: - Somos os campees. Eles so pssimos perdedores. Acho que foi a noite em que mais ch orei na minha vida. Acho que foi. No-ltimo dia, entregaram os prmios s melhores equ ipes. A azul ganhou. No era a nossa. Realizaram uma grande festa de despedida, pr ecedida por uma missa. Amm. Alheios a tudo, eu e Mrio permanecemos num canto, numa escada vazia. Ele estava um pouco machucado. Passamos horas juntos, abraados. Me lembro pouco da conversa. Lembro seus olhos, os hematomas, o abrao, seus pequeno s gestos, suas expresses leves. Continuava a me sentir feliz, aflito, nervoso e m uito estranho. Eu estava l, sozinho com ele. Mas tinha medo de aquele momento aca bar. Tinha medo de ele sumir, morrer. Tinha medo de tudo, apesar de estar ali, s ozinho com ele. Queria que aquele abrao durasse a vida toda. Queria que ele gruda sse em mim. Mas me sentia estranho. Desejos. De seus olhos, luz. Falava calmamen te de angstias. s vezes ironizava; at riu da surra que levou. At riu. Depois, ficamo s muito tempo em silncio. Ele, calmo, feliz. Eu, aflito, feliz, nervoso, com medo , medo de tudo, medo de perd-lo. No final, antes de irmos para o quarto, ele me d eu um beijo. Um beijo. Primavera- Vossa Excelncia deseja mais alguma coisa? - perguntei fantasiado de ga rom. - No. Pode se retirar - respondeu o conde. Sa do plano me colocando atrs da cmera. - As coisas esto se complicando. Napoleo acaba de invadir a Basilia. No sei por que ele tinha metido Napoleo na histria. Mrio sempre inventava algumas coisas de improv iso. O conde continuou: - Ele est matando todos os aristocratas do Vale do Reno.
- Oh, meu amor! - disse a condessa. - No se preocupe que sempre estarei ao seu lado. - No com voc que me preocupo. com o meu castelo. Que conde egocntrico... Entrei nov amente no palco, correndo assustado. - EXCELNCIA! O exrcito francs acaba de atravessar o porto da cidade!!! - GUARDAS!!! - Esto todos em batalha defendendo vosso condado. - Traga as minhas armas! - Oh, meu amor! - lamentou a condessa. - No tema - disse o conde - com Smith no h problema. Essa no! Interrompi a gravao. - O que isso, Mrio? Com Smith no h problema??? Isso Perdidos no Espao! Ns estamos do s sculos antes! - Eu sou o diretor! - ele me repreendeu. Alm do mais, o que voc entende de cinema? - Vdeo - corrigiu Martina. - No cinema. vdeo. - Tanto faz... Fui escolhido o diretor. Portanto, me deixem trabalhar - falou co mo se fosse um gnio italiano. Voltou para a frente da cmera com a sua roupa de con de e nos fez repetir toda a cena. Claro, voltando a incluir "... com Smith no h pr oblema". Em seguida, levamos a cmera para o hall da manso. Entrei vestido de Napoleo e espada na mo. Ridculo. Martina era quem gravava. - Saia da minha casa, seu bastardo! - me ordenou o conde. - Voc sabe com quem est falando? - perguntei com um ligeiro sotaque francs. - s o fantico que quer dominar o mundo! respondeu desembainhando a espada. Defende rei meu pequeno condado at a morte, seu tirano! - Vive la France! - gritei. - Hains Stain! - ele devolveu. - Soui, abatyour, Louvre, De Gaulle. - Volkswagen, Telefunken, Heil Hider! Ataquei erguendo minha espada contra a del e. Sons metlicos. Caretas enquadradas. Martina, com a cmera na mo, entrou no meio da luta para grava r com mais realismo. Corta! Mrio colocou um saco plstico com catchup debaixo da ca misa. Coloquei a minha espada bem no corao do conde. Martina se posicionou. Ao! - Vive la France! - espetei o seu peito, borrando a capa com uma mancha vermelha . Martina deu um close. Era a glria. Mais uma vitria de Napoleo. Pausa para o caf. D iscutimos a cena seguinte por quase uma hora. O diretor estava histrico. A atriz, ansiosa. O gal, eu, impassvel. Tiramos a velhina da sua cama la Lus XV (ou XIV, XIII...) j que optamos por uma esttica realista. Espanamos a fina camada de poeira de cima da cama. Os gatos estranharam, mas no reagiram. Continuaram parado s ao redor da cama; at produzia um efeito bonito na Histria Napolenica. Eu, Napoleo, entraria no quarto da condessa e, com a espada ainda manchada do "sa ngue" de seu marido, a seqestraria. Uma histria nem um pouco original, nem artstica , nem profunda, nem nada. Mrio, na cmera, deu as ordens. Ao! A condessa gritou por s ocorro. Eu lhe dei um bofeto. Corta! - Bate de verdade! - disse Mrio exaltado. - Eu no vou dar um tapa na Martina - retruquei. - D! Por que no? D! Ao! A condessa gritou por socorro. Dei outro bofeto. Ela caiu na c ama, chorando. Fiquei arrependido; pensei que tivesse machucado. Mas ela pergunt ou: - Meu marido? O que voc fez com meu marido? - Foi assassinado pela Frana Livre - respondi. - No! No! No! - Sim! Sim! Sim! - Seu bruto, assassino! Arruinou a minha vida! - Sua vida tem pouca importncia para a Frana. Corta! - Boa - disse Mrio. - Nem precisa repetir. Saiu magnfico. Agora a cena do estupro. Beija ela! ele me ordenou. Estupro? Isso no tinha. Ah, no iria discutir com o diretor histrico... Mudou o luga
r da cmera. Ao! - Sua vida tem pouca importncia para a Frana - disse, beijando-a em seguida. - No! - ela relutou. - Mais realismo! - interrompeu Mrio, aproximando a cmera do nosso rosto. - No! No... - a condessa foi afrouxando at me beijar de verdade. - Mais realismo! - repetiu o diretor sem que eu soubesse se devolvia ou no o beij o na mesma intensidade. A boca de Martina, digo, condessa, grudava na minha... N ossas lnguas se tocaram; tudo fica diferente quando as lnguas se tocam. - Isso. Beija mais forte, mais forte. Isso. Vai deitando em cima dela agora... dizia mais calmo o diretor. Meio sem jeito, fomos aos poucos nos deitando, com os lbios ainda grudados. Ela abriu bem a perna encaixando seu corpo no meu. Nosso s ventres, nossos corpos... - Isso, est timo... vai mais... - pedia o diretor. A mo da Martina, digo condessa, entrou por dentro da minha roupa. Segurou minha pele. Apertou meu corpo contra o dela. Puxou. Nossas lnguas se encostavam. Ventre. Corpos. Ela gemia; estava repr esentando ou no? Nos abraamos mais forte. Arrepios. Sua respirao era forte. Minha respirao era forte. Grudados. Havia esquecid o Napoleo. E estava excitado, tenso, teso. No era mais Napoleo que estava ali. Nosso s olhos se encontraram. Era Martina. - Arranca o vestido dela! Arranca... - disse o diretor apoiando a cmera numa cade ira. Calma. Passei a desabotoar a fileira de botes, me erguendo um pouco para ter mais espao. Minha mo tremia. Minha mo suava. Vdeo. Corpos. Ela fechou os olhos por um momento. Ela continuava a me segurar, a me apertar. Arranca! - pediu o direto r. Rasguei. Seus seios pularam para fora, brancos, arrepiados, vivos. Ela estico u as costas, se posicionando melhor. - Beija eles - ordenou o diretor. Por instantes, parei com aquilo. J no era um vdeo . De tanto que eu tremia, no conseguia me mover. Martina segurou a minha cabea e m e puxou at seu peito. Meu rosto encostou na sua pele. Meus lbios... Beijei. Ela su spirou, segurando meus cabelos com fora. Lambi. Ela apertou a minha cabea. Estava sorrindo, ela estava sorrindo. - O que isso? - me levantei saindo da cama. Minhas pernas tremiam. O que era aquilo? Fiquei de p, atnito. - Ah, vai, est timo... - Mrio respondeu. Est timo, como est timo? No consegui falar nada; tenso, sem flego. M rtina se levantou da cama e ficou na minha frente. Seus seios ainda estavam pra fora. Ela sorriu, segurou minhas mos e me levou de volta para a cama. Mrio tambm so rria. O que estava acontecendo? Ela me deitou primeiro e sentou em cima de mim, com as pernas abertas. Rasgou a sua roupa e aproximou sua boca at me beijar. Senti quan do abaixou meu zper, puxou minha cala. Meu Deus! Rolamos. Voltei a ficar por cima. O que eu estava fazendo?? Ela levantou o vestido, deixando mostra as pernas lon gas, pernas brancas, pele, plos, pbis. Eu a beijei. Grudou as suas pernas nas minh as costas. Pernas abertas, pbis, quente, meu Deus... Me puxou facilitando a penet rao. Carne aberta. Carne quente. Gemia a cada impulso do meu corpo, respirando descon trolada, lbios descontrolados, corpos descontrolados. Eu suava, suava, descontrol ado. Olhei para o lado e vi a cmera de Mrio largada em cima da cadeira, sem a presena do diretor. Estava com fome. Desde o dia anterior no comia nada. Enrolei mais um e fumei; esquecer a fome, esquecer tudo. O cho estava encharcado. Tudo estava encha rcado. A porra da fonte tinha transbordado. O andar trreo, suas lojinhas, a recepo, tudo uma grande poa. Lodo nas paredes. Estava mido. O hotel mais luxuoso da cidad e, talvez do pas, com o andar trreo encharcado, imundo. Que tal? Estava a uma quadra do bunker. Na rua de trs. Ser que sentiram a minha falta? No ti nha dormido no maldito bunker. De propsito. Foi a nica maneira que encontrei para acabar com o clima. Nossos corpos descontrolados. No estava entendendo nada. Fui usado pelo casal? Perverso do Mrio? Teso? Era confuso pensar naquilo. A parania de t er sido usado pelo casal era mais forte. Trs neurticos. Eles haviam combinado? Inv entaram a farsa de gravar um vdeo? Ela gostou? O que Mrio estava pensando? Trado po r seu melhor amigo. Mas ele incentivava! No estava entendendo nada. Ela sorriu. E
le sorriu. Ela gemeu. Me puxou. Me sugou. Ela gozou. Teso. Traio. Me estirei na maldita poltrona, tragando, olhando para o nada. mido. Seios b rancos, arrepiados, vivos. Sua barriga se contorcendo, suas costas esticando, pe rnas brancas. Gotas de suor. Arrepios. Ela gostou? Me lembrei da vez em que diss e que eu era atraente. Me lembrei da vez em que disse que eu tinha um certo char me. Por que fizeram aquilo comigo? No meu brao, a marca de um arranho. Me arrepiei qua ndo lembrei do pbis, do quente. Mistrio. Delrio. Martina era uma menina, uma mulher forte. Menina e mulher. Dupla personalidade. "Voc no a conhece direito", Mrio me d isse uma vez. Eu no a conhecia direito. Dupla personalidade. Por vezes, quieta, f echada. Por vezes, sensual, agitada. Contava histrias como ningum. Danava como ning um. J a vi falando sozinha. Me lembrei das vezes em que ela tinha uma espcie de cal afrio. Calafrios, como se um demnio passasse por ela. Demnio. Sua barriga se conto rcendo embaixo do meu corpo. Suas costas esticando. Os seios, em cmera lenta, arr epiados, vivos, saltando para fora. Ela gostou? Chega! Ela gozou. Chega!! Me levantei molhando os ps na maldita poa, e fui pegar u ma cerveja; eu odiava cerveja. No tinha muita experincia para dizer se ela gostou ou no. Nem para saber se foi rpido ou no. Claro que no houve clima para trocarmos ma is carinhos, carcias, caprichos. Ser que tive ejaculao precoce? Dura trinta segundos? Dura mais? Quanto dura? Se eu tive, eles devem estar rindo de mim. "Coitado do Rindu, ele trepa to mal..." Merda! Devia ter recusado. Devia ter sado de cima dela, ter recusado. Mas foi bom. , foi bom. Bebi a porra da cerv eja. Por que bebi aquela porra daquela cerveja? Merda! Me deitei num sof, um sof mi do. Tudo estava mido. No volto para casa. Vou dormir aqui; trs dias, um ms. Vou mora r aqui. Vou morrer nessa porra desse hotel! Nunca mais volto. Que se arrependam do que fizeram! Que parem de rir de mim! Me lembrei dela sorrindo. Uma ejaculao pr ecoce?! A porra do bar tambm estava encharcado. Um casal "tomava" algo. Duros. O sujeito tinha uns sessenta anos. Era careca. Estava com a mo presa na perna de um a garota loira, exageradamente pintada. Uma puta de luxo. Provavelmente ele era um executivo. Veio a negcios para a capital. Durante o dia, se reuniu com outros executivos para discutir contratos e clusulas. A noite se reuniu com a garota de aluguel que no necessitava de contratos e clusulas. Rasguei a frente do vestido da loira. Dois seios pontudos pularam para fora. Horrveis. Sem vida. Peitos de plstico. Tive um mal-estar, um enjo. Malditos peitos! Entrei por uma por ta para sondar o lugar. Cozinha com panelas gigantes. Lavanderia. Num armrio, enc ontrei as chaves dos quartos; chaves das arrumadeiras. No sei por que, peguei as chaves dos ltimos andares. Bisbilhotar a vida, a intimidade dos hspedes. Hspedes du ros. Subi por um dos elevadores panormicos. Dava para ver o grande vo central do h otel. Tinha mais cara de supermercado que de hotel. Fui at o ltimo andar. No era mais um hotel. Era um museu de cera. "Esttuas" de executivos, garotas de al uguel, turistas... Um cara com os olhos grudados num aparelho de TV e com uma ex presso aterrorizada; devia estar "assistindo" Sesso Macabra. Outro "tomando banho" num chuveiro sem gua, encostado parede, com um sabo derretido na mo. Noutro quarto, um sujeito "dormindo". Noutro, um casal "dormindo". Vazio. Vazio. Vrios quartos vazios. Um casal "trepava". Mrio fingira do comeo ao fim. Ele no podi a ter me trado. Onde estava o nosso pacto? No me abandones... No andar inferior, a o abrir a porta de um quarto, encontrei uma menina de uns 18 anos. Estava na fre nte de um espelho, provavelmente se "examinando" antes de sair. Vestia uma minis saia branca e uma leve blusa presa apenas por um boto nas costas; uma blusa rosa, bem solta. Stella Dias, seu nome. Provavelmente a chamavam de Stellinha. Na mes a, uma carta que escrevera num papel com o timbre do hotel. "Pai, estou bem. A e xcurso est confirmada. Amanh. O avio decola para Paris s 20 horas. Hoje eu vou sair c om o meu primo para conhecer So Paulo, se que d para conhecer em um dia. Estou sup ernervosa mas tudo bem. Paris deve ser um sonho. Assim que chegar te mando um po stal. Eu nem acredito... Beijinhos. StellaPS. Li no jornal que teve uma enchente a em Piracicaba. Espero que esteja tudo bem." Coitada, no conheceu Paris. Seus ol hos estavam fixos no espelho. Estou bonita? Ser que est caindo bem? Rosa com branco? No muito ousado sair de minissaia? Estava bonitinha. Eu no sabia dizer se estava caindo bem. Rosa com branco, inocncia. Minissaia, sensualidade. Sensual e inocente. Stellinha. Havia um vo que deixava a
s suas costas livres. Um pelinho loiro sobre a pele bronzeada. Nas pernas, um plo loiro bem fininho, bem lisinho. Era tudo lisinho. Toquei nela. Delicada. Abrace i Stellinha por trs, passando meu brao por sua barriga. Nos vi refletidos no espel ho. Subi a mo lentamente explorando os segredos que a blusa escondia. Seios. Eu os to quei. Continuei vendo nossa imagem no espelho. Beijei seu pescoo. Liso. Meus dedo s tocavam as curvas do seu peito. Delicada. Me excitei e forcei meu corpo contra o dela. Ela no moveu um msculo sequer. Minha cara, no espelho, parecia a cara de um louco qualquer. Parei. O que estou fazendo? Recoloquei a blusa no lugar e aje itei seu cabelo. Desculpa. Me sentei num sof, angustiado. Fiquei com raiva de ter feito aquilo para uma menina com carinha to doce. Inocncia. Como pude ser to imbec il?! Desculpa. Permaneci um bom tempo sentado no sof, olhando para a ninfa endure cida. No havia nada para fazer, nada para pensar, relgio sem ponteiros. Uma fotogr afia, uma pintura. Relgio sem ponteiros. Eu estava muito deprimido. Muito. Acordei ainda sentado no sof. O pescoo estava completamente dolorido. Pela janela, percebi que era cedo; a neblina cobria toda a cidade. Meu corpo estava fraco. Minha cabea, pesada. Aos quatro anos de idade, quando comecei a desconfiar que ti nha cncer, no me sentia to fraco. O cncer deve ter evoludo muito depois dos vinte. Um cncer adulto. Me levantei e me deu uma tremenda tontura; fiquei um tempo parado. H muito no comia nada e, pior, no estava com a menor fome. Tropecei na cama batend o com o tornozelo na beirada. Doeu. Doeu muito. Ol, Stellinha, dormiu bem? Ela no respondeu. Abri o refrigerador e tomei um guaran. Voc deve estar cansada de ficar tanto tempo em p, de frente para o espelho. Abri um saquinho de amndoas e lambi to do o sal grudado no envelope. Coloquei o ouvido no seu peito. O corao no batia. No respirava. Nada. Me lavei no banheiro, voltei, abri o armrio enc ontrando uma grande mala de viagem. Roupas, livros e um dirio todo caprichado, co m vrios decalques, bilhetes, papis grudados; um tpico dirio. Me deitei na cama com a s costas apoiadas na parede e pernas esticadas e passei a folhe-lo. Uma letrinha redonda, simples. Parei numa pgina onde havia uma caixa de fsforos grudada. "Motel Paradise". "...foi superexcitante. Ele estava to romntico que at pediu champanhe de pois da transa. Sempre quis um homem assim: carinhoso e sensvel. Pena que tivemos que fazer s escondidas. Tudo que fazemos s escondidas. Claro. Primos no podem tran sar. Nossa famlia nunca entenderia. Mas to delicioso. secreto...". Primos? Repreendi Stellinha com um olhar severo. T ransou com o primo... Continuei lendo e percebi que a sua inocncia era aparente. Se confessava atrada por Ernandes, namorado de Jurema, sua melhor amiga. Em duas pginas ela fora para a cama com ele, com o namorado da melhor amiga. Quatro pginas adiante, Jurema descobriu tudo e rompeu a amizade e o namoro. Ernandes ficou pe rdidamente apaixonado e Stellinha, com um tremendo bode do ex-namorado da ex-mel hor amiga. "Acho que a nica coisa excitante que havia era o fato de eu estar tran sando secretamente com o namorado da Jurema. Quando ela descobriu, eu perdi o te so. Acho que sou louca." Stella reclamou que seus amigos passaram a evit-la. Ficou qu ase um ms sem escrever at aparecer um tal de Valentino. Mais confuses. Foi ao mesmo motel com o tal Valentino, durante o carnaval (havia confetes colados no dirio). Estava escrito: "Ah, se a Jurema descobre...". Quem ser o tal Valentino? Em duas pginas veio a resposta: pai de Jurema. Stella??? Com essa carinha??? "... acho que estou completamente louca. No sei por que fiz isso. Vingana? Talvez porqu e ele fosse realmente atraente. Meu Deus, onde fui parar. Estou me sentindo a ma is puta de todas. Puta arrombada! Piranha!..." Papai Stella deu uma viagem filhi na que se encontrava muito deprimida, reclamando da vida em Piracicaba. Numa fot o extrada de um jornal local, coluna social, o papai Stella e Valentino estavam a braados, num baile de carnaval. Uma flecha e um comentrio da proprietria do dirio: " foi a noite que dormimos juntos". Vi na foto que o tal Valentino no era nem um po uco atraente. Imaginei Stella escrever: ...enquanto eu fingia estar dura, o rapa z entrou no meu quarto do hotel e ficou me olhando com uma cara de idiota. No fiz nada, curiosa em saber at onde ele ia. Num dado momento, ele me abraou. Quas e reagi. Que nojo. Ficou passando a sua mo porca no meu peito. Depois, ficou olha ndo no espelho sua cara de tarado. Que nojo. Este eu no tive dvidas: no era atraent e". Imaginei Martina escrever no seu dirio: "... Rindu se deitou sobre mim como h
avamos combinado e ficou como um idiota tentando me penetrar. Ficou ridculo com aq uela cara de teso. Coitado, no encostava numa mulher h tempos. No senti nem cosquinh a, j que ele tinha pinto pequeno e ejaculao precoce..." Pinto pequeno? Me olhei no espelho. Ser que esse corpo magro e corcunda atrairiaMartina? Eu estava horrvel. D espenteado, com uma barba malfeita, plido, olheiras enormes. Branco, branco. Eu e stava horrvel. Num dos quartos dei de cara com o que se poderia chamar de orgia. Trs mulheres e dois caras, nus, numa triangulao complicada; demorei para entender d e quem era uma perna esticada. Fantasiei a idia de transportar a cama com eles em cima at uma praa qualquer. Uma placa falaria do criativo monumento. Uma pomba pou saria numa das cinco bundas. Um solitrio pipoqueiro venderia num canto. Outro qua rto. Um saxofonista solitrio, sentado de frente para a janela, "tocava" para uma platia de edifcios, janelas e ruas... Triste platia. No quarto ao lado, trs sujeitos cercavam uma mesa de vidro. No cent ro, trs carreiras de cocana. Deviam pertencer a alguma banda de rock, pois havia i nstrumentos por todos os lados. No outro quarto, o astro da banda, cujo nome no l embrava. Era familiar, pois a sua cara aparecia na capa de uma revista que j li. Olhava para o nada, com a pose de um gnio. No sei por que, peguei uma pequena teso ura e cortei seu cabelo. Ficou engraado. Corri para o quarto de Stellinha e enfie i em sua mo um chumao do cabelo do... sei l o nome dele. - Garanto que o seu dolo. Me deitei em sua cama com intimidade. Me sentia bem ali . Conhecia alguns segredos da ninfa. Poderia conversar com ela em detalhes. Voc p odia ter problemas se engravidasse do seu primo. Existem casos em que nascem bebs anormais. Sei l, algo gentico. Gentica nunca foi o meu forte. Mas poderia ser pior: voc poderi a engravidar do pai da Jurema! J pensou que escndalo? Seu primo deve estar chegand o. J j o interfone toca. Ele vai subir? Seria uma tentao, no? Colocaria o Do not dist urb na porta essairia para embarcar no avio; Paris. Seria excitante, no ? Daria umas quatro pginas no dirio. Ajudei o seu Otvio a se cobrir. Devia estar sentindo frio. Era um sujeito estranho; em sua bagagem, s havia roupas ntimas de mulher. Um empr esrio japons ouvia atento um mtodo de lngua portuguesa. B e A igual a BA. BALA. B e E igual a BE. BELO. B e I igual a BI. BICO. B eO igual a BO. BOLA. B e U igual a BU.... Parecia angustiado entre o BO e o BU. Para ele deveria ser o mesmo som. Mas tinha de se esforar; era imprescindvel para o contato com o povo deste pas. Rec omear tudo de novo, at encontrar a diferena. BO. BU. BO. BU. Uma senhora de idade u sava o telefone. Provavelmente chamava a recepo. Ela fedia demais. Talvez reclamas se com o gerente do prprio cheiro. Estava apodrecendo por dentro. Um hotel cinco estrelas a ajudaria a solucionar o problema. Uma amiga havia indicado. O melhor hotel da cidade. Ela fedia por dentro e eles tinham de resolver. Por favor, seu gerente, faa alguma coisa. Um homem de negcios fazia clculos sobre um jornal que in dicava os ndices econmicos do ms. Parecia apreensivo. Os ndices eram alarmantes e a vida dele dependia daqueles nmeros, mseros nmeros, dgitos da sua razo. Como pode? Ter ia calculado errado? No. Os ndices eram aqueles e ele entrara pelo cano. Mseros nmer os. Um carregador olhava para uma donzela solitria na porta do quarto. O que ela est fazendo neste hotel?, ele pensou. Por que ele me olha desse jeito?, ela pensp u. Ser que est sozinha?, ele pensou. Quanto ser que dou de gorjeta?, ela pensou. mu ito gostosa, posso..., ele pensou. um hotel caro, tenho de dar uma boa gorjeta, ela pensou. Por que ela est me olhando desse jeito?, ele pensou. Afinal, quanto eu te dou?, e la pensou. Estava h uma porrada de tempo naquele hotel. Cenas ntimas de um cotidia no cinco estrelas. Stella, vou descer para arrumar comida. Voc est com fome? Ela no respondeu. Ela nunca respondia. Entrei no elevador e apertei o boto trreo. Algum precisa varrer esse tapete; muita poeira. Desci e, ao sair do elevador, enf iei meu p na poa. Merda! Sempre esqueo desta poa. Fui at a cozinha. Peguei no freezer uma caixa de hambrgueres. S estava comendo hambrgueres; com o tempo, me acostumei a s comer hambrgueres. Abri o armrio. No havia frigideiras limpas. Eu devia comear a me preocupar em lavar algumas panelas. Elas estavam se acumulan do na pia, sujas. Atrs de mim, algumas panelas caram no cho, fazendo o maior estard alhao. Saco! Que baguna! Ouvi um ronco forte. Me virei e dei de cara com o puma, a quele puma, a poucos metros de mim. Voltou a rosnar forte. No demonstrar medo, pe nsei rpido. No sair correndo. Calma. Esperar. Ele se manteve parado na minha frent
e. Seus olhos, fixos nos meus. O que ele quer? O que vai fazer? Sorri para ele. Meu corao comeou a bater forte. Tive receio de que ele ouvisse; no podia saber que e u estava aterrorizado. Pus a mo no peito, mas continuou a bater forte. Dei um pas so para trs. Ele levantou as orelhas. Dei outro passo. Ele levantou a cabea. Fui e mpurrando com as costas a porta da cozinha. Correr, pensei. Ele deu um passo e levantou a cabea. Contei, um, dois, trs e sa correndo para o ele vador. Ele veio atrs. Entrei e apertei desesperado o boto do ltimo andar. Percebi pela janela panormica que ele subia pela escada, me seguindo. Ah, essa bo a. Como que pode? Assim que o elevador chegou ao ltimo andar, apertei o boto do trr eo. Voltei a descer sem saber onde que ele estava. O que eu fao? Me tranco num qu arto. Mas e se ele ficar no hotel? No saio nunca mais do quarto? Abriu a porta e a nica palavra que veio minha cabea foi: corra! Corri para fora do hotel. Era dia. Minhas pernas estavam fracas. Tinha de conseguir. Tropeava em pequenos arbustos, pulava os buracos da rua, corria. Olhei para trs. Ele me seguia. Estou fodido! E ntrei na Rua Pamplona e avistei o muro do bunker. Apalpei meu bolso procurando o controle remoto sem encontrar! Merda! Falta de ar. Corre! Passei a gritar: - ABRAM A PORTA!!! Perdia velocidade. Perdia foras. Ao chegar no porto, tentei for-lo. Em vo. Apertei a campainha insistentemente, acenando para a cmera de circuito fechado. - ABRAM, PELO AMOR DE DEUS!!! O animal parou de correr e se aproximou, calmament e, com os olhos atentos aos meus movimentos. A poucos metros de mim ele parou. N em parecia cansado. Ficou parado sem esboar qualquer reao. Ele no ia me atacar. No ia . - Rindu? voc? - ouvi pelo interfone. Claro, seu estpido! - Por onde voc andou? - perguntou. Abra logo. Ouvi o porto destravar. Foi abrindo devagar. Ele no ia me atacar. Entrei calmamente caminhando de costas. Parei e vi a porta se fechar. Ele me olhava com a cabea erguida. Sorri. Por que no me atacou? Me sentei no primeiro sof que encontrei. Exausto. Esperei o ritmo cardaco voltar ao normal. Ele no me atacou. Ri de nervoso, de felicidade. Ri, quase sem ar, toss indo em seguida. Reparei que no canto da sala havia um trem eltrico montado. Os t rilhos passavam por entre almofadas, poltronas. Ri novamente. Mrio entrou e se ap roximou. - Que saudade... - ele disse. Cheirava bebida. No me levantei. No o cumprimentei. Ri. Ele ficou na minha frente, com um sorriso e stranho. Parecia deprimido. Martina fez uma rpida apario, disse um oi seco e sumiu em seguida. - Do que voc est rindo? - ele perguntou. No respondi. No pensava em nada. Apenas ria . - Ela est assim por minha causa - ele comentou enrolando a lngua. Bbado. No me impor tei. Mas fiquei aflito percebendo que os problemas eram os mesmos. Nada mudou. P or dias no hotel eu esquecera aquelas bobagens. Quase me levantei e voltei para l. - Rindu... Rindu... - ele repetia o meu nome entre emocionado e deprimido. - Gostou? perguntou apontando para o emaranhado de trilhos, vages, casinhas de pa pel, luzinhas, fios. Acenei com a cabea qualquer coisa. O puma no me atacou. Mrio m e apontou os detalhes das instalaes, sentou no cho feito uma criana e apertou um boto , colocando o trenzinho em movimento. - Legal, no ? - perguntou com os olhos cados. Fiquei observando seu sorriso para a maquininha. Por que ele sorria para aquele brinquedo idiota? Me levantei e caminhei at a jane la. Ele no me atacou. Olhei ao redor da sala. Os mesmos mveis, os mesmos quadros. Encostei a janela e perguntei para Mrio: - O que aconteceu naquele dia? - Que dia?- continuava a acompanhar o vaivm do trenzinho. Observei uma estrutura metlica instalada no jardim. Parecia um catavento. As hlices estavam abandonadas n a grama. No estava terminado. - Voc est construindo isso? - apontei para fora. - . - um catavento, no ? - . - E voc vai terminar de construir? Ele procurou com as mos a garrafa ao seu lado. Deu trs goles e repetiu meu nome, rindo, desta vez com um olhar muito triste. O q
ue estava havendo? Me sentei na sua frente e pedi ateno, colocando a mo no seu rost o. - O que aconteceu naquele dia entre mim e Martina? - No aconteceu nada - ele respondeu me olhando. - Mas por que ela fez aquilo? - Por que voc fez aquilo? - me devolveu a pergunta. - Mas voc ficou incentivando a gente! - E voc no gostou? Fiquei sem resposta. - Vocs tinham combinado? - perguntei. Ele no respondeu, rindo meio dbil. - O que que voc tem? - perguntei. Ele fez uma expresso aptica. Apalpou a garrafa com a mo e deu outro gole, deixando escapar um pouco pelo canto da boca. A noite, pouca coisa mudou. Mal nos falamos ; cada um preparou seu prprio prato e jantou num canto. S vi Martina passando no c orredor, com a cara fechada. Evitou contato, se isolando no estdio de fotografia e no seu quarto. O clima estava constrangedor e no era por minha causa. Acontecer a algo entre eles, uma desavena qualquer. J deitado, antes de dormir, escutei uma discusso calorosa. No entendia o que diziam, apenas ouvia os gritos. At que pararam de gritar para trocarem socos e pontaps. Um vidro se quebrou, um mvel caiu, um co rpo foi ao cho. Uma porta bateu. Algum saindo. Em seguida, soluos. Um choro dodo, en gasgado, um choro de mulher. Senti saudades da ninfa silenciosa. Stellinha. Ao longe, uivos de cachorros avisavam que a noite ia ser barulhenta. O puma poderia estar por perto. Por que no me atacou? Olhei para o vidro de comprimidos ao lado da cama e ri. Boa-noite. No estava faze ndo muito frio. O jardim tinha se transformado num imenso matagal, mas ainda dav a para encontrar algumas flores. Primavera. A cachorrada me cercou querendo brin cadeira. - SAI! Besteira. Quanto mais gritava, mais eles pulavam. Tudo bem, eu estava de bom humor. Subi num pequeno trator estacionado no fundo da garagem e, depois de vrias tentativas, ele acabou funcionando. Era um cortador de grama bem simples. P assei umas duas horas, debaixo de um sol forte, arrumando o tal jardim. O cheiro bom de grama cortada se espalhou por todos os lados. Terminei e desliguei o tra tor. Vi Martina encostada na porta do terrao do segundo andar. Estava de robe, de spenteada, como quem acabara de acordar. Olhei para ela. Se virou e entrou. O qu e ela estava pensando? Em mim? No meu corpo? Ou ser que ela nem se lembrava? Volt ei para o servio. Peguei uma luva e uma tesoura e arrumei os canteiros. Para fina lizar, usei uma mangueira para regar tudo. Aproveitei e molhei os cachorros; s pa ra irrit-los. Com o rabo do olho percebi Martina na janela da sala olhando para m im. Ficou uns cinco minutos, sem sair do lugar. Eu estava sem camisa, o que me d eixou encabulado. Desliguei a mangueira e entrei na casa. Que coisa... Mrio chego u, bateu a porta c passou por mim sem me cumprimentar. Subiu a escada, rpido. Mai s gritos. Silncio. Instantes depois, ele desceu e saiu novamente, batendo a porta . Ele sempre conseguia agitar um dia inteiro em apenas alguns segundos. Voltei p ara o hotel. Fiquei l, olhando para a fachada, as janelas dos vrios quartos, a rec epo encharcada, o elevador panormico. Depois de um tempo, voltei para o bunker. No f ui ver Stellinha. No fui ver ningum. Simplesmente fiquei um bom tempo olhando para a fachada do hotel e voltei para o bunker. s vezes eu acordava de timo humor. Sa do quarto j cantando. Arrumei a casa, dei banho nos cachorros mais fedorentos, varri as salas, lavei a loua acumulada, organizei os mantimentos, troquei lmpadas queimadas, joguei fora o lixo e at troq uei os botijes de gs. Sa para arrumar mais bebidas e comida. noite preparei um sofi sticado jantar e decorei a mesa com velas e flores. Enfeitei toda a sala com bex igas de borracha e vesti uma roupa limpa. Bati na porta da Martina e a convidei para o jantar. Fiz tudo com a maior naturalidade, como se tudo estivesseOK. Algu ns minutos depois ela desceu. Estava com os olhos inchados de tanto chorar e uma expresso cada. Olhou um pouco surpresa para a arrumao, mas no comentou nada. Apenas sentou e se serviu. - Ele no est em casa? - perguntei tranqilo. Ela me olhou e respondeu desanimada: - No. Pausa. Depois, ela reclamou triste: Ele me bateu. Desviou o olhar um pouco tensa e voltou a comer.
- Esse vinho uma delcia, quer um pouco? ofereci sem nunca ter bebido o tal vinho antes. Ela estendeu a taa. Servi. Pausa. - Voc est bem? - ela perguntou. Nossos olhos se cruzaram. Vi sua boca e quase pude sentir ela me beijar. Abaixei a cabea, me censurando. Ouvimos Mrio chegar e estac ionar a moto. Ela ficou mais tensa. Ele entrou, fechando a porta com violncia. Ma rtina deu um pequeno tranco, se assustando. - Ah, comemorando... - ele disse assim que nos viu. - No estamos comemorando nada - respondi. Ele se serviu de vinho sem ser convidad o, deixando cair um pouco sobre a mesa. - Ela j te contou? - perguntou. Olhei para a Martina que estava com a cabea baixa. - uma piada - ele comentou tomando uns goles da bebida. - No tenho certeza ainda - ela disse sem nos olhar. - Voc me sacaneou! - a melhor coisa que voc tem pra dizer? ela perguntou. - Voc queria que eu te trouxesse flores? - ele disse. Pegou o mao de flores que eu havia arranjado no vaso e jogou nela. - Toma! Um presente! Os olhos dela se embaaram. - O que est acontecendo? - perguntei finalmente. Ele riu. - Esta babaca est grvida! Fiquei perplexo. Olhei para Martina. - Por qu? - foi a melhor coisa que encontrei para dizer. - Por qu?! Para criar uma nova civilizao. Pra encher o meu saco! - Mrio disse com muita raiva. - Mas ns tnhamos combinado - comentei. - No tnhamos combinado nada - ela disse me olhando. Mrio bebeu todo o copo e disse para Martina: s No vou ficar cuidando de mulher grvida nem de beb choro. Como se j no bastassem todo os problemas... Me deixem em paz- ela comeou a chorar. Eu no preciso de vocs, eu no preciso de ningum. Atirou o guardanapo sobre a mesa e se levantou derrubando a cadeira. Saiu, seguida por Mrio. - Vai se trancar mais uma vez. Ter de vomitar sozinha, ficar enjoada sozinha, par ir sozinha. Voc estragou tudo! - Estraguei o qu?! Estraguei essa vida de merda que a gente t levando?! - ela grit ou do alto da escada. Bateu a porta e se trancou: Mrio voltou resmungando. - Estragou tudo. uma irresponsvel. Como que pode, ficar grvida nessa situao? Sentou e se serviu mais uma vez de vinho. - Merda! - deu um soco na mesa. - Eu vou embora. Vou deixar essa mulher a, apodrecendo. Fiquei perplexo. Mais uma noite em que os cachorros latiram em coro. Lua cheia. Pensei em colocar arsnico na rao deles. Saco! Fiquei deitado, procurando a melhor p osio. De olhos abertos, via os vrios desenhos que a luz azulada fixou na parede. Um deles tinha o formato de um puma. Um puma sentado, com um longo rabo. Ouvi uma porta se abrir. Passos no corredor. A descarga da privada puxada. Tosses, um gem ido e, em seguida, vmito. Engasgo, outro gemido, outro vmito. Ouvi a respirao difcil. Me levantei e fui at o banheiro. Martina estava sentada no cho, apoiada na borda da privada, com os braos cados, com a cabea cada. Acendi a luz. Voc est bem? Olhou para mim, apertando os olhos, por causa da luz. Estava plida. - Quer que eu te faa um ch? Qualquer coisa? Fez um "no" com a cabea e voltou a vomit ar. Parou e me encarou como quem pede socorro. Me sentei do seu lado, umedeci um a pequena toalha e limpei a sua testa e a sua boca. Estava suada. Eu a abracei. Ela apoiou a cabea no meu ombro e ficou em silncio, respirando com dificuldade. Fi quei fazendo carinho na sua cabea. Alcancei um copo, enchi de gua e dei para ela t omar. Suas mos tremiam, estava gelada. Notei que estava magra, com as costelas sa lientes. - Respira fundo. Ela obedeceu. Ficamos um tempo naquela posio. Eu fazendo carinho e ela respirando fundo. Parecia cansada, muito cansada. - Est melhor? Fez que sim com a cabea. - No quer mesmo que eu te prepare um ch? Fez um "no" com a cabea. Tentou se levantar .
No se agentou de p. Se apoiou na pia para no cair. Tentou de novo sem conseguir. Est ava fraca. Fomos at seu quarto. Ela no meu colo, leve, muito leve. Eu a deitei na cama e estiquei as suas pernas. Arrumei sua roupa e a cobri com um cobertor. Pe gou na minha mo e me encarou agradecida. Fiquei triste. Permaneci sentado ao seu lado por uma meia hora, olhando seu rosto frgil, plido. Fechava os olhos, mas depo is abria e me olhava triste. Virou para o lado e fechou os olhos de vez. Fingia que dormia. Dei mais um tempo, at que me levantei delicadamente e sa. Feche i a porta sem fazer barulho. Martina tinha a magia de me comover. Muito triste. - A mim ela no engana - comentou Mrio, dirigindo com displicncia. - Debaixo daquela carinha santa, tem muita malandragem. - No sei. Ela est to mal... - Voc no conhece ela direito. Uma fileira de ratos atravessava a rua na nossa fren te. - Desgraados! Mrio acelerou e passou por cima deles. Senti seus ossos se quebrarem sob os pneus. - Esto por toda parte... - ele reclamou. Olhei para trs e vi o rastro vermelho dos pneus. Sangue. Atravessamos a ponte sobre o Rio Tiet e, pela contramo, fomos at o Campo de Marte (ser que esperavam que pousassem discos voadores naquele campo de aviao?!). Entramos ro maior dos hangares e fomos a p at o ptio. Os avies estavam estac ionados, presos por cabos de ao. - Nunca ardei de avio - eu disse. Ele riu e depois falou: - Nem eu. Subiu na asa de um monomotor e tentou abrir a porta. - No deve ser difcil. Talvez seja como guiar um carro. Forando sem conseguir abrir, ele reclamou: - O mais difcil entrar nele. Desistiu. Desceu da asa, limpou as mos e lembrou: - Mesmo que soubesse pilotar, seria superarriscado. Estes avies esto h muito tempo parados. Foi at a frente de um deles e, fazendo muita fora, abriu o capo. - Se falhar, no tem acostamento. Cai. Voc se arriscaria? - perguntou tentando espa nar a nuvem de poeira que cobria o motor. Estava completamente enferrujado. No. No me arriscaria. Caminhamos por entre outros avies e helicpteros. Alguns tinham os pneus murchos. Outros, arbustos presos nas asas. Deteriorados, abandonados. Fomo s at um pequeno galpo. Escola de Pilotagem. Entramos numa sala repleta de mapas, l ivros, cadeiras e mesas. No quadro-negro, estava escrito a giz: "Comandante Cruz viado!". Havia na estante vrias apostilas do curso de pilotagem. Ventos. Meteorologia. Legislao. Astronomia. Pouso e Decolagem. Aerodinmica. Havia uma porrada de apostilas. Mrio pegou um pequeno livro, folheou e me mostrou , com um sorriso estranho na cara. "Noes de Pra-quedismo." Foi uma irresponsabilida de completa. Talvez por isso, uma emoo insupervel. O manual era bem claro: "Os pra-q uedas devem ser revisados a cada trs meses...". No entanto... Loucos. O marco da Serra do Mar indicava 786 metros de altura. Um penhasco sem rvores. Fizemos um te ste atirando um boneco improvisado. Apesar de voar sem controle, ele aterrissou suavemente. Soprava um vento fraco na direo da baixada santista. Poucas nuvens e a lguns pssaros plainando; sinal de bolhas de ar quente. Era o dia ideal. Perfeito. Saltei poucos segundos depois de Mrio. O velame inflou rapidamente, me deixando m ais seguro. Abaixo, Mrio tambm flutuava normalmente. Passei a sentir arrepios de xt ase. A floresta sob os meus ps e o oceano no horizonte. O cu por toda a parte. Adr enalina. No demorou muito e j comecei a berrar. - IIIAAAAA! IIIAAAAA!! Uma sbita corrente me empurrou para cima, aumentando a distncia entre mim e o penh asco. - IIIAAAAA! Ouvi Mrio gritar: - LOUCOS! QUE DIFERENA FAZ!? LOUCOS! Consegui manipular o arns de lona com mais in timidade. Fantstico, eu estava me guiando para a direita, para a esquerda, para c ima, para baixo. Observei toda a imensido da baixada, que cabia nos meus braos. De scia para conquist-la. - IIIAAAAA! Estiquei a mo e, como se alcanasse o cu, arranhei as nuvens. O mundo to admirvel... Tinha a ntida sensao de que tudo me pertencia. Voando no vazio.
- IIIAAAAA! Eu era um ponto de poeira solto no vento, sobrevoando formas, cores, o mundo. Um msero ponto pronto para dominar tudo; o mundo. Um msero ponto; e cabia tudo nos meus braos. Era o meu lugar, entre o Cu e a Terra. L sim, era o meu lugar, voando entre vazios. - IIIAAAAA! Havia uma porta na garagem do bunker que h muito me intrigava: estava trancada. Um dia eu peguei um machado e a arrombei. Era um compartimento pequen o, cheio de baratas e p. Havia um motor atrelado a um tanque de leo diesel, chaves , essas coisas. Estava coberto por uma lona e por teias de aranha. Chamei Mrio pa ra ver o que era aquilo. E um gerador, no ? - perguntei. Ele olhou com desprezo, mais preocupado em esmagar uma barata com o p. - E da? - perguntou. - Como e da? Um gerador. Voc no precisa mais montar um. s limpar e ficarmos livres d o blecaute. Ele ainda estava mais interessado na maldita barata. - Como que se liga isso? - perguntei. Sei l! Seus olhos procuravam outras baratas. Tentou acertar uma, no canto da pare de, com o bico do sapato. Em vo. Ela escapuliu por detrs de uma tbua. - O que h com voc? Claro que voc sabe como funciona isso! Ficou uma porrada de temp o enfurnado naquela biblioteca. At comeou a construir um catavento. Qual o problem a? - Problema? No tem problema nenhum. Pausa. Ficamos nos olhando. Ele disse: - Acho que no me interesso mais por essa casa. Alis, acho que no me interesso mais por nada. Fiquei surpreso. - Estou cheio daqui. Cheio de esperar, de matar o tempo, cheio dessa cidade. No t em mais o que vasculhar. No tem nada para procurar. E agora, para piorar, esta menina esperando uma criana. loucura. O que vai ser de ns? Vamos envelhecer nesta casa? Eu no quero envelhecer. E eu estou envelhecendo. Eu estou ficando louco. Esse troo vai acabar conosco. Essa puta rotina! Chutou um a barata. Desta vez, acertou em cheio. - A gente ficou esperando por uma expedio. Passou um jato e nada. Ficamos procurando sobrevivente. Encontramos aquela velha e mais nada. Ser que no vamos aprender a lio? A gente nunca aprende a lio! Esta porra de cidade est abandonada e no h o que fazer. Podemos ficar saltando de pr aquedas todos os dias, mas vamos nos encher. A se inventa outra coisa at a gente s e encher. Porra, at quando? At virarmos selvagens? Procurou outra barata; pelo jei to, tinha gostado de chutar baratas. - Vamos dar o fora! - ele sugeriu. Parou bem na minha frente, colocou o dedo sob re a mesa empoeirada e comeou a desenhar o que parecia ser o mapa da Amrica. - Voc no tem curiosidade de saber o que est acontecendo na Amaznia? Ser que os ndios v iraram esttuas? Continuou a desenhar: - E o Peru? Mxico? Nova Iorque? Fez uma linha na direo do velho continente. - E a Europa? Fez outra linha. - frica? Continuei ouvindo em silncio. - Temos milhares de carros. Em todos os pases. Estradas vontade. Combustvel vontad e. Nova Yorque. cara... - E se no tiver ningum l? - perguntei. - Tudo bem. Seria uma pena. Mas pelo menos estaramos nos movimentando. Novas pais agens. Novas realidades. Coisas diferentes, outras ruas. Tudo diferente. - A Martina no vai querer ir - comentei. Ele levantou a cabea e perguntou desconfi ado: - O que que tem? Foda-se ela! - Ela est esperando uma criana. - Foda-se tambm essa criana. E o que voc tem a ver com isso? Voc pediu? Ningum pediu. Ele ficou irritado. - Ela no vai querer ir. O que a gente faz? Deixa ela para trs? - perguntei. - Voc est do lado dela? - No nada disso. que... - Que se dane! Ela e o beb.
- No fala assim. Era revoltante ver Mrio falar daquele jeito. Mas eu sabia que quando ele estava d esconfiado, se tornava muito agressivo. Tentei contornar e ser mais diplomata. melhor a gente ficar unido, porque seno... - Ficamos unidos quando concordamos com as mesmas coisas. No somos grudados. Cada um pode seguir o seu caminho. E isso vale para voc. Saiu estupidamente. No conseg ui contornar. Pensei no que ele tinha dito. "Isso vale para voc." Trabalhei com a intuio. Substitu as peas desgastadas como velas, fios, filtros. Tomei o cuidado de desmontar cada pedao, desenferrujar cada um com lubrificante e recolocar tudo no mesmo lugar. Explorei os vrios fios, chegando a trocar fusveis da caixa de fora. Ao ligar o gerador, sucesso. Funcionou. Fcil. Estvamos preparados para o blecaute. M as e da? "A gente nunca aprende a lio!"? Fomos at o Q.G. do II Exrcito procura de nov as armas. Num depsito atrs de um campo de futebol, encontramos o que buscvamos, inc lusive alguns uniformes do exrcito. Mrio deu a idia: - Vamos agora andar vestidos com isto. Seremos os soldados da cidade. Se por aca so formos atacados por alguma organizao estrangeira, ficaro intimidados com essas r oupas. Sem cerimnias, ele escolheu uma roupa de oficial: capito. Vestiu a cala, o c asaco verde-oliva e encaixou na cabea o quepe com a patente e o braso do exrcito. - Desconfortvel - ele reclamou. Ficou bonito e elegante. A roupa fora feita para ele. Eu, modesto, vesti o uniforme de um recruta. No quadril, coloquei um cinto onde cabiam facas, granadas e at um cantil. - Ficou elegante - ele me disse. Agradeci. Ficamos mexendo nas armas quando ele tirou de um armrio uma grande caix a de madeira. Abrimos. Granadas, dessas feitas de ferro fundido com ruturas ao r edor. Ele tirou o pino. - H, h! Jogou com toda a fora e ela foi cair no campo de futebol. Explodiu, espalhand o grama e terra por todos os lados. O zunido permaneceu no meu ouvido. - Bravo! - ele exclamou. - Muito melhor que dinamite... Acabou de falar e tirou o pino de outra. Desta ve z caiu sobre o telhado de uma pequena construo. Explodiu despedaando a telha de zinco. Achei divertido. Joguei uma debaixo de uma Kombi. Explodiu. Rimos, rimos bastante. Carregamos toda a munio num jipe do exrcit o. s gargalhadas. Mrio disse: - Quero ver algum atacar este exrcito. Podemos conquistar um imprio maior que o deN apoleo! Vamos invadir o Paraguai, a Bolvia, o Peru, os Estados Unidos, o Canad. Vam os invadir at o Alasca, se bobearem. Gargalhamos. O mundo estava correndo perigo por causa do microexrcito que montamos. Imaginei e u e Mrio tomando posse dos silos atmicos que existem nos desertos do Arizona. Ameaaramos o planeta com msseis carregados de ogivas nucleares. Que tal ser o dono do mundo? Colocamos no jipe mais bolsas de pra-quedas. Mrio disse exaltado: - Vamos pular do Corcovado, do Empire States, quem sabe at da Torre Eiffel. Imagi ne, pular do Corcovado e sobrevoar o Rio de Janeiro... Meu corpo ficou grande de mais, crescendo at a atmosfera, olhando para todos os oceanos, caminhando sobre c ontinentes, sentado em vulces, deitado em grandes florestas tropicais. Minha mo fi cou grande demais, destruindo cidades com um simples tapa, construindo castelos, arrancando pennsulas. Grande e ansioso por abraar o planeta. Rindu em expanso. Faz er o que em So Paulo? Fazer,o que em Nova Iorque? Fazer o que com o tempo? Fazer o que cota o nascimento dirio do sol? Fazer o que com as granadas se estilhaando e m fragmentos? Fazer o que, caso ela tenha o filho? Fazer o que, se acabar a luz? Fazer o que, se formos atacados por jaguatiricas? Fazer o que, se tudo voltar a o normal? Fazer o que com a comida estragando? Fazer o que com tudo o que aprend i? Fazer o que com as palavras? Fazer o que com a minha obra, com a minha imagem ? Fazer o que com a humanidade? Fazer o que com a cidade presenteada? Fazer o qu e com a indiferena do que verdade e mentira? Fazer o que para alguma coisa ter se ntido? Por que luto para conservar a minha vida? Por que desapareceram os valores morai s? Por que tomar duas plulas para dormir? Por que no me transformo num ponto entre o Cu e a Terra? Por que tudo isso aconteceu? Por que a velha no entrou em contato ? Por que o puma no me atacou? Por que Stellinha dormiu com o pai da melhor amiga ?
Por que Martina abriu o seu corpo para mim? Por que fomos os escolhidos? Por que eu sou sempre to infantil? Por que temer a morte? Por que temer a vida? Talvez v alesse a pena esperar. Talvez devssemos ter filhos. Talvez encontrssemos uma cidad e habitada. Talvez tenhamos morrido na caverna. Talvez eu no tenha cncer. Talvez devssemos saltar de cidade em cidade, inconseqentemente. Talvez o praquedas no abrisse. Talvez valesse a pena viver. Talvez valesse a pena morrer Talvez eu m e transforme num pequeno ponto entre o Cu e a Terra. Talvez a vida no fosse to tris te, nem to repetitiva. Talvez eu ame Martina. Talvez eu ame Mrio. Uma nuvem de poe ira, flutuando entre o Cu e a Terra, entre a vida e a morte. O saco que eu pensav a demais. Fazer o que se eu pensava tanto? Por que eu pensava tanto? Talvez eu no devesse pensar tanto. Talvez. Estvamos sozinhos, frente a frente. Seu s olhos pareciam cansados, perdidos. Eu podia ouvir as batidas do seu corao. Esfregava o tempo todo um brao contra o outro, como se estivesse sentindo frio. M as no estava frio. Ela estava triste, realmente triste. A mesa parecia ter dimense s gigantes, como se fosse o nico mvel da cozinha. Permanecamos calados, frente a fr ente, iluminados pela luz da manh. Me servi de caf. Uma gota de suor caiu sobre o pires. Merda, eu estava muito aflito; e preocupado em no demonstrar isso. Control ava gestos, caras. De repente, me enchi o saco daquela situao. Coloquei a xcara sob re a mesa, levantei a cabea e perguntei queima-roupa: - Por que voc fez aquilo comigo? Martina levantou a cabea. Ficou um tempo me estranhando, como se estivesse pensan do no que eu dissera. Finalmente sorriu: entendeu a pergunta. Balanou a cabea e me olhou bem no fundo do olho: - Pela mesma razo que voc... Fiquei arrependido de ter perguntado. Queria sumir de l. Vergonha. Esconder a cara. Ela continuou: - ...Atrao. Teso. Essas coisas. Voc entende, no entende? Continuava me olhando. Meu c orpo enfraqueceu subitamente. Eu ia desabar. Me apoiei na mesa para no cair. Minh a mo suava. Disfarcei: como se aquele papo fosse a coisa mais normal do mundo. No rmal. - E voc gostou? - perguntei sem trair a pose. Natural, seja natural. Outra gota de suor desabou sobre a mesa. Continuava apoiado. Ela me olhava. - E voc? - perguntou. - ... no sei, mas foi to improvisado, no ? Era um vdeo, depois.. no ? Limpei o suor da testa com uma rpida passada de mo. S piorou. A mo estava mais e ncharcada. Que situao... - E isso tem alguma importncia? - ela perguntou. Ela s perguntava. No dizia nada. Tem importncia? - repetiu. Claro que sim. - E, no tem importncia - eu respondi, falso. Meus braos comearam a doer. Eu me apoia va com muita fora, quase que empurrando a mesa. Peguei com as mos trmulas um cigarr o e acendi. Eu nunca fumava cigarros. Joguei sem querer a fumaa na cara dela. Ela fechou os olhos, abanou a fumaa e riu. - Voc gostou? - perguntou. No. Muito estranho. Improvisado. Rpido. Descontrolado. S e bem que o ato em si no saa da minha cabea. Os seios, as pernas, o quente, carne q uente. - , Rindu, voc ficou preocupado com aquilo? Claro que tinha ficado. Por qu? No era para ficar preocupado? No? Ser que fiquei preocupado toa? Disfarcei. Fiz um "no, imagine!" com a cabea. Um "no, imagine!" bem exagerado. Mas s fiz com a cabea. No consegui articular nenhuma palavra. No era para ficar preocupado? Dei uma tragad a to forte que quase engasguei. - Esquece, Rindu, foi uma loucura qualquer. Uma coisa toa. Sexo. Uma coisa toa? - Alm do mais, foi gostoso - ela disse. Pronto. Desta vez engasguei com a fumaa e tive um acesso de tosse. Os olhos arderam. Maldita fumaa! Ela riu mais uma vez: - Voc um cara engraado... Falou de novo. Ela sempre falava isso. Tinha de me confo rmar. Para Martina, eu era um cara engraado. Mas a verdade que ser um cara engraado era muito chato. Preferia ser um cara norm al, no engraado. Apaguei o desgraado cigarro no pires. - , mas acontece que... Foi... Bem... Eu no estava conseguindo exprimir uma frase sequer. As idias embaral havam. Ela se levantou da cadeira e veio para perto de mim. Segurou a minha mo e deu um sorriso. - Voc um cara sensvel. Desculpe se te magoei. Ela no tinha me magoado. - Voc um cara legal, muito legal... Seu sorriso mudou. Sua cara mudou. Os olhos e
mbaaram rapidamente. Tentou falar mais alguma coisa, mas... um n na garganta. Me l evantei e coloquei a mo no seu ombro. Ela comeou a chorar. Encostou a cabea no meu peito e chorou. Eu a abracei. Apertou o rosto contra o me u peito. Triste, muito triste. Num dado momento, ela levantou a cabea e com os ol hos vermelhos falou: - Esse filho pode ser seu... Meu corao estremeceu. Tive vertigem. - Eu no tenho certeza... - enxugou o nariz. Foi a coisa mais absurda que j ouvi. M e perdi completamente. Imagens de crianas gordas, carecas, sorrindo para mim. Meu s braos ficaram imveis ao redor do seu corpo. No consegui falar nada, nem pensar em nada. Apenas vi as imagens dos bebs gordos, carecas, sorrindo para mim. - O que eu fao, Rindu? O que eu fao? Vocs no querem, nem so obrigados. Sei que Mrio planeja cair fora. Ir embora daqui. Mas eu no posso. No agora... Bebs g ordos com a minha cara, minhas mos, meus ps, meus gestos... - Por que a gente no deixa corno est? A gente mora nesta casa, cria essa criana e m ais crianas. Sei que no est nenhuma maravilha. Mas vamos deixar assim - ela disse f ungando o nariz. - Deve estar tudo deserto, abandonado. Seno, eles j teriam aparecido, no ? Desgrudei dela e peguei outro cigarro. Foi difcil tirar um palito de fsforo da caixa, com a s mos trmulas. Ela me ajudou. - O que eu fao? - perguntou. Acendeu meu cigarro. Traguei fundo. Acho que nunca h avia tragado com tanta fora. Pai; por mais absurdo que possa ser. Pai. Nos olhamo s. Desta vez, foi ela quem puxou meu corpo para perto dela. - O que a gente faz? Encostei a mo no seu corpo. Dentro dele... uma semente. - O que a gente faz? - perguntou mais uma vez. Encostou a sua testa na minha. O que a gente faz? Soltei a fumaa. Me abraou mais forte. Bebs gordos, carecas, com a minha cara. Tocou o seu nariz no meu. Pai. Foi inevitvel: nos beijamos. - VOC ME TRAIU! VOC ME TRAIU! Era Mrio, apontando para mim. Para mim. Ouvi um estro ndo que fez tremer o cho e as paredes do meu quarto. A porta do armrio abriu sozin ha. Outra exploso. O teto rachou; caiu um pouco de cimento na minha cabea. Corri p ara o corredor. Uma terceira exploso me obrigou a me jogar no cho e cobrir a cabea com as mos. Do terrao, vi o posto de gasolina em frente do bunker em chamas. Uma r ajada de metralhadora pipocou atrs de mim. Me escondi atrs do parapeito. Outra raj ada arrancou lascas da mureta. Se corresse, seria atingido. Fiquei um tempo enco lhido, at que caiu, perto de mim, uma granada. Sem o pino. Saltei para dentro e m e atirei atrs. de um sof. Explodiu, cobrindo tudo com fumaa. Com os ouvidos zunindo , corri at o quarto de Mrio e peguei uma metralhadora. Cruzando com a Martina apav orada, gritei: - Se proteje em. algum canto! Um princpio de incndio comeou na saleta de TV. Corri para o trreo e fechei a porta principal. Os cachorros latiam desesperados. Tiros de metralhadora atingiram os mveis da sala e o grande armrio de louas. Outra granada explodiu arrebentando tudo. Mais fumaa. Quebrei uma janela com o cabo da metralhadora e passei a atirar para todos os lados. Depois, mirei as janelas do prdio em frente e disparei. Meus olhos comearam a arder por causa da fumaa. Parei. Ouvia o barulho do fogo incendiando o posto. O que era aquilo? Estava sen do atacado. Por quem? Por qu? Piratas? Pelo monitor do circuito fechado pude ver que o porto estava intacto. Pelos outros monitores no vi ningum, nada, exceto o tal posto pegando fogo. E Mrio? Desde de manh que eu no o vejo. Onde ele est? Pode estar correndo perigo. Pode ter sido atingido. Merda! Outra exploso. Uma gra nada arrancou um p do piano. Desabou tocando um acorde desafinado. Uma nova rajad a acertou em cheio o lustre de cristal. As balas vinham de vrias partes. Havia ma is de uma pessoa. Sobreviventes selvagens. Sem pensar muito, sa agachado pela por ta de trs. Passei pelo chafariz e me escondi numa pequena moita, perto do muro. F iquei entrincheirado naquele lugar. De l, eu podia ver qualquer pessoa que pulass e o muro. Fiquei com a metralhadora apontada. Se algum pular, eu atiro! Se qualqu er coisa aparecer na minha frente, eu atiro! Mais uma rajada fuzilou os mveis da sala. Percebi um dos atiradores atrs da janela do quarto andar do prdio em frente. Filho da puta! Notei a sua silhueta e o cano da metralhadora. Me controlei. Se eu atirasse, ele me descobriria. S atiro s houver uma invaso! Escondido naquele lug ar, eu estava em vantagem. Como conhecia a casa muito bem, a melhor coisa a faze r era esperar. Houve uma trgua, comecei a temer por Mrio. Se ele ainda estivesse v
ivo e aparecesse desavisado, seria metralhado na certa. Merda! H quanto tempo est avam nos vigiando? Ser que esperaram a melhor oportunidade? Poderiam ser homens, homens sobreviventes sem mulheres. Viram a Martina e pronto. Queriam leva-la. Fi lhos da puta! Outra rajada pipocou na porta de correr. Me levantei e atirei em t odas as direes, crivando as janelas do prdio em frente. Queria explodir tudo. Raiva ! Logo recebi uma saraivada que no chegou a me atingir. Fui descoberto. Corri par a dentro da casa. Burro! Subi com a metralhadora em punho e peguei mais munio no quarto de Mrio. Encontrei M artina encolhida no banheiro com um revlver na mo e pedi que fechasse todas as por tas e janelas daquele andar. A grande escada de mrmore era a nica ligao com o resto. Coloquei almofadas e poltronas ao longo do corrimo. Ah, os filmes de guerra serv iram para alguma coisa. Me instalei no alto da escada, de onde eu via o hall de entrada, o terrao e quase todo o segundo andar. Se algum quisesse subir, estaria n a minha mira. Outra granada explodiu na sala. Comecei a sentir mais dio. Se algum deles aparecesse na minha frente, seria capaz de cort-lo ao meio, disparar balas contra seus olhos, seus dentes, despedaar seu corpo. Tanto tempo esperando encon trar sobreviventes e o que aparece esse tipo de gente... Assassinos! Meu dedo, no gatilho, estava tenso, pronto para atirar. Horas de espera, medo, di o. De tempo em tempo, eles jogavam uma granada para dentro da casa. Explodia, ma s eles no apareciam. Tentavam me vencer pelo cansao. Escurecia. No acendi nenhuma l uz. No escuro, eu era mais forte. Mrio no aparecia. Ouvindo o barulho, ele ia corr er para ver o que estava acontecendo e dar de cara com os assassinos. Merda! Mar tina se manteve ao meu lado, segurando a arma com as duas mos. Eu estava todo suj o de fuligem. Me lembrei do solitrio soldado atirando contra o inimigo. Ri. Marti na me olhou estranhando. Rindo? Mas era assim mesmo. Continuei rindo. O soldado solitrio que tem o seu charme. Os pssaros cantavam. Amanhecia. Aos poucos, as cois as ficavam ntidas. Havia poeira, fuligem, balas, mveis destrudos, buracos por todo lado. H um bom tempo tinham parado as exploses de granada, os tiros. O incndio do p osto em frente tambm terminara. Martina cochilava do meu lado. Ainda segurava a a rma. Eu havia permanecido todo aquele tempo na mesma posio, atento a tudo. Desisti ram? Trgua? Agachado, fui at o terrao e me escondi atrs do parapeito. No havia ningum, nenhum movimento. Vamos sair daqui. Pegar um carro, correr, despistar. Depois, nos refugiamos ou no "sobrado escroto", ou na casa dos pais de Martina, ou em So rocaba, um lugar em que certamente Mrio nos encontraria. Esperar por ele para som armos fora. Talvez at entrar em acordo com o inimigo. Inimigo? A que ponto chegamos... Acordei Martina com um leve toque em seu ombro. Combinei os planos. Peguei um fuzil e lhe ensinei como usar o troo. - Pode deixar...- ela falou. Sorrimos um para o outro. Descemos a escada em silnc io e fomos at a Veraneio. Dei a partida e abri o porto com o controle remoto. Arra nquei cantando pneu. Na avenida, acelerei na direo do Centro Velho, me lembrando d as vrias ruas que poderiam facilitar uma eventual fuga. Pisava fundo, me desviand o dos carros largados na pista. Desci a 13 de Maio j me preparando para entrar no Minhoco. No viaduto, Martina avisou assustada: - Tem um carro nos seguindo! Olhei no retrovisor. Filhos da puta! O sangue me subiu cabea. dio._ No final do elevado, dei um cavalo de pau, ficando de frente para o viaduto j percorrido. dio. Acelerei contra o inim igo. Mat-lo. Ele vinha na minha direo. Mantive o volante firme, correndo contra ele . Agora quero ver... Desviaram a poucos metros, cruzando comigo toda. - S tem uma pessoa - me avisou Martina. Filho da puta! Voltei at o incio do elevado e girei de novo 180 graus. Nunca matei ningum. Nunca imaginei que pudesse. Nunca imaginei que um dia eu ia querer. Acelerei. - Quando ele cruzar de novo. atira essa granada. Tira o pino, conta at trs e ioga. Entendeu? - Deixa comigo... - ela respondeu. Ele vinha contra ns, s que na outra pista. Pisei fundo. A poucos metros, gritei: - JOGA! Ela tirou o pino, contou at trs e jogcu, antes de cruzarmos. Observei pelo retrovisor a granada explodir na frente do seu carro. Atravessou a fumaa, perdeu o controle e bateu com tudo nas laterais do elevado. Dei meia-volt a e parei, no muito perto. Ficamos um tempo dentro do carro, olhando. O inimigo e
stava imvel, com a cabea apoiada na. direo. Desacordado? Morto? Abri a porta com cal ma. - Se ele se mexer, eu atiro - disse Martina com o fuzil na mo. A fumaa se dissipou . Caminhei devagar, engatilhando a metralhadora. Ele continuou imvel. Cheguei perto. Ele abriu a porta com toda a fora me derrubando no cho. Gritou para Martina: - No se mexe seno eu mato teu namoradinho! Era Mrio. - O que voc est fazendo?! - perguntei. - Ganhei! Quando tentei me erguer, ele ordenou: - Fica sentado! Em seguida, deu uma gargalhada. Seus olhos piscavam como num tiq ue. - Voc ficou louco?! - perguntei. - Cala a boca! Quem manda aqui sou eu! permaneceu me apontando a arma. - Qual que ? Voc vai me matar? - Traidor no se mata com arma de fogo. Traidor se enforca. - Por que voc fez isso? Desfruiu toda a casa! Quase nos relatou... - Voc estragou tudo! - ele respondeu. - Estraguei o qu? - Voc ainda pergunta? burro. Muito burro! No sei como te agentei todos esses anos. Voc tinha me prometido. Voc burro! Deixei ele continuar falando, com a arma na min ha cabea. - Voc no percebe o que est acontecendo? - No. No percebo - respondi. - Que saco! Vou ter de te explicar. Vou ter sempre de te explicar tudo? Voc nunca entende nada. Burro! Pausa. Tentei pensar no que ele estava falando. Estraguei o qu? Seus olhos continuavam a tremer. Ele no tinha esse tique. - O que eu estraguei? - perguntei. - Tudo! Tudo o qu? Ele vai ter de me explicar. - Tudo o qu? - Tudo! - Fala, porra! - No grita! - ele gritou. Fiquei quieto. Ele no disse nada, apontando aquela arma para mim. Martina no carro, com o fuzil nas mos. Tentei novamente. - O que eu estraguei? Seus olhos tremeram mais. Sua testa estava suada. Ele resp ondeu: - Eu e voc. Fiquei surpreso. - O que que tem? - perguntei. - Como o que que tem? Voc estragou. - Estraguei eu e voc? - perguntei. - Voc burro mesmo! - Voc j falou isso. Est sendo repetitivo. Me respeita! Quem manda aqui sou eu - ele disse. - Ah, e que diferena faz? Me levantei, desobedecendo. Ele levantou a arma. Estava quase de olhos fechados. - Fica sentado! Dei as costas e caminhei em direo Veraneio. - Volta aqui! No parei. - Eu vou te matar! No parei. - Traidor! Voc me paga! Burro! Entrei no carro, dei a partida e fui embora. Marti na, ao meu lado, no disse nada. Eu no disse nada. No havia nada para ser dito. Nada . Merda! A entropia. Mrio nos abandonou, indo morar num lugar desconhecido. O mal dito universo se expandiu. Ele estava na cidade: sempre ouvamos os estouros de gr anada e dinamites. Estava destruindo tudo: esttuas, monumentos, postos de gasolin a, tudo. A entropia. A destruio. Loucura. A frase "eu e voc" no saa da minha cabea. Eu e voc. Martina descobriu que era eu o seu nico protetor. Passou a fazer de tudo p ara me agradar. Exagerava. Cozinhou pratos especiais, organizou jantares caprich ados. Me trazia sempre caf com muito acar. Se esforava em contar histrias longas. E e u no conseguia disfarar o mal-estar, a depresso. Mais do que nunca, o cncer me ataco
u. Tonteiras toa, cansao, muito cansao. Sentia que havia uma forte presso prestes a ser rompida; um elstico esticado at o limite. Entropia. Maldito universo se expan dindo. Dois comprimidos para dormir. Dois para acordar. At quando? A frase "eu e voc" no s aa da minha cabea. No havia mais nada para ser resolvido, nem explicaes para dar, nem sadas vista. Esgo tou a fonte. Personagens doentias. Nossas personalidades ficaram anmicas, transpa rentes; inevitvel solido. Eu e voc. O maldito universo em expanso. Febre. Cncer. O co rpo ardia. Tremedeiras. Martina ao meu lado. Quente. Ela passava alguma coisa na minha testa. Quente. O teto balanava. Vultos cercavam a cama. Amm. Riam de mim. G ritavam comigo. Parem! Murmuravam sons estranhos. No conseguia entender. O que el es esto falando? Estava quente, muito quente. Todo suado, praticamente colado cam a. Eu tremia. Martina colocava alguma coisa no meu brao. Pedia para apertar. Aper tar o qu? A coisa debaixo do brao. Termmetro. Graus. Febre. Ela falava comigo. Ela falava muito rpido, eu no conseguia acompanhar. E eu tremia, como tremia. Uivos de cachorros. A lmpada parecia pulsar, pulsar, pul sar, pul sar... Martina me servi a uma sopa. Quente. Ela escorria no meu corpo. Delcia. Se misturava com o meu suor. Martina descobriu que eu era seu nico protetor. As paredes se mexiam, cada vez mais longe. Havia e cos. Fechava os olhos e via rostos misturados, rostos engraados. Ria. Todos falav am comigo. O que tanto tinham para me dizer? Quente. Febre. Cncer. Quente. Eu est ou morrendo. Finalmente estou morrendo. Eles j no falam tanto. Desistiram. Sozinho . Eu vou morrer, sozinho. E que diferena faz? Nenhuma. Nada. Sou. S. Me levantei c omo marionete; as foras que me moviam no eram as minhas. Eu estava leve, muito lev e. No sentia os ps no cho. No sentia calor, nem frio, nem dor. No tremia. Flutuava. A luz alaranjada, insistente, se apagou. Desci a escada sem fazer o menor esforo. Nunca me movimentara com tanta facilidade. Assim que sa, me assustei com a imensido do cu. Estava superestrelado. Lindo. Entrei no carro. Ele ligou sozinho e passou a andar sem que eu o guiasse. Correu por vrias ruas e aven idas. Os duros acenavam para mim. Pareciam felizes. Eu acenava de volta emociona do. Obrigado, muito obrigado. Flashes de luzes verdes e vermelhas estouravam pel o caminho. Estrelas me seguiam. Flores fosforescentes nasciam do asfalto. Cartaz es me saudavam: seja bem-vindo. Serei. O carro parou num parque. Museu do Ipiran ga. Assim que pus os ps no cho, a escada ficou iluminada, as portas e janelas se abrir am, as luzes se acenderam. Seja bem-vindo. Quando entrei no prdio, um vento arran cou a minha roupa. Arrepios. Fui caminhando at entrar num salo com piso de mrmore. Alguns ndios me saudaram. Eu os saudei. Me ofereceram um cachimbo comprido. Aceitei e comecei a fumar, fumar. Soltava uma fumaa verde que subia e formava nuv ens no teto. Nuvens brilhantes. Eles ficaram alegres. Riram. Eu tambm. Claro, era to engraado... Depois comearam a danar. Eu tambm. De mos dadas, formamos um crculo e icamos girando, danando, rindo. Um paj apareceu e foi para o centro. Todos se sentaram e fizemos silncio. Ele comeou a falar no seu idioma e a apontar para a nuvem verde que nos cobria. Eu conseguia entend-lo. Anunciou uma novaEra. Nova Era. Em seguida, apontou para mim e disse que era eu o premiado. O premiado . Todos me aplaudiram, felizes. Me cumprimentaram num abrao. Muito obrigado. Agradeci e disse que estava muito feliz. E estava mesmo. Uma bonita homenagem. F inalmente eles me levantaram. A nuvem me cobriu. Me carregavam danando e cantando . Verde. Senti que estava sendo levado para uma outra sala. Me deitaram numa cama bonita. A nuvem se dissipou. Fiquei sozinho. Escuro. Silncio. Uma nova Era. Viver numa nova Era... No meio do escuro, tudo escuro, vrios holofotes me iluminaram. Eu no conseguia ver o que havia a minha volta. Luzes. Ouvi passos se aproximando. Um vulto. Era Ste llinha, minha ninfa, coberta por um vu. Ela sorria. Disse que era um presente. Ti rou o vu ficando nua. Deitou em cima de mim e abriu as pernas. Contei que estvamos entrando numa nova Era. Ela falou que j sabia de tudo. Rimos. Ela estava bastant e feliz. Passou a falar o meu nome. Rindu. Senti sua carne se abrindo, ela me beijando... eu dentro dela. Seu corpo se cont raiu e foi relaxando at se abrir por inteiro. Meu presente. Nos amamos. Felizes.
Nova Era. Depois de um tempo, corremos de mos dadas por um labirinto. Corredores e mais corredores. Salas e mais salas. O Reino Animal. A Natureza. O Homem. Um v ento quente nos seguia por toda parte. Nos empurrava. De repente, ela desgrudou de mim e sumiu. Stella! Gritei seu nome. Stella! Olhei para trs e vi o puma. Nos encaramos. O Reino Animal. Ele rosnou. Eu rosnei para ele. Caminhou at se sentar na minha frente. Me agachei e comecei a passar a mo na sua cabea. Puma. Outro pres ente, s podia ser. Ele colocou as patas no meu ombro. Brincalho. Rolamos pelo cho. Brincando. Passei a correr e ele a me seguir. Saltamos bancos, subimos e descemo s as escadas, corremos, pulamos, rolamos. Meu presente. De repente um tiro. Meu pai, do alto de um pedestal, com um rifle na mo. Atirara sem acertar; o puma se e squivou e fugiu assustado. - Porra, pai, por que voc fez isso? - Estava te defendendo, filho. - Defendendo do qu? Ele no ia me atacar! - Como que voc sabe? No se deve ter tanta confiana. Voc sempre confia demais nas coi sas. - Ns s estvamos brincando. Voc estragou tudo! - No fale assim com o seu pai - disse a minha me saindo de trs dele. Me sentei num banco irritado. Ela veio e se sentou ao meu lado. - Como voc est? Estvamos preocupados. H meses que no manda notcias... - Estou bem, me. -Voc est abatido. Magro. Voc no tem se alimentado? - Tudo bem, me. Meu pai se sentou tambm ao meu lado. - Estvamos com saudades. O que voc tem feito? - Muitas coisas. - Como vai a faculdade? - No sei. Faz tempo que no vou l. - Voc precisa vir nos visitar. - Quando eu tiver tempo... - No seja rude com o seu pai - minha me reclamou. Era verdade. Eu estava sendo rud e. Mas era assim mesmo. Acho que eles me ensinaram trilhos muito retos. Eu os tr ansformei em curvas. Ah, que bobagem... - Vocs esto bem? - Com os "probreminhas" de sempre... - disse meu pai. - Como vo Clvis, Cludio? - Vo bem. - Eles continuam fazendo buracos nu jardim? Eles riram. - Mandem lembranas. Digam que eu gosto muito deles e que estou morrendo de saudad es. Est bem? E estava mesmo. Eu adorava aqueles dois. - Desculpem, mas tenho de ir. - Vem nos visitar no prximo vero. Me levantei e dei um beijo em cada um. - Juzo! - disse a minha me. - No confie tanto nas coisas, filho - disse meu pai. - Est bem. Adeus. Sa. Sentia pena deles. A pior coisa que existia era sentir pena dos prprios pais. Trilhos muito retos. Entrei desligado numa sala cheia de liteir as. Numa delas, um brao estava para fora da janela. Cheguei perto bem devagarzinh o. - H, h... Era Stellinha. Pulou no meu pescoo, deu uma lambida e saiu correndo. Safada ... Fui atrs, com o vento quente pelas costas. Ela ainda estava nua e corria, se escondia atrs de colunas, me dava sustos e corria, sempre sorrindo. Seu corpo bri lhava. Presente nu. Eu queria alcan-la a qualquer custo. No entanto, quanto mais e u corria, mais me afastava dela. Cansado de tanto correr, desisti e parei. Sentei numa escada para recuperar o fle go. Foi quando eu vi, num canto da sala, aquele sujeito esquisito. Clrico. Ele es tava agachado. - E a, como vai? - perguntei de longe. Ele me olhou mas no respondeu nada. - Voc saiu aquele dia e nunca mais a gente se viu... Foi ento que lembrei que eu e Mrio o expulsamos do grupo, na entrada daquela caver
na. - Voc estava com medo de entrar, lembra? Ele continuava agachado, sem responder n ada. Me levantei e fui at perto dele. - O que voc tem feito? - Nada - ele respondeu. Nada? Como que algum podia no estar fazendo nada? Era um c ara esquisito, mesmo! - Voc no est muito a fim de conversa, no ? - Sei l. - Est bem. Eu vou embora. Ele no estava muito a fim de conversa mesmo. Antes de sa ir eu lhe perguntei: - Voc ainda fica muito tempo trancado no banheiro? Ele levantou a cabea e responde u irritado: - Porra, voc no est vendo que eu estou tentando me concentrar? Foi quando percebi que ele no estava simplesmente agachado. Ele estava num penico de loua. Com as calas arriadas e tudo. Est bem. Eu o deixei em paz. Dei as costas e sa. Numa sala escura, uma mo encostou no meu ombro. Me virei devagar. Era a velh a, com um pedao de pau na mo. A imagem do medo. - Calma. No voc que eu procuro. Voc fica. Ela saiu. As luzes das outras salas foram se apagando. Comecei a sentir frio, muito frio. As janelas se fecharam. Me enco lhi num canto, amedrontado, com as mos tremendo. Escuro. O corpo todo dolorido. F rio. Um facho de luz foi-se aproximando. Uma lanterna. Iluminou a minha cara. No dava para ver quem estava atrs. - O que voc est fazendo aqui? Era a voz de Mrio. - que... comeou uma nova Era - resp ondi batendo os dentes de frio. - Voc est nu!? Me cobriu com o seu casaco de oficial. - A partir de hoje... tudo vai mudar - eu consegui dizer. - Voc est tremendo. Acho melhor te levar para casa. Ele me abraou e me carregou no colo at a sada. As luzes do museu estavam todas apagadas. Assim que samos a porta s e fechou e parou de ventar. Estava amanhecendo. Ele me levou. Afinal, que Era se aproximava? Acordei zonzo, com o corpo todo dolorido. Abri a janela e notei que o sol j estava se pondo. Fim de tarde. Desci encontrando Marti na na cozinha. - Voc est melhor? - perguntou. Colocou a mo na minha testa. - , a febre j passou. Pux a, pensei que voc ia morrer. Me sentei. Estava ainda bem fraco. Ela colocou uma xcara na minha frente e me serviu caf. Com bastante acar. - Ele esteve aqui esta manh - ela disse. - Quem? - Quem poderia ser? Mrio. Claro. Quem poderia ser? - E o que ele queria? Ela se sentou e fez uma cara preocupada. - Ele veio se despedir. - Porqu? - Porque ele vai embora. - Para onde? - No sei. Mal conversamos. Ele estava estranho. Eu tambm. Fiz que no ligava a mnima. Fingi qu e nem me importei. Ah... como eu sou babaca. Olhou para o cho. Triste. - Ele mandou te entregar isso. Dentro de um envelope, a estrela que ganhou por t er ido ao acampamento Belo Recanto. Veterano. - Ele foi embora de So Paulo - ela disse. Ele foi embora. - Voc vai atrs dele? - perguntou. No tinha pensado nisso. - No sei... apesar de tudo, eu no queria que ele fosse - ela disse, me deixando ca da vez mais triste. - Ele tem de ajudar a criar o nosso filho... Ps a mo na barriga e sorriu. Estranhe i. At ento, ela afirmava que no tinha certeza. Desta vez, falou claramente"nosso fi lho". Por qu? Tive um pensamento idiota: talvez ela nem estivesse grvida. - E se eu encontrar o Mrio e resolvermos no voltar? Foi uma provocao. No sei por que
disse aquilo, mas foi uma provocao. - Voc no faria isso com o seu filho... Duvidei mais uma vez que fosse meu filho. E stranho, no estava gostando nem um pouco daquela conversa. Acho que era por causa da gripe, febre, sei l. - O que foi? Por que est me olhando com essa cara? - ela perguntou. No sabia com q ue cara eu estava olhando. - Nada. No nada. Ela acendeu um cigarro. Estava tensa. Fazia de tudo para no demon strar, mas estava. Comeou a fumar sem parar. Pensei em dizer para no fumar, por ca usa do "nosso" filho. Mas no disse. Fiquei s olhando. - Hiii, que cara!? Meu Deus, que cara eu estava fazendo?! - Voc sabe para onde ele foi? Sabia. Rio de Janeiro. Aquela estrela era um sinal. H muito tempo, eu e Mrio viajamos de trem para o Rio. Tnhamos pouqussimo dinheiro. Mas deu na telha e fomos, para passar o fim de semana. Na primeira noite, andamo s por muitos bares e restaurantes em um lugar que os cariocas chamavam de Baixo; no entendi a razo, porque, tirando alguns morros, a cidade plana, no nvel do mar. Cruzamos com vrias personalidades da televiso, a ponto de confundirmos o garom com um gal de novelas. Todos sorriam bastante, gesticulavam, falavam alto, gargalhava m com qualquer coisa. Imaginei que o carioca era o povo mais feliz do mundo. Pes soas muito bonitas, saudveis, bronzeadas, corpos lindos. Imaginei que o carioca e ra o povo mais bonito do mundo. A uma certa altura, seduzidos pela descontrao e be leza, entramos numa pizzaria cheia de gente famosa. No princpio, julguei que foss e um lugar reservado aos artistas e que seramos expulsos a qualquer momento. Num canto, uma modelo, cujos seios estiveram mostra num comercial da TV, trocava car inhos com um astro do rock. No outro canto, um compositor baiano trocava carinho s com meia dzia de adolescentes. Um grande escritor trocava carinhos com uma pizz a. Era o nico que no sorria. Um grupo de atores de um teatro experimental experime ntava todos os tipos de pizza. Eram os que falavam mais alto, os que riam mais a lto e os que gesticulavam mais. Imaginei que os atores de teatro experimental er am pessoas mais que felizes. Timidamente, sentamos na ltima mesa. Eu olhava para eles morrendo de inveja: no fundo no fundo, eu queria mesmo era ser bonito, quei mado do sol e feliz, como os cariocas. Olhava para tudo com interesse e admirao. - Quer parar de fazer essa cara de babaca! Mrio me censurou. Parei. Comecei a fin gir que eu tambm era famoso, feliz, um grande pintor. Fiz cara de famoso. Peguei uma caneta e comecei a desenhar o lugar na toalha. Media as pessoas com a ponta da caneta e desenhava ferozmente. Tela branca. Imaginao. "Criar preencher espaos va zios..." O garom me reprimiu. - Se quer desenhar, v comprar papel na papelaria! Me desculpei. Garons so os inimig os nmero um dos grandes artistas. Eles no entendem... Mrio se virou para a mesa do lado e fez um convite cantora de rock, Paula, Fernan da, sei l, que comia uma pizza com os amigos. - Voc quer danar? Ela riu, simptica, mas recusou: - No est tocando nenhuma msica. Ele no desistiu: - No faz mal. A gente inventa. Mrio s vezes me fazia passar uma tremenda vergonha. Fingi que no era seu amigo, olhando para o outro lado, com cara de famoso. - Obrigada pelo convite mas que eu estou com os meus amigos... Ela era realmente simptica. No faz mal. Eu tambm estou com meu amigo. Merda! Ela riu e olhou para mim. Continu ei olhando para o outro lado. Um grande artista no olha para qualquer garota. Ele insistiu: - Como que voc pode recusar o convite de um veterano de guerra? - perguntou mostr ando a estrelinha do acampamento. Ela riu novamente. Ela no parava de rir. - Que guerra?! - Que guerra? Ora, que guerra, a Guerra do Paraguai. - Isso foi h mais de cem anos! - Eu sei. a batendo Um grande evou para que estou bem conservado. Ela recusou. No entanto, ficaram a noite tod papo, rindo toa. Eu, eu nem liguei. artista no liga para nada. No dia seguinte, a tal cantora de rock nos l conhecer toda a cidade. Era muito simptica. noite, ela nos deixou na es
tao ferroviria. Fomos embora. Nunca mais a vimos. Mrio ficou um ms sem falar em outra coisa. Se apaixonou perdidamente pelo Rio de Janeiro e, obviamente, pela cantor a. Chegou a escrever uma grande carta de amor. Mas ela no respondeu. Um grande ar tista no liga para nada. No entanto, ele continuou apaixonado, pela garota e pela cidade. Ele fora para o Rio de Janeiro. Eu tinha certeza. Quando recuperei um p ouco as foras, passei o dia limpando a casa, na medida do possvel; quase tudo fora destrudo. Instalei outra TV e outro aparelho de vdeo. Joguei fora os mveis quebrad os. Varri todo o cho. Uma vez, prometi nunca abandonar Mrio. Uma vez, senti muito medo de perd-lo, senti medo de ele morrer. "Estragou tudo, e u e voc", ele me disse. Enchi o gerador eltrico com leo diesel. O blecaute iria che gar, com certeza. noite, fumei um no terrao olhando para o vazio. A cidade estava silenciosa. Vazia. Mrio fora embora e eu percebi que estava com medo. E se ele n unca mais voltar? E se ele morrer? Mrio estava indo embora e eu ali, olhando para o vazio... Maldito vazio! Martina se aproximou. Me deu uma xcara de caf e sentou do meu lado. - Por que voc est me olhando com essa cara? - perguntou. No conseguia dormir. Estav a tudo muito silencioso: nunca conseguia dormir com muito silncio. Meus olhos se mantinham bem abertos. Abri a janela porque estava muito quente. Tirei a roupa e tentei mais uma vez. Nada. Estiquei a mo, peguei o vidro de comprimidos e engoli dois. A porta se abriu. Martina. Caminhou calmamente at o meu lado e ficou ali, sentada na cama. Estava vestida com uma camiseta transparente. Nada por baixo. - Eu estava sozinha e... me deu vontade de vir aqui. - S por isso? - E voc no acha um bom motivo? - perguntou. Talvez fosse um bom motivo. Ela cruzou as pernas. Estavam plidas e arrepiadas. Lindas pernas. Me cobri um pouco mais; e stava nu debaixo do lenol e era muito estranho ficar nu ao lado de uma mulher. Perguntei: - Voc no tem enjoado mais? - No. No sinto mais nada. - Nem o beb? Ela riu. Me explicou, professoralmente, com uma voz gozada, como se eu fosse uma criana: - Ainda muito cedo. Provavelmente, ele menor que o seu polegarzinho. Criana gorda , careca, sorrindo para mim. - Pe a mo. Ela se sentou mais perto, pegou a minha mo e a colocou sobre sua barriga . - No est emocionado por fazer carinhos no seu filho? No estava. Mesmo porque, ele e ra menor que o meu "polegarzinho". Alm do mais, no sabia se aquele beb era meu mesm o. No sei por que, mas desconfiava. Ela continuava a esfregar a minha mo na sua ba rriga. - Voc vai busc-lo, no vai? - Quem? - perguntei. - Quem poderia ser. Mrio. bvio. Quem poderia ser? Eu estava ficando desligado mesm o. Aos poucos ela foi puxando a minha mo at encostar nos seus seios. Suspirou, se acomodando melhor na cama. - Voc gosta? - perguntou. - Acho que sim. Acho que sim? Que coisa mais idiota responder acho que sim... Eu estava ficando desligado e idiota. Mas, na realidade, eu estava achando tudo mu ito estranho. Fiquei com a mo parada, segurando os seios. Ela me olhava, ainda ma ternalmente. Cansado de segurar, eu os apertei como se aperta uma buzina. - No. No assim... - ela falou. Segurou a minha mo novamente e esfregou contra seu p eito. Finalmente ela se aproximou e me beijou. - Voc gosta? - perguntou de novo. - Hum, hum. Ela se deitou sobre mim, abriu as pernas e se encaixou. Abaixou a cabea e ficou balanando os cabelos na minha cara. - Voc gosta? No respondi. Estava achando tudo muito estranho. Alm do mais, o seu ca belo na minha cara me irritava. Coceira. Me beijou mais uma vez. Levantou a cabea e me olhou. - O que foi? - perguntou.
- No sei. Ela saiu de cima de mim e ajeitou o cabelo. - Desculpe, mas eu acho que no ia conseguir falei. - Conseguir o qu? - perguntou. Pausa. Ficamos em silncio. - Bem. Eu vou dormir - ela saiu da cama. - No. Fique aqui. - Por qu? - Para eu no ficar sozinho. Voc no acha um bom motivo? - perguntei. Vero- Voc consegue convenc-lo quando quer - ela disse colocando a roupa na mala. - Diz para ele voltar e que a gente comea tudo de novo. Peguei uma metralhadora a inda em bom estado, caixas de munio e granadas. - Cuidado na estrada. Se vir algum, pare, mas seja prudente. No vai comer qualquer porcaria. Voc pode pegar butolismo. Tenta arrumar algumas frutas frescas. Deve ter uma rvore qualquer. Por que voc est rindo? - No. No nada - respondi. Eu nem notara que estava rindo. - No esquece. Diz pra ele que a gente comea tudo de novo. Vida nova. Podemos mudar de casa, sei l. Plantamos uma horta, criamos uns bichos. Vaca. Deve ter alguma v aca viva por a. s procurar. Nosso filho vai precisar de bastante leite. A gente ar ruma uns cavalos. A gente pode fazer um monte de coisas. Diz isso pra ele, que a gente vai fazer um monte de coisas. Voc est rindo de,novo. - Desculpa - eu estava rindo de novo. O que estava havendo comigo? Minha cabea es tava to longe... - No v parar em qualquer lugar. Olha tudo direitinho. Sempre que voc sair, leve a m etralhadora. Colocou comida num saco. - Ah, cuidado com as cariocas. Elas so terrveis... Cariocas? Desta vez foi ela que m riu. Coloquei a mala no banco de trs da Veraneio. Chamei o Alfredo. Abri a port a e ele entrou: - Voc vai fazer uma viagem. Entrei e fechei a porta. Ela enfiou a cabea para dentr o e me deu um beijo. De repente, ela me fez uma cara preocupada. - Voc vai voltar, no vai? Olhei para ela, dei a partida e sorri. - Por que voc est me olhando com essa cara? - ela perguntou. Engatei a primeira, a bri o porto com o controle remoto. - Tenha cuidado - falei. Arranquei. No retrovisor, a imagem dela acenando, muito preocupada. Na Marginal do Tiet, observei marcas recentes de pneus sobre a camada de terra no asfalto. El e passara por l. Coloquei uma fita no walkman, acendi mais um e peguei a Via Dutr a. Quanto mais avanava, melhor me sentia. Novas paisagens, novas cidades, novas c aras. Quanto mais avanava, mais aliviado me sentia. Deixava para trs a febre, o tdi o, os fantasmas da solido. Acelerava com prazer, deixando para trs a fuligem, os e stouros, a destruio. Incndios, ratos, peste, morte. Os comprimidos! Tinha esquecido os comprimidos para dormir. Dane-se! Dane-se a velha doida. Dane-se a cidade-fantasma. Na margem da estrada, pastos c obertos por mato, aves pousadas nas cercas, vento balanando rvores, casas abandona das, fbricas paradas, postos de gasolina desertos, cobertos de terra, arbustos, p oeira, ferrugem. Em So Jos dos Campos tive um pressentimento. Parei o carro na est rada que desce para o litoral. Desci e examinei as marcas de pneus. Como imagine i: Mrio fora pela Rio-Santos, o caminho do mar. Malandro. Peguei a estrada, segui ndoMrio. O asfalto estava pior, esburacado. Mas no havia pressa. No precisava corre r. Mrio estava no Rio, esperando por mim. Tinha certeza. Ele no sairia de l enquant o eu no chegasse. Afinal, eu prometera. De um momento para o outro, comecei a pen sar na possibilidade de prosseguir viagem. Pegar Mrio e subir o pas. Desbravar nov as cidades. Nordeste, praias, coqueiros, Amaznia, ndios. Depois, subir mais ainda. Invadir pases como um pequeno exrcito. Quem sabe, ir a Nova Iorque, saltar de praquedas do tal Empire States. Uma nova Era. O universo em expanso. Quanto mais pen sava, mais animado ficava. Vida nova. Parei em Paraibuna, uma pequena cidade bei ra da estrada. Estava abandonada, como tantas outras. Encontrei um mamoeiro carr egado de frutas. Peguei uma vara e derrubei dois mames maduros. Abri um deles com o canivete. Uma delicia; no ponto. H tempos no comia algo parecido, fresco, vivo.
No sei por que dei um grito. Acho que para marcar a minha presena. - PARAIBUNA! Ecoou por todo o vale. Muitos pssaros voaram. - QUEM NASCE EM PARAIBUNA O QUE ? PARAIBUNDANO? Alfredo achou umas galinhas na beira do rio e, bvio, correu para cima. Elas fizer am o maior estardalhao, mas se safaram agilmente. Galinhas... essa boa. - PARAIBUNA! VOC NO TEM DONO! VOC EST PERDIDA NO MEIO DO MUNDO! ChameiAlfredo lhe of erecendo um pedao de mamo. Ele,no quis. Merda, um cachorro no vegetariano. Vai me da r trabalho... Voltei para a estrada. Atravessei a Serra doMar; a natureza virgem quase se fechava sobre a estrada. No sei, mas aquela estrada estava bonita: abandonada, esburacada, placas enferruj adas, rvores cadas, natureza virgem. Estava me sentindo muito bem por estar l. Acen di outro e acelerei mais. Uma nova Era. Finalmente, descendo a serra, podia ver o mar ao longe. Cruzei com uma placa que indicava"Estrada dos Tamoios". Imaginei o que os ndios que viveram naquele lugar sentiam. Tudo. Primeira cidade, j no lit oral. Caraguatatuba. A estrada passava por dentro. Ruas de paraleleppedo, casas, comrcio, sorveterias. Dunas de areia pela cidade; pa recia uma cidade no deserto. Carros, placas, portas de garagem, postes, tudo enf errujado. Bonito. Logo senti o cheiro de maresia. Aspirei com fora. Perfume delic ioso. Fui em frente. A estrada cortava montanhas e praias, montanhas e praias. No havia uma praia igual a outra, no tamanho, no formato, na cor; algumas ovais, outras como uma ferradura, outras retas como se tivessem sido feitas com rgua. Uma galeria de obras de arte. Quem foi o escultor disso tudo? Passei por Ubatuba e parei na primeira praia depois da cidade. Numa placa cada, o nome: Praia Verme lha. Por qu? De vermelho no havia nada! Estacionei o carro numa sombra. Vesti um calo e, seguido por Alfredo, fui ao encontro do mar. O cachorro ficou pasmado. Nunca tin ha visto o mar antes. No princpio, ele no entendeu, mas depois, com intimidade, pa ssou a correr atrs das ondas, se jogar na areia. Olhava para mim com a lngua de fo ra e voltava a correr como um bobo. Mergulhei na gua gelada e depois me deitei na areia. Sol. H quanto tempo no tomava sol. Sossego... Um homem caminhava com um ca valete debaixo do brao. Havia uma boina na sua cabea. Me saudou. - Bonjour, voc quem procura o escultor? - Oui. - Pois voc est na frente dele. Fui eu quem criou tudo isso. C'est trs joli, n'est-c epas? - belssimo. Onde o senhor se inspirou? - Em nenhum lugar. Eu simplesmente jogava tudo para o alto e j caa nesse formato. Tu a compris ? - Oui. - Au revoir - ele se despediu. Acordei com o rosto ardendo. Meu corpo estava ver melho por causa do sol. Sem querer, acabei descobrindo a razo do nome Praia Verme lha. Maldito vermelho! Alfredo estava sentado por ali, respirando ofegante, com a lngua para fora. Estava imundo e com um pedao de peixe na boca. Malandro... Toma mos gua mineral e eu comi mamo com sucrilhos. Depois me lavei no chuveiro de um ca mping na praia. Natureza. Seguimos viagem. Antes de Angra, vi rastros no asfalto, perto de um hotel de beira de estrada. Pa rei e desci do carro. A porta escancarada. L dentro, uma garrafa de vodka vazia, vrias revistas reviradas, cinzeiros sujos e tocos de vela; no havia luz eltrica. Mri o. S podia ter sido; havia uma caixa de fsforos toda quebrada, do jeito que ele se mpre fazia. Fiquei emocionado. Estvamos prximos e eu, na rota certa. Pendurados na s paredes, um monte de posters, mapas nuticos, fotos de navios, caravelas e uma g rande ncora enferrujada. Numa mesa de canto, conchas, pedras, estrelas marinhas e duas cabeas de peixe-espada; como um trofu. O ambiente transpirava mar. Imaginei que naquele hotel de beira de estrada se reuniam velhos lobos-do-mar, barbados, com a pele queimada, curtida pelo sol, pitando um cachimbo no canto da boca e re lembrando histrias e aventuras. Velhas histrias dos velhos marinheiros. Me lembrei daquele viajante solitrio que atravessou o Atlntico num barco a remo, convivendo mais de cem dias com baleias, tubares, aves marinhas, navios e a imensido do cu e d o mar. Soube que ele se esquecera de levar foto de gente. Ele no sabia mais como eram as feies humanas. Para afugentar a solido, discursava em
altos brados para o oceano. Me imaginei atravessar o continente, junto deMrio, c ruzar florestas, desertos, montanhas cobertas de neve, pntanos, rios, lagos, disc ursar para gatos, cachorros, jacars, tigres, encontrar cidades abandonadas, difer entes umas das outras. Correr perigos, riscos, emoo. Isto sim que era vida... Abri uma porta que dava numa praia de areia escura. Caminhei sobre um deck de madeir a. Alguns barcos encalhados. Pensei: primeiro o continente, depois, frica! Ah, qu e vida... Me sentei numa cadeira de balano e no fiquei olhando para o vazio. Fique i olhando para o mar. Segui viagem. Passei pela usina atmica de Angra. Me lembrei dos pacifistas fazendo manifestaes, passeatas, cor. rentes humanas. Especialistas falando dos perigos da radiao. O medo de uma guerra nuclear. No enta nto, a histria foi outra. Quem diria... Fim de tarde. Entrei no Rio de Janeiro pe la Estrada da Barra. Na altura de Jacarepagu caiu um forte temporal. Ficava difcil enxergar a cidade com aquela gua toda. Silhuetas de arranha-cus pareciam fantasma s gigantes. Dirigia com cuidado e apreensivo: no conseguia distinguir um carro de uma casa. Estava nervoso. Um pouco nervoso. Normal. Segui por um elevado incrus tado numa montanha de pedra. Um viaduto cartopostal. Desemboquei numa praia peque na, Cenoura, Pepino, um nome desses. Outro carto-postal. Subi a AvenidaNiemeyer a t chegar s praias do Leblon e Ipanema. Mais cartes-postais. Tive a sensao de estar en trando no Correio. As praias estavam desertas. O mar super-revolto. Areia por cima das ruas. Amedrontador. A chuva foi diminuindo at parar. Chuva de vero: do jeito que vem, vai. Pude enxergar melhor os contornos da cidade. Abandon ada. A luz eltrica no estava funcionando. Algumas rvores estavam cadas no meio da rua, am arradas por fios eltricos. O sol se punha. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, reparei q ue os holofotes que iluminavam o Cristo Redentor, no alto do Corcovado, estavam acesos. Misteriosamente. Fiquei arrepiado: A esttua do Cristo Redentor, braos aber tos sobre a Guanabara, brilhando. Olhei ao redor. No vi ningum, nenhum vestgio de gente, nada. Onde encontrar Mrio? Co mo? Detonei a primeira granada. A exploso ecoou pela montanha. Toquei a buzina. E sperei. Dei um tiro de metralhadora. Nada. Repeti tudo de novo. Esperei. Esperei . Nada. Anoiteceu. Circulei pelas avenidas litorneas. Observava os hotis de luxo p rocura do jipe verdeoliva, ou de um sinal qualquer. Na frente de cada um, eu buz inava. Nada. No tinha uma alma viva. Passei por Copacabana, Botafogo, Urca, Flamengo. Fui at o Aeroporto Santos Dumont . A pista estava coberta de areia. Nada. Velhos Electras estavam estacionados. Abandonados. Voltei at o Leblon e investiguei no tal "Baixo". Restaurantes replet os de duros. Estava bastante escuro. Com uma lanterna, iluminava rostos, mos, per nas e corpos duros. Pareciam plastificados, como os de So Paulo. Fui at a pizzaria em que comemos na vez em que fomos ao Rio. Examinei com o maior cuidado, quando encontrei, na mesma mesa em que havamos sentado, um quepe de oficial. Mrio. O que pe era dele. Deixou ali como um sinal. Fiquei ainda mais ansioso. Fui at o hotel luxuoso em Copacabana. Esperar amanhecer. Descansar. Entrei num quarto do tercei ro andar. Me deitei numa cama macia, expulsando Alfredo de cima dela. - No cho, meu chapa! Naauela noite dormi sem os comprimidos. Acordei cedo. Fui pr aia, corri feito um atleta, fiz exerccios numa barra enferrujada, flexes numa pran cha. Depois, mergulhei na gua fria, nadei, peguei jacar. Finalmente me deitei sob o sol , mesmo com o corpo ardendo. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz exerccio s. Viajante atleta. Nova Era. Ningum iria acreditar. Passei o dia todo procurando po r ele. Laranjeiras, Santa Teresa, Glria, Maracan, Mier. Sabia que ele no estava na Z ona Norte. Mas eu precisava de confirmao. Nada. Voltei para a Zona Sul, toquei a s irene em tudo quanto era rua. Explodi granadas. Atirei com a metralhadora. Nada. Merda! E se eu no o encontrar? Voltar para So Paulo? No, pelo amor de Deus. A parece, desgraado! Calma. Esperar. noite, voltei para o hotel. Nem consegui comer . Estava comeando a ficar deprimido e com medo. E se ele j foi embora? Subiu o pas. Belo Horizonte. Que fazer? Irem busca dele? Voltar para So Paulo? E se ele j volt ou para So Paulo? Nos desencontramos? Merda! Calma. Esperar. Acordei novamente ce do. Fiz os mesmos exerccios do dia anterior. Viajante atleta. Arrumei uma luneta numa lojinha do prprio hotel e sa para procurlo. Mais barulho, sirene, granadas, ti
ros de metralhadora. Saco! Parei na Vieira Souto. Vasculhei tudo, cada janela, c ada hotel, principalmente os grandes. A lagoa parecia ser o lugar ideal. Cercada por morros de um lado e por prdios do outro, qualquer barulho que eu fizesse se espalhava por todo lugar. Foi depois de eu estourar uma granada. Ouvi um barulho vindo de longe. Um disparo de metralhadora. Respondi dando uma rajada. Esperei e ouvi um novo disparo. Mrio. Vinha do alto. Peguei a luneta e olhei para o Cristo. Claro! Reparei na silhueta de uma pessoa acenando. Estava em cima de um parapeito e vestia um uniforme do exrcito. Ah! Dei um grito de alegria. Olhei ao redor para ver se encontrava o jipe. Um vulto se mexia no comeo de uma escada. Descia correndo, como se estivesse se e scondendo. Mrio, num canto, continuava acenando. No outro, o vulto saa do monument o, descendo correndo. Era a velha. A velha com o pedao de pau na mo. Desgraada! Mrio continuava acenando. Entrei no carro e disparei na direo do morro. O que aquela v elha estava fazendo l em cima? Fiquei feliz em v-lo. Finalmente poderemos viajar o mundo, juntar as foras, ser dois em um, eu e ele. Mas aquela velha... Como subir at l? Entrei no Tnel Rebouas, me lembrando da estao do trenzinho turstico q e sobe at o alto. Laranjeiras. Por que ela se escondia? Por que descia a escada c orrendo? Afinal, o que aquela porra daquela velha estava fazendo l?! Na avenida, encontrei a placa que indicava o caminho. Subi toda, cantando pneu, cruzando com arvores cadas, galhos, mato. Atravessei a floresta tenso. Cheguei no ptio de esta cionamento e parei o carro ao lado do jipe. Tirei a chave do contato, armei a me tralhadora olhando tudo ao redor. No vi ningum. Eu e Alfredo subimos as escadas co m os olhos bem abertos. Nada. Na base da esttua ventava bastante. Podia ver toda a cidade do Rio de Janeiro. No estava l. Fiquei desesperado. Gritei seu nome. - Mrio! Ouvi a resposta vinda de trs do parapeito. Corri at l e o vi de p, beira do p recipcio. Estava com um pra-quedas nas costas. - Voc veio, seu canalha! - ele disse abrindo os braos. - Viva! - eu disse. - Que bom que voc veio. Olha pra l. No lindo? tudo nosso. Meu e teu. - Tudo nosso? Sorrimos. Uma nova vida. Nova Era. O mundo nas nossas mos. Vivo. - Voc vem? - ele perguntou. - Claro que vou! Pulei o parapeito e comecei a descer at ele. - Aquela velha est a? - Velha? Foda-se a velha - ele respondeu. - Mas ela... - Que diferena faz? Assim que desci, ele disse: - Vem me pegar... Atirou-se com os braos e pernas abertos. Acompanhei seu vo sobre a Guanabanara. S que o praquedas no abriu. O pra-quedas... no abriu. "Leitor, fique meia hora sem ler o livro. " O autorUma distante estaoUma placa tot almente enferrujada indicava So Paulo a poucos quilmetros. No me emocionei. No senti nada. H tanto tempo sozinho, pulando de cidade em cidade. Congelei qualquer tipo de sentimento. A histria da minha vida? Ah, isso faz muito tempo... Por que voltava depois de tantos anos? Sei l. Acelerei a motocicleta no viaduto de entrada. Foi nesta cidade que tive o contato com o fim. Foi nesta ci dade que para mim tudo comeou. A terra que cobria o asfalto era um pouco perigosa . Mas no me importava. H muito no me importava com nada. Talvez tivesse voltado por c ausa dela. Martina. Ainda estaria viva? Sozinha todos esses anos... 1t muito no vi a um rosto humano vivo. H muito no ouvia uma palavra. Ainda estaria viva? Nova Ior que, Washington, Los Angeles, Mxico, ningum, ningum. Sozinho esse tempo todo. Sei l. A Ponte das Bandeiras, sobre o Rio Tiet, estava rachada ao meio; destino que o t empo trouxe. O desenho da metrpole era o mesmo; cemitrio. O desgaste, as estrutura s enferrujadas, os carros cobertos por poeira com os pneus murchos. Ptina encardi da nas paredes, cinza, fuligem do tempo, montona destruio: como em todas as cidades em que estive. Uma matilha de ces passou correndo. Me lembrei de Alfredo, congel ado numa maldita montanha. Morto. Foi a ltima vez em que fiquei triste. A ltima. P arei na Praa da S. O silncio e o vazio estavam aprisionados entre os altos edifcios. Subi a escada da catedral atento aos movimentos de ratazanas molengas; se assus
taram. Estavam por todas as partes. Caminhei at o altar. Cheiro de mofo. Vrios mor cegos sobrevoaram. Todas as partes. Parei na frente do grande crucifixo. Meu cab elo estava to longo quanto o dele. Minha barba tambm. - Ol - eu disse. Estava tendo o costume de falar com santos. - Voc no disse que iriam sobrar testemunhas do apocalipse. Uma barata percorria a sua perna. - Por que fez isso? Essa pergunta, sempre, sempre. Por qu? Me ajoelhei, fiz o sin al da cruz e rezei. Seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Cu. Me lev antei e cheguei perto do crucifixo. Matei a barata com a mo. Amm. Saindo do templo , vi um puma bebendo gua da fonte com um filhote ao lado. Ele me olhou calmamente . Era aquele puma. Ficou me olhando. Era o dono da cidade. Olhei para o cu. Me le mbrei do jato que uma vez ouvi. Expedies... Nada disso. Nenhum jato. Ningum. Me lem brei dos crioulos captados pela antena parablica. Nenhum crioulo. Ningum. Por qu? O que aconteceu? Meu Deus, pra qu? O puma continuava me olhando. Subi na moto e d ei a partida. O dono da cidade. Subi a Brigadeiro sem pressa nenhuma. Entrei na Avenida Paulista, vermelha. A loucura de pint-la. Vermelha. Contornei as estrutur as metlicas do que j tinha sido uma antena. Parei em frente da enorme casa amarela e desliguei o motor. Silncio. Fiquei um tempo olhando com cuidado. As paredes es tavam sujas e cobertas de mato. Havia tbuas em algumas janelas. Poeira por toda p arte. Abandono. Subi no muro e vi uma horta plantada no jardim. Duas vacas parar am de comer e me olharam. Silncio. Pulei para dentro. Atravessei o ptio e caminhei at a porta de entrada. Estava aberta. Entrei no hall olhando para o enorme lustr e de cristal meio torto. Ouvi uma cantiga. Fui at o salo de mrmore onde uma criana r iscava o cho e cantava. Era um menino loiro, com o rosto todo sujo. De repente, p arou de cantar e olhou para mim. Ficou de p, me estranhando. No disse nada. Fui at perto dele, me agachei e encostei no seu rosto. Era a cara d e Mrio. Seus cabelos pareciam fios de ouro. Alisei-os. Ele no aparentava medo. Apenas me estranhava. Ficamos um tempo nos olhando, sem falar nada. Ouvi passos vindos da escada. Me ergui. Martina olhou para mim surpresa. Parou. Fui hesitant e at perto dela. Coloquei minha mo no seu ombro. Ela se atirou nos meus braos. Chor ou convulsivamente, tocando em mim com fora, me abraando, me puxando. O garoto vol tou a se sentar e novamente cantou, riscando o cho. H muito tempo no me olhava no e spelho. Estava estranho com aquela barba e sem um dente da frente. Peguei uma te soura e cortei o cabelo. Raspei a barba. Tomei um banho de banheira. - Est na mesa! - Martina bateu na porta. Vesti uma roupa limpa e desci. Velas, loua chinesa, taas de cristal. Champanhe. O garoto estava limpo. Com uma grande colher, no parava d e olhar para mim. Punha mais comida fora da boca que dentro. Era um garoto muito bonito. Martina tambm estava bonita. Seu cabelo: preso por um elstico. Suas mos ca lejadas. Um pouco mais velha, mas ainda muito bonita. Um gato pulou no meu colo me assustando. Todos riram. Inclusive eu. Jantamos sem nos falar muito. O barulh o do gerador preenchia o nosso silncio. Poucos ces latiam. Poucos. Na cozinha, ajudando a lavar a loua, ela se emocionou e chorou. Chorou sem parar. Chorou tudo o que podia. Tentei acalm-la. Ela deu socos no meu peito. Ela se deb ateu. Eu a abracei mais forte. Ela acalmou. Chorou no meu ombro, tocando em mim com fora, me puxando. O garoto cantava no jardim. Quando acordei, o garoto j estav a de p, brincando com os cachorros. O cu estava limpo e fazia muito calor. Subi na moto colocando a mochila nas costas. Olhei para o cu e para tudo ao redor. O mato cobrindo as paredes. As tbuas na janela. O garoto correu at perto de mim e ficou me olhando com o dedo na boca. Sorri para ele. Fios de ouro. - Como o seu nome? Ele no falou nada. Continuou me olhando. - Como que a sua me te chama? Continuou me olhando. Ser que ele sabe o que significa me? Tirou o dedo da boca e falou baixinho: - Mrio... Pausa. Olhei novamente para tudo. Dei a partida na moto e acelerei. Ele ps a mo no ouvido e sorriu. Engatei a primeira e sa. Vi, pelo retrovisor, o menino com o brao erguido, dando tchau. Parei a moto e voltei. Olhei para ele. Fios de ouro. Joguei a mochila no cho, peguei e o sentei no meu colo. - Segura firme, t? Ele se segurou no guido. Engatei novamente a primeira e partimos. No mirante do Pico do Jaragu, coloquei o
garoto no cho. Segurei a sua mo e fomos caminhando pelo gramado at sentarmos num b anco. Ele estava surpreso. Acho que nunca tinha visto a cidade de longe. Eu brin quei com ele: - Um dia, isso tudo ser seu. Uma lembrana antiga, muito antiga. Um falco nos sobrevoou por um tempo. Depois, foi descendo, descendo at sumir entre os edifcios ao longe. Olhei para So Paulo e falei baixinho: - Meu Deus, a que ponto chegamos... Em 81/82, escrevi Feliz Ano Velho ouvindo Bill Evans, The Clash e Steve Wonder, aflito por saber que havia uma distncia enorme entre a minha deficincia e os preco nceituosos, entre a minha vida e a morte, sentindo amor pela adolescncia e dio pel a mentira. Em 85/86, escrevi Blecaute ouvindo Tom Waits, King Crimson e Duke Ell ington, deprimido por descobrir o tdio e a solido, apesar dos apelos, o vcio acima de tudo, apesar do universo em expanso, sentindo amor pela juventude e dio pela ve rdade. Se algum me perguntar quais so meus planos, direi que no sei. Talvez escreva mais, por amor e por dio. Talvez continue escrevendo at o dia em que isto no me mo dificar mais. No sei se valeu a pena. Mas foi bom ter vivido essas duas realidade s. Feliz Ano Velho e Blecaute. Marcelo Rubens Paiva
Anda mungkin juga menyukai
- Marcelo Rubens Paiva - BlecauteDokumen131 halamanMarcelo Rubens Paiva - Blecautetheosanz100% (1)
- Contos assustadores na estradaDokumen14 halamanContos assustadores na estradaHildalene PinheiroBelum ada peringkat
- Uma Outra História De Lobisomem E Outras Narrativas De Mistério E AssombroDari EverandUma Outra História De Lobisomem E Outras Narrativas De Mistério E AssombroBelum ada peringkat
- Coisas Frageis - Breves Ficcoes - Neil GaimanDokumen327 halamanCoisas Frageis - Breves Ficcoes - Neil GaimanLuiz AlmeidaBelum ada peringkat
- Narrativa 8 e 9 AnosDokumen3 halamanNarrativa 8 e 9 AnosRosangella SilvaBelum ada peringkat
- Agonias de um livre-pensador na Era de AquárioDokumen25 halamanAgonias de um livre-pensador na Era de AquárioTyrone ChavesBelum ada peringkat
- A Última Casa em Needless Street - Catriona WardDokumen356 halamanA Última Casa em Needless Street - Catriona WardLuciana MaffiaBelum ada peringkat
- Textos para 5 Ano Otimos AutoresDokumen142 halamanTextos para 5 Ano Otimos AutoresIone BallottinBelum ada peringkat
- D33DiagnosticaD10SAEB Banco-de-Atividades - Lingua-PortuguesaSEDUESDokumen3 halamanD33DiagnosticaD10SAEB Banco-de-Atividades - Lingua-PortuguesaSEDUESMaurizio MorelliBelum ada peringkat
- COUTO Tres Fantasmas Mudos0001Dokumen8 halamanCOUTO Tres Fantasmas Mudos0001Alex SimoesBelum ada peringkat
- A história de JoaquimDokumen7 halamanA história de JoaquimGabriel CruzBelum ada peringkat
- SIMULADO8 AnoDokumen4 halamanSIMULADO8 AnoAlinne Sousa LimaBelum ada peringkat
- Documento Sem TítuloDokumen3 halamanDocumento Sem TítuloRosangella SilvaBelum ada peringkat
- Fanfic Escola WordDokumen4 halamanFanfic Escola WordsophiaadavilaBelum ada peringkat
- Aula 02 - Interpretação de Texto NarrativoDokumen11 halamanAula 02 - Interpretação de Texto NarrativoLeandro MaxcielBelum ada peringkat
- Pensa Que Você Sabe Alguma Coisa? Você Ainda Não Viu Nada.Dari EverandPensa Que Você Sabe Alguma Coisa? Você Ainda Não Viu Nada.Belum ada peringkat
- Tremere RevisadoDokumen106 halamanTremere RevisadoRafamax_RafaelBelum ada peringkat
- O que é um microcontoDokumen15 halamanO que é um microcontoDuda FragosoBelum ada peringkat
- Os Livros da Magia - IntroduçãoDokumen202 halamanOs Livros da Magia - IntroduçãoNayara StelmachBelum ada peringkat
- Os Livros Da Magia (01) - O ConviteDokumen113 halamanOs Livros Da Magia (01) - O ConviteNicholas ReisBelum ada peringkat
- A Mágica MortalDokumen212 halamanA Mágica MortalCarolina de Juli88% (8)
- Rita Ferro - Uma Mulher Nao ChoraDokumen76 halamanRita Ferro - Uma Mulher Nao Choraapi-3698005Belum ada peringkat
- Contos e Crônicas de Moacyr ScliarDokumen5 halamanContos e Crônicas de Moacyr ScliarFernanda MoreiraBelum ada peringkat
- Sinais de Fogo, Jorge de SenaDokumen615 halamanSinais de Fogo, Jorge de Senasara leiteBelum ada peringkat
- Morte de casal de extrativistasDokumen5 halamanMorte de casal de extrativistasJuliana MonticoBelum ada peringkat
- 4 6032623249060268442Dokumen124 halaman4 6032623249060268442Renato BordoniBelum ada peringkat
- Caso 73Dokumen28 halamanCaso 73Mariana KlafkeBelum ada peringkat
- Estrutura e elementos do contoDokumen20 halamanEstrutura e elementos do contosilviagoesBelum ada peringkat
- Luto Sem Medo Max PorterDokumen131 halamanLuto Sem Medo Max PorterLua AlencarBelum ada peringkat
- Arte, verdade e políticaDokumen14 halamanArte, verdade e políticaAdassa BPBelum ada peringkat
- A Possibilidade de Uma IlhaDokumen17 halamanA Possibilidade de Uma IlhaAlexandro CaldeiraBelum ada peringkat
- Só Os Animais Salvam Ceridwen Dovey PDFDokumen171 halamanSó Os Animais Salvam Ceridwen Dovey PDFjosek2k20% (1)
- As Costas de Um Homem - João Kauê Aguena GuirroDokumen5 halamanAs Costas de Um Homem - João Kauê Aguena GuirroJoão KauêBelum ada peringkat
- AE - CirTrigDokumen3 halamanAE - CirTrigCassiopfBelum ada peringkat
- AE - Fun2GrauDokumen1 halamanAE - Fun2GrauCassiopfBelum ada peringkat
- Novo Documento de TeNxtoDokumen1 halamanNovo Documento de TeNxtoCassiopfBelum ada peringkat
- Ricardo ReisDokumen5 halamanRicardo ReisCassiopfBelum ada peringkat
- PigDokumen25 halamanPigCassiopfBelum ada peringkat
- J ASSSOSDokumen266 halamanJ ASSSOSCassiopfBelum ada peringkat
- Álvaro de CamposDokumen7 halamanÁlvaro de CamposCassiopfBelum ada peringkat
- Fernando Pessoa - OrtónimoDokumen11 halamanFernando Pessoa - OrtónimoCassiopfBelum ada peringkat
- Prova Escrita de Física e Química ADokumen13 halamanProva Escrita de Física e Química AsofiaarosoBelum ada peringkat
- Manual LaTEXDokumen121 halamanManual LaTEXjcgpereira2001337Belum ada peringkat
- Super Re SumoDokumen1 halamanSuper Re SumoCassiopfBelum ada peringkat
- Formula RioDokumen1 halamanFormula RioMargarida CotrimBelum ada peringkat
- Materia 1 Portugues Francisco Cuba LDokumen10 halamanMateria 1 Portugues Francisco Cuba LFilipa AlmeidaBelum ada peringkat
- CassDokumen1 halamanCassCassiopfBelum ada peringkat
- ResumoexameportuguesDokumen19 halamanResumoexameportuguesRita CarvalhoBelum ada peringkat
- Edgar Wallace - O Padre NegroDokumen171 halamanEdgar Wallace - O Padre NegroCassiopfBelum ada peringkat
- Analise de TextoDokumen4 halamanAnalise de TextoCassiopfBelum ada peringkat
- Trabalho - Unidade IIIDokumen1 halamanTrabalho - Unidade IIICassiopfBelum ada peringkat
- HTTP WWW - Gave.min-Edu - PT Np3content Newsid 294&filename Portugues639 CCF1 10Dokumen14 halamanHTTP WWW - Gave.min-Edu - PT Np3content Newsid 294&filename Portugues639 CCF1 10sbrancosterBelum ada peringkat
- A Gramtica1Dokumen25 halamanA Gramtica1CassiopfBelum ada peringkat
- Analise de TextoDokumen4 halamanAnalise de TextoCassiopfBelum ada peringkat
- Frei Luís de Sousa - Pesquisa Na NetDokumen23 halamanFrei Luís de Sousa - Pesquisa Na NetCassiopfBelum ada peringkat
- Recur Sos Express I VosDokumen1 halamanRecur Sos Express I VosCassiopfBelum ada peringkat
- Mica EarthbornDokumen32 halamanMica EarthbornLucas SantosBelum ada peringkat
- Arte rupestre e vida cotidiana na Pré-HistóriaDokumen4 halamanArte rupestre e vida cotidiana na Pré-HistóriaSirleia Lima100% (1)
- Laudo Espeleol GicoDokumen3 halamanLaudo Espeleol Gicoirlane pardinhoBelum ada peringkat
- Prova 6 AnoDokumen3 halamanProva 6 AnoMarques Neto100% (1)
- Alguns Rituais Montados Sobre LDE PDFDokumen20 halamanAlguns Rituais Montados Sobre LDE PDFagotdb2565Belum ada peringkat
- Estudo Comparativo Morfológico de Feições Cársticas Desenvolvidas em Rochas Siliciclásticas Nos Distritos de Conselheiro Mata e de Curralinho - Mg.Dokumen82 halamanEstudo Comparativo Morfológico de Feições Cársticas Desenvolvidas em Rochas Siliciclásticas Nos Distritos de Conselheiro Mata e de Curralinho - Mg.Amellie FifiBelum ada peringkat
- Exploradores de Caverna: condenados por homicídio qualificadoDokumen2 halamanExploradores de Caverna: condenados por homicídio qualificadoGrasieleAndradeBelum ada peringkat
- Inspeção e reparo de navios de superfície construídos em açoDokumen58 halamanInspeção e reparo de navios de superfície construídos em açoPamella100% (1)
- Solo Leveling V3C1 Dungeon ArtificialDokumen32 halamanSolo Leveling V3C1 Dungeon ArtificialIrmao TjpBelum ada peringkat
- A questão do nacional no IPHAN: reflexões sobre identidade e diversidade culturalDokumen216 halamanA questão do nacional no IPHAN: reflexões sobre identidade e diversidade culturalAna Paula ClaudinoBelum ada peringkat
- Livro Mae 07 Iniciacao Agarta PDF 03122018Dokumen169 halamanLivro Mae 07 Iniciacao Agarta PDF 03122018MariaCristinaMattTanakaBelum ada peringkat
- HORADEAVENTURA - RPPV-H001e - UMMILHAODECARTASDokumen16 halamanHORADEAVENTURA - RPPV-H001e - UMMILHAODECARTASSergio777Belum ada peringkat
- Pergunte Ao Geologo - CPRMDokumen81 halamanPergunte Ao Geologo - CPRMIsaias MirandaBelum ada peringkat
- A Festa Da Congada - Renata Nogueira Da Silva PDFDokumen13 halamanA Festa Da Congada - Renata Nogueira Da Silva PDFronaldBelum ada peringkat
- O Anjo Caído-1 Uma Aventura 5eDokumen14 halamanO Anjo Caído-1 Uma Aventura 5eGino SauroBelum ada peringkat
- CABRAL, J. M. P. História Breve Dos Pigmentos 1 - Da Arte Do Homem Pré-HistóricoDokumen8 halamanCABRAL, J. M. P. História Breve Dos Pigmentos 1 - Da Arte Do Homem Pré-HistóricoYardena SheeryBelum ada peringkat
- ESCRITOS COM MANUELZÃO - Rosa Dos VentosDokumen42 halamanESCRITOS COM MANUELZÃO - Rosa Dos VentosBeatriz MagalhaesBelum ada peringkat
- Odday19 Fungo FantasmaDokumen16 halamanOdday19 Fungo FantasmaXavier Raphael BarbosaBelum ada peringkat
- Atalantium Trilogy 01 - A Noiva de Atlântida (Tiamat-World)Dokumen103 halamanAtalantium Trilogy 01 - A Noiva de Atlântida (Tiamat-World)Dany NeryBelum ada peringkat
- Apostila: Espeleologia e Licenciamento AmbientalDokumen196 halamanApostila: Espeleologia e Licenciamento AmbientalDiego Almeida-SilvaBelum ada peringkat
- Historia de Arquitectura Testo de Apoio 2Dokumen22 halamanHistoria de Arquitectura Testo de Apoio 2joaoluz7Belum ada peringkat
- O Pescador de Sereias Julianna CostaDokumen527 halamanO Pescador de Sereias Julianna CostaRodrigo CaronBelum ada peringkat
- Arte Pré-Histórica CavernasDokumen50 halamanArte Pré-Histórica CavernasMafalda TeixeiraBelum ada peringkat
- A Alegoria da Caverna de PlatãoDokumen3 halamanA Alegoria da Caverna de Platãoabel sebastiaoBelum ada peringkat
- 3-16 - Carnificina Entre As EstrelasDokumen99 halaman3-16 - Carnificina Entre As Estrelas-Viral-Belum ada peringkat
- Guia Completo Shadow of The ColossusDokumen30 halamanGuia Completo Shadow of The ColossusJonathan Dos SantosBelum ada peringkat
- Detonado Final Fantasy VIIDokumen14 halamanDetonado Final Fantasy VIIflaviofearn67% (6)
- M. K. Eidem - Kaliszians - 01 - NikhilDokumen518 halamanM. K. Eidem - Kaliszians - 01 - NikhilPerpetua SaldanhaBelum ada peringkat
- 001 +a+Cidade+Dos+Sete+PlanetasDokumen167 halaman001 +a+Cidade+Dos+Sete+PlanetasRoni MartinsBelum ada peringkat
- República DominicanaDokumen20 halamanRepública DominicanajonathanwebbrBelum ada peringkat