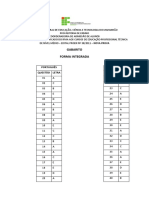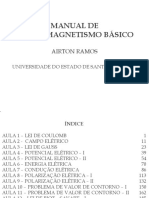Dicionario Da Educacao Do Campo
Diunggah oleh
Carlos LiraHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Dicionario Da Educacao Do Campo
Diunggah oleh
Carlos LiraHak Cipta:
Format Tersedia
FUNDAO OSWALDO CRUZ
Presidente
Paulo Ernani Gadelha Vieira
ESCOLA POLITCNICA DE SADE
JOAQUIM VENNCIO
Diretor
Mauro de Lima Gomes
Vice-diretor de Gesto e Desenvolvimento Institucional
Jos Orblio de Souza Abreu
Vice-diretora de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico
Marcela Pronko
Vice-diretor de Ensino e Informao
Marco Antnio Santos
Roseli Salete Caldart
Isabel Brasil Pereira
Paulo Alentejano
Gaudncio Frigotto
Organizadores
2012
Rio de Janeiro So Paulo
Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio
Expresso Popular
Copyright 2012 dos organizadores
Catalogao na fonte
Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio
Biblioteca Emlia Bustamante
Escola Politcnica de Sade
Joaquim Venncio/Fiocruz
Av. Brasil, 4.365
21040-360 - Manguinhos
Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 3865-9797
www.epsjv.focruz.br
Expresso Popular
Rua Abolio, 201
01319-010 - Bela Vista
So Paulo, SP
Tel: (11) 3105-9500
(11) 3522-7516
www.expressaopopular.com.br
C145d Caldart, Roseli Salete (org.)
Dicionrio da Educao do Campo. / Organizado por Roseli Salete
Caldart, Isabel Brasil Pereira, Paulo Alentejano e Gaudncio Frigotto.
Rio de Janeiro, So Paulo: Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio,
Expresso Popular, 2012.
788 p.
ISBN: 978-85-98768-64-9 (EPSJV)
ISBN: 978-85-7743-193-9 (Expresso Popular)
1. Educao. 2. Dicionrio. 3. Educao do Campo. 4. Movimentos sociais do
campo. I. Pereira, Isabel Brasil. II. Alentejano, Paulo. III. Frigotto, Gaudncio.
IV. Ttulo.
CDD 370.91734
Joo Sette Camara
Lisa Stuart
Lisa Stuart
Z Luiz Fonseca
Edio de Texto
Reviso
Capa, Projeto Grfco e Diagramao
Direitos desta edio reservados a:
Apresentao 3
A
Acampamento 21
Agricultura camponesa 26
Agricultura familiar 32
Agriculturas alternativas 40
Agrobiodiversidade 46
Agrocombustveis 51
Agroecologia 57
Agroecossistemas 65
Agroindstria 72
Agronegcio 79
Agrotxicos 86
Ambiente (meio ambiente) 94
Articulaes em defesa da Reforma Agrria 103
Assentamento rural 108
C
Campesinato 113
Capital 121
Sumrio
Ciranda Infantil 125
Comisso Pastoral da Terra (CPT) 128
Commodities agrcolas 133
Conflitos no campo 141
Conhecimento 149
Cooperao agrcola 157
Crdito fundirio 164
Crdito rural 170
Cultura camponesa 178
D
Defesa de direitos 187
Democracia 190
Desapropriao 198
Desenvolvimento sustentvel 204
Despejos 210
Direito educao 215
Direitos humanos 223
Diversidade 229
E
Educao bsica do campo 237
Educao corporativa 245
Educao de jovens e adultos (EJA) 250
Educao do Campo 257
Educao omnilateral 265
Educao politcnica 272
Educao popular 280
Educao profissional 286
Educao rural 293
Emancipao versus cidadania 299
Ensino mdio integrado 305
Escola ativa 313
Escola do campo 324
Escola itinerante 331
Escola nica do Trabalho 337
Escola unitria 341
Estado 347
Estrutura fundiria 353
F
Formao de educadores do campo 359
Funo social da propriedade 366
Fundos pblicos 372
G
Gesto educacional 381
H
Hegemonia 389
Hidronegcio 395
I
Idosos do campo 403
Indstria cultural e educao 410
Infncia do campo 417
Intelectuais coletivos de classe 424
J
Judicializao 431
Juventude do campo 437
L
Latifndio 445
Legislao educacional do campo 451
Legitimidade da luta pela terra 458
Licenciatura em Educao do Campo 466
M
Mstica 473
Modernizao da agricultura 477
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC Brasil) 481
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 487
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 492
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 496
MST e educao 500
O
Ocupaes de terra 509
Oramento da educao e supervit 513
Organizaes da classe dominante no campo 519
P
Pedagogia das competncias 533
Pedagogia do capital 538
Pedagogia do movimento 546
Pedagogia do Oprimido 553
Pedagogia socialista 561
Poltica educacional e Educao do Campo 569
Polticas educacionais neoliberais e Educao do Campo 576
Polticas pblicas 585
Povos e comunidades tradicionais 594
Povos indgenas 600
Produo associada e autogesto 612
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 618
Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria
(Pronera) 629
Q
Questo agrria 639
Quilombolas 645
Quilombos 650
R
Reforma Agrria 657
Renda da terra 667
Represso aos movimentos sociais 673
Residncia Agrria 679
Revoluo Verde 685
S
Sade no campo 691
Sementes 697
Sindicalismo rural 704
Sistemas de avaliao e controle 712
Soberania alimentar 714
Sujeitos coletivos de direitos 724
Sustentabilidade 728
T
Tempos humanos de formao 733
Terra 740
Territrio campons 744
Trabalho como princpio educativo 748
Trabalho no campo 755
Transgnicos 759
V
Via Campesina 765
Violncia social 768
Autores 777
Apresentao
O Dicionrio da Educao do Campo uma obra de produo coletiva. Sua
elaborao foi coordenada pela Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio
(EPSJV), da Fundao Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro, e pelo Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Sua elaborao envolveu
um nmero signifcativo de militantes de movimentos sociais e profssionais da
EPSJV e de diferentes universidades brasileiras, dispostos a sistematizar experi-
ncias e refexes sobre a Educao do Campo em suas interfaces com anlises
j produzidas acerca das relaes sociais, do trabalho, da cultura, das prticas de
educao politcnica e das lutas pelos direitos humanos no Brasil.
Nosso objetivo foi o de construir e socializar uma sntese de compreenso
terica da Educao do Campo com base na concepo produzida e defendida
pelos movimentos sociais camponeses. Os verbetes selecionados referem-se prio-
ritariamente a conceitos ou categorias que constituem ou permitem entender o
fenmeno da Educao do Campo ou que esto no entorno da discusso de seus
fundamentos flosfcos e pedaggicos. Tambm inclumos alguns verbetes que
representam palavras-chave, ou que podem servir como ferramentas, do vocabu-
lrio de quem atualmente trabalha com a Educao do Campo ou com prticas
sociais correlatas. Alguns verbetes tm referncia direta com experincias, sujei-
tos e lutas concretas que constituem a dinmica educativa do campo hoje. Outros
representam mediaes de interpretao dessa dinmica.
O Dicionrio da Educao do Campo visa atingir a um pblico bem diversifcado:
militantes dos movimentos sociais, estudantes do ensino mdio ps-graduao,
educadores das escolas do campo, pesquisadores da rea da educao, profssio-
nais da assistncia tcnica, lideranas sindicais e polticas comprometidas com as
lutas da classe trabalhadora.
Esta primeira edio do Dicionrio inclui 113 verbetes e envolveu 107 autores
em sua produo.
A Educao do Campo est sendo entendida nesta obra como um fenmeno
da realidade brasileira atual que somente pode ser compreendido no mbito con-
traditrio da prxis e considerando seu tempo e contexto histrico de origem. A
essncia da Educao do Campo no pode ser apreendida seno no seu movimento
real, que implica um conjunto articulado de relaes (fundamentalmente con-
tradies) que a constituem como prtica/projeto/poltica de educao e cujo
sujeito a classe trabalhadora do campo. esse movimento que pretendemos
mostrar na lgica de constituio do Dicionrio e na produo de cada texto
(considerados os limites prprios a uma obra dessa natureza).
A compreenso da Educao do Campo se efetiva no exerccio analtico de
identifcar os polos do confronto que a institui como prtica social e a tomada
Dicionrio da Educao do Campo
14
de posio (poltica, terica) que constri sua especifcidade e que exige a relao
dialtica entre particular e universal, especfco e geral. H contradies especf-
cas que precisam ser enfrentadas, trabalhadas, compreendidas na relao com as
contradies mais gerais da sociedade brasileira e mundial. O projeto educativo
da Educao do Campo toma posio nos confrontos: no se constri ignoran-
do a polarizao ou tentando contorn-la. No confronto entre concepes de
agricultura ou de educao, a Educao do Campo toma posio, e essa posio
a identifca. Porm a existncia do confronto que essencialmente defne a Edu-
cao do Campo e torna mais ntida sua confgurao como um fenmeno da
realidade atual.
Esse posicionamento distingue/demarca uma posio no debate: a especif-
cidade se justifca, mas fcar no especfco no basta, nem como explicao nem
como atuao, seja na luta poltica seja no trabalho educativo ou pedaggico. A
Educao do Campo se confronta com a Educao Rural, mas no se confgura
como uma Educao Rural Alternativa: no visa a uma ao em paralelo, mas
sim disputa de projetos, no terreno vivo das contradies em que essa disputa
ocorre. Uma disputa que de projeto societrio e de projeto educativo.
Para a composio do Dicionrio tomamos como eixos organizadores da sele-
o dos verbetes a trade de alguma maneira j consolidada por determinada tra-
dio de debate sobre a Educao do Campo: temos afrmado que esse conceito
no pode ser compreendido fora das relaes entre campo, educao e poltica pblica.
Porm, decidimos incluir no Dicionrio um quarto eixo, o de direitos humanos, pe-
las interfaces importantes de discusso que vislumbramos para seus objetivos.
O desafo duplo e articulado: apreender o confronto ou a polarizao prin-
cipal que constitui cada eixo e apreender as relaes entre eles. Cada eixo ou cada
parte podem ser entendidos/discutidos especifcamente, mas em si mesmos no
so a Educao do Campo, que, como totalidade, somente se compreende na
interao dialtica entre essas dimenses de sua constituio/atuao.
A prpria questo da especifcidade depende da relao: temos afrmado que a
especifcidade da Educao do Campo est no campo (nos processos de trabalho,
na cultura, nas lutas sociais e seus sujeitos concretos) antes que na educao, mas
essa compreenso j supe uma determinada concepo de educao: a que con-
sidera a materialidade da vida dos sujeitos e as contradies da realidade como
base da construo de um projeto educativo, visando a uma formao que nelas
incida. A realidade do campo constitui-se, pois, na particularidade dada pela vida
real dos sujeitos, ponto de partida e de chegada dos processos educativos. Toda-
via, seu horizonte no se fxa na particularidade, mas busca uma universalidade
histrica socialmente possvel.
A compreenso do movimento interno aos eixos e entre eles nos ajuda a res-
ponder, afnal, qual o problema ou a questo especfca da Educao do Campo.
No eixo identifcado como campo entendemos que o confronto especfco
fundamental o que se expressa na lgica includa nos termos agronegcio e
agricultura camponesa, que manifesta, mas tambm constitui, em nosso tempo,
a contradio fundamental entre capital e trabalho. E que coloca em tela (essa
uma novidade de nosso tempo) uma contradio nem sempre percebida nesse
Apresentao
15
embate: h um confronto entre modos de fazer agricultura, e a pergunta que os
movimentos sociais situados no polo do trabalho esto colocando sociedade se
refere ao modo de fazer agricultura que projeta futuro, especialmente consideran-
do a necessidade de produzir alimentos para a reproduo da vida humana, para
a humanidade inteira, para o planeta. Essa uma questo que no tem como ser
formulada desde o polo do capital (ser agenda do agronegcio) seno como farsa
ou cinismo. Por isso tambm o capital pode admitir (em tempos de crise) discutir
segurana alimentar, mas no pode, sem trair a si mesmo, aceitar o debate acer-
ca da soberania alimentar (pautado hoje pela agricultura camponesa).
Integra esse confronto a compreenso de que no a mesma coisa tratar de
agricultura camponesa e de agricultura familiar: ambos os conceitos se referem
aos trabalhadores, mas h uma contradio a ser explorada em vista do embate de
projetos, com o cuidado de no confundi-la com o confronto principal.
importante ter presente o movimento desse embate para compreender a
relao com um projeto educativo dos trabalhadores que o assuma: o polo da
agricultura camponesa no tem como ser vitorioso no horizonte da sociedade
do capital. Em uma sociedade do trabalho, porm, o projeto de uma agricultura
de base camponesa certamente ter de ir bem mais longe do que certas posies
assumidas hoje, que a colocam como retorno ao passado, especialmente do ponto
de vista tecnolgico, ou no particularismo e isolamento de experincias de grupos
locais. Por sua vez, essas experincias, quando radicais, tm sido combatidas pelo
capital exatamente porque mostram que h alternativas agricultura industrial
capitalista, e isso desestabiliza sua hegemonia: quanto mais agonizante o sistema
mais desesperadamente precisa fazer com que todos acreditem que no h alter-
nativas fora da sua lgica, em nenhum plano.
Tambm necessrio ter em foco que a porta de entrada da Educao do
Campo nesse confronto foi a luta pela Reforma Agrria, que trouxe para a sua
constituio originria os movimentos sociais, como protagonistas do enfrenta-
mento de classe, e determinada forma de luta social que carrega junto (nesse eixo e
na relao entre os eixos) a relao contraditria e tensa entre movimentos sociais
(de trabalhadores) e Estado na sociedade brasileira.
prpria desse eixo outra discusso fundamental (justamente para que con-
tradies secundrias no tomem o lugar da contradio principal): estamos com-
preendendo que o conceito de campons, construdo desde o confronto prin-
cipal, pode representar o sujeito (coletivo) da Educao do Campo, ainda que no
concreto real os sujeitos trabalhadores do campo sejam diversos e nem todos caibam
no conceito estrito de trabalhadores camponeses. No Dicionrio foram includos
outros conceitos que nos ajudam a explicitar/trabalhar com a diversidade que
integra a realidade e o debate de concepo em que se move a Educao do Cam-
po, sem comprometer a unidade do polo do trabalho no embate especfco entre
projetos de agricultura, que consideramos fundamental na atualidade.
No eixo identifcado como educao (concepo de educao) temos no plano
especfco o confronto principal com a educao rural (tambm na sua face
atual de educao corporativa), mas na base desse confronto est a contra-
dio entre uma pedagogia do trabalho versus uma pedagogia do capital, que se
Dicionrio da Educao do Campo
16
desdobrar nas questes fundamentais de objetivos formativos, de concepo de
educao, de matriz formativa, de concepo de escola.
H uma determinada concepo de educao que tem sustentado as lutas da
Educao do Campo e est presente nos diferentes eixos. Seu vnculo originrio,
que se constitui pelas determinaes do seu nascimento no eixo campo (tomada
de posio pelos movimentos sociais dos trabalhadores Sem Terra, pela agricultu-
ra camponesa...), com o que tem sido chamado de Pedagogia do Movimento,
formulao terica constituda desde a pedagogia do MST (sua base emprica e
refexiva imediata), por sua vez herdeira das prticas e refexes da pedagogia
do oprimido e da pedagogia socialista, e mais amplamente de uma concepo
de educao e de formao humanas de base materialista, histrica e dialtica.
Herana que fundamento, continuidade, recriao desde a sua materialidade
especfca e os desafos do seu tempo.
H uma disputa de projetos educativos e pedaggicos que se radica no con-
fronto de projetos de sociedade e de humanidade, e se especifca nos embates
desses projetos no pensar e fazer a educao dos camponeses. E h tambm po-
sies e embates que no representam o confronto principal, mas que precisam
ser enfrentados, na compreenso de qual forma educativa efetivamente fortalece os
camponeses para as lutas principais e para a construo de novas relaes sociais,
porque lhes humaniza mais radicalmente e porque assume o desafo de formao
de uma sociabilidade de perspectiva socialista. Desdobram-se desse embate dife-
rentes questes: de concepo de conhecimento, da necessria apropriao pelos
trabalhadores dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade,
mas tambm sua tomada de poder sobre as decises acerca de quais conheci-
mentos continuaro a ser produzidos, e o modo de produo do conhecimento,
e sobre qual forma escolar pode dar conta de participar de um projeto educativo
com essas fnalidades.
No eixo da poltica pblica, os contornos do confronto principal se situam
entre os direitos universais, que somente podem defnir-se no espao pblico, e
as relaes sociais, afrmadas na propriedade privada dos meios e instrumentos
de produo da existncia e no Estado que a garante. Considerando que a rela-
o entre movimentos sociais e Estado est na constituio da forma de fazer a
luta pela Reforma Agrria no Brasil que est na origem da Educao do Campo,
entendemos que o confronto que a constitui no est em lutar ou no por pol-
ticas pblicas. Porque lutar por polticas pblicas representa o confronto com a
lgica do mercado, expresso da liberdade para o desenvolvimento do polo do
capital. Mas uma questo que demarca o confronto diz respeito a quem tem o
protagonismo na luta pela construo de polticas pblicas e a que interesses elas
dominantemente atendero. A disputa do fundo pblico para educao, forma-
o tcnica, sade, cultura, apoio agricultura camponesa e ao acesso moradia,
entre outros, constitui-se em agenda permanente, dado que, cada vez mais, esse
fundo tem sido apropriado para garantia da reproduo do capital e, no campo,
pelo agronegcio.
Tambm fundamental considerar nesse embate que quando o polo do traba-
lho (por meio das organizaes dos trabalhadores) apresenta demandas coletivas
Apresentao
17
ao Estado, explicita a contradio entre direitos coletivos e presso direta pelos
sujeitos de sua conquista concreta versus direitos em tese universais (ou univer-
salizados) que devem ser cobrados/atendidos individualmente.
E h ainda um confronto acerca da concepo e dos objetivos mais amplos
das relaes necessrias conquista ou construo de polticas pblicas: a partir
dos movimentos sociais camponeses originrios da Educao do Campo, trata-se
de entender que a luta pela chamada democratizao do Estado (e nos limites
do que se identifca como Estado democrtico de direito) uma das lutas desse
momento histrico e no a luta por meio da qual se chegar a uma transformao
mais radical da sociedade. Por sua vez, isso signifca entender que negociaes e
conquista de espaos nas diferentes esferas do Estado podem ser um caminho a
seguir em determinadas conjunturas, mas defnitivamente no substituem, nem
devem secundarizar, em nenhum momento, a luta de massas como estratgia
insubstituvel do confronto principal e de formao dos trabalhadores para a
transformao e construo da nova forma social.
O eixo dos direitos humanos aborda essa tenso e como ela deve ser tratada
com vigilncia crtica. Chama nossa ateno sobre como a violao dos direitos
humanos integra a forma de instaurao dos projetos do grande capital na pe-
riferia, dos projetos de modernizao retardatria aos projetos da modernidade
globalizada. A histria sem pretenso de salvar ou condenar a dialtica negativa e
positiva que se movimenta na/pela prxis humana segue um tempo agonizante,
de fraturas intransponveis, de memrias reprimidas, um presente estilhaado por
guerras e muros, por fome, desinteresse e medo, um presente que no v o mar
do futuro. A difculdade da viso/imaginao do mar do futuro no elimina a
realidade de desej-lo, de senti-lo, reatualizando a promessa de viv-lo enquanto
humanidade, com necessidade de liberdade. Campo e cidade se indiferenciam
na crescente violao dos direitos humanos, que atinge no apenas os militantes
sociais, mas tambm os trabalhadores, seus flhos e netos, todos desfgurados pela
criminalizao da pobreza e de toda luta social que se coloque no horizonte da
emancipao humana.
Hoje, compreender as dimenses da luta poltica na sociedade brasileira con-
tempornea encarar a crueldade dos limites e das potencialidades que a luta
pelos direitos humanos nos revela. No Dicionrio, esse eixo tem interface direta
com as contradies especfcas indicadas no eixo das polticas pblicas, especial-
mente no que se refere ampliao ou reduo do espao pblico em nome
dos interesses do capital, e hoje, notadamente, do capital fnanceiro. A seleo
de verbetes tambm busca mostrar a relao entre luta por polticas pblicas
de interesse dos trabalhadores e presso (pelas formas de luta assumidas pelos
movimentos sociais) por alternativas ordem jurdica vigente. Qual o signifcado
do debate no plano jurdico sobre funo social da propriedade, limite de
propriedade, sementes modifcadas, legitimidade das lutas sociais? O que
representa uma escola itinerante de acampamentos de luta pela terra ser uma
escola pblica? Ao mesmo tempo, preciso trazer tona os movimentos sociais
como sujeitos produtores de direitos que vo alm dos direitos liberais a que se
podem vincular hoje as polticas pblicas.
Dicionrio da Educao do Campo
18
O processo de produo do Dicionrio envolveu aproximadamente um ano
de trabalho, aps a deciso tomada entre os parceiros sobre sua elaborao. A
experincia anterior da Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio de pro-
duo do Dicionrio da Educao Profssional em Sade (2006) foi fundamental para
agilizar decises metodolgicas e de organizao coletiva deste trabalho. As de-
cises principais foram tomadas em ofcinas, e a defnio de que seguiramos,
na seleo dos verbetes e seus contedos, a lgica dos eixos antes mencionados,
estabeleceu uma dinmica de trabalho ao mesmo tempo por eixo e entre os eixos,
seja na indicao dos autores e na elaborao das ementas dos verbetes, seja na
interlocuo com cada autor e no processo de leitura e discusso coletiva dos
textos produzidos. Foi sem dvida um processo de formao organizativa de
trabalho cooperado para todos ns.
Houve uma orientao geral aos autores, de modo a garantir contedos acor-
des ao debate proposto e certo padro de formatao dos textos, mas foram
acolhidas as sugestes de contedo e as diferenas de estilo de escrita, prprias
do largo espectro de prticas ou de atuao especfca do conjunto de autores
envolvido nessa construo. Dada a concepo do Dicionrio como obra de re-
ferncia, no foi exigido ineditismo dos textos, e alguns verbetes possuem trechos
j publicados por seus autores em outras obras.
O Dicionrio, pela seleo e pelo contedo dos verbetes, busca materializar
a concepo de produo do conhecimento desde uma perspectiva dialtica em
que a parte ou a particularidade somente ganha sentido e compreenso dentro de
uma totalidade histrica. Nessa concepo, os campos e os verbetes resultam do
dilogo com diferentes reas e diferentes formas de produo do conhecimento.
Buscamos ter, no conjunto da obra, uma coerncia bsica de abordagem teri-
ca, respeitando os contraditrios que expressam o movimento real das discusses
e das prticas que compem hoje o debate da Educao do Campo e para alm
dela. Tratamos de questes complexas, sobre as quais no h total consenso ou
posies amadurecidas, mesmo a partir de um determinado campo poltico. Ten-
tamos no alimentar falsas ou artifciais polmicas, mas tambm nosso objetivo
suscitar debates sobre pontos que tm aparecido como fundamentais no avano
do projeto educativo e societrio assumido.
O Dicionrio, embora tenha sido elaborado a partir de eixos, foi organizado
pelos verbetes em ordem alfabtica, pelo entendimento de que essa viso interei-
xos pedagogicamente mais fecunda para o objetivo que temos de frmar uma
concepo de abordagem ou de tratamento terico e prtico da Educao do
Campo.
Agradecemos a disponibilidade, a disciplina e o trabalho solidrio do conjun-
to dos autores dessa obra, sem o que ela no teria sido possvel nesse tempo e
nem teria a forma que agora apresentamos para a crtica dos leitores. Agradece-
mos igualmente a todos os profssionais/trabalhadores da Escola Politcnica de
Sade Joaquim Venncio que se envolveram em cada procedimento necessrio
produo e edio desta obra.
Apresentao
19
Por fm, gostaramos de fazer um agradecimento especial a algumas pessoas:
Clarice Aparecida dos Santos, Mnica Castagna Molina e Roberta Lobo, que par-
ticiparam conosco da equipe de coordenao do Dicionrio, respondendo pe-
los eixos de polticas pblicas e direitos humanos, respectivamente; Joo Pedro
Stedile, Neuri Domingos Rossetto e Juvelino Strozake, pela contribuio em di-
ferentes momentos da produo desta obra; e a Ctia Guimares, pelo trabalho
rigoroso na coordenao do processo de reviso fnal dos textos.
Caber a todos ns, autores e leitores, verifcar se o conjunto do Dicionrio
conseguiu ajudar a pr alguma ordem nas ideias, evidenciando e contribuindo para a
compreenso das relaes que compem a totalidade complexa de constituio
da Educao do Campo e para a formulao das questes necessrias continui-
dade dessa elaborao e das lutas prticas que justifcam e movem/devem mover
debates como esse.
Os organizadores
23
A
A
ACAMPAMENTO
Bernardo Manano Fernandes
Acampamento um espao de luta
e resistncia. a materializao de
uma ao coletiva que torna pblica a
intencionalidade de reivindicar o direi-
to terra para produo e moradia. O
acampamento uma manifestao per-
manente para pressionar os governos
na realizao da Reforma Agrria. Par-
te desses espaos de luta e resistncia
resultado de ocupaes de terra; outra
parte, est se organizando para prepa-
rar a ocupao da terra. A formao do
acampamento fruto do trabalho de
base, quando famlias organizadas em
movimentos socioterritoriais se ma-
nifestam publicamente com a ocupa-
o de um latifndio. Com esse ato, as
famlias demonstram sua inteno de
enfrentar as difceis condies nos
barracos de lona preta, nas beiras das
estradas; demonstram tambm que
esto determinadas a mudar os rumos
de suas vidas, para a conquista da terra,
na construo do territrio campons.
Os acampamentos so espaos e
tempos de transio na luta pela terra.
So, por conseguinte, realidades em
transformao, uma forma de materia-
lizao da organizao dos sem-terra,
trazendo em si os principais elementos
organizacionais do movimento. Os
acampamentos so, predominante-
mente, resultado de ocupaes. Assim
sendo, demarcam nos latifndios e nos
territrios do agronegcio os primei-
ros momentos do processo de territo-
rializao camponesa.
Acampar uma antiga forma de
luta camponesa que, associada ocupa-
o, manifesta tanto resistncia quanto
persistncia. Em 1962, os sem-terra
comearam a organizao de acam-
pamentos no Rio Grande do Sul, por
meio do Movimento dos Agricultores
Sem Terra (Master) (Eckert, 1984).
Esse espao de luta passou a ser re-
produzido por centenas de movimen-
tos camponeses nas dcadas de 1990 e
2000, com diferentes formas de orga-
nizao, mas sempre com o objetivo de
conquistar a terra (Fernandes, 1996 e
2000; Feliciano, 2006).
Estar no acampamento resultado
de decises difceis tomadas com base
nos desejos e interesses de quem quer
transformar a realidade. Todavia, deci-
dir pelo acampamento optar pela luta
e resistncia. preciso saber lidar com
o medo: ir ou fcar? O medo de no dar
certo, da violncia dos jagunos e mui-
tas vezes da polcia. preciso tambm
se preparar para viver em condies
precrias (Feliciano, 2006). Por ser um
espao de mobilizao para pressionar
o governo a desapropriar terras, em
suas experincias, os sem-terra com-
preenderam que acampar sem ocupar
difcilmente leva conquista da terra.
A ocupao da terra um trunfo nas
negociaes. Muitos acampamentos f-
caram anos nas beiras das rodovias sem
que os trabalhadores conseguissem ser
assentados. Somente com a ocupao,
obtiveram xito na luta. Para impedir o
avano da luta pela terra por meio das
aes de ocupao/acampamento, o
Governo Fernando Henrique Cardoso
criou a medida provisria n 2.109-50,
Dicionrio da Educao do Campo
24
de 27 de maro de 2001, que suspende
por dois anos a desapropriao de reas
ocupadas pela primeira vez e por qua-
tro anos as ocupadas por duas ou mais
vezes. Essa medida poltica foi um dos
motivos que levaram a mudanas nas
formas dos acampamentos.
Embora os acampamentos mante-
nham a mesma essncia de serem es-
pao de luta e resistncia, conforme
a conjuntura poltica da luta, os sujei-
tos mudam a forma de organizao
do acampamento. Os acampamentos
como espaos de luta e resistncia so
lugares que marcam as histrias de vida
dos sem-terra, como o cineasta Paulo
Rufno conseguiu exprimir de maneira
to objetiva quanto potica:
Dos campos, das cidades, das
frentes dos palcios, os sem-
terra, este povo de beira de qua-
se tudo, retiram suas lies de
semente e histria. Assim, es-
premidos nessa espcie de geo-
grafa perdida que sobra entre
as estradas, que por onde pas-
sam os que tm para onde ir, e
as cercas, que onde esto os
que tm onde estar, os sem-terra
sabem o que fazer: plantam. E
plantam porque sabem que te-
ro apenas o almoo que pude-
rem colher, como sabem que
tero apenas o pas que pude-
rem conquistar. (Paulo Rufno,
O canto da terra, 1991)
primeira vista, os acampamentos
parecem ser ajuntamentos desorgani-
zados de barracos. Todavia, possuem
disposies especfcas que decorrem
da topografa do terreno, das condi-
es de desenvolvimento da resistn-
cia ao despejo e das perspectivas de
enfrentamento com jagunos. Podem
estar localizados na beira das estradas,
em fundos de vale ou prximo de es-
piges. Os arranjos dos acampamentos
so predominantemente circulares ou
lineares. Nesses espaos, existem lu-
gares onde, muitas vezes, os sem-terra
plantam suas hortas, estabelecem a
escola e a farmcia, e tambm o
local das assembleias.
Ao organizar um acampamento, os
sem-terra criam diversas comisses ou
equipes, que do forma organizao.
Delas participam famlias inteiras ou
parte de seus membros. Essas comis-
ses criam as condies bsicas para
a manuteno das necessidades dos
acampados: sade, educao, segu-
rana, negociao, trabalho etc. Dessa
forma, os acampamentos, frequente-
mente, contam com escolas ou seja,
barracos de lona nos quais funcionam
salas de aula, principalmente as quatro
primeiras sries do ensino fundamen-
tal, alm de cursos de alfabetizao de
adultos e com uma farmcia im-
provisada, que funciona em um dos
barracos. Quando acampados dentro
de um latifndio, plantam em mutiro,
para garantirem parte dos alimentos
de que necessitam; quando acampados
na estrada, plantam no espao entre a
rodovia e as cercas das propriedades;
quando acampados prximos a as-
sentamentos, trabalham nos lotes dos
assentados como diaristas ou em di-
ferentes formas de meao. Tambm
vendem sua fora de trabalho como
boias-frias para usinas de lcool e a-
car e outras empresas capitalistas ou,
ainda, para pecuaristas.
O cotidiano dos acampamentos
difere pela prpria diversidade cultu-
ral e regional, mas todos mantm as
caractersticas fundantes do movimen-
25
A
Acampamento
to, como a resistncia e o objetivo de
especializar a luta. Nos acampamentos
do Nordeste ou do Sudeste, poss-
vel observar diferenas e semelhan-
as nos seus cotidianos (Justo, 2009;
Loera, 2009; Sigaud, 2009). Alm das
diferenas em relao localizao dos
acampamentos, h tambm diferenas
na sua durao, por causa das aes e
reaes dos movimentos, governos, la-
tifundirios e capitalistas.
Na dcada de 1980, os acampamen-
tos recebiam alimentos, roupas e rem-
dios, principalmente das comunidades
e de instituies de apoio luta. Desde
o fnal dos anos 1980 e o incio da d-
cada de 1990, com o crescimento do
nmero de assentamentos, os assen-
tados tambm passaram a contribuir
de diversas formas para a luta. Muitos
cedem caminhes para a realizao
das ocupaes, tratores para preparar
a terra e alimentos para a populao
acampada. Esse apoio mais signifca-
tivo quando os assentados esto vincu-
lados a uma cooperativa. Essa uma
marca da organicidade do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), por exemplo.
Na segunda metade da dcada de
1990, em alguns estados, o MST come-
ou uma experincia que denominou
de acampamento permanente ou acam-
pamento aberto. Esse acampamento
estabelecido em regies onde existem
muitos latifndios. um espao de luta
e resistncia para o qual as famlias de
diversos municpios se dirigem, a fm
de participarem da luta organizada pela
terra. Desse acampamento permanente,
os Sem Terra partem para vrias ocupa-
es, e podem transferir-se para elas ou,
em caso de despejo, retornar ao acam-
pamento permanente. Conforme vo
conquistando a terra, vo mobilizando
e organizando tambm novas famlias,
que se integram ao acampamento.
Ao organizarem a ocupao da
terra, os Sem Terra promovem uma
ao concreta de repercusso imedia-
ta. A ocupao coloca em questo a
propriedade capitalista da terra, quan-
do do processo de criao da proprie-
dade familiar, pois ao conquistam
a terra, os Sem Terra transformam a
grande propriedade capitalista em
unidades familiares.
O acampamento lugar de mobi-
lizao constante. Alm de espao de
luta e resistncia, tambm espao
interativo e comunicativo. Essas trs
dimenses do espao de socializao
poltica desenvolvem-se no acampa-
mento em diferentes situaes. No in-
cio do processo de formao do MST,
na dcada de 1980, em diferentes expe-
rincias de acampamentos, as famlias
partiam para a ocupao somente de-
pois de meses de preparao nos tra-
balhos de base. Desse modo, os Sem
Terra visitavam as comunidades, rela-
tavam suas experincias, provocavam o
debate e desenvolviam intensamente o
espao de socializao poltica em suas
dimenses comunicativa e interativa.
Esse procedimento possibilita o esta-
belecimento do espao de luta e resis-
tncia de forma mais organizada, pois
as famlias das comunidades passam a
conhecer os diferentes tipos de enfren-
tamentos da luta. Em seu processo de
formao, como resultado da prpria
demanda da luta, o MST construiu ou-
tras experincias. Assim, nos trabalhos
de base, deixou-se de se desenvolver a
dimenso interativa, que passou a ter
lugar no espao de luta e resistncia.
E ainda, quando h um acampamento
permanente ou aberto, as famlias po-
dem iniciar-se na luta, inaugurando o
Dicionrio da Educao do Campo
26
espao comunicativo por meio da ex-
posio de suas realidades nas reunies
para organizar as ocupaes. o que
acontece quando os Sem Terra esto
lutando pela conquista de vrias fazen-
das, e novas famlias vo se somando
ao acampamento, enquanto outras vo
sendo assentadas (Fernandes, 2000).
No acampamento, os Sem Terra
fazem periodicamente anlises da con-
juntura da luta. Essa leitura poltica
pelos movimentos socioterritoriais
no implica maiores difculdades, pois
eles esto em contato permanente com
suas secretarias, de modo que podem
fazer anlises conjunturais com base
em referenciais polticos amplos, como
os das negociaes em andamento nas
capitais dos estados e em Braslia. As-
sim, associam formas de luta local com
as lutas nas capitais. Ocupam a terra
diversas vezes como forma de presso
para abrir a negociao, fazem marchas
at as cidades, ocupam prdios pbli-
cos, fazem manifestaes de protesto,
reunies etc. Pela correspondncia en-
tre esses espaos de luta no campo e na
cidade, sempre h determinao de um
sobre o outro. As realidades locais so
muito diversas, de modo que tendem a
predominar nas decises fnais as rea-
lidades das famlias que esto fazendo
a luta. Dessa forma, as linhas polticas
de atuao so construdas com base
nesses parmetros. E as instncias re-
presentativas do MST carregam essa
espacialidade e essa lgica, pois um
membro da coordenao ou da direo
nacional participa do processo desde
o acampamento at as escalas mais
amplas: regional, estadual e nacional
(Stedile e Fernandes, 1999).
Todos os acampamentos tm im-
portncia histrica nas lutas das famlias
Sem Terra. Porm, vale destacar pelo
menos trs dos acampamentos histri-
cos no processo de formao e territo-
rializao do MST: o acampamento da
Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta
(RS), de 1980 a 1982; o acampamento
no Seminrio dos Padres Capuchinhos,
em Itamaraju (BA), de 1988 a 1989; e
o acampamento Unio da Vitria, em
Mirante do Paranapanema, na regio
do Pontal do Paranapanema (SP), de
1992 a 1994 (Fernandes, 1996 e 2000).
Garantir a existncia do acampamento,
por meio da resistncia, impedindo a
disperso causada por diferentes for-
mas de violncia, fundamental para o
sucesso da luta na conquista da terra.
Os Sem Terra ocupam a terra, pr-
dios pblicos e espaos polticos diver-
sos para denunciar os signifcados da
explorao e da expropriao, lutando
para mudar suas realidades. O acampa-
mento como espao de luta e resistn-
cia no processo de espacializao e ter-
ritorializao da luta pela terra tambm
promove a espacialidade da luta por
meio de romarias, caminhadas e mar-
chas. A caminhada uma necessidade
para expandir as possibilidades de ne-
gociao e gerar novos fatos. Em seus
ensinamentos, por meio de suas expe-
rincias, os Sem Terra tiveram diversas
referncias histricas. Alguns exem-
plos utilizados na mstica do movimen-
to so a caminhada do povo hebreu
rumo Terra Prometida, na luta contra
a escravido no Egito; a caminhada de
Gandhi e dos indianos rumo ao mar,
na luta contra o imperialismo ingls; as
marchas das revolues mexicana e chi-
nesa e da Coluna Prestes, entre outras.
De 2001 a 2010, os acampamentos ga-
nharam novas caractersticas. A medida
provisria n 2.109-50, promulgada em
2001, diminuiu o nmero de ocupa-
es, e os Sem Terra, estrategicamente,
27
A
Acampamento
passaram a acampar prximo das reas
reivindicadas. Embora, em alguns ca-
sos, recebessem apoio de famlias
assentadas, a sustentao do acam-
pamento passou a ser feita principal-
mente pelas prprias famlias acam-
padas. Outras novas caractersticas
derivam de fatores como mudanas na
poltica econmica, com o aumento do
emprego e polticas compensatrias
do tipo Bolsa Famlia etc. , de modo
que a participao nos acampamentos
deixou de ser de todos os membros da
famlia apenas um ou dois membros
da famlia permanecem no acampa-
mento e, em alguns casos, passou a
ser espordica. Com essas novas ca-
ractersticas, os acampamentos, ainda
que continuem a ser espaos de luta
e resistncia e que neles se organizem
manifestaes e reunies de negocia-
o, j no so mais espaos de perma-
nncia das famlias acampadas. Porm,
o acampamento continua sendo essa
espcie de geografa perdida onde
os Sem Terra se renem para pensar,
compreender, resistir e lutar por seus
territrios e seu pas.
Para saber mais
BRASIL. Medida Provisria n 2.109-50, de 27 de maro de 2001. Dirio Ofcial da
Unio. Braslia, 28 mar. 2001.
ECKERT, C. Movimento dos Agricultores Sem-Terra no Rio Grande do Sul. 1984. Disserta-
o (Mestrado em Cincias de Desenvolvimento Agrcola) Instituto de Cincias
Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Itagua, 1984.
FELICIANO, C. A. Movimento campons rebelde. So Paulo: Contexto, 2006.
FERNANDES, B. M. Formao e territorializao do MST no estado de So Paulo. So
Paulo: Hucitec, 1996.
______. A formao do MST no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2000.
JUSTO, M. G. A fresta: ex-moradores de rua como camponeses. In: FERNANDES,
B. M.; MEDEIROS, L. S.; PAULILO, M. I. Lutas camponesas contemporneas: condies,
dilemas e conquistas a diversidade de formas de luta no campo. So Paulo:
Editora da Unesp; Braslia: Ncleo de Estudos Agrrios e Desenvolvimento
Rural, 2009. p. 139-158.
LOERA, N. C. R. Para alm da barraca de lona preta: redes sociais e trocas em
acampamentos e assentamentos do MST. In: FERNANDES, B. M.; MEDEIROS, L. S.;
PAULILO, M. I. Lutas camponesas contemporneas: condies, dilemas e conquistas a
diversidade de formas de luta no campo. So Paulo: Editora da Unesp; Braslia:
Ncleo de Estudos Agrrios e Desenvolvimento Rural, 2009. p. 73-94.
SIGAUD, L. A engrenagem das ocupaes de terra. FERNANDES, B. M.; MEDEIROS, L. S.;
PAULILO, M. I. Lutas camponesas contemporneas: condies, dilemas e conquistas a
diversidade de formas de luta no campo. So Paulo: Editora da Unesp; Braslia:
Ncleo de Estudos Agrrios e Desenvolvimento Rural, 2009. p. 53-72.
STEDILE, J. P.; FERNANDES, B. M. Brava gente: a trajetria do MST e a luta pela terra
no Brasil. So Paulo: Perseu Abramo, 1999.
Dicionrio da Educao do Campo
28
A
AGRICULTURA CAMPONESA
Horacio Martins de Carvalho
Francisco de Assis Costa
Agricultura camponesa o modo de
fazer agricultura e de viver das famlias
que, tendo acesso terra e aos recur-
sos naturais que ela suporta, resolvem
seus problemas reprodutivos por meio
da produo rural, desenvolvida de tal
maneira que no se diferencia o univer-
so dos que decidem sobre a alocao
do trabalho dos que se apropriam do
resultado dessa alocao (Costa, 2000,
p. 116-130).
Famlias desse tipo, com essas ca-
ractersticas, nos seus distintos modos
de existncia no decorrer da histria da
formao social brasileira, teceram um
mundo econmico, social, poltico e
cultural que se produz, reproduz e afr-
ma na sua relao com outros agentes
sociais. Estabeleceram uma especifci-
dade que lhes prpria, seja em relao
ao modo de produzir e vida comu-
nitria, seja na forma de convivncia
com a natureza.
As unidades de produo campone-
sas, ao terem como centralidade a repro-
duo social dos seus trabalhadores di-
retos, que so os prprios membros da
famlia, apresentam uma racionalidade
distinta daquela das empresas capita-
listas, que se baseiam no assalariamen-
to para a obteno de lucro. Como as
famlias camponesas reproduzem a sua
especifcidade numa formao social
dominada pelo capitalismo, e dado que
a economia camponesa supe os merca-
dos, as unidades de produo campone-
sas sofrem infuncias as mais distintas
sobre o seu modo de fazer agricultura:
Os camponeses instauraram, na
formao social brasileira, em si-
tuaes diversas e singulares, me-
diante resistncias de intensidades
variadas, uma forma de acesso li-
vre e autnomo aos recursos da
terra, da foresta e das guas, cuja
legitimidade por eles reafrma-
da no tempo. Eles investiram na
legitimidade desses mecanismos
de acesso e apropriao, pela de-
monstrao do valor de modos
de vida decorrentes da forma de
existncia em vida familiar, vici-
nal e comunitria. A produo
estrito senso se encontra, assim,
articulada aos valores de sociabi-
lidade e da reproduo da famlia,
do parentesco, da vizinhana e da
construo poltica de um ns
que se reafrma por projetos co-
muns de existncia e coexistncia
sociais. O modo de vida, assim es-
tilizado para valorizar formas de
apropriao, redistribuio e con-
sumo de bens materiais e sociais,
se apresenta, de fato, como um
valor de referncia, moralidade
que se contrape aos modos de
explorao e de desqualifcao,
que tambm foram sendo repro-
duzidos no decorrer da existn-
cia da posio camponesa na so-
ciedade brasileira. (Motta e Zarth,
2008, p. 11-12)
O modo campons de fazer agri-
cultura no est separado do modo de
29
A
Agricultura Camponesa
viver da famlia, pois preciso consi-
derar que os
[...] trabalhadores familiares no
podem ser peremptoriamente
dispensados, porque, em geral,
tambm so flhos. Eles devem
ser alocados segundo ritmos,
intensidade e fases do processo
produtivo. So ento sustenta-
dos nas situaes de no traba-
lho e integrados segundo proje-
tos possveis para constituio
e expanso do patrimnio fa-
miliar, para incluso de novas
geraes, conforme as alternati-
vas de sucesso ou de negao
da posio. Essas alternativas
so assim interdependentes da
avaliao da posio e das viabi-
lidades da reproduo da cate-
goria socioeconmica. (Neves,
2005, p. 26)
Essa complexa interao, varivel
nos tempos e nas circunstncias, apre-
senta diversas caractersticas:
os saberes e as experincias de
produo vivenciados pelas fam-
lias camponesas so referenciais
importantes para a reproduo de
novos ciclos produtivos;
as prticas tradicionais, o intercm-
bio de informaes entre vizinhos,
parentes e compadres, o senso co-
mum, assim como a incorporao
gradativa e crtica de informaes
sobre as inovaes tecnolgicas
que se apresentam nos mercados,
constituem um amlgama que con-
tribui para as decises familiares
sobre o que fazer;
o uso da terra pode ocorrer de ma-
neira direta pela famlia, em par-
ceria com outras famlias vizinhas
ou parentes, em coletivos mais
amplos ou com partes do lote ar-
rendados a terceiros;
h diversifcao de cultivos e
criaes, alternatividade de uti-
lizao dos produtos obtidos,
seja para uso direto da famlia, seja
para usufr ui r de oportuni da-
des nos mercados, e presena de
diversas combinaes entre pro-
duo, coleta e extrativismo;
a unidade de produo camponesa
pode produzir artesanatos e fazer o
benefciamento primrio de produ-
tos e subprodutos;
existe garantia de fontes diversas
de rendimentos monetrios para a
famlia, desde a venda da produo
at a de remunerao por dias de
servios de membros da famlia;
a solidariedade comunitria (troca
de dias de servios, festividades, ce-
lebraes), as crenas e os valores
religiosos por vezes impregnam as
prticas da produo;
esto presentes elementos da cul-
tura patriarcal;
e, enfm, mas no fnalmente, exis-
tem relaes afetivas e simbli-
cas com as plantas, os animais, as
guas, os stios da infncia, com a
paisagem... e com os tempos.
Na racionalidade das empresas ca-
pitalistas, a nica referncia o lucro
a ser obtido. E, de maneira geral, o lu-
cro encarado independentemente dos
impactos sociais, polticos, ambientais
e alimentares que ele possa provocar.
No modo capitalista de fazer agricultu-
ra, crescente a concentrao das ter-
ras como resultado do privilegiamen-
to da produo em escala, que requer
grande extenso contnua de rea para
a prtica do monocultivo e tecnologias
com uso intensivo de insumos qumi-
Dicionrio da Educao do Campo
30
cos, particularmente agrotxicos, que
maximizam a produo por rea e,
em combinao com a mecanizao,
alteram e diversifcam as formas de
explorao do trabalho, ainda que pre-
domine a contratao de trabalhadores
assalariados temporrios. Como o ob-
jetivo central das escolhas na empresa
capitalista a mxima lucratividade
possvel, a artifcializao da agricultu-
ra tem sido o caminho entendido como
o mais efciente.
Uma das implicaes da matriz
tecnolgica e de produo do modo
capitalista de fazer agricultura a de-
gradao ambiental e das pessoas, alm
da indiferena perante os interesses
mais gerais da populao, como os
de construo da soberania popular e
alimentar. Para resistirem s presses
derivadas da racionalidade dominante,
as famlias que praticam o modo cam-
pons de fazer agricultura, afrmando
valores que determinam a sua condio
camponesa, tendem a orientar as suas
escolhas de acordo com as complexi-
dades que emergem da sua tensa bus-
ca por autonomia relativa no que diz
respeito ao capital e da sua insero
crescente nos mercados. Nessa pers-
pectiva, algumas tendncias da prxis
da agricultura camponesa, alm das
caractersticas referidas anteriormente,
podem ser assinaladas:
orientada para a produo e para
o crescimento do mximo valor
agregado possvel e do emprego
produtivo; os ambientes econ-
micos hostis so enfrentados pela
produo de renda independente,
usando basicamente recursos auto-
criados e automanejados;
como conta com recursos limitados
por unidade de produo, tende a
obter o mximo de produo poss-
vel por dada quantidade de recurso,
sem deteriorar a sua qualidade;
com fora de trabalho nem sem-
pre abundante e com objetos de
trabalho relativamente escassos, a
tendncia de produo diversi-
fcada e intensiva por unidade de
rea explorada;
como os recursos sociais e os mate-
riais disponveis representam uma
unidade orgnica, so apropriados
e controlados por aqueles que esto
diretamente envolvidos no proces-
so de trabalho, tendo como refe-
rncia um repertrio cultural local
historicamente constitudo;
a lgica da unidade de produo
camponesa alicerada na centrali-
dade do trabalho, por isso os nveis
de intensidade e desenvolvimento
da incorporao e inovao tecno-
lgicas dependem criticamente da
quantidade e qualidade do trabalho;
o processo de produo tipica-
mente fundado numa reproduo
relativamente autnoma e histo-
ricamente garantida, e o ciclo de
produo baseado em recursos
produzidos e reproduzidos duran-
te ciclos anteriores (Ploeg, 2008,
p. 60-61).
O uso corrente da expresso agri-
cultura camponesa por amplas parce-
las das prprias famlias camponesas
no processo de construo da sua
identidade social, pelos movimentos
e organizaes populares no campo,
por organismos governamentais, pela
intelectualidade acadmica e por par-
cela dos meios de comunicao de
massa tem sido crescente nas ltimas
dcadas. Isso decorre, por um lado, da
aceitao da concepo, no Brasil con-
temporneo, de que a agricultura cam-
31
A
Agricultura Camponesa
ponesa expresso de um modo de
se fazer agricultura distinto do modo
de produo capitalista dominante, e,
nesse sentido, o campesinato se apre-
senta na formao social brasileira com
uma especifcidade, uma lgica que lhe
prpria na maneira de produzir e de
viver, uma lgica distinta e contrria
dominante.
Por outra parte, o campesinato se
confronta ideologicamente, e com as con-
sequncias da resultantes, com duas
expresses j usuais, que se fzeram
hegemnicas no campo, e que so de-
corrncia dos interesses das concepes
das empresas capitalistas: agricultura de
subsistncia e agricultura familiar.
A expresso agricultura de subsis-
tncia, presente nos discursos dominan-
tes desde o Brasil colonial, discrimina
os camponeses por serem produtores
de alimentos uma tarefa considerada
subalterna, ainda que necessria para a
reproduo social da formao social
brasileira , contrapondo-os ao modo
dominante de se fazer a agricultura, o
qual se reproduz desde as sesmarias at
a empresa capitalista contempornea,
mantendo a tendncia geral de se espe-
cializar no monocultivo e na oferta de
produtos para a exportao.
A partir da denominada REVOLUO
VERDE na agricultura, iniciada em meados
da dcada de 1950 e revivifcada a partir
dos anos 1980, com a expanso mun-
dial da concepo de artifcializao da
agricultura e a ampliao dos contratos
de produo entre as empresas capitalis-
tas e as famlias camponesas, introduziu-
se a expresso agricultura familiar, outrora
de uso consuetudinrio aqui e acol, mas
acentuado desde a dcada de 1990, e con-
sagrada em lei (Brasil, 2006) como expres-
so formal, porque utilizada por progra-
mas e polticas pblicas governamentais.
A expresso agricultura familiar
traz como corolrio da sua concepo
a ideia de que a possibilidade de cresci-
mento da renda familiar camponesa s
poder ocorrer se houver a integrao
direta ou indireta da agricultura fami-
liar com as empresas capitalistas, em
particular as agroindstrias.
Em 24 de julho de 2006, foi sancio-
nada pelo presidente da Repblica a lei
n 11.326, que estabeleceu as Diretrizes
para a Formulao da Poltica Nacional
da Agricultura Familiar e Empreendi-
mentos Familiares Rurais, ofcializando
a expresso agricultura familiar com
concepo distinta daquela da empresa
capitalista no campo.
A ofcializao da expresso agri-
cultura familiar teve como objetivo
estabelecer critrios para o enquadra-
mento legal dos produtores rurais com
certas caractersticas que os classif-
cavam como agricultores familiares.
Isso para obteno, por parte desses
agricultores familiares, de benefcios
governamentais, sendo indiferente o
fato de esses agricultores estarem em
situao de subordinao perante as
empresas capitalistas ou se eram repro-
dutores da matriz de produo e tecno-
lgica dominante.
J a expresso agricultura campo-
nesa comporta, na sua concepo, a es-
pecifcidade camponesa e a construo
da sua autonomia relativa em relao
aos capitais. Incorpora, portanto, um
diferencial: a perspectiva maior de for-
talecimento dos camponeses pela afr-
mao de seu modo de produzir e de
viver, sem com isso negar uma moder-
nidade que se quer camponesa.
Nos diversos contextos histricos e
fsiogeogrfcos em que ela se tem se
afrmado e nas ecobiodiversidades nas
quais tm praticado os mais distintos
Dicionrio da Educao do Campo
32
sistemas de produo agropecuria e
forestal e as mais variadas prticas ex-
trativistas, sempre no mbito de suas
estratgias de reproduo social, a agri-
cultura camponesa tem mantido como
marca indelvel da sua presena a nfa-
se na produo de alimentos, tanto para
a reproduo da famlia quanto para o
abastecimento alimentar da sociedade
em sentido amplo.
No Brasil, a produo de alimentos
para o mercado interno, apesar de ser
considerada pelos valores dominantes
como o resultado de uma agricultura
subalterna, torna-se cada vez mais uma
opo estratgica para se alcanar a so-
berania alimentar do pas.
Mesmo sendo a principal produtora
de alimentos, a agricultura camponesa
no pas enfrentou, e enfrenta, desde
o seu surgimento no perodo colonial
at a poca atual, os mais distintos ti-
pos de empecilhos: dificuldades polti-
cas do acesso terra, vrias formas
de presso e represso para a sua
subalternizao s empresas capita-
l i stas, expl orao conti nuada da
renda fami l i ar por diversas fra-
es do capital, induo direta e in-
direta para a adoo de um modelo
de produo e tecnolgico que lhes
era e desfavorvel e a desqualifica-
o preconceituosa e ideolgica dos
camponeses, sempre considerados
margem do modo capitalista de
fazer agricultura.
Essas iniciativas de subjugar a agri-
cultura camponesa foram exercidas
outrora por latifundirios e seus pre-
postos, mas tm sido contemporanea-
mente efetivadas pelas empresas e cor-
poraes capitalistas com negcios no
campo. O processo histrico de subal-
ternizao dos camponeses estimulou
diferentes formas de resistncia social:
Os camponeses que no aceitam
os processos de explorao eco-
nmica e de dominao poltica
pelas classes dominantes capita-
listas construram, de certa for-
ma, uma identidade destinada
resistncia [...]. Ela d origem a
formas de resistncia coletiva
diante de uma opresso que, do
contrrio, no seria suportvel,
em geral com base em identida-
des que, aparentemente, foram
defnidas com clareza pela his-
tria, geografa ou biologia, fa-
cilitando assim a essencializa-
o dos limites da resistncia
[...]. (Castells, 1999, p. 25)
Segundo Comerford, tem havido
formas cotidianas de resistncia e,
[...] nesse cotidiano tenso, os
camponeses mobilizam rela-
es de parentesco, de vizi-
nhana, amizade e compadrio,
mais do que organizaes for-
mais de representao de inte-
resses ou de mobilizao pol-
tica. Tais formas informais
de resistncia, seguindo a linha
de raciocnio de autores como
Scott, derivam em boa parte de
sua eficcia do fato de no se
assumir como conflito aberto
e de no se organizar explici-
tamente como tal. (Comerford,
2005, p. 156)
Muito alm das diferentes maneiras
de como se d a resistncia social da
agricultura camponesa perante as ofen-
sivas do capital, o que est em confron-
to so dois paradigmas profundamente
distintos de como se faz agricultura: o
campons e o capitalista.
33
A
Agricultura Camponesa
No so raras as situaes em
que unidades familiares camponesas
e empresas capitalistas cooperam
umas com as outras. No so raras,
tambm, as situaes em que os cam-
poneses tentam imitar a lgica capi-
talista, que lhes antagnica, e na
maior parte das vezes inviabilizam-se
economicamente por isso. Portanto,
como sempre, os camponeses esto
cercados de armadilhas.
Com a expanso crescente das ino-
vaes tecnolgicas a partir dos avan-
os na manipulao gentica, foram
ampliadas as formas de subalternizao
da agricultura camponesa ao capital,
que agora se do predominantemente
pelo intenso e impositivo processo de
artifcializao da produo agropecu-
ria e forestal, em particular pela oligo-
polizao por empresas transnacionais
com a oferta de sementes transgnicas
e de insumos de origem industrial, e
pelo estmulo das agroindstrias es-
pecializao da produo camponesa.
Desde ento, o modelo tecnolgico
concebido pelos grandes conglomerados
empresariais transnacionais relacionados
com as empresas capitalistas no campo,
e que conta com o apoio de diversas
polticas pblicas estratgicas, tornou-se
o referencial para o que se denominou
modernizao da agricultura. E se rei-
fcou a produo de mercadorias agrco-
las (commodities) para a exportao em de-
trimento da produo de alimentos para
a maioria da populao.
O crescente processo de identidade
camponesa e, portanto, de conscincia
da sua especifcidade na formao so-
cial brasileira contribuiu para o forta-
lecimento dos movimentos e organiza-
es sociais populares no campo, que
facilitam, ainda que com contradies,
a passagem de uma identidade de re-
sistncia para uma identidade social de
projeto (Castells, 1999, p. 22-23). Essa
afrmao da identidade social campo-
nesa concorre para a construo da sua
autonomia como sujeito social e para a
sua prtica social como classe, seja no
mbito das lutas de resistncia social
contra a sua explorao pelas distintas
fraes dos capitais, seja no mbito da-
quelas em que defende e afrma a sua
cultura e o seu modo de fazer agricul-
tura e de viver.
A tendncia da agricultura campo-
nesa contempornea de afrmar a sua
autonomia relativa perante as diversas
fraes do capital, de se apoiar no prin-
cpio da coevoluo social e ecolgica
e de enveredar pela agroecologia man-
tm a possibilidade da sua reproduo
social, dado que constri socialmente
as bases de outro paradigma para se fa-
zer agricultura.
A tenso econmica, social, poltica
e ideolgica gerada no confronto entre
a lgica camponesa e a capitalista de se
fazer agricultura permite sugerir que
se est, desde o Brasil colonial, peran-
te uma altercao mais ampla do que
somente entre modos de se fazer agri-
cultura: so concepes e prticas de
vida familiar, produtiva, social, cultural
e de relao com a natureza que, no
obstante coexistirem numa mesma for-
mao social, negam-se mutuamente,
so antagnicas entre si.
Para saber mais
BRASIL. Lei n 11.326, de 24 de julho de 2006: estabelece as diretrzes para formu-
lao da Poltica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 25 jul. 2006.
Dicionrio da Educao do Campo
34
CASTELLS, M. O poder da identidade. So Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da infor-
mao: economia, sociedade e cultura, 2).
CLIFFORD, A. W. et al. (org.). Camponeses brasileiros: leituras e interpretaes clssi-
cas. So Paulo: Editora da Unesp; Braslia: Ncleo de Estudos Agrrios e Desen-
volvimento Rural, 2009. V. 1.
COMERFORD, J. C. Cultura e resistncia camponesa. In: MOTTA, M. (org.). Dicionrio
da terra. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005. p. 151-157.
COSTA, F. A. Formao agropecuria da Amaznia: os desafos do desenvolvimento
sustentvel. Belm: Ncleo de Altos Estudos Amaznicos, Universidade Federal
do Par, 2000.
MOTTA, M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
______; ZARTH, P. Apresentao coleo. In: ______; ______ (org.). Formas de
resistncia camponesa. So Paulo. Editora da Unesp; Braslia: Ministrio do Desen-
volvimento Agrrio, Nead, 2008. V. 2, p. 9-17.
NEVES, D. P. Agricultura familiar. In: MOTTA, M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005, p. 23-26.
PLOEG, J. D. Camponeses e imprios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilida-
de na era da globalizao. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.
A
AGRICULTURA FAMILIAR
Delma Pessanha Neves
O termo agricultura familiar corres-
ponde a mltiplas conotaes. Apre-
senta-se como categoria analtica,
segundo significados construdos no
campo acadmico; como categoria de
designao politicamente diferenciado-
ra da agricultura patronal e da agricultura
camponesa; como termo de mobilizao
poltica referenciador da construo de
diferenciadas e institucionalizadas ade-
ses a espaos polticos de expresso
de interesses legitimados por essa mes-
ma diviso classifcatria do setor agro-
pecurio brasileiro (agricultura familiar,
agricultura patronal, agricultura camponesa);
como termo jurdico que defne a am-
plitude e os limites da afliao de pro-
dutores (agricultores familiares) a serem
alcanados pela categorizao ofcial
de usurios reais ou potenciais do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) (decreto
n 1.946, de 28 de junho de 1996).
Como categoria analtica, a despeito
de algumas distines reivindicadas no
campo acadmico, corresponde dis-
tinta forma de organizao da produ-
o, isto , a princpios de gesto das
relaes de produo e trabalho sus-
tentadas em relaes entre membros
da famlia, em conformidade com a
dinmica da composio social e do
ciclo de vida de unidades conjugais
ou de unidades de procriao familiar.
35
A
Agricultura Familiar
Por essa defnio, advogam os autores
que investem na respectiva construo
conceitual, forma de organizao da
produo que se perde no tempo e es-
pao, e/ou forma moderna de inser-
o mercantil (ver Abramovay, 1992;
Bergamasco, 1995; Francis, 1994;
Lamarche, 1993, p. 13-33; Wanderley,
1999). Engloba a pressuposta agricul-
tura de subsistncia isto , de orien-
tao do uso de fatores de produo
por referncias fundantes da vida fa-
miliar e marginais aos princpios de
mercado (ver Chayanov, 1981; Silva e
Stolcke, 1981, p. 133-146); a economia
camponesa modo de produzir orien-
tado por objetivos e valores constru-
dos pela vida familiar e grupos de lo-
calidade, nesses termos historicamente
datado porque articulado presena do
Estado, da cidade (suas feiras e merca-
dos, sua correspondente diviso social
do trabalho) e da sociabilidade comu-
nitria (ver Franklin, 1969; Galeski,
1977; Mendras, 1978; Ortiz, 1974;
Powell, 1974; Sjoberg, 1967; Wolf, 1970),
mas tambm produtores mercantis
constitudos em consonncia com or-
denaes da especializao da produ-
o nesses termos, referenciada aos
fuxos de oferta e demanda do mer-
cado, de padronizao da mercadoria
e de incluso de tecnologia orientada
pela interdependncia entre agricultura
e indstria, fatores que operam na re-
ordenao das condies de incorpo-
rao do trabalho familiar (ver Amin
e Vergopoulos, 1978; Faure, 1978;
Lenin, 1982; Lovisolo, 1989; Neves,
1981; Paulilo, 1990; Schneider, 1999;
Wilkinson, 1986).
Para efeitos de construo de uma
defnio geral isto , capaz de abs-
tratamente referenciar a extensa di-
versidade de situaes histricas e so-
cioeconmicas , a agricultura familiar
corresponde a formas de organizao
da produo em que a famlia ao
mesmo tempo proprietria dos meios
de produo e executora das atividades
produtivas. Essa condio imprime es-
pecifcidades forma de gesto do
estabelecimento, porque referencia ra-
cionalidades sociais compatveis com
o atendimento de mltiplos objetivos
socioeconmicos; interfere na criao
de padres de sociabilidade entre fam-
lias de produtores; e constrange certos
modos de insero no mercado pro-
dutor e consumidor (ver Veiga, 1995;
Wanderley, 1995).
Como a capacidade e as condies
de trabalho so articuladas com base
em relaes familiares, a anlise concei-
tual da agricultura familiar leva em con-
siderao a diferenciao de gnero, os
ciclos de vida e o sistema de autorida-
de familiar em diferentes contextos:
quando a concepo de famlia integra
a prtica de seus membros como partes
da unidade de produo, rendimentos
e consumo, e, em certos domnios da
vida social, irmana os afliados enquan-
to coletivo; ou, por contraposio ana-
ltica, quando os familiares se orientam
por valores individualizantes, exigindo
negociaes que abarquem projetos
individuais e coletivos. Em quaisquer
das situaes, os trabalhadores familia-
res no podem (ou no devem) ser pe-
remptoriamente dispensados (tal como
ocorre com o assalariamento da fora
de trabalho), porque geralmente so
tambm flhos ou agregados, herdei-
ros do patrimnio por direitos formais
e morais. Em termos gerais, eles so
alocados segundo ritmos, intensidades
e fases do processo produtivo compa-
tveis com os padres de defnio dos
ciclos de vida (meninos, jovens e adul-
tos distintos segundo relaes de gne-
ro, sempre situacionais). So eles ento
Dicionrio da Educao do Campo
36
sustentados nas situaes de no traba-
lho e integrados segundo projetos pos-
sveis para constituio e expanso do
patrimnio familiar, para incluso de
novas geraes. Essa insero em boa
parte defnida segundo plausibilida-
des de projees mediadas por interfe-
rncias mais amplas dos estilos de vida
socialmente consagrados ou recomen-
dados, ou conforme as alternativas de
sucesso ou negao da posio dos f-
lhos como agricultores. As alternativas
so assim interdependentes da avalia-
o da posio por quem a ocupa e das
viabilidades de reproduo da catego-
ria socioeconmica ou profssional.
1
Como termo de designao distintiva
de projetos societrios, foi construdo vi-
sando demarcar defensivamente os in-
vestimentos destinados a preservar a
reproduo social de agricultores par-
celares e relativamente especializados,
inclusive por prticas de criao de va-
lor agregado aos produtos e de insero
em nichos de mercado. O horizonte do
projeto poltico prescrevia a criao
de meios de luta e reafrmao poltica
da democracia e da cidadania da popu-
lao qualifcada, em termos de recen-
seamento, como rural. Aqueles senti-
dos decorreram ento de investimentos
acadmicos e polticos voltados para a
reafrmao da existncia da produo
familiar, em contextos de construo da
hegemonia do capitalismo neoliberal.
A legitimidade dos sentidos atribudos
ao termo agricultura familiar pressupu-
nha, em nome daqueles efeitos, certas
orientaes de comportamento (econ-
mico e poltico) que se contrapusessem
aos efeitos desestruturantes do modelo
agroindustrial. Demarcavam, ento, o
atrelamento a modelos de desenvolvi-
mento qualifcados como sustentveis
(prticas produtivas no predatrias,
tais como agroecologia, agricultura
orgnica, sistemas agroforestais etc.).
Ademais, os sentidos moralizantes que
se consagraram no termo agricultura
familiar pressupunham a resistncia
poltica concentrao de meios de
produo e deteriorao das formas
de insero do trabalho assalariado na
agroindstria. Abriam assim alterna-
tivas para a expanso e a reconstitui-
o de agricultores familiares, mediante
programas de assentamento rural e de
transformao de meeiros e parceiros
em produtores titulares por crdito
fundirio, bem como todo o combate a
formas aviltantes de assalariamento, no
limite criminalmente qualifcadas como
trabalho escravo, trabalho anlogo ao escravo,
trabalho em condies degradantes.
A associao da forma agricultura fa-
miliar disputa de sentidos atribudos
aos projetos societrios, para alm da
contraposio agricultura patronal ou
agroindstria, tambm veio a consoli-
dar uma distino em relao ao termo
agricultura camponesa. Esse embate por
construo de sentidos pode ser com-
preendido pela qualifcao da AGRI-
CULTURA CAMPONESA neste dicionrio.
Como termo de mobilizao poltica, a
agricultura familiar corresponde a enfei-
xamentos de sentidos ideolgicos para
legitimar processos de transferncia de
recursos pblicos, consequentemen-
te diferenciados daqueles que apenas
contemplem o restrito sentido da re-
produo do capital; ou de recursos
que circulem na contramo de proces-
sos de concentrao de meios de pro-
duo. Por isso mesmo, na defnio
do segmento de produtores vincula-
dos agricultura familiar, integram-se,
como questo fundamental do debate
poltico, as acusaes ou defesas do
carter social daquelas transferncias
de recursos na forma de crditos con-
tratados a juros subsidiados. Tanto que
37
A
Agricultura Familiar
de imediato foi possvel, no campo
do debate poltico, distinguir vrios ti-
pos de pblico, a integrando os assen-
tados rurais, antes objeto de programas
especiais de composio fnanceira do
patrimnio produtivo, alm de produ-
tores antes condenados ao pressuposto
ou ao desejado desaparecimento ribei-
rinhos, extrativistas, pescadores artesanais ,
por general i zaes homogenei zan-
tes, por vezes signifcativamente reco-
nhecidos como populaes tradicionais.
Como termo jurdico, a agricultura fa-
miliar exprime percalos e conquistas
alcanadas por investimentos de re-
presentantes do campo acadmico, dos
espaos de delegao de porta-vozes
que reafrmam a legitimada constru-
o de interesses especfcos desses
agricultores e de alguns rgos do Es-
tado. Pela convergncia de intenes e
negociaes de sentidos transversais,
esses representantes vieram a colocar
em prtica a constituio do projeto
de designao distintiva de agricultores
aambarcados pelo termo agricultor fa-
miliar. Nessa perspectiva, o termo deve
ser entendido pelos critrios que distin-
guem o produtor por seus respectivos
direitos, nas condies asseguradas pela
legislao especfca (decreto n 1.946,
de 28 de junho de 1996, lei n 11.326,
de 24 de julho de 2006, especialmente
artigo 3, e demais instrumentos que
vo adequando os desdobramentos
alcanados e incorporados): agricultor
familiar o que pratica atividades no
meio rural, mas se torna sujeito de di-
reitos se detiver, a qualquer ttulo, rea
inferior a quatro mdulos fscais; deve
apoiar-se predominantemente em mo
de obra da prpria famlia e na gesto
imediata das atividades econmicas
do estabelecimento, atividades essas
que devem assegurar o maior volume
de rendimentos do grupo domstico.
Na modalidade das atividades do meio
rural e dos modos de apropriao dos
recursos naturais, reconhecem-se di-
versas posies sociais e situacionais:
agricultores, silvicultores, aquicultores,
extrativistas e pescadores. A cada uma
dessas posies, correspondem restri-
es distintivas nos termos da referida
legislao. Portanto, a defnio geral
nesse mesmo ato relativizada, abrindo
assim alternativas para novas incluses,
reconhecidas mediante reivindicaes
polticas de representaes delegadas de
grupos que se veem como agricultores
familiares e que lutam por se adequar ou
redimensionar os critrios bsicos da re-
ferida categorizao socioeconmica.
A conquista de tais defnies e res-
pectivos direitos importante para a
diminuio de certo insulamento pol-
tico e cultural. E para o enfrentamen-
to da atribuda e imposta precariedade
material dos camponeses, dos pequenos
produtores, dos arrendatrios, dos parcei-
ros, dos colonos, dos meeiros, dos assenta-
dos rurais, dos trabalhadores sem-terra
designaes mais aproximativas da di-
versidade de situaes socioeconmi-
cas assim abarcadas.
Portanto, os sentidos que no con-
texto esto implicados no termo agri-
cultura familiar acenam para um padro
ideal de integrao diferenciada de
uma heterognea massa de produtores
e trabalhadores rurais. Tal integrao
se legitima por um sistema de atitudes
que lhe est associado, denotativo da
insero num projeto de mudana
da posio poltica. Por esse engaja-
mento, os agricultores que aderem ao
processo de mobilizao tornam-se
concorrentes na disputa por crditos
e servios sociais e previdencirios; na
demanda de construo de mercados e
de cadeias de comercializao menos
expropriadoras; na reivindicao de
Dicionrio da Educao do Campo
38
assistncia tcnica correspondente aos
processos de trabalho e produo que
colocam em prtica; na reivindicao
do reconhecimento como protagonis-
tas em processos de tomada de deci-
ses polticas que lhes digam respeito
ou que sobre eles intervenham o que
equivale a tentar interferir nos padres
de apropriao de recursos pblicos
por outros segmentos de produtores
do setor agropecurio brasileiro. Os
sentidos designativos do termo acenam
para desdobramentos e redefnio de
objetivos conquistveis no processo de
luta pela Reforma Agrria ou pelo aces-
so terra respaldado pelo estatuto da
posse, bem como para reivindicaes
pelo reconhecimento formal-legal de
formas diferenciadas de apropriao
de recursos naturais.
Pelos mltiplos signifcados que con-
templa, o termo agricultura familiar sinali-
za ainda para a minimizao de confitos
no campo, por perda de reconhecimento
de detratores de espritos mais conserva-
dores, dado que por ele se prospecta a
modernidade no campo e se consolida
a expanso da massa de consumidores
ou, como se costuma laurear, a construo
de uma classe mdia no campo.
Em consequncia, o engajamento
orientado para a construo de um pro-
jeto poltico para agricultores familiares
adquiriu grande importncia. Ele cor-
respondeu ao deslocamento social de
um segmento de trabalhadores e pro-
dutores pobres (nos termos da atribui-
o de sentido por abrangncia econ-
mica, poltica e cultural), secularmente
marginalizados dos privilegiados in-
vestimentos destinados agricultura
nesse caso, entenda-se a agroindstria
exportadora; ou de trabalhadores poli-
ticamente emergidos pela expropriao
inerente consolidao de processos
de concentrao fundiria e seus des-
dobramentos, ainda objetivados pela
agroindstria ou pelo agronegcio.
Pela objetivao do processo, fo-
ram construdos quadros institucionais
para a assistncia tcnica, especializa-
es profssionais em plano de forma-
o graduada e ps-graduada, reco-
nhecimentos de inseres produtivas e
de autonomia entre mulheres e jovens
pertencentes ao segmento em pauta.
E por fm se consolidou um dinmico
mercado editorial temtico.
A abertura de espaos sociais propi-
ciadores da elaborao de projetos para
a construo de categoria sociopro-
fssional, em se tratando de processos
de mudanas politicamente desejadas,
exprime o conjunto de respostas a pro-
posies de certos mediadores privi-
legiados. As respostas correspondem
a formas de reconhecimento pblico
da enorme dvida social para com tais
agricultores. Basta ento considerar que
eles ainda se apresentam como deman-
dantes de recursos sociais fundamen-
tais, recursos cuja ausncia ou negao
so extravagantes para esse incio de
milnio (servio escolar, servio mdi-
co, energia eltrica e estradas para me-
lhorar a mobilidade espacial e escoar
a produo), mas tambm recursos
instrumentais para a criao de canais
de comunicao com outros mundos
sociais e espaos de diferenciao de
relaes de poder. Em sntese, recur-
sos fundamentais para a incorporao
de outras formas de exerccio de cida-
dania, dotadas de meios que reneguem
a mutilao cultural e a desqualifcao
social, to efcazes se mostraram e se
mostram para a condenao dos agri-
cultores pelo atraso e para a fco da
resistncia mudana, tergiversando a
vtima em seu prprio algoz.
39
A
Agricultura Familiar
Assim sendo, o termo agricultura fa-
miliar vem se consagrando nos quadros
institucionais de aplicao do Pronaf,
poltica de interveno que constituiu
o respectivo setor produtivo e o conso-
lidou em estatuto formal-legal. Respei-
tando tal campo semntico, os signif-
cados que o termo designa devem ser
compreendidos (mesmo que de forma
no consensual e, como toda defnio
poltica, provisria ou contextual) pela
defnio jurdica que at aqui o termo al-
canou, isto , conforme os contedos
atribudos por defnies politicamente
construdas, conquistadas por negocia-
es de interesses e conquistas relati-
vas, cristalizadas nos textos que vo
instituindo o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar. Na conquista desse reconhecimen-
to acadmico, poltico e jurdico, a agri-
cultura familiar pode, em termos bem
gerais ou abstratos, ser consensual-
mente assim conceituada: modelo de or-
ganizao da produo agropecuria onde
predominam a interao entre gesto e tra-
balho, a direo do processo produtivo pelos
proprietrios e o trabalho familiar, comple-
mentado pelo trabalho assalariado.
Entrementes, pela necessria am-
biguidade que confere especial efccia
defnio jurdica, o termo se torna
objeto de tantas outras consagraes
polticas. Uma delas diz respeito ade-
so de pesquisadores, em diversos do-
mnios das cincias sociais e agrrias,
que sistematicamente vm tentando
construir meios de interpretao, al-
guns deles acompanhando a imediata
rasteira das mudanas polticas e das
diversas formas de insero que vo
ganhando expresso pblica. Essa ade-
so orientada pelo investimento inter-
pretativo, nos casos em que a sintonia
no metodologicamente colocada
em questo, corresponde a efeitos li-
mitantes dos objetivos preconizados
para o trabalho acadmico. A categoria
analtica agricultura familiar passa ento
a incorporar o mesmo efeito desejan-
te da dupla naturalizao do familiar.
E de tal modo que, em termos analticos,
pode-se perguntar: o que se ganha ao
identifcar agricultores como familia-
res ou uma forma de produzir como
familiar, para alm da contraposio
poltica ao carter capitalista de certas
formas de produzir? Que consequn-
cias pode ter a simplifcao do plano
dos valores familiares aos valores ine-
rentes objetivao dos princpios da
reproduo do capital? O que se deixa
de considerar no domnio das relaes
familiares quando elas aparecem inte-
gradas apenas a processos produtivos?
E o que se deixa de considerar na pro-
duo estrito senso quando o vetor de
compreenso se reduz ao domnio das
relaes familiares?
2
Como procurei demonstrar neste
texto, os traos constitutivos dos agen-
tes produtivos que foram rubricados
como agricultores familiares no se en-
contram to somente nas relaes em
jogo nos termos agricultura e famlia,
mas nos diversos projetos polticos de
constituio de uma categoria socio-
econmica (dotada especialmente de
direitos sociais e previdencirios), ou
em projetos societrios concorrentes.
Levando-se em conta esses emara-
nhados de sentidos, faz-se necessrio
reconhecer que tanto agricultor familiar
categoria socioprofissional e agente
social correspondentes ao distintivo
segmento da agricultura familiar quan-
to agricultura familiar so termos clas-
sificatrios construdos como produ-
tos de ao poltica. So termos cujos
sentidos designados devem se adequar
a dinmicas que se desdobram nos
campos de luta que elaboram catego-
Dicionrio da Educao do Campo
40
rizaes positivas e negativas. Jamais
podem ser compreendidos como um
estado, como substantivos dotados de
essncia, pois que eles no tm sentido
em si mesmos salvo quando, no de-
bate poltico, essas reificaes devam
ser acolhidas para fazer-crer o que se
deseja crvel, o que se deseja real, e,
por conseguinte, em nome da dissi-
mulao daquele estatuto que o termo
adquire como recurso de mobilizao
poltica. Da mesma forma, devem
ser compreendidos como expresso
de espaos de luta na constituio de
produtores por diferentes trajetrias,
mormente daqueles que, por diversos
interesses, nem sempre politicamente
convergentes, querem assim ser so-
cialmente reconhecidos.
Diante dos investimentos polti-
cos para a construo social da ca-
tegoria socioeconmica (agricultor fa-
miliar) ou do exerccio do fazer-crer
uma organizao desejada (agricultu-
ra familiar versus agricultura patronal,
agricultura camponesa), aos cientistas
sociais cumpre o dever de restituir
o carter sociolgico da categoria:
reconhecer que esses termos evo-
cam uma designao social e tm
sua eficcia poltica porque criam
posies e direitos correspondentes.
E assim, tambm reconhecer que
esses exerccios polticos e acadmi-
cos so provisrios, porque sempre
passveis de novas interpretaes e
contra-argumentaes.
Notas
1
Sobre o peso dos valores familiares na organizao da unidade produtiva, ver Carneiro, 2000.
2
Essas questes tm sido por mim refetidas com maior detalhe em outros textos. Ver
Neves, 1995, 2006 e 2007.
Para saber mais
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrrio em questo. So Paulo: Hucitec;
Campinas: Editora da Unicamp, 1992.
AMIN, S.; VERGOPOULOS, K. A questo agrria e o capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1978.
BERGAMASCO, S. M. P. Caracterizao da agricultura familiar no Brasil, a partir dos
dados da PNAD. Reforma Agrria, v. 25, n. 2-3, p. 167-177, maio-dez. 1995.
CHAYANOV, A. V. Sobre a teoria dos sistemas econmicos no capitalistas. In:
SILVA, J. G.; STOLCKE, V. A questo agrria. So Paulo: Brasiliense, 1981. p. 133-163.
FAURE, C. Agriculture et capitalisme. Paris: Anthropos, 1978.
FRANCIS, D. G. Family Agriculture: Tradition and Transformation. Londres:
Earthscan, 1994.
FRANKLIN, S. H. Peasants concept and context. In: ______. The European
Peasantry. Londres: Methuen, 1969. p. 1-20.
41
A
Agricultura Familiar
GALESKI, B. Sociologa del campesinado. Barcelona: Pennsula, 1977.
LAMARCHE, H. Introduo geral. In: ______. A agricultura familiar. Campinas:
Editora da Unicamp, 1993, p. 13-33.
LENIN, V. I. O desenvolvimento do capitalismo na Rssia: o processo de formao do
mercado interno para a grande indstria. So Paulo: Abril Cultural, 1982.
LOVISOLO, H. R. Ter ra, trabalho e capital: produo familiar e acumulao.
Campinas: Editora da Unicamp, 1989.
MENDRAS, H. Sociedades camponesas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
NEVES, D. P. Agricultura familiar: quantos ancoradouros! In: FERNANDES, B. M.;
MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (org.). Geografa agrria: teoria e poder. So Paulo:
Expresso Popular, 2007. V. 1, p. 211-270.
______. Agricultura familiar: questes metodolgicas. Reforma Agrria, v. 25,
n. 2-3, p. 21-35, maio-dez. 1995.
______. Campesinato e reenquadramentos sociais: os agricultores familiares em
cena. Revista Nera, So Paulo, v. 8, n. 7, p. 68-93, jul.-dez. 2005, .
______. Lavradores e pequenos produtores de cana. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
ORTIZ, S. Refexiones acerca del concepto de cultura campesina y de los sis-
temas cognoscitivos del campesino. In: BARTOLOM, L.; GOROSTIAGA, E. (org.).
Estudios sobre el campesinado latinoamericano: la perspectiva de la antropologa social.
Buenos Aires: Periferia, 1974. p. 93-108.
PAULILO, M. I. S. Produtor e agroindstria: consensos e dissensos o caso de Santa
Catarina. Florianpolis: Editora da UFSC, 1990.
POWELL, J. D. Sobre la defnicin de campesinos y de sociedad campesina. In:
BARTOLOM, L.; GOROSTIAGA, E. (org.). Estudios sobre el campesinado latinoamericano:
la perspectiva de la antropologa social. Buenos Aires: Periferia, 1974. p. 47-55.
SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e industrializao. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 1999.
SILVA, J. G.; STOLCKE, V. A questo agrria. So Paulo: Brasiliense, 1981.
SJOBERG, G. The Preindustrial City. In: POTTER, J. M. et al. (org.). Peasant Society:
A Reader. Boston: Little Brown and Co., 1967. p. 15-24.
VEIGA, J. E. Delimitando a agricultura familiar. Reforma Agrria, v. 25, n. 2-3,
p. 128-141, mai.-dez. 1995.
WANDERLEY, M. N. B. A agricultura familiar no Brasil: um espao em construo.
Reforma Agrria, v. 25, n. 2-3, p. 37-57, maio-dez. 1995.
______. Razes histricas do campesinato brasileiro. In: TEDESCO, J. C. (org.).
Agricultura familiar: realidades e perspectivas. Passo Fundo: Universidade de Passo
Fundo, 1999. p. 23-66.
Dicionrio da Educao do Campo
42
WILKINSON, J. O Estado, a agroindstria e a pequena produo. So Paulo: Hucitec;
Salvador: Cepa/BA, 1986.
WOLF, E. Sociedades camponesas. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.
A
AGRICULTURAS ALTERNATIVAS
Paulo Petersen
As agriculturas alternativas
em um enfoque histrico
Uma das principais lies aprendi-
das com o estudo da histria da agricul-
tura que a superao de um padro de
organizao produtiva por outro nunca
ocorreu como resultado automtico de
novas descobertas tecnolgicas. A ado-
o em larga escala de novos sistemas
tcnicos na agricultura costuma esbar-
rar em obstculos poltico-institucio-
nais, mesmo quando esses sistemas j
tenham comprovado sua capacidade
para responder a crticos dilemas en-
frentados pelas sociedades em deter-
minados momentos de suas trajetrias
histricas. Em outras palavras, so as
relaes de poder nas sociedades que
determinam os padres tecnolgi-
cos dominantes em suas agriculturas.
Exemplos desse fenmeno esto farta
e detalhadamente apresentados no li-
vro Histria das agriculturas no mundo: do
Neoltico crise contempornea (Mazoyer
e Roudart, 2010) e evidenciam que a
agricultura no fez seu percurso hist-
rico por meio de uma sucesso linear
de sistemas tcnicos. Pelo contrrio, a
situao mais comum foi a convivn-
cia de diferentes sistemas no tempo e
no espao, sendo uns dominantes (ou
convencionais) e outros emergentes
(ou alternativos).
Com base nessa perspectiva hist-
rica, as agriculturas alternativas podem
ser defnidas como sistemas socio-
tcnicos desenvolvidos em resposta
a bloqueios sociais, econmicos e/ou
ambientais encontrados na agricultura
convencionalmente praticada em con-
textos histricos defnidos. Dependen-
do das condies polticas e institucio-
nais vigentes, esses sistemas tcnicos
alternativos podem permanecer como
opes subvalorizadas pela sociedade
ou podem suplantar os padres con-
vencionais de produo. Essa forma
de compreender a noo de agricultura
alternativa est bem ilustrada no livro
Alternative agriculture (Thirsk, 1997),
que reala a importncia decisiva das
formas emergentes de agricultura na
evoluo do mundo rural ingls duran-
te os seis ltimos sculos.
Outra importante sntese sobre a
evoluo histrica da agricultura foi
elaborada por Ester Boserup, autora do
livro Evoluo agrria e presso demogrfca
(1987). Para Boserup, os dez mil anos
de histria da agricultura podem ser
interpretados como a incessante bus-
ca pela intensifcao do uso dos solos
em resposta s crescentes demandas
alimentares decorrentes dos aumentos
demogrfcos. A autora descreve como
essa evoluo foi marcada por mudan-
as na gesto da fertilidade dos solos,
43
A
Agriculturas Alternativas
mediante o encurtamento do tempo
dos pousios e, fnalmente, a sua com-
pleta supresso, a adoo de sistemas
alternativos de manejo da biomassa,
viabilizados pela introduo de adubos
verdes e plantas forrageiras, e a maior
integrao ecolgica entre a lavoura e
a pecuria. At o fnal do sculo XIX,
as estratgias tcnicas para a gesto da
fertilidade eram desenvolvidas com
base no manejo da biomassa localmen-
te produzida. Porm essas dinmicas
de interdependncia e mtua transfor-
mao entre os sistemas sociotcnicos
e os ecossistemas foram profundamen-
te alteradas com o surgimento dos fer-
tilizantes sintticos. O pai da qumica
agrcola, o alemo Justus von Liebig
(1803-1873), comprovou por meio de
seus experimentos que as plantas se
nutrem de substncias qumicas, procu-
rando assim contestar a teoria humista,
um postulado terico que fundamenta-
va a prtica da adubao orgnica des-
de a Grcia Antiga. As descobertas de
Liebig abriram caminho para que o de-
senvolvimento tecnolgico na agricul-
tura tomasse o rumo da agroqumica,
permitindo o paulatino abandono das
prticas orgnicas de recomposio da
fertilidade. Confguraram-se assim as
condies necessrias para a dissemi-
nao das monoculturas em substitui-
o s agriculturas diversifcadas, ajus-
tadas s especificidades ecolgicas
locais, e os avanos posteriores nos
campos da motomecanizao e da ge-
ntica agrcola. A simplifcao ecol-
gica resultante da ocupao da paisa-
gem agrcola com monoculturas fez
multiplicar-se exponencialmente o n-
mero de insetos-praga e de organismos
patognicos, abrindo a frente de inova-
o em direo aos agrotxicos. Aps
a Segunda Guerra Mundial, a conver-
gncia entre os avanos cientfcos na
agroqumica, a acelerada estruturao
de um setor industrial voltado para a
agricultura (que, em grande medida,
foi herdeiro de uma indstria blica
em desativao) e os pesados inves-
timentos pblicos comps as condi-
es necessrias para a viabilizao da
REVOLUO VERDE, tambm conhecida
como Segunda Revoluo Agrcola.
A Revoluo Verde disseminou glo-
balmente um novo regime tecnolgico
baseado na dependncia da agricultura
em relao indstria e ao capital f-
nanceiro. Esse processo foi alavancado
ideologicamente sob o manto da mo-
dernizao, uma noo legitimadora
dos arranjos institucionais que pas-
saram a articular de forma coerente
interesses empresariais com os para-
digmas tcnico-cientfco e econmi-
co consolidados. Alm disso, o rumo
que assumiu a agricultura a partir do
fnal do sculo XIX foi muito funcio-
nal para a evoluo do capitalismo em
um momento histrico de acelerada
industrializao e urbanizao. Nesse
novo contexto histrico, a agroqumi-
ca assumiu o estatuto de agricultura
convencional com base no qual a no-
o de agricultura alternativa passou a
ser referida.
Vertentes de agriculturas
alternativas agroqumica
O sentido adotado atualmente para
a noo de agricultura alternativa tem
suas origens ligadas contestao da
agroqumica organizada por movi-
mentos rebeldes. Essa denominao
foi empregada por Ehlers (1996) em
seu livro Agricultura sustentvel: origens e
perspectivas de um novo paradigma. Tendo
emergido quase que simultaneamente
na Europa e no Japo nas dcadas de
Dicionrio da Educao do Campo
44
1920 e 1930, esses movimentos coin-
cidiam na defesa de prticas de mane-
jo que privilegiam o vnculo estrutural
entre a agricultura e a natureza. Uma
excelente sntese sobre a emergncia
das agriculturas alternativas nesse pe-
rodo foi apresentada no artigo Eco-
agriculture: a review of its history and
philosophy (Merril, 1983). Para a au-
tora, os fundamentos tericos desses
movimentos podem ser encontrados
em trabalhos cientficos do final do
sculo XIX, que realam a importn-
cia dos processos biolgicos para a
manuteno da fertilidade dos solos
agrcolas. Outro texto sobre o tema
que se popularizou no Brasil intitula-
se Histrico e flosofa da agricultu-
ra alternativa (De Jesus, 1985). Com
pequenas variaes entre esses autores,
os movimentos alternativos podem ser
categorizados nas seguintes vertentes:
a) Agricultura biodinmica: intima-
mente vinculada antroposofa,
uma flosofa elaborada pelo austra-
co Rudolf Steiner (1861-1925) que
infuenciou o desenvolvimento de
abordagens metodolgicas em di-
ferentes campos do conhecimento,
tais como a pedagogia, a medicina
e a psicologia. Atribui-se o nasci-
mento da agricultura biodinmica a
um ciclo de palestras proferidas por
Steiner em 1924, nas quais ele enfa-
tizou a importncia da manuteno
da qualidade dos solos para que as
plantas cultivadas se mantivessem
sadias e produtivas. A nfase dada
ao tema da sanidade das plantas
justifcava-se pelo aumento da in-
cidncia de insetos-praga e doen-
as com o avano da agroqumica.
Para lidar com essa questo, Steiner
apresentou propostas de manejo
dos solos baseadas no emprego de
matria orgnica e de aditivos para
a adubao, atualmente conhecidos
como preparados biodinmicos,
que visam reestimular as foras
naturais dos solos. Outra noo-
chave de Steiner a concepo da
propriedade agrcola como um or-
ganismo vivo, integrado em si mes-
mo, ao homem e ao cosmo.
b) Agricultura orgnica: vertente re-
lacionada ao trabalho do botnico
e agrnomo ingls Albert Howard
(1873-1947). Como todos os agr-
nomos formados em sua poca,
Howard foi levado a defender as mo-
dernas tcnicas agroqumicas como
meio para o progresso na agricultura.
Suas convices foram fortemente
abaladas quando tentou transferir os
postulados agroqumicos para a n-
dia, onde trabalhou por vrios anos.
Seus conhecimentos sobre gentica e
melhoramento vegetal, associados
apurada observao dos mtodos de
manejo tradicionais de fertilizao,
abriram-lhe nova perspectiva para a
investigao nesse campo. Ao enfa-
tizar a importncia da matria org-
nica na gesto da fertilidade, Howard
sustentava que o solo no poderia
continuar sendo concebido como um
mero substrato fsico, dado que nele
ocorrem processos biolgicos essen-
ciais ao desenvolvimento sadio das
plantas. Para ele, a fertilidade deve
estar assentada no suprimento de
matria orgnica e, principalmente,
na manuteno de elevados nveis de
hmus no solo. Essas ideias o leva-
ram a desenvolver o processo indore
de compostagem, prtica hoje ampla-
mente disseminada.
c) Agricultura biolgica: o modelo de
produo agrcola organo-biolgico
45
A
Agriculturas Alternativas
teve suas bases lanadas na dca-
da de 1930 pelo suo Hans Peter
Mller. Como poltico, Mller, ao
realizar sua crtica agroqumica,
enfatizava questes de natureza
socioeconmica, entre elas a preo-
cupao com a crescente perda de
autonomia por parte dos agriculto-
res e com a forma que vinha assu-
mindo a organizao dos mercados
agrcolas, ao se alargarem os circui-
tos que encadeiam a produo ao
consumo de alimentos. Suas elabo-
raes no foram levadas em con-
siderao por cerca de trs dca-
das at que o mdico alemo Hans
Peter Rush as retomou, centrando
seu foco de ateno nas relaes
entre a qualidade da alimentao e
a sade humana. A diferena essen-
cial entre essa vertente alternativa
e a agricultura orgnica tal como
preconizada por Howard que a
associao entre pecuria e agricul-
tura no seria a nica forma de ob-
ter matria orgnica para a repro-
duo da fertilidade. Esse recurso
poderia ser proveniente de outras
fontes externas propriedade, in-
clusive de resduos urbanos. Alm
disso, os defensores da agricultura
biolgica apregoavam o uso de ps
de rocha como estratgia para a
recomposio de minerais no solo.
Dessa forma, ao contrrio das no-
es de autossuficincia propug-
nadas por outras vertentes alterna-
tivas, Mller e Rush entendiam que
a propriedade agrcola deve estar
integrada ecologicamente com ou-
tras propriedades e com o sistema
do territrio do qual faz parte. Um
importante difusor da agricultura
biolgica foi Claude Aubert, pes-
quisador francs que na dcada de
1970 atualizou a crtica agricul-
tura convencional, em particular
o seu efeito sobre a diminuio da
qualidade dos alimentos. H quem
defenda que Aubert seja o pai da
agricultura biolgica tal como ela
hoje compreendida. Segundo
Ehlers (1996), difcil precisar
se as ideias de Aubert mantinham
ligao com as de Mller e Rush,
o que justificaria sua proposta de
agricultura biolgica como uma
vertente distinta da orgnica e da
biodinmica. Um pesquisador que
certamente exerceu influncia so-
bre Aubert foi o bilogo francs
Francis Chaboussou, autor da teo-
ria da trofobiose, que correlaciona
a infestao de insetos-praga e pa-
tgenos com o estado nutricional
das plantas, demonstrando ainda
que a aplicao de agrotxicos e
de fertilizantes solveis provoca
desordens metablicas que favore-
cem essas infestaes.
d) Agricultura natural: associada obra
de dois mestres japoneses, Mokiti
Okada (1882-1953) e Masanobu
Fukuoka (1913-2008), que julgavam
ser essencial a agricultura seguir as
leis da natureza e defendiam que
as atividades agrcolas fossem rea-
lizadas com um mnimo de inter-
ferncia na dinmica ecolgica dos
ecossistemas. Para Fukuoka, tanto a
agricultura convencional quanto as
vertentes alternativas orgnica e bio-
dinmica fundamentam-se em pr-
ticas que intervm profundamente
nos sistemas naturais. Ele defendeu
o mtodo que denominou no fa-
zer, ou seja, no arar a terra, no
aplicar inseticidas e fertilizantes
(nem os compostos defendidos por
Howard), no podar as rvores
Dicionrio da Educao do Campo
46
frutferas, no capinar (s limpezas
seletivas) para que assim os pro-
cessos ecolgicos naturais possam
guiar a atividade produtiva sem o
emprego desnecessrio de energia.
Tanto Okada quanto Fukuoka com-
preendiam a agricultura no apenas
como meio de produzir alimentos,
mas tambm como uma abordagem
esttica e espiritual para a vida cujo
objetivo fnal seria o cultivo da per-
feio dos seres humanos.
e) Permancultura: as ideias de Fukuoka
difundiram-se e foram desenvolvi-
das na Austrlia, onde receberam
nova sntese, sob a denominao
de permancultura, ou agricultura
permanente. Os autralianos Bill
Mollinson e David Holmgren siste-
matizaram e desenvolveram cientif-
camente a proposta. Assim como a
agricultura natural, a permancultura
baseada no desenho de analogias
entre os ecossistemas naturais e os
agroecossistemas por meio de siste-
mas agroforestais que valorizem os
padres naturais de funcionamento
ecolgico e que permitam o estabe-
lecimento de agriculturas estveis,
produtivas e harmoniosamente in-
tegradas paisagem.
Apesar das nuances relacionadas
origem geogrfca e cultural de cada
uma das vertentes de agricultura alter-
nativa, identifca-se considervel con-
vergncia nos princpios que orientam
as prticas que as mesmas defendem.
De certa forma, uma das principais con-
tribuies dos fundadores das correntes
alternativas europeias foi a sistematiza-
o dos princpios tcnicos da Primeira
Revoluo Agrcola, cujas prticas fun-
damentavam-se essencialmente no em-
prego inteligente da agrobiodiversidade
(vegetal e animal) e no manejo da bio-
massa (adubao verde, forragens e es-
terco). J a vertente originada no Japo
no preconiza o uso do esterco, prtica
j consolidada na Europa h sculos.
Apesar das restries de ordem flos-
fca, como a alegao de que o uso de
excremento animal na fertilizao dos
solos tornaria os alimentos impuros, o
fato que esse recurso no era abun-
dante na agricultura tradicional japone-
sa. Essa condio material levou a ver-
tente oriental a desenvolver sofsticadas
tcnicas de compostagem de resduos
vegetais, incluindo o uso de culturas de
microrganismos que auxiliam a decom-
posio e melhoram a qualidade dos
compostos assim originados.
Da marginalidade disputa
pelo reconhecimento como
alternativa
Em um ambiente ideolgico do-
minado pela ideia de progresso e pelo
avano da civilizao urbano-industrial,
os movimentos de agricultura alterna-
tiva foram logo desqualifcados como
retrgrados e sem validade cientfca.
No entanto, os efeitos negativos da
agricultura convencional, j denuncia-
dos nas primeiras dcadas do sculo
XX, irradiaram-se e aprofundaram-se
com a disseminao global da agro-
qumica, desencadeando nova onda
de contestaes a partir da dcada de
1960. O livro A primavera silenciosa, pu-
blicado em 1962 pela biloga norte-
americana Rachel Carson (1907-1964),
representou um marco da repercusso
planetria para a conscincia ecolgica,
ao denunciar os graves efeitos nocivos
dos agrotxicos sobre a sade humana
e sobre o meio ambiente. O crescimen-
to de uma conscincia social crtica e
47
A
Agriculturas Alternativas
ativa diante dos efeitos da agricultura
convencional criou o ambiente pro-
pcio para a reemergncia dos movi-
mentos contestadores que, na dcada
de 1970, passaram a ser reconhecidos
genericamente como movimentos de
agricultura alternativa. A associao
de um nmero crescente de pesquisa-
dores a esses movimentos resultou em
importantes desdobramentos nas dca-
das seguintes, com a sistematizao de
um novo enfoque cientfco: a agroe-
cologia. Segundo Stephen Gliessman,
eclogo da Universidade de Santa
Cruz, Califrnia, o interesse pela an-
lise ecolgica da agricultura e a busca
por sistemas alternativos ampliaram-se
no fnal dos anos 1950. Miguel Altieri,
entomologista chileno e professor na
Universidade de Berkeley, Califrnia,
deu contribuio decisiva para o aper-
feioamento da perspectiva agroe-
colgica, ao enfatizar a importncia
dos sistemas agrcolas tradicionais
como fonte de saberes e prticas para
o desenvolvimento de mtodos de
manejo produtivo em bases sustent-
veis. Alm das contribuies no pla-
no cientfico-acadmico, Gliessman e
Altieri tambm foram responsveis
pela divulgao da agroecologia a par-
tir do final da dcada de 1980, o que
permitiu a organizaes promotoras
da agricultura alternativa maior con-
sistncia conceitual e metodolgica.
Em 1989, o Conselho Nacional
de Pesquisa (NRC, do ingls National
Research Center) dos Estados Unidos
publicou o relatrio intitulado Alter-
native agriculture, a primeira manifesta-
o ofcial de grande repercusso que
reconhece o potencial da agricultura
alternativa para o enfrentamento dos
desafos colocados pela agricultura con-
vencional. Nessa oportunidade, o NRC
previa que o alternativo de hoje ser
o convencional de amanh (National
Research Center, 1989). No entanto,
apesar da acentuao da crise sistmi-
ca planetria ocorrida desde ento e do
potencial de resposta demonstrado pe-
las variadas manifestaes da agricultu-
ra alternativa, elas permanecem politi-
camente marginalizadas sob a alegao
de que representam uma opo pelo
retrocesso. Por intermdio da propa-
ganda ideolgica e por sua infuncia
determinante nos processos decisrios
em mbitos nacionais e supranacionais,
as corporaes do complexo gentico-
industrial se esforam para ocultar a
existncia de alternativas agronomica-
mente inteligentes, socialmente ticas,
economicamente viveis e ecologica-
mente sustentveis. Em lugar de reais
alternativas que permitam enfrentar
estruturalmente o desafo de superar
as contradies do sistema nos dias
de hoje e alimentar 9 bilhes de habi-
tantes no planeta por volta de 2050, as
propostas promovidas como alternati-
vas pelo sistema dominante orientam-
se para o aprofundamento da interven-
o no mundo natural, com a utilizao
da agricultura transgnica. Suplantar a
hegemonia da agricultura convencional
para que as agriculturas alternativas se-
jam amplamente incorporadas nas so-
ciedades contemporneas um desafo
que encerra profundos confitos de
concepo e de poder. Somente uma
vontade coletiva forte, atuante e infor-
mada por uma profunda conscincia
ecolgica criar a correlao de foras
necessria para isso, abrindo caminho
para que a humanidade tenha melhores
condies de enfrentar os difceis tem-
pos que tem pela frente.
Dicionrio da Educao do Campo
48
Para saber mais
BOSERUP, E. Evoluo agrria e presso demogrfca. So Paulo: Hucitec, 1987.
EHLERS, E. Agricultura sustentvel: origens e perspectivas de um novo paradigma.
So Paulo: Livros da Terra, 1996.
DE JESUS, E. L. Histrico e flosofa da agricultura alternativa. Proposta, Fase, Rio
de Janeiro, n. 27, p. 34-40, 1985.
MAZOYER, M.; ROUDART, L. Histria das agriculturas no mundo: do Neoltico crise
contempornea. So Paulo: Editora da Unesp; Braslia: Nead, 2010.
MERRIL, M. Eco-agriculture: A Review of its History and Philosophy. Biological
Agriculture and Horticulture, v. 1, p. 181-210, 1983.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Alternative Agriculture. Washington, D.C.: National
Academy Press, 1989.
THIRSK, J. Alternative Agriculture: A History from the Black Death to the Present
Day. Nova York: Oxford University Press, 1997.
A
AGROBIODIVERSIDADE
Luiz Carlos Pinheiro Machado
O termo agrobiodiversidade for-
mado por agro, do latim, campo, cul-
tura, bio, do grego, vida, diversidade.
Signifca, portanto, diversidade da vida
no campo, das culturas. Segundo o
Dicionrio Aurlio, biodiversidade a
existncia, numa dada regio, de uma
grande variedade de espcies de plan-
tas, ou de animais (Ferreira, 2003,
p. 298). E eu acrescento de ambos,
animais e vegetais, porque, a no ser
em microambientes controlados para
fns de pesquisa, difcilmente existir um
ecossistema exclusivamente vegetal ou
exclusivamente animal. Uma proprieda-
de fundamental da matria viva ser di-
versa. Sem essa propriedade, no h vida.
A diversidade biolgica e a diversidade
cultural alimentam-se mutuamente.
A agrobiodiversidade um compo-
nente da biodiversidade e com ela se con-
funde. No existe na natureza nenhum
bioma singular. Mesmo nas regies
mais inspitas geleiras, desertos, pra-
mos h, sempre, vrias formas de vida.
A vida sempre depende de outras vidas.
a chamada cadeia trfca (ou cadeia
alimentar). Quando se interrompe uma
cadeia biolgica com uma monocultura,
por exemplo, todo o bioma agredido;
todos os indivduos e as espcies que
esto inter-relacionados so destrudos.
Assim, a agrobiodiversidade um pres-
suposto, uma condio para a existncia
de vida no campo e, por consequncia,
na natureza, no mundo.
A diversidade a propriedade de um
conjunto de objetos de serem diferen-
49
A
Agrobiodiversidade
tes e no idnticos, em que cada um (ou
cada classe) deles difere dos demais, em
uma ou mais caractersticas. Quando o
vocbulo aplicado aos seres vivos
bio afrmamos que cada um sin-
gular, distinto; que no existem dois
organismos idnticos em todas as suas
caractersticas (Halffter et al., 1999).
A avaliao da diversidade, a quan-
tidade e a proporo dos diferentes ele-
mentos que o integram, a medida da
heterogeneidade de um sistema com-
pl exo. Assi m, a bi odiversi dade cor-
responde a um sistema que autogera,
atravs do tempo, sua prpria hete-
rogeneidade (Halffter et al., 1999). A
expanso da fronteira agrcola, com a
destruio do bioma original, agre-
dindo-o e transformando-o em mono-
culturas de gros, ou de bovinos, ou
de rvores uma severa agresso
biodiversidade. As monoculturas, ve-
getais ou animais, so, pois, axiomatica-
mente indesejveis. A monocultura a
anttese da agrobiodiversidade.
A sustentabilidade do planeta, con-
cebida em seus mais amplos limites,
comea pelo respeito e a proteo da
agrobiodiversidade. Proteg-la dever
de todos e obrigao de cada um. Isso
signifca que as tcnicas utilizadas no
processo de produo agrcola devem
se pautar pela proteo biodiversida-
de: rotao de culturas, plantio direto,
respeito s culturas locais, ausncia de
agrotxicos, proteo do solo contra
eroso, sucesso animal/vegetal, en-
fm procedimentos tecnolgicos que,
respeitando o indispensvel critrio da
produo em escala, atendam a essas
condies. A simplifcao das tecno-
logias agrcolas a partir do desenvolvi-
mento das monoculturas de soja, milho,
eucalipto, pnus, bovinos e outras s
interessa aos fabricantes de mquinas e
de insumos industriais e aos latifundi-
rios, cujo nico objetivo o lucro.
A agrobiodiversidade no diz res-
peito somente vida, fauna e fora
da superfcie terrestre. Uma parcela de
igual importncia est debaixo da terra,
no subsolo. A vivem milhares de esp-
cies vegetais e animais. Em muitos so-
los a vida subterrnea tem peso maior
que os animais criados na superfcie. A
diversidade da vida no solo um indi-
cador da sua fertilidade: quanto maior
a biodiversidade, melhor a fertilidade.
A manuteno e o incremento da vida
do solo so antagnicos s prticas de
agresso ao solo: arado, grade, subsola-
gem e outras. A diversidade microbiana
um fator que controla a produtivida-
de e a qualidade do agroecossistema
(Kennedy, 1999, p. 1).
A seleo para alcanar altas pro-
dues reduziu a contribuio das
variedades e raas locais que, merc
de adaptaes milenares, demandam
baixos insumos, ou seja, tm melhor
aproveitamento dos nutrientes. Vavilov
(1951, p. 2) menciona exemplos em-
blemticos: na ilha de Sakurajima, no
Japo, ele encontrou uma variedade de
rabanete cuja raiz pesava de 15 a 17kg!
Altas produes, porm, sempre de-
pendem de altos insumos energticos
(no caso do rabanete gigante, Vavilov
no informa o tempo do ciclo vegetati-
vo, nem se a variedade tinha alta capa-
cidade de aproveitamento da fotossn-
tese e dos nutrientes do solo).
A fonte energtica para altas pro-
dues agroecolgicas o sol. O fuxo
da gua de superfcie d uma medida da
estabilidade e complexidade do sistema:
quanto menor a perda de gua super-
fcial e maior a evaporao, mais com-
plexo e melhor o sistema (Paschoal,
1979). A matria orgnica a principal
Dicionrio da Educao do Campo
50
frao do solo e revela a sua comple-
xidade. As monoculturas e as agresses
ao solo destroem a matria orgnica,
que, ademais, o principal reservatrio
de carbono na superfcie terrestre: 1 g
de matria orgnica retm 3,67 g de
dixido de carbono (CO
2
). A matria
orgnica o biocatalisador da vida do
solo (Machado, 2004). Dentre os diver-
sos males provocados pelas monocultu-
ras, a eroso gentica um dos piores.
Muitas espcies desapareceram com a
implantao das monoculturas. Isso afeta
a cadeia trfca, porque, se um elo da cor-
rente desaparece, a cadeia destruda.
A produo baseada na proteo de
raas e culturas locais atende s deman-
das especfcas de populaes locais,
mas no resolve o problema mundial
de falta de escala na produo. Assim,
uma contribuio cujo valor histrico-
cultural qualitativo mais signifcativo
do que o quantitativo. Porm as cultu-
ras locais tm dado, tambm, contri-
buies de quantidade. Os incas, por
exemplo, cultivavam uma variedade de
milho cujo gro era quatro vezes maior
do que os gros atuais (Vavilov, 1951).
Esse um material gentico que, se re-
cuperado, pode servir para melhorar a
produtividade do cereal.
Alm disso, a perda da diversidade
gentica ou da biodiversidade amea-
a os sistemas de produo animal de
todo o mundo, e a diversidade genti-
ca animal essencial para satisfazer as
necessidades futuras da sociedade to-
tal (National Research Council, 1993).
Portanto, essencial que se harmonize
o processo produtivo com a manuten-
o da biodiversidade.
No que diz respeito ao Brasil, para qual-
quer programa de melhoramento e/ou
seleo, preciso respeitar e usar judi-
ciosamente os germoplasmas nacionais,
tanto animais quanto vegetais. neces-
srio usar e proteger a adaptao milenar
ao ambiente do milho, da mandioca e do
feijo, ou mesmo a adaptao centenria
de bovinos e sunos ao ambiente.
A criao de animais pode manter,
melhorar ou perturbar a biodiversida-
de (Blackburn e Haan, 1999, p. 91).
Por exemplo, no sistema extensivo
do latifndio, os animais promovem
a compactao do solo e perturbam a
biodiversidade. Se, mesmo com a con-
duta inaceitvel do desmatamento, a
pastagem for manejada com o pasto-
reio racional Voisin,
1
h, ento, melho-
ria da estrutura do solo, incremento da
vida subterrnea e melhoria da biodi-
versidade. Os efeitos desse processo,
entretanto, dependem da combinao
entre a intensidade do pastoreio e as
chuvas, alm de outros fatores exter-
nos (Blackburn e Hann, 1999, p. 87).
As plantas na comunidade vegetal
no se deterioram linearmente. H di-
versos nveis, de acordo com a presso
que recebem. A produo de biomassa
e a composio botnica das plantas
futuam e se a presso de pastoreio
relaxada antes do nvel crtico ou seja,
antes do ponto timo de repouso ,
a recuperao da comunidade me-
lhor. Portanto, o gado bovino pode ter
impacto positivo ou negativo sobre a
biodiversidade, dependendo da forma
como criado e manejado.
A biotecnologia e a transgenia, da
forma como tm sido utilizadas na pro-
duo agrcola, so tcnicas reducionistas
que promovem as monoculturas e pro-
duzem severa eroso gentica. Sem men-
cionar os efeitos nocivos que o consumo
de seus produtos causa sade humana,
so tcnicas que eliminam a diversidade
biolgica. E isso impede o melhoramen-
to gentico natural das produes.
51
A
Agrobiodiversidade
As modifcaes dos germoplasmas
s podem ser feitas artifcialmente por
meio de gentica molecular, que tem al-
tssimos custos. E elas benefciam ape-
nas as multinacionais que as produzem,
ao mesmo tempo em que implicam a
total dependncia dos produtores des-
sas empresas. Isso leva ao comprome-
timento da soberania alimentar nos n-
veis local e nacional.
A produtividade tambm aumenta
com a diversidade. Conforme relata
Pat Mooney:
Um estudo realizado por uma uni-
versidade dos Estados Unidos,
que compreende diversas varie-
dades de arroz, na China e nas
Filipinas, mostrou que se forem
cultivadas paralelamente diver-
sas variedades de arroz, o rendi-
mento aumenta 89%, enquanto
as doenas reduzem-se 98%. O
estudo conclui que a diversi-
dade ultrapassa amplamente o
desempenho das variedades ge-
neticamente modifcadas (trans-
gnicas) e homogneas. (2002,
p. 154)
Na mesma linha, Escher (2010), em
dissertao de mestrado no Programa
de Ps-graduao em Agroecossiste-
mas da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), encontrou, na diver-
sidade da fora e da fauna do entorno da
lavoura, fator decisivo para a sanidade
da lavoura de arroz ecolgico. A biodi-
versidade silvestre e agrcola isso , a
variabilidade entre e dentro das esp-
cies o elemento fundamental para
identifcar caractersticas genticas que
so teis para produzir novas varieda-
des agrcolas, novos medicamentos e
novos produtos (Ribeiro, 2003).
Os povos pr-histricos alimenta-
vam-se com mais de 1.500 espcies de
plantas, e pelo menos 500 espcies e
variedades tm sido cultivadas ao lon-
go da histria. H 150 anos a humani-
dade se alimentava com o produto de 3
mil espcies vegetais que, em 90% dos
pases, eram consumidas localmente.
Hoje, quinze espcies respondem por
90% dos alimentos vegetais e quatro
culturas trigo, milho, arroz e soja
respondem por 70% da produo e do
consumo mundiais. Tende-se, assim, a
uma perigosa monocultura, e a homo-
geneidade leva morte, ao passo que a
heterogeneidade, que o estado din-
mico, a vida.
A homogeneizao produzida
pelos procedimentos da REVOLUO
VERDE e pelas chamadas exigncias de
mercado tem levado morte por pro-
duzir a paralisao dos processos vi-
tais, esses intrinsecamente dinmicos
e dialticos (Machado, 2003). A diver-
sidade um componente essencial de
todos os sistemas vivos para alcana-
rem a sua estabilidade instvel; e da
instabilidade dinmica, cria-se a esta-
bilidade. nesse movimento dialtico
que se fundamenta e se apoia a susten-
tabilidade. No existe sustentabilidade
na natureza sem biodiversidade.
Nota
1
Pastoreio racional Voisin um mtodo de manejo das pastagens que se baseia na diviso
da rea e no uso dos pastos em seu ponto timo de repouso, isto , quando o pasto tem a
maior disponibilidade de nutrientes e melhor qualidade biolgica. O pastoreio conduzido
pelo ser humano, respeitando os tempos variveis de repouso do pasto e os tempos vari-
veis de ocupao das parcelas.
Dicionrio da Educao do Campo
52
Para saber mais
BLACKBURN, H. W.; HAAN, C. Livestock and Biodiversity. In: COLLINS, W. W.;
QUALSET, C. O. Biodiversity in Agroecosystems. Boca Raton: CRC, 1999. p. 85-99.
CARVALHO, H. M. (org.). Sementes, patrimnio do povo a servio da humanidade. So
Paulo: Expresso Popular, 2003.
COLLINS, W. W.; QUALSET, C. O. (org.). Biodiversity in Agroecosystems. Boca Raton:
CRC, 1999.
ESCHER, S. M. O. S. Proposta para produo de arroz ecolgico a partir de estudo de casos
no RS e PR. 2010. Dissertao (Mestrado em Agroecossistemas) Programa de
Ps-graduao em Agroecossistemas, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianpolis, 2010.
FERREIRA, A. B. H. Novo dicionrio Aurlio da lngua portuguesa. 3. ed. Curitiba:
Positivo, 2004.
HALFFTER, G. et al. La biodiversidad y el uso de la tierra. In: MATTEUCCI, S. D.
et al. Biodiversidad y uso de la tierra. Buenos Aires: Eudeba, 1999. p. 17-28.
KENNEDY, A. C. Microbial Diversity in Agroecosystem Quality. In: COLLINS, W. W.;
QUALSET, C. O. (org.). Biodiversity in Agroecosystems. Boca Raton: CRC, 1999. p. 1-17.
MACHADO, L. C. P. Pastoreio racional Voisin. 2. ed. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
______ et al. Sementes, direito natural dos povos. In: CARVALHO, H. M. (org.).
Sementes, patrimnio do povo a servio da humanidade. So Paulo: Expresso Popular,
2003. p. 245-258.
MACHADO FILHO, L. C. P. et al. Transio para uma agropecuria agroecolgi-
ca. In: SIMPSIO BRASILEIRO DE AGROPECURIA SUSTENTVEL, 2. Anais... Viosa:
Editora da Universidade de Viosa, 2010. p. 243-258.
MOONEY, P. R. O sculo 21. So Paulo: Expresso Popular, 2002.
MORELLO, J.; MATTEUCCI, S. D. El difcil camino al manejo rural sostenible en la
Argentina. In: MATTEUCCI, S. D. et al. Biodiversidad y uso de la tierra. Buenos Aires:
Eudeba, 1999. p. 41-54.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Managing Global Genetic Resources Livestock.
Washington, D.C.: National Academic Press, 1993.
OLDENBROEK, J. K. (org.). Genebanks and the Conservation of Farm Animal Genetic
Resources. 2. ed. Lelystad, Holanda: IDDLO, 1999.
PASCHOAL, A. D. Pragas, praguicidas e a crise ambiental: problemas e solues. Rio de
Janeiro: FGV, 1979.
RIBEIRO, S. Camponeses, biodiversidade e novas formas de privatizao. In:
CARVALHO, H. M. (org.). Sementes, patrimnio do povo a servio da humanidade. So
Paulo: Expresso Popular, 2003. p. 51-72.
53
A
Agrocombustveis
SOLBRIG, O. T. Observaciones sobre biodiversidad y desarrollo agrcola. In:
MATTEUCCI, S. D. et al. Biodiversidad y uso de la tierra. Buenos Aires: Eudeba, 1999.
p. 29-40.
VAVILOV, N. I. The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated Plants.
Chronica Botanica, v. 13, n. 1-6, p. 1-366, 1951.
A
AGROCOMBUSTVEIS
Frei Sergio Antonio Grgen
Agrocombustveis so combustveis,
lquidos ou gasosos, para motores
combusto, provenientes da agri-
cultura. Os mais conhecidos entre os
agrocombustveis lquidos so o lcool
(etanol) e o biodiesel. O biogs um
combustvel gasoso que pode ser pro-
duzido a partir do estrume de porcos,
vacas etc., mas seu uso hoje limitado,
por causa da necessidade de adaptao
mecnica dos motores. Normalmente
aproveitado para a gerao de energia
eltrica, uso domstico e secagem de
cereais. J o lcool e o biodiesel so usa-
dos em larga escala no Brasil, Europa,
Estados Unidos e ndia.
A principal matria-prima para a
produo de lcool a cana-de-acar,
mas ele tambm pode ser produzido
tendo como matria-prima o sorgo
sacarino, a mandioca, a batata-doce,
a beterraba, o milho, o arroz etc. Em
princpio, todos os vegetais que con-
tm acar podem ser matria-prima
para a produo de lcool. O lcool,
como combustvel, substitui a gasolina
ou misturado a ela.
J o biodiesel produzido tendo
como matria-prima os leos vegetais,
mas tambm podem ser utilizadas gor-
duras animais, especialmente sebo bo-
vino e banha de porco.
O biodiesel, como combustvel,
substitui ou misturado ao diesel de
petrleo. No Brasil, por meio da lei
n 11.116, de 18 de maio de 2005, o go-
verno brasileiro estabeleceu, em 2011,
um percentual de 5% de biodiesel mis-
turado no diesel mineral, mas ele pode
ser usado em percentuais maiores na
Europa, usa-se o biodiesel puro, sem
necessidade de adaptao de motores
diesel. Convencionou-se denominar
B5 ao diesel que traz 5% de biodiesel
misturado ao diesel de petrleo, caso
do Brasil; quando a mistura de 20%,
diz-se B20; o biodiesel puro, sem mis-
tura, denomina-se B100.
O leo vegetal puro, pr-tratado
e microfltrado tambm pode ser uti-
lizado como combustvel, bastando
para isso a adaptao dos motores. O
inventor do motor diesel, que se cha-
mava Rudolf Diesel, fez seus primeiros
experimentos com leo de amendoim.
Na tecnologia de motores Elsbett,
os motores so movidos a leo vege-
tal. Infelizmente, as multinacionais das
indstrias de motores impediram at
hoje a produo em escala dos motores
movidos a leo vegetal puro.
No Brasil, h dois modelos antagni-
cos de produo de agrocombustveis:
1) o do agronegcio, de produo em
Dicionrio da Educao do Campo
54
grande escala e com a terra organizada
em latifndios, concentrando riqueza,
com cada vez maior controle das em-
presas transnacionais, com monocultu-
ras de cana e soja, gerando pobreza e
fome, sem sustentabilidade ambiental
e criando uma competio inaceitvel
entre produo de alimentos e energia;
2) o da agricultura camponesa, voltado
para a soberania alimentar e energtica
das comunidades camponesas, combi-
nando produo de alimentos e ener-
gia com proteo ao meio ambiente
(alimergia alimento, meio ambiente,
energia), com produo diversifcada
e consorciada e sistemas industriais de
multifnalidades, de pequeno e mdio
porte, descentralizados.
A produo de biodiesel se inicia
com a produo de gros oleagino-
sos, e, deles, os mais utilizados hoje
no mundo so soja, canola, girassol,
amendoim e mamona. Em seguida,
feita a extrao do leo, por mtodo
mecnico ou por meio de solvente qu-
mico. Aps a extrao do leo vegetal,
a torta ou farelo restante um produto
que pode ser utilizado na alimentao
humana e animal (caso do girassol e
do amendoim), na alimentao animal
(caso da soja e da canola) e para fazer
adubos orgnicos (caso da mamona, do
pinho manso e do tungue).
Por fm, temos a produo do bio-
diesel, que pode ser realizada em uni-
dades industriais de porte pequeno,
mdio ou grande (refnarias) para fazer
o processo da transesterifcao, pelo
qual o biodiesel separado da gliceri-
na mediante uma reao qumica com
metanol ou etanol, soda e elevao de
temperatura. No fnal, temos como
produto principal o biodiesel, mas te-
mos tambm, como subprodutos, o
prprio lcool e a glicerina, que pode
ser industrializada e utilizada na produ-
o de sabonetes, sabes, cosmticos
ou mesmo na queima para produo de
energia. H tambm outro mtodo
de produo de biodiesel com leos
vegetais chamado craqueamento, que
se d pela quebra e separao de mo-
lculas em uma coluna separadora, por
meio do aumento da temperatura. Em-
bora pouco usado, esse mtodo pode
ser muito til para o autoabastecimento
de pequenas comunidades.
A produo de lcool se inicia com
o cultivo de plantas ricas em sacarose.
No Brasil, utilizada exclusivamente a
cana-de-acar, mas em alguns pases
as matrias-primas fundamentais para
a produo de lcool so a beterraba
ou o milho. A cana-de-acar pode ser
transportada at a usina ou microusina
de processamento de lcool combust-
vel, por meio de carretas tracionadas,
caminhes e outros, onde descarrega-
da manualmente. A cana tambm pode
ser moda diretamente na lavoura, uti-
lizando-se moenda mvel (moenda tra-
cionada a trator), e somente o caldo j
decantado, pronto para ser utilizado na
fermentao, transportado. A ponta
da cana destinada alimentao de
bovinos. O bagao e o bagacilho so
utilizados como alimentao bovina e
para adubao de solo agrcola. Nas
grandes usinas, queimada para gerar
calor e energia eltrica necessrias
prpria usina.
Aps ser extrada da cana-de-acar,
a garapa fltrada, processo no qual
so eliminadas eventuais sujidades pre-
sentes nela. A decantao outra etapa
da purifcao da garapa. O decantador
possui cinco estgios, para que a ga-
rapa fque isenta de qualquer sujidade
que venha a atrapalhar a fermentao
e, consequentemente, o rendimento
do processo.
55
A
Agrocombustveis
Aps o processo de fltrao e de-
cantao, tem-se o caldo da cana pro-
priamente dito e pronto para o proces-
so de fermentao (mosto). Devem-se
medir os slidos totais (Brix, smbolo
Bx) do caldo com a ajuda de um den-
smetro sacarmetro. O mosto deve ser
diludo at 11Bx para que a fermenta-
o ocorra corretamente.
O caldo de cana a 11Bx levado,
por gravidade, para as dornas de fer-
mentao. A fermentao realizada
pela adio de fermento especfco para
fermentar o caldo da cana. A levedura
utilizada a Saccharomyces cerevisiae. A
fermentao ocorre temperatura am-
biente, mas necessrio o controle da
temperatura para que a mesma no ul-
trapasse 32C, pois a temperatura ideal
de trabalho das leveduras de 28C. A
fermentao alcolica a transforma-
o em etanol da sacarose presente no
caldo da cana.
Pelo controle do Brix presente no
mosto que se sabe quo avanado est
o processo de fermentao. Quando
o mosto atinge 0Bx sinal de que todo o
acar foi transformado em etanol, e
o vinho pode seguir para a destilao.
Deve-se deixar o vinho em repouso por
aproximadamente trs horas, a fm de
que ocorra a decantao das leveduras e
se mantenha o p de cuba
designao
popular para a cultura enzimtica que
fermenta o caldo de cana, provocando
a separao do lcool dos demais com-
postos qumicos no fundo das dornas,
para ser utilizado na prxima fermenta-
o. O vinho , ento, transferido para o
alambique por gravidade ou pela utiliza-
o de bomba apropriada. Com o vinho
na dorna volante, pode-se dar incio
destilao do mesmo.
O processo de destilao se d me-
diante o aquecimento do vinho pelo
vapor dgua produzido na caldeira. O
alambique pode atingir temperaturas
de at 104C e a coluna de destilao, de
at 80C. Com isso, o etanol evapora
e vai, atravs de tubulaes, para as
colunas de destilao, onde ocorre a
separao do etanol da gua. Depois
de separados, ocorre a condensao do
vapor de etanol e, por consequncia, a
mudana de fase do mesmo, que pas-
sa a ser lquido. Aps essa ltima eta-
pa, o etanol sai do sistema e vai para
o armazenamento.
O lcool combustvel, com gradua-
o entre 92 e 96GL, armazenado
em um tanque areo de ao carbono.
O vinhoto o principal resduo da
produo de lcool. Nas microusinas,
o vinhoto armazenado em piscina
apropriada, com volume mximo de
120 m
3
, revestida de uma geomembra-
na sinttica impermevel de polietileno
de alta densidade (Pead), com 1 mm de
espessura, a fm de evitar infltraes.
O destino desse vinhoto a aplica-
o na lavoura, pois o vinhoto mui-
to rico em matria orgnica. Alm de
matria orgnica, o vinhoto contm mi-
nerais, entre os quais o potssio que,
juntamente com o clcio, aparece com
destaque. Tambm pode ser usado na
alimentao de bovinos e porcos.
Alimergia
Alimergia um novo conceito em
agricultura, pecuria e foresta que pro-
cura desenvolver formatos produtivos
que integrem, de maneira sinrgica, a
produo de alimentos e de energia
com a preservao ambiental. A alimer-
gia visa soberania alimentar e energ-
tica das comunidades e dos povos de
maneira integrada e harmnica com os
ecossistemas locais. No entanto, isso
s ser possvel com a utilizao de
Dicionrio da Educao do Campo
56
sistemas agrcolas de base ecolgica,
em especial a agroecologia, que implica
sistemas complexos de policultivos.
Porm, a alimergia no apenas
um novo conceito que procura unir,
em um processo produtivo integrado e
sistmico, alimentos, meio ambiente
e energia. um novo paradigma, ne-
cessrio para responder aos desafos e
s exigncias objetivas que a comuni-
dade humana e a sobrevivncia da vida
da biosfera colocam em termos ener-
gticos, alimentares e ambientais para
o presente e, dramaticamente, para a
construo do futuro.
Um novo paradigma uma nova
forma de ver, analisar, pensar, projetar
e fazer. A necessidade desse novo para-
digma, no cenrio que analisamos, ur-
gente. Lev-lo prtica exige reposicio-
nar a cincia e a produo e, no nosso
caso, reorganizar a vida no campo e a
produo agropecuria , tendo como
eixo organizador da vida social e produ-
tiva o novo paradigma alimrgico.
Os sistemas camponeses de produ-
o, juntamente com as formas indge-
nas, respondem melhor e com maior
efccia a esse novo desafo. Os mo-
nocultivos extensivos em grandes la-
tifndios encontram-se na contramo
desse novo paradigma, que se coloca
como necessrio e incontornvel para
uma comunidade humana que precisa
comer com dignidade, diversifcar suas
fontes de energia e limpar a atmosfera
dos gases responsveis pelo efeito estu-
fa. Isso requer e prope formatos pro-
dutivos diversifcados e multifuncio-
nais, geradores de postos de trabalho
e renda, organizadores de sistemas in-
tegrados de produo agrcola, pecu-
ria e forestal.
Os novos formatos produtivos nas
comunidades camponesas, ou mesmo
nas rururbanas, envolvem muita gente
e muito trabalho direto, organizando
sistemas industriais fexveis e descen-
tralizados com circuitos comerciais e
distributivos readequados, conforme a
localizao da populao. Para isso,
preciso redistribuir as pessoas no es-
pao geogrfco, o que traz a exigncia
da Reforma Agrria. Esse novo siste-
ma produtivo possvel e necessrio,
e o sujeito social qualifcado e capaz
de constru-lo so os camponeses, que
resistiram bravamente nas ltimas d-
cadas voracidade destruidora do ca-
pitalismo no campo.
Energias renovveis e
alternativas
O centro das discusses atuais o
biodiesel e o lcool combustvel como
alternativas ao petrleo e poluio
causada pelos combustveis fsseis.
Contudo, a discusso sobre as energias
deveria ser tratada de forma mais apro-
fundada e ampla. As fontes energticas
no devem estar limitadas ao petrleo,
ao carvo e s grandes hidreltricas.
Existem inmeras possibilidades de ge-
rao de energia. E, com certeza, mui-
tas modalidades de gerao de energia
podem favorecer pequenas comunida-
des, como as dos camponeses, gerando
independncia e autonomia.
Energia elica
Os ventos so grandes deslocamen-
tos de ar. Eles se movimentam por causa
das diferenas de temperatura e presso,
quando o ar quente sobe e o frio, desce.
Essa fora natural pode ser transformada
em energia eltrica por meio de cataven-
tos, tambm conhecidos como ps elicas
ou aerogeradores.
57
A
Agrocombustveis
J na Antiguidade a fora do vento
era utilizada como energia para movi-
mentar os barcos vela. Nos moinhos
de vento, essa fora era transformada
em energia mecnica e utilizada para
moer gros e bombear gua. uma
forma renovvel e limpa de produo
de energia.
Energia solar
O Brasil o pas que mais dispe de
horas de sol por ano no mundo entre
2 mil e 3 mil horas, o que signifca em tor-
no de 15 trilhes de megawatts por hora
(MWh). O sol uma fonte praticamente
inesgotvel de energia. Porm, a utilizao
da energia solar ainda insignifcante.
A energia proveniente dos raios
solares renovvel, alternativa, limpa,
no deixa resduos no meio ambiente e
no prejudica o ecossistema. Os raios
solares podem ser transformados, com
recursos e equipamentos adequados,
em eletricidade (energia fotovoltaica)
ou em calor (energia trmica).
Um exemplo de converso direta da
radiao solar em calor so os coletores
solares para aquecimento de gua. A
gerao de energia eltrica a partir do
aquecimento solar da gua vem sendo
testada para acionar geradores eltricos
com capacidade de at 200 MW.
Biogs
O biogs um biocombustvel ori-
ginado da degradao biolgica (sem a
presena de oxignio, de matria org-
nica). um tipo de mistura gasosa de
dixido de carbono e metano, produzi-
do pela ao de bactrias em matrias
orgnicas, que so fermentadas dentro
de determinados limites de temperatu-
ra, teor de umidade e acidez.
O metano, principal componente do
biogs, no tem cheiro, cor ou sabor,
mas os outros gases presentes confe-
rem-lhe um ligeiro odor desagradvel.
uma fonte de energia renovvel.
Para produzir o biogs, usa-se o
biodigestor. O gs produzido poder
servir para gerar energia eltrica, para
secar cereais, como gs de cozinha ou
no aquecimento de ambientes, tanto de
uso humano quanto na produo ani-
mal. Os resduos da fermentao so
utilizados na adubao agrcola.
Biomassa
A biomassa se origina da energia
solar. As plantas mantm simultanea-
mente dois processos para sobreviver:
a respirao e a fotossntese. Por meio
da fotossntese, as plantas produzem
tecidos vegetais, que, por sua vez, cres-
cem e se reproduzem. A fotossntese
uma reao bioqumica que converte
a energia solar que inesgotvel em
termos humanos em energia qumi-
ca, armazenada nos tecidos vegetais
sob a forma de compostos orgnicos
que formam a biomassa: folhas, caules,
razes, sementes, frutos etc.
A temperatura tem forte infuncia
na intensidade da fotossntese na maioria
dos plantios de inverno, que tm seu ti-
mo trmico entre 15C e 30C; j os plan-
tios de vero tm seu timo trmico entre
20C e 40C. Ou seja, nessas temperatu-
ras, as plantas tm o mximo rendimento
em termos de produo de biomassa.
A localizao de 92% do territ-
rio brasileiro na zona intertropical e
as baixas altitudes do relevo explicam
a predominncia de climas quentes,
com mdias de temperatura superiores
a 20C. Essas condies climticas do
vantagens para o Brasil na produo
Dicionrio da Educao do Campo
58
de biomassa, que, por sua vez, utiliza-
da como alimento, a principal fonte
de energia para os seres vivos, sendo
indispensvel para todas as formas de
vida terrestre. Alm disso, a biomassa
pode ser convertida em eletricidade,
combustvel ou calor. Os principais
produtos da biomassa que podem ser
transformados diretamente em energia
so a lenha, o leo vegetal, o lcool e
o biodiesel.
Uma das grandes polmicas sobre o
tema dos biocombustveis a compe-
tio entre produo de energia e pro-
duo de alimentos. O sistema de
produo de agrocombustveis propos-
to pelas elites capitalistas de fato pres-
supe e acirra essa competio. Contu-
do, possvel organizar sistemas pro-
dutivos que conciliem a produo de
energia e a produo de alimentos, seja
produzindo oleaginosas em sistemas
agroforestais, seja utilizando a torta
de oleaginosas como adubo ou como
alimentao animal, enriquecendo as-
sim as cadeias produtivas de carnes e
leite, entre outras. Nos sistemas agro-
forestais, podemos implantar cultu-
ras arbreas e lenhosas, ao lado de cul-
turas anuais criaes de abelhas, por
exemplo , consolidando formas sus-
tentveis de aproveitamento e uso da
energia da biomassa, conciliando pro-
duo de alimentos e de energia.
O modelo proposto pelas elites
capitalistas considerado insusten-
tvel pelos movimentos camponeses.
Os sistemas industriais implantados
com base no modelo das elites so
centralizados e controlados por gran-
des grupos econmicos; o cultivo se
d em grandes propriedades e, quan-
do envolve os pequenos agricultores,
isto se d por meio de sua integrao
s indstrias. A proposta camponesa
se assenta na organizao de sistemas
cooperativados de industrializao,
descentralizados, baseados na produ-
o diversificada de matrias-primas
e em indstrias multifuncionais. As
caractersticas principais dos sistemas
de produo de alimentos e energia na
agricultura camponesa so:
soberania alimentar: o objetivo
primeiro e central a produo
de alimentos saudveis e variados,
mediante sistemas diversifcados
de produo;
soberania energtica: a produo
de energia deve ser um subprodu-
to da produo de alimentos e ter
como objetivos centrais a autono-
mia energtica das comunidades
camponesas, o atendimento das
necessidades energticas regionais
e os possveis excedentes para as
necessidades nacionais;
agroecologia: os sistemas pro-
dutivos devem estar baseados na
agroecologia, promovendo-se a
transio do modelo tecnolgico
e superando-se a dependncia dos
insumos qumicos;
biodiversidade: promoo da bio-
diversidade e respeito existen-
te, aumentando e resgatando a
diversidade biolgica do meio
onde tenha sido degradada;
diversidade cultural: respeito aos
valores, costumes, formas de vida
e sistemas culturais locais, e suas
expresses nas formas de trabalho,
produo, culinria, msica, ritos,
religiosidade etc.;
formao e capacitao: garantia
de processo sistemtico e continua-
do de formao poltica e capaci-
tao tcnica e administrativa que
deem sentido estratgico e trans-
formador na direo de um novo
59
A
Agroecologia
modelo de sociedade que atenda aos
interesses das classes trabalhadoras;
projetos com viabilidade ambien-
tal, social, tcnica e econmica;
sistemas industriais descentraliza-
dos e sob o controle de organi-
zaes econmicas camponesas;
produo de alimentos e energia tendo
como componente indispensvel a im-
plantao de sistemas agroforestais
e agrosilvipastoris;
organizao de sistemas alimentar-
energticos completos, integrando
as vrias fontes de energia tais
como lcool, leos vegetais, bio-
diesel, biogs e energia eltrica ,
juntamente com o armazenamen-
to, o beneficiamento e a comercia-
lizao de alimentos;
hegemonia camponesa nos territ-
rios e nas comunidades;
autonomia cientfica, tecnolgica
e na produo e melhoramento de
sementes e material gentico, bem
como das pesquisas e dos conhe-
cimentos cientficos necessrios
ao desenvolvimento dos projetos
implementados.
Para saber mais
GRGEN, |frei| S. A. (org.). A agricultura camponesa e as energias renovveis
um guia tcnico. Porto Alegre: Padre Josimo Edies, 2009.
A
AGROECOLOGIA
Dominique Michle Perioto Guhur
Nilciney Ton
A agroecologia pode ser considera-
da uma construo recente; portanto,
sua defnio ainda no est consoli-
dada. Constitui, em resumo, um con-
junto de conhecimentos sistematiza-
dos, baseados em tcnicas e saberes
tradicionais (dos povos originrios e
camponeses) que incorporam princ-
pios ecolgicos e valores culturais s
prticas agrcolas que, com o tempo,
foram desecologizadas e desculturali-
zadas pela capitalizao e tecnifcao
da agricultura (Leff, 2002, p. 42). An-
tes de nos aprofundarmos no debate
conceitual, vamos inicialmente consi-
derar as condies de surgimento da
agroecologia, resgatando o histrico
do conceito, bem como as principais
correntes existentes, e evidenciando o
seu desenvolvimento no Brasil.
Uma perspectiva das
condies de surgimento
da agroecologia
Para compreender as condies que
determinaram o surgimento da agroe-
cologia, importante ter presente que
a questo ecolgica envolve, na atuali-
dade, a perenidade das condies de
reproduo social de certas classes,
de certos povos e, at mesmo, de certos
Dicionrio da Educao do Campo
60
pases (Chesnais e Serfati, 2003, p. 1),
destacando-se os camponeses dos pa-
ses da periferia do capitalismo. Para
alm de situaes meramente conjun-
turais, a permanncia dos camponeses
na terra e sua reproduo social encon-
tra-se, hoje, gravemente ameaada pelo
modelo tecnolgico hegemnico que ,
em nvel mundial, a base de sustenta-
o do agronegcio.
A expropriao dos camponeses es-
teve no cerne dos mecanismos da acu-
mulao primitiva a acumulao que
permitiu o surgimento do capitalismo e
que se caracterizou pela violncia, pela
pilhagem e pelo saque, formas no
propriamente capitalistas de acumula-
o. Entretanto, o processo de expro-
priao dos camponeses nunca deixou
de existir, prosseguindo at a atualidade.
Como destacam Chesnais e Serfati,
ele no atribuvel somente s pol-
ticas do FMI [Fundo Monetrio Inter-
nacional], por mais que seja necessrio
incrimin-las. no ncleo das relaes de
produo e de dominao que ele se situa
(2006, p. 15; grifos nossos). Isso quer
dizer que h uma interconexo entre
as agresses ecolgicas e as agresses
contra as condies de existncia dos
produtores diretos.
O patenteamento dos organismos
vivos, a tecnologia dos organismos trans-
gnicos e, mais recentemente, a nano-
tecnologia sustentam uma nova fase
nesse processo de expropriao dos
agricultores produtores diretos, apro-
fundando a modernizao dependente
e depredadora da agricultura iniciada
com a REVOLUO VERDE. O objetivo
retirar dos agricultores o controle
sobre as sementes e, de maneira mais
ampla, sobre a produo no campo,
em benefcio das grandes corporaes
transnacionais, as quais constituem
pea fundamental no regime de acu-
mulao fnanceira que caracteriza a
mundializao do capital.
Alm de acelerar o processo cls-
sico de diferenciao do campesinato,
espremendo os camponeses entre as
indstrias produtoras de insumos e as
agroindstrias que se utilizam de suas
matrias-primas, os modelos de produ-
o e tecnolgico dominantes oferecem
hoje um horizonte que pode, enfm, pr
em questo a permanncia do campo-
ns, concluindo assim o processo de se-
parao dos produtores diretos de suas
condies de produo. dessa maneira
que a reproduo social dos campone-
ses passa a exigir uma mudana na maneira
de produzir, motivando experincias de
resistncia ao modelo do agronegcio.
Paralelamente, as consequncias am-
bientais desastrosas desse modelo e sua
cada vez mais evidente insustentabilida-
de acabaram levando confuncia en-
tre os interesses dos camponeses e de
pesquisadores da rea.
Histrico e correntes
O termo agroecologia parece ter
surgido na dcada de 1930, como sin-
nimo de ecologia aplicada agricultura
(Gliessman, 2000). No entanto, no con-
texto do aprofundamento da diviso
do trabalho na sociedade capitalista e
da crescente fragmentao dos conhe-
cimentos, e com a expanso do capita-
lismo no campo (da qual a Revoluo
Verde a face mais conhecida), ecologia
e agronomia seguiram divorciadas.
Embora a agroecologia tenha sido
inicialmente concebida como uma dis-
ciplina especfca que estudava os agro-
ecossistemas, nas dcadas seguintes,
outras contribuies foram se soman-
do a essa concepo para dar-lhe sua
61
A
Agroecologia
conformao atual: o ambientalismo, a
sociologia, a antropologia, a geografa
e o desenvolvimento rural, e o estudo
de sistemas tradicionais de produo
indgenas e camponeses de pases da
periferia do capitalismo.
O uso do termo agroecologia se
popularizou nos anos 1980, a partir
dos trabalhos de Miguel Altieri e, pos-
teriormente, de Stephen Gliessman,
ambos pesquisadores de universidades
estadunidenses e atualmente conside-
rados os principais expoentes da ver-
tente americana da agroecologia.
A outra principal vertente da agroe-
cologia conhecida como escola eu-
ropeia. Surgida em meados dos anos
1980 na Andaluzia, Espanha, represen-
ta uma agroecologia de vis sociolgi-
co, que busca inclusive uma caracteriza-
o agroecolgica do campesinato. No
entendimento dessa escola, a agroe-
cologia surgiu de uma interao entre
as disciplinas cientficas (naturais e
sociais) e as prprias comunidades ru-
rais, principalmente da Amrica Latina.
Seus principais expoentes so Eduardo
Sevilla-Guzmn e Manuel Gonzlez
de Molina, ambos ligados ao Institu-
to de Sociologa y Estudios Campe-
sinos (ISEC), da Universidade de
Crdoba, Espanha.
O desenvolvimento da
agroecologia no Brasil
No Brasil, a contestao Revolu-
o Verde surgiu com o movimento da
agricultura alternativa do fnal da d-
cada de 1970, mas permaneceu inicial-
mente restrita a um pequeno grupo de
intelectuais, em sua maioria profssio-
nais das cincias agrrias, at meados
da dcada de 1980 (ver AGRICULTURAS
ALTERNATIVAS).
Desse perodo inicial, destacam-se
alguns pioneiros na crtica Revolu-
o Verde no Brasil, cujas obras per-
manecem ainda hoje como referncia
para a agroecologia nos trpicos: Jos
Lutzenberger, um dos primeiros ati-
vistas ambientais do pas, desempe-
nhou papel importante na denncia
dos malefcios dos agrotxicos e na
necessidade de sua regulamentao;
Adilson Paschoal, que estudou o efeito
dos agrotxicos nos agroecossistemas;
Ana Primavesi, pesquisadora pioneira
em considerar o solo como um orga-
nismo vivo e na crtica utilizao de
tecnologias importadas; Luiz Carlos
Pinheiro Machado, que desenvolveu e di-
fundiu o pastoreio racional Voisin-PRV
no Brasil (mtodo ecolgico de produ-
o animal base de pasto); e Sebastio
Pinheiro, que se destacou na denncia
das contaminaes por agrotxicos e no
desenvolvimento de tecnologias para a
produo de base ecolgica.
Foi somente a partir de 1989 que
o termo agroecologia comeou a ser
utilizado no Brasil, com a publicao
do livro Agroecologia: as bases cientfcas da
agricultura alternativa, de Miguel Altieri
(1989). Em seguida, nos anos 1990,
as organizaes no governamentais
(ONGs) foram as principais dissemi-
nadoras da agroecologia (Luzzi, 2007).
No fnal da dcada de 1990, e com
maior fora a partir do incio dos anos
2000, os movimentos sociais populares
do campo, em especial aqueles vincu-
lados Via Campesina, incorporaram
o debate agroecolgico sua estratgia
poltica e passaram a dar contribuies
importantes. Podemos citar a Jornada
de Agroecologia (cujo lema Terra
Livre de Transgnicos e Sem Agrotxi-
cos), realizada anualmente no Paran
desde 2002, com um pblico mdio
Dicionrio da Educao do Campo
62
de 4 mil participantes; a campanha As
sementes so patrimnio da huma-
nidade, lanada pela Via Campesina
durante o III Frum Social Mundial,
em 2003; e a ocupao do viveiro
de mudas da multinacional Aracruz
Celulose, no Rio Grande do Sul, com
a destruio de mudas ilegais de euca-
lipto transgnico.
A realizao, em 2002, do I Encon-
tro Nacional de Agroecologia marcou
a tentativa de articulao nacional dos
movimentos e organizaes ligados
agroecologia. Em 2003, realizou-se o I
Congresso Brasileiro de Agroecologia,
promovido anualmente desde ento.
Desses dois eventos, resultaram duas
entidades de abrangncia nacional: a
Articulao Nacional de Agroecologia
(ANA), fundada em 2002, e a Associa-
o Brasileira de Agroecologia (ABA),
fundada em 2004.
O debate conceitual
A agroecologia foi defnida por
Altieri (1989), na primeira publicao
mais sistemtica sobre o tema,
1
como
as bases cientfcas para uma agricultu-
ra alternativa. Como cincia, a agroe-
cologia emerge de uma busca por su-
perar o conhecimento fragmentrio,
compartimentalizado, cartesiano, em
favor de uma abordagem integrada. Seu
conhecimento se constitui, mediante a
interao entre diferentes disciplinas,
para compreender o funcionamento
dos ciclos minerais, as transformaes
de energia, os processos biolgicos e
as relaes socioeconmicas como um
todo, na anlise dos diferentes proces-
sos que intervm na atividade agrcola.
A agroecologia pode ser caracteri-
zada como uma disciplina que fornece
os princpios ecolgicos bsicos para
estudar, desenhar e manejar agroe-
cossistemas produtivos e conservado-
res dos recursos naturais, apropriados
culturalmente, socialmente justos e
economicamente viveis
2
(Altieri,
1999, p. 9; nossa traduo), propor-
cionando, dessa maneira, bases cien-
tfcas para apoiar processos de tran-
sio a estilos de agriculturas de base
ecolgica ou sustentvel (Caporal e
Costabeber, 2004).
Essas defnies j indicam aspectos
importantes da agroecologia, e permi-
tem diferenci-la de outros processos
dos quais tem sido interpretada como
sinnimo, seja do ponto de vista da
elaborao terica, seja do cotidiano.
Assim, Caporal e Costabeber (2004)
alertam que no se devem confundir
os estilos de agricultura alternativa
com a agroecologia, ou mesmo com
a agricultura de base ecolgica, que se
baseia em orientaes e princpios mais
amplos, ao passo que os objetivos das
agriculturas alternativas (orgnica, bio-
lgica, natural, biodinmica, dentre ou-
tras) podem estar limitados a atender a
um nicho de mercado ecologizado e,
por vezes, elitizado.
Um dos conceitos-chave que orien-
tam terica e metodologicamente a agro-
ecologia o de agroecossistema, unidade
de anlise que permite estabelecer um
enfoque comum s vrias disciplinas cien-
tfcas. Um agroecossistema , em resu-
mo, um ecossistema artifcializado pelas
prticas humanas, por meio do conheci-
mento, da organizao social, dos valores
culturais e da tecnologia, de maneira que
sua estrutura interna uma constru-
o social produto da coevoluo entre
as sociedades humanas e a natureza
3
(Casado, Sevilla-Guzmn e Molina,
2000, p. 86; nossa traduo) (ver AGROE-
COSSISTEMAS).
63
A
Agroecologia
Para o desenvolvimento de uma agri-
cul tura sustentvel e produtiva, a
agroecologia orienta prticas de: apro-
veitamento da energia solar atravs da
fotossntese; manejo do solo como um
organismo vivo; manejo de processos
ecolgicos como sucesso vegetal,
ciclos minerais e relaes predador
praga; cultivos mltiplos e sua associa-
o com espcies silvestres, de modo
a elevar a biodiversidade dos agroe-
cossistemas; e ciclagem da biomassa
incluindo os resduos urbanos. Dessa
forma, o saber agroecolgico con-
tribui para a construo de um novo
paradigma produtivo ao mostrar a pos-
sibilidade de produzir com a nature-
za (Leff, 2002, p. 44).
Muito embora no exista produ-
o fora da natureza, o modelo da
Revoluo Verde e do agronegcio de-
senvolve-se com base em tecnologias
contra a natureza, que bloqueiam ou
impedem processos naturais que so
a base do manejo agroecolgico nos
agroecossistemas como o caso do
uso de herbicidas, que bloqueiam ou
mesmo fazem regredir a sucesso eco-
lgica em determinado ambiente.
Entretanto, a agroecologia no
pode ser entendida apenas como um
conjunto de tcnicas. Com base na es-
cola europeia, a agroecologia pode ser
defnida como
[...] o manejo ecolgico dos re-
cursos naturais mediante for-
mas de ao social coletiva que
apresentem alternativas atual
crise civilizatria. E isso por
meio de propostas participati-
vas, desde os mbitos da produ-
o e da circulao alternativa
de seus produtos, pretendendo
estabelecer formas de produo
e consumo que contribuam para
fazer frente atual deteriora-
o ecolgica e social gerada
pelo neoliberalismo.
4
(Sevilla-
Guzmn, 2001, p. 1; nossa
traduo)
Essa defnio amplia signifcativa-
mente o entendimento da agroecologia.
Um primeiro aspecto dessa ampliao
diz respeito ao fato de se conceber a
agroecologia para alm de instrumento
metodolgico que simplesmente per-
mite melhor compreenso dos sistemas
agrrios e soluciona problemas produ-
tivos que a cincia agronmica conven-
cional no resolve, ou mesmo agrava.
Nesse sentido mais amplo, as variveis
sociais ocupam papel relevante. Ainda
que se parta da dimenso tcnica de
um agroecossistema, da se pretende
compreender as mltiplas formas de
dependncia dos agricultores na atual
poltica e economia. Outros nveis de
anlise dizem respeito matriz socio-
cultural ou comunitria, ou seja, pr-
xis intelectual e poltica, identidade
local e s relaes sociais em que os
sujeitos do campo se inserem. Isso
resulta na insero da produo ecol-
gica em propostas para aes sociais
coletivas que superem o modelo pro-
dutivo agroindustrial hegemnico.
Um conceito base dessa forma de
compreender a agroecologia a coe-
voluo entre os sistemas naturais e
sociais, entre ambiente e cultura, sen-
do que os seres humanos tm a capa-
cidade de direcionar essa coevoluo
(Gliessman, 2000). As populaes do
campo, sua cultura e suas formas de or-
ganizao e resistncia so elementos
centrais no processo de coevoluo; no
entanto, no se pode desconsiderar a
hegemonia das relaes capitalistas no
campo no direcionamento dessa coe-
Dicionrio da Educao do Campo
64
voluo. Esse processo dinmico,
pois, conquanto os sistemas tradicio-
nais de produo refitam a experin-
cia adquirida por geraes passadas, o
conhecimento que eles materializam
continua a se desenvolver no presente,
num processo permanente de adap-
tao e mudana (Wilken, 1988, apud
Gliessman, 2000).
Essa abordagem, portanto, reco-
nhece que as populaes do campo
so portadoras de um saber legtimo,
construdo por meio de processos de
tentativa e erro, de seleo e aprendi-
zagem cultural, que lhes permitiram
captar o potencial dos agroecossiste-
mas com os quais convivem h gera-
es. Basta lembrar que a esmagadora
maioria das espcies agrcolas e dos
animais domsticos atualmente exis-
tentes obra do trabalho coletivo e
milenar dos povos camponeses, e no
de institutos de pesquisa, universida-
des ou empresas.
Evidentemente, no se trata de des-
cartar a cincia e a tecnologia, mas da
necessidade de um dilogo de saberes
que reconhea nos povos do campo
e da foresta sujeitos privilegiados da
agroecologia, um dilogo no exclusi-
vamente tcnico, nem com fnalidade
econmica e ecolgica apenas, mas
tambm de ordem tica e cultural, e
que se materialize, inclusive, em aes
sociais coletivas. Esse dilogo traz pro-
fundas implicaes.
A generalizao do modelo da Re-
voluo Verde levou a um avano na
diviso do trabalho entre a indstria
e a agricultura: agricultura restou
apenas a tarefa de produzir matria-
prima para a agroindstria, a partir de
insumos e mquinas fornecidos pela
indstria. Porm, alm disso, apro-
fundou-se especialmente a separao
entre concepo/planejamento e exe-
cuo, separao cujo objetivo dar
direo capitalista do processo de
trabalho os meios de se apropriar
de todos os conhecimentos prticos,
at ento, monopolizados, de fato, pe-
los operrios (Linhart, 1983, p. 79).
Esse processo se evidenciou muito
mais na indstria (por meio da gern-
cia cientfica de Taylor), mas tambm
se estendeu ao campo e seus sujeitos,
que se tornaram meros consumidores
de tcnicas e sistemas de produo de-
senvolvidos em centros de pesquisa,
empresas e universidades.
Em sentido inverso, a agroecologia
exige que o campons passe a assumir
uma posio ativa, de pesquisador das
especificidades de seu agroecossis-
tema, para desenvolver tecnologias
apropriadas no s s condies lo-
cais de solo, relevo, clima e vegetao,
mas tambm s interaes ecolgicas,
sociais, econmicas e culturais. Na
perspectiva da agroecologia, essa no
pode ser tarefa de especialistas iso-
lados. A agoecologia exige conhecer
a dinmica da natureza e, ao mesmo
tempo, agir para a sua transformao.
Alm disso, ela abre caminho para o
desenvolvimento de novos paradigmas
da agricultura, pois no se prova nos
espaos artifcializados da experimen-
tao cientfca, mas sim diretamen-
te nos campos de produo agrcola,
superando, dessa maneira, a distino
entre a produo do conhecimento e
sua aplicao/concretizao: Por isso,
a agroecologia desafa o conhecimento,
mas este se aplica e se testa no terre-
no dos saberes individuais e coletivos
(Leff, 2002, p. 43). O que nos leva
concluso de que a agroecologia no
apenas um corpo de conhecimen-
tos teis, passveis de serem aplicados,
65
A
Agroecologia
mas se confgura como prtica social,
ao de manejo da complexidade
dos agroecossistemas particulares, in-
seridos em mltiplas relaes naturais
e sociais, relaes que eles determinam
e pelas quais so determinados.
evidente que, medida que se
ampliou o questionamento e a crtica
ao padro de agricultura capitalista da
Revoluo Verde, os termos agroeco-
lgico e sustentvel passaram a ser
disputados por setores representantes
justamente dos interesses capitalistas
que promovem feroz depredao da
natureza. Na perspectiva conhecida
como duplamente verde, o desenvol-
vimento de novas tecnologias (como os
transgnicos, por exemplo) seria capaz
de minimizar os efeitos ambientais no-
civos da Revoluo Verde, garantindo,
ao mesmo tempo, os atuais nveis de
produtividade. Essa perspectiva vem
ganhando fora com o biobussines, ou
bionegcio, o agronegcio pretensa-
mente sustentvel, porm, diante da
[...] transformao da geopoltica
de uma economia ecologizada que
hoje em dia revaloriza o sentido
conservacionista da natureza
reabsorve e redesenha a econo-
mia natural dentro das estratgias
de mercantilizao da natureza,
reduzindo o valor da biodiver-
sidade em suas novas funes
como provedora de riqueza ge-
ntica, de valores cnicos e eco-
tursticos e de sua capacidade de
absoro de carbono (biobussines),
a agroecologia se encrava no con-
texto de uma economia poltica
do ambiente.
(Leff, 2002, p. 40)
Nesse contexto, a agroecologia no
se restringe ao desenvolvimento de expe-
rincias de agriculturas de base ecolgi-
ca, ressaltando processos de organizao
social que se orientam pela luta poltica e
transformao social, indo alm da luta
econmica imediata e corporativa e das
aes localizadas, e por vezes assisten-
cialistas, junto dos agricultores. De fato,
a agroecologia possui uma especifcida-
de que referencia a construo de outro
projeto de campo. Entretanto, tal projeto
de campo incompatvel com o sistema
capitalista e depende, em ltima instn-
cia, de sua superao.
Em decorrncia da separao an-
tagnica entre cidade e campo, e da
alienao material dos seres humanos
dentro da sociedade capitalista das con-
dies naturais que formam a base de
sua existncia (Foster, 2005, p. 229),
uma falha irreparvel surgiu no meta-
bolismo entre o homem e a terra. Go-
vernar racionalmente esse metabolismo
excede completamente as capacitaes
da sociedade burguesa (ibid.). Restau-
r-lo exige uma ordem social qualita-
tivamente orientada, que s pode ser
alcanada na sociedade dos indivduos
livremente associados, que, como sujei-
tos histricos autnomos, estejam no
pleno controle do processo produtivo,
esse conscientemente subordinado
satisfao das necessidades humanas, e
no a uma riqueza fetichizada.
Nesse sentido, est em gestao uma
concepo mais recente de agroecologia,
ainda mais ampliada: a partir da prtica dos
movimentos sociais populares do campo,
que no a entendem como a sada tec-
nolgica para as crises estruturais e con-
junturais do modelo econmico e agr-
cola, mas que a percebem como parte de
sua estratgia de luta e de enfrentamento
ao agronegcio e ao sistema capitalista
de explorao dos trabalhadores e da de-
predao da natureza.
Dicionrio da Educao do Campo
66
Nessa concepo, a agroecologia
inclui: o cuidado e defesa da vida, pro-
duo de alimentos, conscincia polti-
ca e organizacional (Via Campesina e
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, 2009). Compreende-se que
ela seja inseparvel da luta pela sobera-
nia alimentar e energtica, pela defesa e
recuperao de territrios, pelas refor-
mas agrria e urbana, e pela coopera-
o e aliana entre os povos do campo
e da cidade.
A agroecologia se insere, dessa manei-
ra, na busca por construir uma sociedade
de produtores livremente associados para
a sustentao de toda a vida (Via Cam-
pesina e Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, 2006), sociedade na
qual o objetivo fnal deixa de ser o lucro,
passando a ser a emancipao humana.
Notas
1
A primeira edio do livro, em lngua espanhola, de 1983. Em 1987, a obra foi publicada
nos Estados Unidos e, em 1989, no Brasil.
2
[...] una disciplina que provee los principios ecolgicos bsicos para estudiar, disear y
manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso natural, y que
tambin sean culturalmente sensibles, socialmente justos y econmicamente viables.
3
[...] una construccin social, producto de la coevolucin de los seres humanos con la
naturaleza.
4
[...] el manejo ecolgico de los recursos naturales a travs de formas de accin social co-
lectiva que presentan alternativas a la actual crisis civilizatoria. Y ello mediante propuestas
participativas, desde los mbitos de la produccin y la circulacin alternativa de sus produc-
tos, pretendiendo establecer formas de produccin y consumo que contribuyan a encarar el
deterioro ecolgico y social generado por el neoliberalismo actual.
Para saber mais
ALTIERI, M. A. Agroecologia: as bases cientfcas da agricultura alternativa. 2. ed.
Rio de Janeiro: PTA/Fase, 1989.
______. Agroecologa: bases cientfcas para una agricultura sustentable. Montevidu:
NordanComunidad, 1999.
CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia: alguns conceitos e princpios.
Braslia: MDASAFDater-IICA, 2004.
CASADO, G. G.; SEVILLA-GUZMN, E.; MOLINA, M. G. Introduccin a la agroecologa
como desarrollo rural sostenible. Madri: Mundi-Prensa, 2000.
CHESNAIS, F.; SERFATI, C. Ecologia e condies fsicas de reproduo social: al-
guns fos condutores marxistas. Crtica Marxista, So Paulo, v. 1, n.16, p. 39-75, 2003.
Disponvel em: http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/16chesnais.pdf.
Acesso em: 25 ago. 2011.
FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentvel. Campinas: Editora da Unicamp;
So Paulo: Imprensa Ofcial, 2001.
67
A
Agroecossistemas
FOSTER, J. B. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2005.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecolgicos em agricultura sustentvel.
2. ed. Porto Alegre: UniversidadeEditora da UFRGS, 2000.
LEFF, E. Agroecologia e saber ambiental. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Susten-
tvel, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 36-51, jan.-mar. 2002.
LINHART, R. Lenin, os camponeses, Taylor. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
LUZZI, N. O debate agroecolgico no Brasil: uma construo a partir de diferentes
atores sociais. 2007. Tese (Doutorado em Cincias Sociais em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade) Instituto de Cincias Humanas e Sociais, Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
SEVILLA-GUZMN, E. La agroecologa como estrategia metodolgica de transformacin social.
Crdoba, Espanha: Instituto de Sociologa y Estudios Campesinos de la Univer-
sidad de Crdoba, [s.d.]. Disponvel em: http://www.agroeco.org/socla/pdfs/
la_agroecologia_como.pdf. Acesso em: 25 ago. 2011.
VIA CAMPESINA. Relatrio do encontro. In: ENCUENTRO CONTINENTAL DE FORMA-
DORES Y FORMADORAS EN AGROECOLOGA, 1. Anais... Barinas, Venezuela: Instituto
Agroecolgico Latinoamericano Paulo Freire (IALA), agosto de 2009.
______; MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Biodiversidade,
organizao popular, agroecologia. In: JORNADA DE AGROECOLOGIA, 5. Anais... Cascavel:
Jornada de Agroecologia, 2006.
A
AGROECOSSISTEMAS
Denis Monteiro
Observando paisagens,
percebendo agroecossistemas
Percorrer o territrio brasileiro,
observando a natureza e os povos, im-
pressiona pela exuberncia e diversida-
de. Nesse caminho, observamos vrios
biomas, vrios ecossistemas; unida-
des de conservao, parques, reservas
biolgicas, espaos de natureza com
pouca ou nenhuma presena de ativi-
dades econmicas humanas; cidades
e povoados, metrpoles ou vilas, em
ambientes bastante transformados pela
ao humana. Em muitos casos, dif-
cil imaginar como eram os lugares an-
tes da construo das cidades. Vemos
tambm muitas reas de natureza de-
gradada, paisagens tristes, latifndios
sem diversidade, pastos erodidos, mo-
nocultivos a perder de vista, terras sem
gente fruto do avano do agronegcio.
Tambm nesses casos, olhar as terras
degradadas torna difcil imaginar os
Dicionrio da Educao do Campo
68
ecossistemas ricos, cheios de vida, que
um dia ali existiram. Podemos observar
tambm reas habitadas por agriculto-
res familiares, assentados da Reforma
Agrria e povos e comunidades tradi-
cionais que convivem h sculos com
os ecossistemas. Ali percebemos vrias
agriculturas, e certamente reconhece-
mos os ecossistemas. Vemos povos que
entram nas matas para coletar frutos e
plantas medicinais nativos, praticando
o agroextrativismo, a pesca, as plan-
taes e criaes, com vrias espcies
hoje cultivadas ou criadas que vieram
de todos os cantos do mundo, de ou-
tros ecossistemas.
Essas paisagens so formadas por
uma grande diversidade de agroecos-
sistemas, pois so fruto da interveno
das prticas de agricultura nos ecossis-
temas. Nas reas do agronegcio, os
agroecossistemas so mais artifciali-
zados e geralmente esto degradados.
Contudo, em muitos territrios onde
existe forte presena da agricultura
camponesa, os agroecossistemas so
mais biodiversifcados, produzem ali-
mentos com fartura e diversidade, em
harmonia com a natureza, respeitando
seus ciclos e recuperando e manten-
do coisas que so essenciais para uma
agricultura verdadeiramente sustent-
vel: guas, solos frteis, biodiversidade,
riqueza cultural e sabedoria dos povos
e comunidades.
Entendendo o conceito
de ecossistema
Para a cincia da agroecologia, que
busca aplicar os princpios da ecologia
agricultura, o conceito de agroecos-
sistema a unidade bsica de anlise
e interveno. A agroecologia fornece
as bases para desenhar e manejar os
agroecossistemas, a fm de que sejam
produtivos e sustentveis, e garantam,
hoje e no futuro, as condies para que
a humanidade tenha alimentos, fbras,
plantas medicinais, aromticas e cos-
mticas, madeira, gua, ar puro, solos e
paisagens protegidos.
O conceito de ecossistema mais
conhecido e amplamente utilizado pe-
los estudiosos da natureza. AbSaber
(2006) afrma que o conceito foi usado
pela primeira vez em 1935, por Arthur
Tansley, que dizia ser o ecossistema o
sistema ecolgico de um lugar. Sim-
ples e brilhante defnio.
Os ecossistemas tm uma estrutura
composta por fatores abiticos: radia-
o solar, temperatura, gua e nutrien-
tes; e por fatores biticos: organismos
vivos que interagem no ambiente. A in-
terao entre os fatores abiticos deter-
mina a biodiversidade dos ecossistemas,
ou seja, as comunidades de organismos
vivos. As interaes dinmicas entre os
componentes estruturais determinam
o funcionamento dos ecossistemas.
importante perceber a diversidade de
espcies que interagem nos ecossiste-
mas, plantas, insetos, microrganismos,
pequenos e grandes animais.
Em relao ao funcionamento dos
ecossistemas, Gliessman (2000) destaca
dois processos fundamentais: o fuxo
de energia e a ciclagem de nutrientes.
O sol a fonte primria de energia. As
plantas convertem energia em biomas-
sa. A energia fui das plantas para os
consumidores e decompositores. Parte
da energia utilizada pelos organismos,
formando biomassa vegetal e animal;
a outra parte dissipada no ambiente
sob a forma de calor, pela respirao
dos organismos e pela decomposio
da biomassa. Os principais reservat-
rios de nutrientes para os ecossistemas
69
A
Agroecossistemas
so a atmosfera e os solos. Os nutrien-
tes so armazenados na biomassa, e
retornam aos solos pela decomposio
da matria orgnica.
Agronegcio e ecossistemas
artificializados
O agronegcio, modelo agrcola
hegemnico hoje no Brasil, tem como
base tcnico-cientfca a chamada Re-
voluo Verde, que se disseminou am-
plamente no pas a partir da segunda
metade do sculo XX, transformando
radicalmente as paisagens.
O avano do agronegcio no Brasil
se fez com a substituio de ecossiste-
mas naturais por monocultivos e com
a expulso de populaes tradicionais
dos territrios, causando grande des-
truio de agroecossistemas diversif-
cados, construdos ao longo de sculos
por essas populaes.
Esse modelo agrcola provoca gran-
de artifcializao dos ecossistemas. A
biodiversidade d lugar aos monocul-
tivos. Os nutrientes so fornecidos s
plantas por meio de fertilizantes sint-
ticos. Os ciclos dos nutrientes so alte-
rados e muitos se perdem, indo poluir
os cursos dgua e os lenis freticos.
Alm disso, muita energia oriunda de
combustveis fsseis empregada,
pois a mecanizao pesada frequen-
te, como tambm o uso da irrigao,
com guas bombeadas muitas vezes
de locais distantes. O ciclo das guas
profundamente alterado pela drstica
reduo da biodiversidade e pela perda
de matria orgnica no sistema, pois
a matria orgnica que mantm os so-
los estruturados e retm a gua.
As plantas espontneas so vistas
como espcies invasoras ou dani-
nhas, e combatidas com o uso inten-
sivo de herbicidas. So utilizadas redu-
zidas espcies de plantas e animais, em
geral pouco adaptadas s condies
ecolgicas locais. A biodiversidade na-
tiva destruda, e a base gentica das
populaes bem estreita, uma vez que
se utilizam variedades de plantas e ra-
as animais desenvolvidas pela pesqui-
sa agropecuria para serem uniformes
e responderem ao pacote tecnolgico
agroqumico. Tudo isso provoca ruptu-
ras no equilbrio ecolgico, e os agro-
ecossistemas adoecem. Populaes de
insetos e microrganismos se tornam
problemas econmicos graves para os
cultivos e criaes, e so atacados com
doses cada vez maiores de agrotxicos.
Esses agroecossistemas tm relaes
com mercados distantes, em muitos ca-
sos as colheitas so exportadas para ou-
tros pases por empresas multinacionais.
As relaes sociais so de explorao e
alienao dos trabalhadores rurais, que
passam a ser vistos como operrios de
uma indstria, e no como agricultores.
O objetivo gerar lucro; no existe a
preocupao de conservar a natureza.
Quando os agroecossistemas atingem
nveis de degradao que os tornam
pouco produtivos ou quando os custos
passam a fcar muito altos, as grandes
propriedades do agronegcio avanam
sobre outros ecossistemas, gerando no-
vos ciclos de explorao e degradao.
possvel identifcar vrias paisagens
degradadas pelo avano desse modelo,
muitas inclusive j desertifcadas.
A agroecologia a favor da
agricultura camponesa
Para responder ao desafo de cons-
truir agroecossistemas produtivos, sus-
Dicionrio da Educao do Campo
70
tentveis e saudveis, capazes de suprir
as necessidades humanas e de recupe-
rar e conservar a natureza para as ge-
raes atuais e futuras, o caminho o
fortalecimento da agricultura campo-
nesa, o que s possvel com o apoio
da cincia da agroecologia.
claro que muitos agroecossiste-
mas manejados pela agricultura cam-
ponesa esto subordinados lgica do
agronegcio, e apresentam muitos dos
problemas descritos acima.
1
A simpli-
ficao dos agroecossistemas gerada
pela expanso do enfoque tcnico-
cientfico da Revoluo Verde entre
os camponeses uma das principais
causas da crise vivenciada pela agri-
cultura camponesa no Brasil. Tambm
nesses casos, a agroecologia faz parte
da busca por rotas de sada da lgica
do agronegcio.
No entanto, espalhados pelo pas,
existem agroecossistemas tradicionais
construdos pela agricultura camponesa
que guardam muitas semelhanas com
os ecossistemas naturais dos lugares e
que tm enorme potencial para avanar
rapidamente nos processos de transio
agroecolgica. Alis, nos ltimos anos,
fruto de intenso processo de mobiliza-
o social e experimentao participa-
tiva, muitos e muitos agroecossistemas
tm sido desenhados e manejados se-
gundo os princpios da agroecologia, j
dando respostas ao desafo de produzir
com fartura e conservar a natureza.
Interessa, portanto, aplicar o con-
ceito de agroecossistema realidade
da agricultura camponesa no Brasil.
isso o que veremos a seguir. Na def-
nio de Gliessman, um agroecossis-
tema um local de produo agrcola
compreendido como um ecossistema
(2000, p. 61). Compreender o local
de produo como um sistema uma
proposta de anlise e interveno
muito diferente do enfoque tcnico-
cientfico convencional, que v o solo
como suporte fsico para as plantas
e enxerga os cultivos, mas no as in-
teraes ecolgicas, muito menos as
relaes sociais e econmicas que se
processam nos agroecossistemas.
O estabelecimento dos limites fsi-
cos desse local de produo agrcola
arbitrrio. Organizaes que atuam h
mais de vinte anos desenvolvendo diag-
nsticos participativos de agroecos-
sistemas costumam trabalhar com os
limites das comunidades rurais, sendo
elas entendidas como um conjunto
de agroecossistemas. Os limites dos
agroecossistemas podem ser um esta-
belecimento agrcola, um lote de assen-
tamento ou uma propriedade de uma
famlia agricultora. O estabelecimento
dos limites pressupe o entendimento da
relao dos agroecossistemas com o
ambiente externo, ou seja, os merca-
dos e as instituies.
Na anlise dos agroecossistemas,
preciso dar centralidade ao trabalho da
famlia, pois ela que desenha e mane-
ja os agroecossistemas, em cooperao
com outras famlias ou at mesmo re-
correndo a trabalhos externos. Muitas
vezes os agroecossistemas das famlias
extrapolam os limites fsicos de uma
propriedade familiar ou de um lote de
assentamento, pois h outras reas s
quais as famlias tm acesso locais
de uso comunitrio, rios, lagos, audes,
reas de mata nativa onde praticado
o agroextrativismo, pastos de uso co-
mum, entre outras.
importante perceber que o agroe-
cossistema tem uma ecologia que pode
ser analisada luz dos ecossistemas na-
turais do lugar; mas tambm engloba um
conjunto de relaes sociais e econmi-
71
A
Agroecossistemas
cas. Diferentemente dos ecossistemas
no manejados, os agroecossistemas tm
a funo de gerar produtos para os se-
res humanos. E, para as famlias agri-
cultoras, do agroecossistema que
obtida renda monetria.
Almeida (2001) elenca certos atri-
butos dos agroecossistemas que devem
ser objeto de ateno quando se quer
promover nveis crescentes de susten-
tabilidade da agricultura camponesa
por meio da aplicao dos princpios
da agroecologia, atributos que a agri-
cultura camponesa, em sua estratgia
de reproduo econmica, sempre
perseguiu:
produtividade: a capacidade do
agroecossistema de prover o nvel
adequado de bens, servios e retor-
no econmico aos agricultores num
perodo determinado de tempo;
estabilidade: capacidade do sistema
de manter um estado de equilbrio
dinmico estvel, ou seja, de manter
ou aumentar, em condies normais,
a produtividade do sistema ao longo
do tempo;
fexibilidade (ou adaptabilidade):
capacidade do sistema de manter
ou encontrar novos nveis de equil-
brio continuar sendo produtivo
diante de mudanas de longo prazo
nas condies econmicas, biofsi-
cas, sociais, tcnicas etc.;
resilincia (ou capacidade de recu-
perao): capacidade do sistema
produtivo de absorver os efeitos de
perturbaes graves (secas, inunda-
es, quebras de colheita, elevao
de custos etc.), retornando ao es-
tado de equilbrio ou mantendo o
potencial produtivo;
equidade: capacidade do agroecos-
sistema de gerir de forma justa sua
fora produtiva (material e imate-
rial), distribuindo equilibradamente
os custos e benefcios da produtivi-
dade em todos os campos das rela-
es sociais em que se insere; inclui
diviso social e tcnica do trabalho
familiar, relaes de gnero e de ge-
rao, relaes com os processos so-
ciopolticos e servios ambientais;
autonomi a: capaci dade do si s-
tema de regular e controlar suas
relaes com o exterior (bancos,
empresas de insumos, atacadistas,
agroindstria, atravessadores etc.);
inclui os processos de organizao
social e de tomada de decises, e
a capacidade para defnir interna-
mente as estratgias de reproduo
econmica e tcnica, os objetivos, as
prioridades, a identidade e os valo-
res do sistema.
Agroecossistemas camponeses, de-
senhados segundo os pri nc pi os
da agroecologia, buscam relaes de
maior autonomia com o ambiente
econmico externo, seja garantindo
diversidade de produo para auto-
consumo e, portanto, gerando ren-
da no monetria , seja evitando ou
minimizando o consumo de insumos
e equipamentos industriais tratores,
equipamentos de irrigao, fertilizan-
tes, sementes comerciais e agrot-
xicos ,seja buscando diversificar os
mercados para os produtos agrcolas
gerados nos agroecossistemas, priori-
zando os mercados locais e evitando,
sempre que possvel, relaes de su-
bordinao aos mercados capitalistas.
O enfoque agroecolgico tambm
prope a construo de relaes so-
ciais nos agroecossistemas pautadas em
Dicionrio da Educao do Campo
72
noes como cooperao, solidarieda-
de e promoo da participao livre das
mulheres e dos jovens, alm de promo-
ver o resgate e aprimoramento do pa-
trimnio cultural dos agricultores.
A essncia da estratgia agroeco-
lgica est justamente na valorizao
das funes ecolgicas que a biodiver-
sidade (planejada e associada) cumpre
na regenerao da fertilidade e na ma-
nuteno da sanidade dos agroecos-
sistemas para que eles se mantenham
indefnidamente produtivos (Petersen,
Weid e Fernandes, 2009).
Para desenhar agroecossistemas
produtivos, saudveis e sustentveis, os
ecossistemas naturais de cada local so
a principal referncia. A biodiversidade
deve ser estimulada nos agroecossiste-
mas, de tal forma que espcies nativas es-
tejam presentes e cumpram no apenas
funes ecolgicas conservao das
guas, produo de biomassa, quebra-
ventos, estabelecimento de microclimas,
refgi o para a bi odi versi dade ,
mas tambm funes econmicas,
criando produtos para o autoconsumo
das famlias e para a gerao de renda
monetria alimentos, madeira, lenha,
gua para beber, plantas medicinais,
artesanato. Plantas e animais domes-
ticados cultivados ou criados no local
tambm devem ser espcies adaptadas
s condies ecolgicas locais. A biodi-
versidade tambm promovida ao se-
rem priorizadas variedades de plantas e
raas animais com base gentica ampla
e adaptadas localmente, e pela utiliza-
o dos policutivos, diversifcao de
forrageiras e sistemas agroforestais.
O uso de fertilizantes sintticos
deve ser evitado ao mximo. Para tal,
necessrio adotar prticas de recu-
perao e incremento da fertilidade
dos agroecossistemas que atuem posi-
tivamente na ciclagem dos nutrientes,
como no realizar queimadas e no dei-
xar os solos descobertos, evitando-se o
revolvimento excessivo; inserir plantas
adubadeiras capazes de fxar nitrognio
atmosfrico, e aumentar a disponibili-
dade de outros nutrientes; aproveitar
o esterco dos animais para cultivos e
pastagens; aproveitar a biomassa pro-
duzida localmente para alimentao
dos animais; utilizar podas e restos de
cultura para estimular a vida dos solos;
e inserir rvores nos sistemas.
A segurana hdrica deve ser bus-
cada de forma a aumentar a fertilida-
de e a sanidade dos agroecossistemas.
Devem ser adotadas prticas de con-
servao das guas, como a proteo
de nascentes e cursos dgua e a esto-
cagem de gua para os perodos mais
secos do ano. A biodiversidade atua
positivamente na regulao dos ciclos
das guas internamente aos agroe-
cossistemas, pois evita que as chuvas
atinjam diretamente os solos, permite
armazenar gua na biomassa viva e na
matria orgnica em decomposio e,
por causa das diferentes profundidades
das razes, minimiza o desvio da gua
para os lenis subterrneos.
A aplicao dos princpios da agro-
ecologia ao desenho e manejo de agro-
ecossistemas possibilita que se alcance
maior sanidade dos cultivos e animais
e maior equilbrio entre populaes de
organismos espontneos. Com isso, a
necessidade de controle artifcial de in-
setos, fungos e outros organismos es-
pontneos que podem causar prejuzos
econmicos bastante reduzida. O uso
de agrotxicos deve ser eliminado com-
pletamente. O controle de organismos
espontneos feito atravs de agentes
biolgicos, produtos naturais feitos
base de plantas, armadilhas luminosas,
73
A
Agroecossistemas
cataes manuais, podas e outros m-
todos que no agridam a natureza.
Para concluir: um
ambiente cultural frtil
O desafio de construir agroecos-
sistemas frteis, saudveis e produ-
tivos s poder ser enfrentado se o
ambiente cultural da agricultura cam-
ponesa tambm for frtil, se conhe-
cimentos valiosos sobre os ecossiste-
mas e as agriculturas, herana preciosa
dos povos para a humanidade, forem
resgatados e ressignificados, por meio
de interaes entre esses saberes po-
pulares e outros, construdos pela pes-
quisa em agroecologia desenvolvida
em instituies de ensino e pesquisa,
fortalecendo, assim, em contraponto
ao modelo devastador do agroneg-
cio, a agricultura camponesa, capaz de
garantir o futuro para a humanidade e
para o planeta Terra.
Nota
1
A rigor, a subordinao lgica do agronegcio reduz os nveis de campenizao da
agricultura (Ploeg, 2009). O autor faz uma diferenciao entre agricultura camponesa, em-
presarial e capitalista. Essa linha de argumentao tambm permite pensar em aumentar os
nveis de campenizao da agricultura familiar (ou das pequenas unidades de produo),
fortalecendo, dessa forma, a agricultura camponesa em relao ao agronegcio.
Para saber mais
ABSABER, A. N. Ecossistemas do Brasil. So Paulo: Metalivros, 2006.
ALMEIDA, S. G. Monitoramento de impactos econmicos de prticas agroecolgicas (Termo
de Referncia). Rio de Janeiro: AS-PTA, 2001. (Mimeo.)
GLIESSMAN, S. Agroecologia: processos ecolgicos em agricultura sustentvel. Porto
Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2000.
PETERSEN, P.; WEID, J.-M. von der; FERNANDES, G. B. Agroecologia: reconciliando
agricultura e natureza. Informe Agropecurio, Epamig, Belo Horizonte, v. 30, n. 252,
p. 7-15, set.-out. 2009.
PLOEG, J. D. Sete teses sobre a agricultura camponesa. In: PETERSEN,
P. (org.). Agricultura familiar camponesa na construo do futuro. Rio de Janeiro:
AS-PTA, 2009. p. 17-31.
Dicionrio da Educao do Campo
74
A
AGROINDSTRIA
Pedro Ivan Christoffoli
Durante o modo de produo feu-
dal (conhecido como Idade Mdia), os
feudos, como unidades fundamentais
de produo do perodo, possuam re-
lativa autonomia quanto produo
dos principais itens de seu consumo.
Alimentos, madeira, fbras e energia
eram produzidos pelos camponeses e
artesos, moradores do prprio feudo,
e apenas pequena parcela do consumo
era oriunda de relaes de troca e co-
mrcio entre feudos ou com as carava-
nas de comerciantes. A unidade campo-
nesa de produo ligada ao feudo, por
sua vez, tambm buscava sua autono-
mia em relao ao mercado, que ento
era pouco desenvolvido, absorvendo
a fora de trabalho familiar nas ativi-
dades agrcolas e mantendo atividades
artesanais nos perodos de inverno e
intervalos dos labores agrcolas, visan-
do suprir as necessidades de alimentos,
ferramentas, vestimentas, moradia etc.
A agroindstria como atividade
autnoma em relao agricultura so-
mente se desenvolve plenamente com
a expanso do capitalismo a partir dos
sculos XVIII e XIX. com o desen-
volvimento da indstria capitalista que,
gradativamente, partes do processo
produtivo agrcola foram se autono-
mizando em relao aos agricultores e
passaram a ser transferidas para vilas
e cidades. As unidades familiares de
produo, que at ento exerciam to-
das as operaes inerentes produo,
ao processamento, ao armazenamen-
to e distribuio dos bens agrcolas
e de alguns produtos manufaturados,
passam a depender crescentemente de
relaes com o mercado para suprir as
suas necessidades (Marx, 1988; Davis e
Goldberg, 1957).
Tal fato tem importncia histrica,
porque contribuiu para a inviabilizao
crescente das unidades camponesas de
produo, visto que grande parte da
fora de trabalho era ento empregada,
nos tempos livres, na confeco de fer-
ramentas, na armazenagem e no proces-
samento dos produtos e na comerciali-
zao em feiras livres ou vendas diretas.
Como os produtos feitos pela indstria
eram mais baratos e de qualidade e pa-
dronizao superiores (ferramentas de
trabalho e roupas, por exemplo), os
agricultores deixaram de produzi-los
em suas casas ou nas vilas rurais, o que
resultou na formao de excedentes
insustentveis de fora de trabalho nas
unidades camponesas. Essa foi a origem
inicial do xodo rural e da desestrutura-
o camponesa ainda na fase inicial do
capitalismo industrial.
A atividade agroindustrial pode
ser analisada de vrios ngulos, entre
eles os aspectos de organizao tcni-
ca (aspectos internos de organizao e
funcionamento produtivos) e os aspec-
tos socioeconmicos e as relaes de
poder estabelecidas com seu entorno
e com o conjunto da cadeia produtiva.
Analisaremos principalmente o segun-
do bloco de questes.
Do ponto de vista tcnico, na agro-
indstria so organizados processos
visando transformao e conser-
vao dos produtos agrcolas para sua
75
A
Agroindstria
posterior utilizao e consumo. Para
isso, so utilizados insumos e pro-
cessos que visam alterar as condies
fsico-qumicas dos produtos agrcolas,
a fm de aumentar suas possibilidades
de uso e conservao. Com a evoluo
das tecnologias de produto e processo
e a constituio de mercados urbanos
em escala internacional, cada vez mais
os produtos agrcolas so processados
industrialmente, alterando-se signif-
cativamente sua composio e formas
de apresentao. Os mercados so for-
mados crescentemente por produtos
industrializados, processados e modif-
cados artifcialmente, reduzindo-se os
espaos para produtos in natura, mais
caractersticos das produes campo-
nesas (ainda que periodicamente sur-
jam movimentos sociais e de consumi-
dores reagindo a essas tendncias).
A cadeia agroalimentar se refere,
portanto, a um conjunto de produto-
res e empresas que esto envolvidos na
produo agrcola e na sua transforma-
o. Sua estrutura caracterizada por
um subsetor a montante (que fornece
os bens de produo), pelo subsetor
agrcola e por um subsetor que trans-
forma e distribui os produtos agrcolas
e alimentares (Malassis, 1973). Enquan-
to atividade econmica, a agroindstria
tem importncia crescente em termos
de reteno do valor gerado na cadeia
produtiva. Os segmentos de forneci-
mento de mquinas e insumos para a
agricultura, e, principalmente, o seg-
mento interno porteira, esto gra-
dativamente perdendo peso comparati-
vamente com o segmento posterior, de
industrializao e comercializao dos
produtos agrcolas.
A esse fenmeno alguns autores
denominam processo de industrializao da
agricultura, processo que, no caso bra-
sileiro, foi coordenado politicamente
pelo Estado e ocorreu aps o fnal da
Segunda Guerra Mundial, quando a
apropriao do valor gerado pelo tra-
balho na agricultura e na agroindstria
passou a ser condio necessria para
a acumulao capitalista de parcela da
indstria de bens de capital (Mller,
1981). Com isso, constituiu-se uma
interdependncia intersetorial na agri-
cultura que acabou por se refetir na es-
trutura e na dinmica do setor agrcola
(transformaes tcnico-econmicas),
e tambm na sua estrutura social. A
utilizao do termo industrializao
da agricultura signifca que houve uma
artifcializao crescente do modelo
produtivo na agricultura. Houve certa
autonomizao relativa da produo
agrcola em relao s limitaes natu-
rais (reproduo da fertilidade da terra,
diminuio do tempo de produo gra-
as ao emprego de conhecimentos de
engenharia gentica, por exemplo) e
destreza do trabalho humano (empre-
go de mquinas, implementos, herbici-
das, por exemplo) (ibid.).
A expanso dos servios fnancei-
ros para a agricultura, iniciada com a
implantao do Sistema Nacional de
Crdito Rural (SNCR) nos anos 1960,
provocou alteraes profundas nas re-
laes de produo da agricultura. A
crescente dependncia de fnanciamen-
to externo, com a consequente apro-
priao, j a partir dos anos 1960, do
valor gerado na agricultura pelo setor
fnanceiro, conduziu gradativa fnan-
ceirizao dos servios e dos critrios
de rentabilidade adotados pelo setor
(Delgado, 1985).
O complexo agroindustrial (CAI)
conceituado como o conjunto de
processos tcnico-econmicos e so-
ciopolticos, que envolvem a produo
Dicionrio da Educao do Campo
76
agrcola, o benefciamento e sua trans-
formao, a produo de bens indus-
triais para a agricultura e os servios
fnanceiros correspondentes (Mller,
1982, p. 48). No Brasil, os CAIs so-
mente so implantados aps a indus-
trializao da agricultura e sua crescen-
te subordinao ao capital industrial.
Em sua maioria, as empresas multina-
cionais voltadas para o fornecimento
de mquinas e insumos foram atradas
pelo Estado brasileiro com o intuito de
reduzir importaes e criar um parque
industrial nacional voltado para a agri-
cultura. A fm de viabilizar economica-
mente essas empresas, o Estado brasilei-
ro tambm buscou constituir mercados
para esses produtos, incentivando o seu
consumo pelos agricultores, mediante a
imposio, pelos sistemas estatais de ex-
tenso rural, dos pacotes tecnolgicos da
chamada Revoluo Verde, adquiridos
por meio do crdito rural subsidiado
(Erthal, 2006; Fonseca, 1985). Com a va-
lorizao das terras ocorrida no perodo
1960-1980 e a reduo de empregos de-
corrente da mecanizao da agricultura,
mais de 30 milhes de camponeses foram
expulsos para as cidades, criando-se as ba-
ses da atual situao de esvaziamento do
campo e de territorializao do capital
(Kageyama et al., 1987). Nesse perodo,
tambm surgem os desertos verdes: gran-
des extenses de terras cultivadas, mas
com poucos camponeses nelas residindo
ou trabalhando.
Do campesinato que resistiu no
campo nesse perodo, importante par-
cela passa a se subordinar diretamen-
te agroindstria fornecedora de
matrias-primas e consumidora de in-
sumos e mquinas, e grande parte for-
ma o contingente de sem-terras e de
agricultores semiproletarizados, um
segmento empobrecido e marginali-
zado pelas polticas pblicas, alm de
discriminado pela sociedade.
Nos anos 1990-2000, emerge uma
nova agricultura, resultante das modi-
fcaes estruturais trazidas pela crise
econmica e de fnanciamento para a
agricultura, refexo da crise da dvida
externa nos anos 1980 e da abertu-
ra neoliberal dos mercados nos anos
1990. O termo empregado para desig-
nar o processo produtivo agroindus-
trial nessa fase do capitalismo brasilei-
ro foi o de agronegcio, tropicalizao
do termo agribusiness empregado nos
Estados Unidos desde os anos 1950, e
que engloba a soma de todas as ope-
raes envolvidas no processamento e
distribuio de insumos agropecurios,
as operaes de produo na fazenda,
e o armazenamento, processamento e
a distribuio dos produtos agrcolas
derivados
1
(Davis e Goldberg, 1957,
p. 2; nossa traduo).
O termo agronegcio designa,
numa verso crtica, a articulao tc-
nica, poltica e econmica dos elos
representados pelos segmentos pro-
dutivos de insumos para a agricultura,
do mercado de trabalho e de produo
agrcola, bem como as etapas de ar-
mazenagem, processamento e distri-
buio dos produtos agrcolas, agora
articulados pelo capital fnanceiro em
escala internacional, numa dinmica
de abertura de mercados e globaliza-
o neoliberal da economia. Portanto,
um conceito que rene mais do que
apenas os aspectos tcnicos e de orga-
nizao da cadeia produtiva. Represen-
ta as relaes econmicas e polticas de
coordenao do processo produtivo e
tambm de disputa pela hegemonia em
relao s polticas pblicas relaciona-
das ao setor. O conceito explicita que
a fase atual de expanso capitalista da
77
A
Agroindstria
agricultura subordina diretamente a
explorao da natureza e da fora de
trabalho no campo dinmica deter-
minada pela expanso do capital fnan-
ceiro em nvel internacional. Signifca
tambm a recomposio das polticas
pblicas em vista dos interesses maio-
res do capital fnanceiro internacional
e das suas ramifcaes na agricultura
(para aprofundamento desse conceito,
ver AGRONEGCIO).
As grandes agroindstrias brasi-
leiras foram constitudas a partir do
estmulo governamental ocorrido nos
anos 1950, e impulsionada pela acu-
mulao industrial e pelo processo de
fuso de capitais nos vrios ciclos de
expanso/crise capitalista no campo
nas dcadas de 1970 a 2000. Dessa di-
nmica resultam, cada vez mais, gigan-
tescos conglomerados produtivos que
asseguram a apropriao do valor ge-
rado na agricultura por meio de vrios
mecanismos, entre eles os contratos
de integrao.
O sistema de integrao consiste no
estabelecimento de contratos de forne-
cimento entre indstria e agricultores
no quais a empresa adianta capital (na
forma de insumos e tecnologia) e assis-
tncia tcnica, e os agricultores, em ge-
ral pequenos, produzem em suas uni-
dades matria-prima que ser coletada,
transportada e processada pelas unida-
des industriais. Os principais tipos de
integrao encontram-se na produo
de fumo, na avicultura de corte, na sui-
nocultura, na criao do bicho-da-seda
e na produo de leite e, de forma cres-
cente, de hortalias (integrada a redes
de supermercados). A integrao en-
volve cerca de meio milho de famlias
de pequenos agricultores nas mais di-
versas regies do Brasil, em especial no
Centro-Sul. O contrato de integrao
assegura empresa industrial o forne-
cimento de matria-prima padroniza-
da, a custos controlados, sem incorrer
nos riscos diretos de produo e nas
amarras e peso da legislao trabalhis-
ta. E o produtor tem acesso assegurado
a capital, tecnologia e, principalmente,
mercados, alm de uma renda relati-
vamente estvel, dependendo do pro-
duto integrado. O sistema de integra-
o permitiu constituir fortes grupos
agroindustriais no Brasil nas ltimas
dcadas, ainda que em grande medida
sejam hoje, em sua maioria, controla-
dos pelo capital fnanceiro (fundos de
penso, bancos e empresas cotadas em
bolsa de valores).
Como reao ao crescente poder
das agroindstrias, agricultores e movi-
mentos sociais do campo tm buscado
estabelecer estratgias de resistncia,
visando agregao de valor produ-
o camponesa, por meio da criao
de agroindstrias cooperativas e asso-
ciativas, sob controle dos trabalhado-
res. Essas agroindstrias associativas
procuram estabelecer estratgias dife-
renciadas em relao s agroindstrias
capitalistas, seja no campo tecnolgico,
estimulando a agroecologia e a produ-
o em pequena escala, seja na forma
de organizao social da base e na luta
por um novo modelo de desenvolvi-
mento do meio rural, com polticas p-
blicas diferenciadas.
No entanto, muitas dessas inds-
trias originadas dos movimentos so-
ciais, em sua maioria de pequeno porte,
terminam por sucumbir concorrncia
com as demais agroindstrias capitalis-
tas, entrando em crise aps curto pero-
do de existncia, ou convertendo-se
gradualmente em cpias quase fis
das agroindstrias capitalistas, mui-
tas vezes abandonando as propostas
Dicionrio da Educao do Campo
78
alternativas do incio da experincia.
Isso se d pelas presses concorren-
ciais, que as obrigam, na luta pela so-
brevivncia no mercado, a adaptaes
graduais na concepo do projeto e
na forma organizacional adotada. Tal
fato remete tambm a uma questo
fundamental a ser discutida: a tendncia,
dentro do capitalismo, concentrao e
centralizao de capitais, tambm pre-
sente no segmento agroindustrial (Marx,
1988). Isso implica que, a despeito das
iniciativas dos agricultores e de suas pe-
quenas agroindstrias, poucas empresas
sociais tero condies de sobreviver
e gerar ganhos econmicos e sociais
para a massa do campesinato dentro
do capitalismo.
Isso ainda mais certo no caso das
microagroindstrias. Existe no meio
rural uma situao em que as famlias
camponesas organizam o trabalho de
forma a executar a transformao das
matrias-primas ainda dentro da unida-
de de produo, numa espcie de res-
gate da antiga tradio camponesa da
indstria rural. Esse tipo moderno de
agroindstria familiar rural uma forma
de organizao em que a famlia rural
produz, processa e/ou transforma par-
te de sua produo agrcola e/ou pe-
curia, visando, sobretudo, assegurar
a realizao da produo de valor de
troca, que se realiza na comercializao
(Mior, 2005). Ainda que sua inteno
seja louvvel, tal alternativa represen-
ta parcela muito pequena da produo
nacional agroindustrial que tende, pe-
los motivos anteriormente menciona-
dos, a ser absorvida pela concorrncia
ou continuar marginal e localizada, sem
expresso econmica relevante
2
(na
maioria dos casos, essas microagroin-
dstrias esto margem da legalidade
e no conseguem cumprir os padres
sanitrios mnimos).
Apesar dessas difculdades, o de-
bate sobre a propriedade dos meios de
produo uma questo central e que
sempre deve ser posta pelo movimento
campons. Afnal, as estratgias tecno-
lgicas e mercantis adotadas pelas
agroindstrias determinam a possibili-
dade de repartio dos excedentes eco-
nmicos e, em grande medida, que tipo
de matria-prima ser utilizada, qual o
perfl dos agricultores fornecedores,
alm de aspectos tecnolgicos funda-
mentais para estratgias alternativas de
desenvolvimento rural.
Ademais da questo de quem de-
tm a propriedade sobre os meios
de produo, a localizao fsica das
agroindstrias tem tido importncia
crescente no debate sobre as estrat-
gias para o desenvolvimento do meio
rural. A agroindstria, uma vez locali-
zada fsicamente no meio rural e con-
trolada pelos prprios agricultores,
constitui atividade que permite incre-
mentar e reter parcelas do valor gerado
na produo das economias campone-
sas, por meio da localizao no meio
rural de aes como seleo, lavagem,
classifcao, conservao, transforma-
o, embalagem, e armazenamento da
produo (Boucher e Riveros, 1995,
apud Wesz Junior., Trentin e Filippi,
2006). A gerao de postos de traba-
lho no meio rural , portanto, questo
estratgica para um desenvolvimento
rural com gente (em contraposio
aos desertos verdes) e com qualidade
de vida.
No entanto, comum que as agro-
indstrias se localizem nas sedes dos
municpios e no na zona rural. Isso
decorre das facilidades existentes,
como meios de transporte, mercado de
trabalho de profssionais especializados
(trabalhadores qualifcados necessrios
manuteno e gesto das agroinds-
79
A
Agroindstria
trias) e facilidade de acesso a servios
e comunicao. A despeito disso, uma
das bandeiras dos movimentos sociais
rurais no Brasil tem sido a de, sempre
que possvel, localizar fsicamente as
indstrias dentro ou prximo dos as-
sentamentos e comunidades rurais, de
modo que a riqueza gerada, inclusive os
postos de trabalho criados, circule e se
consolide nos assentamentos, benef-
ciando diretamente a populao rural.
Mesmo diante dos limites e con-
tradies trazidos pela implantao de
agroindstrias rurais, autores e movi-
mentos sociais em geral concordam
que elas tm grande importncia nas
estratgias de desenvolvimento rural
da perspectiva da incluso social, con-
tribuindo para: a) elevao da renda fa-
miliar no meio rural; b) diversifcao e
fomento das economias locais; c) ade-
quao da produo estrutura fundi-
ria existente (pequenas propriedades
rurais diversifcadas como fornecedo-
ras da matria-prima, visto que a estra-
tgia de agregao de valor nas peque-
nas agroindstrias obtida por meio
da diferenciao, e no do volume);
d) valorizao e preservao dos hbi-
tos culturais locais; e) descentralizao
das fontes de renda (por causa do au-
mento no nmero e da maior diversi-
dade de agroindstrias no territrio);
f) estmulo proximidade social (orga-
nizao comunitria, venda em feiras
livres ou reduo de intermedirios);
g) ocupao e gerao de renda no meio
rural; h) reduo do xodo rural; i) est-
mulo ao cooperativismo e associativis-
mo; j) valorizao das especifcidades
locais; k) preservao do meio ambien-
te e dos recursos naturais; e l) mudana
nas relaes de gnero e poder (Wesz
Junior, Trentin e Filippi, 2006).
No entanto, para que essas agroin-
dstrias resultem de fato em iniciativas
durveis no tempo e sejam capazes de
infuenciar o desenvolvimento local em
bases equitativas, fundamental a sua
insero em estratgias de intercoope-
rao, por meio da formao de redes
e agrupamentos cooperativos articula-
dos aos movimentos sociais que pos-
sibilitem o enfrentamento, ao menos
parcial, da concorrncia capitalista e
das tendncias de centralizao de ca-
pitais (Christoffoli, 2010).
Ou seja, a forma de buscar construir
estratgias de resistncia aos grandes con-
glomerados capitalistas agroindustriais
estaria na constituio de redes de coope-
rativas populares, geridas autonomamen-
te em regime de autogesto e articuladas
a grupos cooperativos empresariais, com
padro de efcincia comparvel aos gru-
pos capitalistas, de forma que a fora
combinada de uma organizao poltica
de base esteja acompanhada de padres de
efcincia tcnica comparveis aos capi-
talistas e com dimenses e estruturas de
coordenao socioeconmica compat-
veis com o estgio tecnolgico e fnan-
ceiro atual. Para isso, fundamental um
movimento educativo de ampla enver-
gadura na base camponesa, tendo em
vista a sua escolarizao e a sua efetiva
incorporao dinmica autogestion-
ria, e o desenvolvimento de tecnologias
e processos inovadores, pelo desenho e
a implantao de estratgias de desen-
volvimento inclusivas e capazes de dar
conta dos desafos da sociedade para a
agricultura, numa perspectiva ecologi-
camente sustentvel.
Portanto, a permanncia de agroin-
dstrias familiares em mercados ca-
pitalistas cada vez mais competitivos
depender de uma srie de fatores, em
especial de sua capacidade de interao
com macrocomponentes de polticas
pblicas mercados, gesto, tecnologia
e infraestrutura , de suas organizao
Dicionrio da Educao do Campo
80
e coeso internas e da possibilidade
de criao ou de envolvimento em re-
des de intercooperao com outras
unidades semelhantes, para o desenvol-
vimento de produtos diferenciados e a
atuao em nichos de mercado ou, em
casos excepcionais, com seu crescimen-
to e aumento de escala a ponto de per-
mitir o enfrentamento das tendncias
capitalistas de centralizao de capitais
(conforme Marx, 1988), tornando-se
uma grande agroindstria cooperativa,
nesse caso.
Finalizando, vemos que a agroinds-
tria rural tem importante contribuio
a dar para o desenvolvimento do espa-
o rural, onde fatores organizacionais
possibilitem a constituio de unidades
integradas de produotransforma-
ocomercializao em rede e com ca-
pacidade competitiva de sobrevivncia
aos ditames do mercado capitalista.
Notas
1
[...] the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm
supplies; production operations on the farm; and the storage, processing and distribution
of farm commodities and items made from them.
2
Enquanto 97,2% das agroindustriais de pequeno e mdio porte geram 43,9% do valor
adicionado, os outros 2,8%, correspondentes aos grandes sistemas e complexos agroindus-
triais, geram 66,1% desse valor (Lourenzani e Silva, 2004, apud Nycha e Soares, 2007).
Para saber mais
ALENTEJANO, P. Pluriatividade, uma noo vlida para a anlise da realidade agr-
ria brasileira? In: TEDESCO, J. C. (org.). Agricultura familiar: realidades e perspecti-
vas. 2. ed. Passo Fundo: EDUPF, 1999. p. 147-173.
BATALHA, M. O. Gesto agroindustrial. So Paulo: Atlas, 1997. V. 1.
CHRISTOFFOLI, P. I. Constituio e gesto de iniciativas agroindustriais cooperativas em reas
de assentamentos da Reforma Agrria. Laranjeiras do Sul: Ceagro, 2010.
DAVIS, J.; GOLDBERG, R. A Concept of Agribusiness. Boston: Harvard University,
1957.
DELGADO, G. C. Capital fnanceiro e agricultura no Brasil. So Paulo: cone; Campinas:
Editora da Unicamp, 1985
ERTHAL, R. Os complexos agroindustriais no Brasil: seu papel na economia e na
organizao do espao. Revista Geo-Paisagem, v. 5, n. 9, 2006.
FONSECA, M. T. L. A extenso rural no Brasil: um projeto educativo para o capital.
So Paulo: Loyola, 1985.
KAGEYAMA, A. et al. O novo padro agrcola brasileiro: a quem benefcia? Revista
de Cultura Poltica, n. 23, mar. 1991.
______. A. et al. O novo padro agrcola brasileiro: do complexo rural aos complexos
agroindustriais. Campinas, 1987. (Mimeo.).
81
A
Agronegcio
MALASSIS, L. conomie agroalimentaire: conomie de la consommation et de la pro-
duction agroalimentaire. Paris: Cujas, 1973. V. 1.
MARX, K. O capital. So Paulo: Nova Cultural, 1988. V. 1.
MIOR, L. C. Agricultura familiar, agroindstrias e redes de desenvolvimento rural. Chapec:
Argos, 2005.
MLLER, G. O complexo agroindustrial. Rio de Janeiro: FGV, 1981.
______. G. Agricultura e industrializao do campo no Brasil. Revista de Economia
Poltica, v. 2, n. 2, p. 47-77, abr.-jun. 1982.
NYCHA, L.; SOARES, A. C. A relao do processo agroindustrializante e a pequena
propriedade rural: prospeces para o desenvolvimento local/regional. In: ENCONTRO DE
ECONOMIA PARANAENSE (ECOPAR), 5. Anais... Curitiba, 2007.
SCHNEIDER, J. O. Agro-industria y desarrollo econmico. 1987. Dissertao (Mestra-
do em Economia) Facultad de Ciencias Econmicas, Universidad de Chile,
Santiago do Chile, 1987.
SCHNEIDER, S. Pluriati vidade na agricultura familiar. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2003.
WESZ JUNIOR., V.; TRENTIN, I. C. L.; FILIPPI, E. A importncia da agroindustrializa-
o nas estratgias de reproduo das famlias rurais. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE DE
ECONOMIA, ADMINISTRAO E SOCIOLOGIA RURAL (SOBER), 44. Anais... Fortaleza:
Sober, julho de 2006.
A
AGRONEGCIO
Sergio Pereira Leite
Leonilde Servolo de Medeiros
O termo agronegcio, de uso relati-
vamente recente em nosso pas, guar-
da correspondncia com a noo de
agribusiness, cunhada pelos professores
norte-americanos John Davis e Ray
Goldberg nos anos 1950, no mbito
da rea de administrao e marketing
(Davis e Goldberg, 1957). O termo foi
criado para expressar as relaes eco-
nmicas (mercantis, fnanceiras e tec-
nolgicas) entre o setor agropecurio
e aqueles situados na esfera industrial
(tanto de produtos destinados agri-
cultura quanto de processamento da-
queles com origem no setor), comer-
cial e de servios. Para os introdutores
do termo, tratava-se de criar uma pro-
posta de anlise sistmica que supe-
rasse os limites da abordagem setorial
ento predominante.
No Brasil, o vocbulo agribusiness
foi traduzido inicialmente pelas expres-
ses agroindstria e complexo agroindustrial,
que buscavam ressaltar a novidade do
Dicionrio da Educao do Campo
82
processo de modernizao e industriali-
zao da agricultura, que se intensifcou
nos anos 1970. Outros termos tambm
foram utilizados para destacar o carter
sistmico e no exclusivamente setorial
da produo agrcola: sistema agroalimen-
tar, cadeia agroindustrial, flire etc. (Leite,
1990). Desde os anos 1990, o termo
agribusiness comeou a ganhar espao,
mas, j no incio dos anos 2000, a pala-
vra agronegcio foi se generalizando, tan-
to na linguagem acadmica quanto na
jornalstica, poltica e no senso comum,
para referir-se ao conjunto de atividades
que envolvem a produo e a distribui-
o de produtos agropecurios.
Os caminhos da anlise
da modernizao da
agricultura brasileira
Analisando as transformaes da
agricultura brasileira, David (1997) cha-
ma ateno para o fato de que as inter-
pretaes sobre esse processo tenderam
a assumir uma perspectiva dicotmica: os
anos 1960 foram marcados pela contra-
posio entre as reformas estruturais e as
polticas de modernizao; a dcada de
1970, pelo embate entre produo para
exportao e produo de alimentos; os
anos 1980 envolveram anlises que re-
foravam a ideia de industrializao da
agricultura (ou a emergncia do comple-
xo agroindustrial) em oposio quelas
que apontavam o carter anticclico do
setor. A essas dicotomias, pode-se acres-
centar aquela que, nos anos 1950 e 1960,
ops minifndio e latifndio e a que, em
anos recentes, vem opondo agronegcio
e agricultura familiar (Sauer, 2008). De
acordo com Heredia, Palmeira e Leite:
As fronteiras entre agricultura
moderna, complexos agroin-
dustriais e agronegcio no
so exatamente coincidentes
[...]. O uso de mquinas e in-
sumos modernos est presente
nas trs expresses, mas o di-
recionamento para exportao
no tem nas duas primeiras o
mesmo peso que na ltima. A
integrao agriculturaindstria
no era o maior destaque que se
dava agricultura moderna
tal como formulada nos anos
1970. O gerenciamento de um
negcio que envolve muito mais
que uma planta industrial ou um
conjunto de unidades agrcolas
uma das tnicas da ideia de
agronegcio. Mesmo que a
grande propriedade territorial
esteja associada s trs formas,
na segunda, ela vinculada s
prticas de integrao que
envolvem tambm pequenos
produtores; e na terceira, mes-
mo que as grandes propriedades
sejam uma marca das atividades
rurais do agronegcio, a refe-
rncia propriedade territorial
desaparece das formulaes de
seus tcnicos e h at quem ten-
te, no plano ideal dos projetos,
associ-la com perspectivas fa-
vorveis aos pequenos produto-
res. (2010, p. 160)
Nos anos 1980 e incio dos 1990,
autores com diferentes formaes dis-
ciplinares e com referenciais tericos
e ideolgicos os mais variados come-
aram a substituir a expresso agri-
cultura (ou agropecuria) moderna
por agroindstria, e a fgura dos
complexos agroindustriais passou
a ser moeda corrente. A preocupao
era assinalar a integrao agricultura/
indstria pelas duas pontas: insumos
83
A
Agronegcio
e produtos, expresso que teria assu-
mido a industrializao da agricultu-
ra formulada por Kautsky no incio
do sculo XX. Como chamam ateno
Heredia, Palmeira e Leite, a ideia do
agronegcio se tornar uma espcie
de radicalizao dessa viso, em que
o lado agrcola perde importncia e o
lado industrial abordado tendo
como referncia no a unidade indus-
trial local, mas o conjunto de atividades
do grupo que a controla e suas formas
de gerenciamento (2010, p. 160).
Da perspectiva da anlise dos eco-
nomistas rurais, interessante notar,
adicionalmente, que a resistncia da
corrente dominante ao uso de uma
abordagem intersetorial agricultura
indstria at meados dos anos 1980
(por considerarem que tal perspectiva
feria a propriedade do setor agrcola
em atestar os atributos de concorrncia
pura ou perfeita na anlise das funes
econmicas e produtivas) comple-
tamente revertida no incio da dcada
posterior, quando se verifca, da pers-
pectiva de uma anlise econmica do
novo estatuto do setor agropecurio,
agora funcionando de forma integra-
da, uma adeso aos novos termos e
sua capaci dade expl i cativa (Heredi a,
Palmeira e Leite, 2010).
Assim, preciso compreender os
processos sociais, econmicos, pol-
ticos e institucionais relacionados
emergncia do termo agronegcio na vi-
rada dos anos 1980 para os anos 1990
como dimenses que extrapolam o
mero crescimento agrcola/agroindus-
trial e o simples aumento da produtivi-
dade fsica dos setores envolvidos na
cadeia de produtos e atividades, e que
so comumente associadas ao termo
nos debates e reportagens jornalsticas
sobre o setor. Isso deve ser observado
tanto nas refexes sobre as circuns-
tncias que informam o movimento de
expanso das atividades que estariam
compreendidas nessa defnio quanto,
igualmente, para pensarmos a validade
do seu contraponto, isto , o conjun-
to de situaes sociais e atividades que
no estariam representadas e/ou le-
gitimadas pelo emprego desse termo:
agricultores familiares, assentados de
projetos de Reforma Agrria, comuni-
dades tradicionais etc. Em boa medida,
a permanncia dessas ltimas no cen-
rio agrrio atual tem sido identifcada,
pelos segmentos mais conservadores,
como obstculo, atraso ou, ain-
da, como portadora de experincias
obsoletas num meio rural cada vez
mais industrializado.
A anlise dos processos sociais rurais
que informam a anlise do agronegcio no
pode estar desvinculada da anlise de pr-
ticas, mecanismos e instrumentos de po-
lticas setoriais ou no implementa-
dos pelo Estado brasileiro. Ainda que tal
forma de interveno tenha se alterado
ao longo do tempo (por exemplo, da po-
ltica de crdito rural dos anos 1970 re-
negociao de dvidas no fnal dos anos
1990 e ao longo da dcada de 2000), ela
importante para identifcar as diferen-
tes polticas pblicas que subsidiam a
expanso dessas atividades, aliviando os
constrangimentos fnanceiros, ambien-
tais, trabalhistas, logsticos etc. (Silva,
2010), ou mesmo promovem a produo
do conhecimento tcnico necessrio ao
aumento da sua produtividade fsica nas
mais diferentes regies do pas.
A dinmica recente
do agronegcio
No que diz respeito ao perfl do
agronegcio hoje, o que se observa ,
Dicionrio da Educao do Campo
84
por um lado, sua tendncia a controlar
reas cada vez mais extensas do pas e,
por outro, a concentrao de empresas
com controle internacional. Tomando
o caso da soja como exemplo, verifca-
se que, at 1995, a Cargill destacava-se
como a grande empresa com unidades
de esmagamento no Brasil. Como apon-
ta Wesz Junior (2011), aps dois anos
de intenso processo de fuses e aquisi-
es, ADM, Bunge e Dreyfus-Coinbra
tambm passaram a ter controle sobre
a propriedade de unidades de benef-
ciamento do gro. Assim, em 2004, o
nmero de agroindstrias controladas
pelo Grupo ABCD (que, a partir de
2001, passou a contar com a presena
da Amaggi) alcanou trinta plantas in-
dustriais. Esse movimento corresponde,
no caso da soja, a uma nova regionaliza-
o das empresas, que buscam situar-se
de forma mais prxima s regies pro-
dutoras, como o caso do Mato Grosso
e do oeste baiano.
Esse processo de concentrao
marcado tambm pela verticalizao:
os grandes grupos controlam hoje a
produo de insumos, o armazena-
mento, o benefciamento e a venda. Sua
estratgia desenhada com base na sua
dinmica de insero nos mercados in-
ternacionais. Comentando o caso par-
ticular da soja, Wesz Junior (2011) res-
salta que, em 2010, as empresas Bunge,
Cargill, ADM, Dreyfus e Amaggi do-
minavam 50% da capacidade de esma-
gamento da oleaginosa; 65% da pro-
duo nacional de fertilizantes; 80%
do volume de fnanciamento liberado
pelas tradings para o cultivo do gro;
85% da soja produzida no pas; 95%
das exportaes in natura da soja bra-
sileira; e 8,1% das exportaes nacio-
nais. O autor afrma ainda que, no m-
nimo, um tero da soja produzida por
esse grupo de empresas segue direto
para exportao, sem nenhum benef-
ciamento no Brasil.
Processos semelhantes podem ser
identifcados na produo de etanol e
biodiesel e na indstria forestal.
Agronegcio, trabalho
e terra
O que hoje se denomina agronegcio
relaciona-se, como j indicado, com a
alta tecnologia agrcola. As tecnologias
diferem bastante segundo o ramo que
se toma como referncia. Assim, se
a soja e o algodo tm sua produo
marcada, tanto no plantio quanto na
colheita, pela presena de insumos qu-
micos, biotecnologias e mecanizao, o
mesmo no se d, por exemplo, com
o caf, que exige abundncia de mo
de obra na colheita. A prpria cana-de-
acar, que pode ser cortada mecani-
camente em reas planas, em reas de
relevo irregular exige corte manual.
Mesmo culturas que so mecanizadas
demandam mo de obra para recolher
os restos deixados pelas mquinas (al-
godo, cana), plantio de mudas (euca-
lipto) ou combate a pragas (formiga no
eucalipto). Assim, embora tenha ha-
vido uma reduo de mo de obra no
setor agrcola, o emprego do trabalho
assalariado em atividades braais est
longe de desaparecer. Consolidou-se
um mercado de trabalho composto por
trabalhadores permanentes e tempor-
rios os quais correspondem, embora
no exatamente, queles com direitos
trabalhistas assegurados e outros que
vivem margem desses direitos. Boa
parte deles mora nas periferias das ci-
dades prximas aos polos do agrone-
gcio. Ao mesmo tempo, verifca-se, no
interior das unidades produtivas agr-
colas, a presena de uma mo de obra
85
A
Agronegcio
ltimos anos: por mais que suas terras
possam ser produtivas, a necessida-
de de manter outras como reserva para
sua expanso faz de qualquer mudana
nos ndices de produtividade agrcola
uma ameaa lgica de reproduo do
agronegcio (Medeiros, 2010).
Sentidos polticos
do agronegcio
Desde que seu uso se imps, o ter-
mo agronegcio tem um sentido amplo
e tambm difuso, associado cada vez
mais ao desempenho econmico e
simbologia poltica, e cada vez menos
s relaes sociais que lhe do carne,
uma vez que opera com processos no
necessariamente modernos nas dife-
rentes reas e regies por onde avana
a produo monocultora.
Dessa perspectiva, a generalizao
do uso do termo agronegcio, mais do
que uma necessidade conceitual, cor-
responde a importantes processos so-
ciais e polticos que resultaram de um
esforo consciente para reposicionar
o lugar da agropecuria e investir em
novas formas de produo do reconhe-
cimento de sua importncia. Ela indica
tambm uma nova leitura de um mes-
mo processo de mudanas, acentuan-
do determinados aspectos, em especial
sua vinculao com o cotidiano das
pessoas comuns.
Os anos 1990 viram nascer institui-
es como a Associao Brasileira do
Agribusiness, hoje Associao Brasi-
leira do Agronegcio (Abag), que teve
importante papel na generalizao do
uso do termo agribusiness, inicialmente,
e depois agronegcio. Insistindo na ne-
cessidade de uma abordagem sistmi-
ca, agribusiness passou a ser relacionado
pelas entidades do setor no s com
qualifcada, composta por operadores
de mquinas, mecnicos, agrnomos,
tcnicos agrcolas etc., indicando uma
segmentao do mercado de trabalho
ainda muito pouco estudada.
Finalmente, a expanso do agrone-
gcio tem levado reproduo de for-
mas degradantes de trabalho, em es-
pecial nas reas em que as matas esto
sendo derrubadas, denunciadas por en-
tidades como a Organizao Interna-
cional do Trabalho (OIT) e a Comisso
Pastoral da Terra (CPT) como sendo
condies anlogas escravido.
Outro aspecto a ser ressaltado
que a lgica da expanso do agroneg-
cio no Brasil est intimamente ligada
disponibilidade de terras. Assim, para
os empresrios do setor, alm das ter-
ras em produo, necessrio ter um
estoque disponvel para a expanso.
Isso tem provocado um constante au-
mento dos preos das terras, tanto em
reas onde o agronegcio j se implan-
tou quanto nas reas que podem pos-
sibilitar o crescimento da produo.
A permanente necessidade de novas
terras tem sido o motor de intensos
debates, em especial na esfera legis-
lativa, em torno da concretizao de
medidas que possam regular e colocar
limites ao uso da terra. Isso se aplica
tanto ao interior das unidades produ-
tivas (matas ciliares, reas de preserva-
o, por exemplo, e que foram o cen-
tro dos debates em torno do Cdigo
Florestal) quanto fora delas (expanso
de reas indgenas, reconhecimento de
terras tradicionalmente ocupadas, deli-
mitao de reservas, controle das terras
pelo capital estrangeiro etc.). nesse
quadro de demanda crescente de terras
que tambm se situa o debate em tor-
no da mudana nos ndices de produ-
tividade da agricultura que marcou os
Dicionrio da Educao do Campo
86
a produo agropecuria, mas com
outros assuntos correlatos, entre eles,
a segurana alimentar e a produo
de objetos de uso cotidiano (a roupa
que se veste, por exemplo). Buscando
frmar a nova categoria, procurou-se
mostrar que ela no o mesmo que
agroindstria, que representa apenas uma
parte do agribusiness. Segundo a Abag
(Associao Brasileira do Agroneg-
cio, 1993), fazem parte do agribusiness
no s produtores, processadores e dis-
tribuidores (elementos contidos na ca-
tegoria agroindstria), mas tambm as
empresas de suprimentos de insumos e
fatores de produo, os agentes fnan-
ceiros, os centros de pesquisa e expe-
rimentao e as entidades de fomento
e assistncia tcnica. Ele composto
ainda por entidades de coordenao,
como governos, contratos comerciais,
mercados futuros, sindicatos, asso-
ciaes e outros, que regulamentam a
interao e a integrao dos diferentes
segmentos do sistema (ibid., p. 61).
Houve, assim, um debate conceitual
que se relacionava tanto com a preciso
da imagem quanto com a sua redefni-
o: tratava-se de produzir a percepo
do setor como dinmico, moderno,
produtor de divisas para o pas, susten-
tculo do desenvolvimento. Com isso,
esperava-se romper com a imagem do
estritamente agrcola e da propriedade
latifundiria, e com os estigmas a ela
relacionados atraso tecnolgico, im-
produtividade, explorao do trabalho.
Cabe ressaltar que essa percepo
j se faz presente no incio da Nova
Repblica, quando estruturada a
Frente Ampla da Agricultura Brasileira
(Faab), criada em 1986 e considerada
pelo ex-ministro da Agricultura Ro-
berto Rodrigues (2003-2006) como a
semente da organizao do agribusiness
no Brasil. Hoje, o termo agronegcio no
pode ser dissociado das instituies
que o disseminaram, como a Abag,
ou que falam em nome dele, como
o caso das entidades patronais rurais
em especial, a Confederao Nacional
da Agricultura (CNA) e a Sociedade
Rural Brasileira (SRB), das associa-
es por produtos e multiprodutos,
tais como a Associao Brasileira das
Indstrias de leos Vegetais (Abiove),
a Associao Brasileira dos Criado-
res de Zebu (ABCZ), a Organizao
das Cooperativas Brasileiras (OCB), a
Associao Brasileira dos Produtores de
Soja (Abrasoja), a Associao Brasileira
dos Produtores de Algodo (Abrapa),
a Uni o Brasi l ei ra de Avi cul tura
(UBA) etc. (Bruno, 2010; ver tambm
ORGANIZAES DA CLASSE DOMINANTE
NO CAMPO).
Essa busca pela construo de uma
imagem perante a opinio pblica,
reveladora de posies no debate po-
ltico, tambm se expressa na disputa
pelo tamanho que o agronegcio tem
na economia brasileira, o que geral-
mente leva a infndveis controvrsias
metodolgicas sobre como medir o
peso desse segmento (Nunes e Contini,
2001). Por trs dessa guerra metodo-
lgica e de nmeros, esconde-se uma
disputa pelo acesso aos recursos pbli-
cos, to mais legitimado quanto maior
for o peso que se atribui ao agronegcio.
Assim, como aponta Jos Graziano
da Silva (2010), a dimenso simblica
construda pelo setor faz que se acre-
dite num tamanho e numa dimenso
muito maiores do que o segmento efe-
tivamente representa, quer em termos
econmicos, na mensurao do produ-
to, quer em termos polticos, quando
tomada sua expresso no Congresso
Nacional, por meio da chamada Ban-
cada Ruralista (ver ORGANIZAES DA
CLASSE DOMINANTE NO CAMPO).
87
A
Agronegcio
No entanto, essa construo de
imagem como esforo poltico en-
contra outras apropriaes possveis.
Assim, medida que o termo agro-
negcio se impe como smbolo da
modernidade, passa a ser identificado,
pelas foras sociais em disputa, como
o novo inimigo a ser combatido. J no
incio do ano 2000, verifica-se, por
exemplo, entre os militantes do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e da Via Campesina um
deslocamento de seus opositores: cada
vez menos o adversrio aparece como
sendo o latifndio e cada vez mais
o agronegcio. Esse deslocamento
traz consigo novas vertentes: crti-
ca concentrao fundiria soma-se a
denncia do prprio cerne do agrone-
gcio, sua matriz tecnolgica. Assim,
surgem crticas ao uso de sementes
transgnicas, ao uso abusivo de agro-
txicos, monocultura. Ao modelo
do agronegcio passa a ser contrapos-
to o modelo agroecolgico, pautado
na valorizao da agricultura campo-
nesa e nos princpios da policultura,
dos cuidados ambientais e do controle
dos agricultores sobre a produo de
suas sementes.
Para saber mais
ASSOCIAO BRASILEIRA DO AGRONEGCIO (ABAG). Segurana alimentar: uma aborda-
gem do agribusiness. So Paulo: Abag, 1993.
BRUNO, R. Um Brasil ambivalente. Rio de Janeiro: MauadEdur, 2010.
DAVID, M. B. A. Les Transformations de lagriculture brsilienne: une modernisation
perverse (1960-1995). Paris: EHESS/CRBC, 1997.
DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R. A. A Concept of Agribusiness. Boston: Division of
Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University,
1957.
HEREDIA, B.; PALMEIRA, M.; LEITE, S. Sociedade e economia do agronegcio no
Brasil. Revista Brasileira de Cincias Sociais, v. 25, n. 74, p. 159-176, out. 2010.
LEITE, S. Estratgias agroindustriais, padro agrrio e dinmica intersetorial. Araraquara:
FCL/UNESP, 1990. (Rascunho, 7).
MEDEIROS, L. S. A polmica sobre a atualizao dos ndices de produtividade da
agropecuria. Carta Maior, 6 fev. 2010. Disponvel em: http://www.cartamaior.com.
br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4539. Acesso em: 31 ago. 2011.
NUNES, E. P.; CONTINI, E. Complexo agroindustrial brasileiro: caracterizao e dimen-
sionamento. Braslia: Abag, 2001.
SAUER, S. Agricultura familiar versus agronegcio: a dinmica sociopoltica do campo
brasileiro. Braslia: Embrapa, 2008. (Texto para discusso, 30).
SILVA, J. G. da. Os desafos das agriculturas brasileiras. In: GASQUES, J. G. et. al.
(org.). A agricultura brasileira: desempenho, desafos e perspectivas. Braslia: Ipea,
2010. p. 157-183.
WESZ JUNIOR, V. Caractersticas, dinmicas e estratgias empresariais das indstrias esma-
gadoras de soja no Brasil. Rio de Janeiro: E-papers, 2011.
Dicionrio da Educao do Campo
88
A
AGROTXICOS
Raquel Maria Rigotto
Islene Ferreira Rosa
De acordo com a lei federal
n 7.802, de 11 de julho de 1989, regu-
lamentada pelo decreto n 4.074, de 4
de janeiro de 2002, os agrotxicos so
[...] produtos e componentes de
processos fsicos, qumicos ou
biolgicos destinados ao uso
nos setores de produo, arma-
zenamento e benefciamento de
produtos agrcolas, nas pasta-
gens, na produo de forestas
nativas ou implantadas, e em
outros ecossistemas e tambm
ambientes urbanos, hdricos e
industriais; cuja fnalidade seja
alterar a composio da fora e
da fauna, a fm de preserv-las da
ao danosa de seres vivos con-
siderados nocivos. So consi-
derados, tambm, como agro-
txicos, substncias e produtos
como desfolhantes, dessecan-
tes, estimulantes e inibidores de
crescimento. (Brasil, 2002)
Desde a Antiguidade clssica, agri-
cultores desenvolvem maneiras de lidar
com insetos, plantas e outros seres vi-
vos que se difundem nos cultivos, com-
petindo pelo produto. Escritos de ro-
manos e gregos mencionavam o uso de
produtos como o arsnico e o enxofre
nos primrdios da agricultura. A partir
do sculo XVI, registra-se o emprego
de substncias orgnicas, como a nicoti-
na e piretros extrados de plantas, tanto
na Europa quanto nos Estados Unidos.
Entretanto, h cerca de sessenta
anos, o uso de agrotxicos vem se di-
fundindo intensamente na agricultura,
e tambm no tratamento de madeiras,
na construo e na manuteno de es-
tradas, nos domiclios e at nas cam-
panhas de sade pblica de combate
malria, doena de Chagas, dengue etc.
(Silva et al., 2005).
Essa escalada inicia-se na segunda
metade do sculo XX, quando empre-
endedores de pases industrializados,
por meio de um conjunto de tcnicas,
prometiam aumentar estrondosamente
a produtividade agrcola e responder
ao problema da fome nos pases em
desenvolvimento. E a chamada REVOLU-
O VERDE passa a se conformar como
modelo de produo racional voltado
para a expanso das agroindstrias e
baseado na utilizao intensiva de se-
mentes hbridas e de insumos qumicos
(fertilizantes e agrotxicos), na mecani-
zao da produo e no uso extensivo
de tecnologia (Moreira, 2000). Findas
as duas grandes guerras, a agroinds-
tria foi o caminho encontrado pelas in-
dstrias de armamentos para manter
os grandes lucros: os materiais explosi-
vos transformaram-se em adubos sint-
ticos e nitrogenados, os gases mortais,
em agrotxicos e os tanques de guerra,
em tratores (Fideles, 2006).
No Brasil, o Plano Nacional de
Desenvolvimento Agrcola (PNDA),
lanado em 1975, incentivava e exigia o
uso de agrotxicos, oferecendo investi-
mentos para fnanciar esses insumos
89
A
Agrotxicos
e tambm para ampliar a indstria de
sntese e formulao no pas, que pas-
saria de 14 fbricas em 1974 para 73
em 1985 (Fideles, 2006).
Embora tenha havido aumento sig-
nifcativo da produtividade no campo,
importante salientar que no foi re-
solvido o problema da fome, pois boa
parte dos excedentes agrcolas gerados
atualmente so commodities,
1
e a fome
segue assolando cerca de 1 bilho dos
seres humanos subalimentados do
planeta (United Nations Development
Programme, 2004).
Nesse processo de modernizao
da agricultura conduzido pelos inte-
resses de grandes corporaes transna-
cionais, confgurou-se o AGRONEGCIO
como sistema que articula o latifn-
di o, as i ndstri as qu mi ca, meta-
lrgica e de biotecnologia, o capital
fnanceiro e o mercado (Fernandes e
Welch, 2008), com fortes bases de apoio
no aparato poltico-institucional e tam-
bm no campo cientfco e tecnolgico.
Esse sistema ampliou a monocultura e
aumentou a concentrao de terras, de
renda e de poder poltico dos grandes
produtores. Elevou tambm a intensida-
de do trabalho, a migrao campocidade
e o desemprego rural. Por sua vez, a
apropriao dos frutos dessa produti-
vidade reverteu no aumento dos lucros
capitalistas para os grandes propriet-
rios rurais e as multinacionais envolvi-
das (Porto e Milanez, 2009).
Frutos desse processo, atualmen-
te existem no mundo cerca de vinte
grandes indstrias fabricantes de agro-
txicos, com um volume de vendas da
ordem de 20 bilhes de dlares por
ano e uma produo de 2,5 milhes
de toneladas de agrotxicos, dos quais
39% so herbicidas; 33%, inseticidas;
22%, fungicidas; e 6%, outros grupos
qumicos. As principais companhias
agroqumicas que controlam o mer-
cado so Syngenta, Bayer, Monsanto,
Basf, Dow AgroSciences, DuPont e
Nufarm. Na Amrica Latina, um im-
portante e crescente mercado dentro
do contexto mundial, o faturamento l-
quido na venda de agrotxicos cresceu
18,6% de 2006 a 2007, e 36,2% de 2007
a 2008 (Sindicato Nacional da Inds-
tria de Produtos para Defesa Agrcola,
2009). Desde 2008, o Brasil tornou-se
o maior consumidor mundial de agro-
txicos, movimentando 6,62 bilhes de
dlares em 2008 para um consumo de
725,6 mil toneladas de agrotxicos o
que representa 3,7 quilos de agrotxi-
cos por habitante. Em 2009, as vendas
atingiram 789.974 toneladas (ibid.).
A partir de 1997, o governo fede-
ral passou a conceder iseno de 60%
no Imposto sobre Circulao de Mer-
cadorias e Servios (ICMS) para os
agrotxicos e iseno total do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI),
alm de dispensa de contribuio para
o Programa de Integrao Social/
Programa de Formao do Patrim-
nio do Servidor Pblico (PIS/Pasep)
e para a Contribuio para o Financia-
mento da Seguridade Social (Cofins).
Como elemento das disputas por in-
vestimentos do agronegcio mediante
guerra fiscal, alguns estados caso do
Cear, por exemplo ampliaram es-
sas isenes para 100%, beneficiando
a indstria qumica e comprometendo
o financiamento de polticas pblicas
como as de sade ou meio ambiente
(Teixeira, 2010).
Os agrotxicos so utilizados em
grande escala no setor agropecurio,
especialmente nos sistemas de mo-
nocultivo em grandes extenses. Em
conjunto com a acelerada expanso da
Dicionrio da Educao do Campo
90
rea cultivada 39% nas regies Sul e
Sudeste e 66% na regio Centro-Oeste
nos ltimos trs anos , a soja foi
responsvel por cerca da metade do
consumo de agrotxicos no pas em
2008, seguida das lavouras de milho e
cana, essa ltima associada produo
de agrocombustveis supostamente
limpos para exportao (Sindica-
to Nacional da Indstria de Produtos
para Defesa Agrcola, 2009).
Alm do amplo uso de agrot-
xicos, ainda h uma ampla gama de
produtos disponveis, o que complexi-
fca a exposio e a avaliao de seus
impactos sobre o ambiente e a sade.
So inseticidas, fungicidas, herbicidas,
raticidas, acaricidas, desfoliantes, ne-
maticidas, molusquicidas e fumigantes.
Atualmente, existem pelo menos 1.500
ingredientes ativos distribudos em 15
mil diferentes formulaes comerciais
no mercado mundial (Brasil, 2004).
No pas, esto registrados 2.195 pro-
dutos comerciais, elaborados com 434
ingredientes ativos (Brasil, 2010). E os
investimentos para encontrar novas
molculas de ingredientes ativos con-
tinuam crescendo: se antes dos anos
1990 a chance era de 1/5.000 molcu-
las estudadas, atualmente so gastos em
mdia dez anos para se combinar 150
mil componentes, com investimentos
de US$ 256 milhes, at se chegar a um
novo produto (Carvalho, 2010).
Como biocidas, os agrotxicos in-
terferem em mecanismos fsiolgicos
de sustentao da vida que so tambm
comuns aos seres humanos e, portanto,
esto associados a uma ampla gama de
danos sade. Segundo a Organizao
Mundial de Sade (OMS), os biocidas
produzem, a cada ano, de 3 a 5 milhes
de intoxicaes agudas no mundo, es-
pecialmente em pases em desenvol-
vimento (Miranda, 2007). Numa srie
acumulada de 1989 a 2004 (Fundao
Oswaldo Cruz, 2004), foram notifca-
dos no Brasil 1.055.897 casos de in-
toxicao humana por agrotxicos e
6.632 bitos pelo mesmo motivo. Em
2008, 32,7% das intoxicaes no Brasil
tiveram como principal agente txico
envolvido os agrotxicos de uso agr-
cola. Vale ressaltar que a OMS indica
que, para cada caso notifcado de in-
toxicao por agrotxicos, existem 50
casos no notifcados (Marinho, 2010).
Os agrotxicos tambm podem causar
diversos efeitos crnicos:
inseticidas organofosforados e car-
bamatos: alteraes cromossmicas;
fungicidas fentalamidas e herbici-
das fenoxiacticos: malformaes
congnitas;
nematicidas dibromocloropropano
etc.: infertilidade masculina;
fungicidas ditiocarbamatos, herbici-
das dinitrofenis, pentaclorofenis,
fenoxiacticos etc.: cncer;
organofosforados e organoclora-
dos: neurotoxicidade;
alquilfenis, glifosato, cido diclo-
rofenoxiactico, organoclorados
(metolacloro, acetocloro, alacloro,
clorpirifs, metoxicloro) e piretroi-
des sintticos: interferncia end-
crina;
organoclorados, herbicidas dipiridi-
los: doenas hepticas;
inseticidas piretroides sintticos,
ditiocarbamatos e dipiridilos: doen-
as respiratrias;
organoclorados: doenas renais;
organofosforados, carbamatos, di-
tiocarbamatos e dioiridilos: doen-
as dermatolgicas (Franco Neto,
1998; Koifman e Meyer, 2002; Peres,
Moreira e Dubois, 2003; Mansour,
2004; Queiroz e Waissmann, 2006).
91
A
Agrotxicos
No Brasil, a classifcao toxicol-
gica dos agrotxicos est a cargo do
Ministrio da Sade. Essa classifcao
est elaborada segundo a dose letal
50 estabelecida de acordo com os
miligramas de produto txico por quilo
de peso necessrios para levar a bito
50% dos animais de teste. So essas as
classes: I extremamente txico; II
muito txico; III txico; e IV pou-
co txico.
De forma anloga, os agrotxicos
so classifcados de I a IV de acordo
com o seu potencial de degradao
ambiental, que leva em conta a bioa-
cumulao, a persistncia no solo, a
toxicidade a diversos organismos e os
potenciais mutagnico, teratognico
e carcinognico.
As regies de expanso dos mo-
nocultivos do agronegcio tm apre-
sentado tambm problemas graves de
contaminao ambiental das guas sub-
terrneas, caso dos aquferos Guarani
e Jandara, nos estados do Cear e do
Rio Grande do Norte respectivamente
(Cear, 2009). Tambm tem sido en-
contrada contaminao das guas su-
perfciais de rios, lagoas, audes e at
mesmo das guas disponibilizadas
pelos sistemas de abastecimento s comu-
nidades, nas quais j foram encontra-
dos at doze ingredientes ativos dife-
rentes numa nica amostra (Rigotto e
Pessoa, 2010). Estudos conduzidos pela
equipe do professor Wanderlei Pignati
(2007), da Universidade Federal do
Mato Grosso, encontraram, na regio
de monocultivo de soja, contaminao
por agrotxicos no leite materno e na
gua da chuva. De forma similar, ocor-
re contaminao do solo, do ar e dos
locais de vida e produo de comuni-
dades vizinhas a grandes empreen-
dimentos, especialmente quando rea-
lizada pulverizao area de agrotxi-
cos herbicidas ou fungicidas.
H ainda contaminao de alimen-
tos com resduos de agrotxicos. No
Brasil, o Ministrio da Sade, por meio
da Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria (Anvisa), monitora a presena
de 234 ingredientes ativos em vinte ali-
mentos. Para o ano de 2009, os resulta-
dos mostraram que 29% deles apresen-
tavam resultados insatisfatrios, seja
por estarem acima do limite mximo
de resduos permitido (> LMR), seja
por apresentarem resduos de agrot-
xicos no autorizados e no adequados
para aquele cultivo (NA), seja por esses
dois motivos associados.
Diante do uso intenso e difuso dos
agrotxicos no Brasil, possvel consi-
derar que a maior parte da populao
est exposta a eles de alguma forma.
O conceito de justia ambiental auxilia
a dar visibilidade s diferentes magni-
tudes dessa exposio. Os trabalhado-
res so certamente os que entram em
contato mais direto, e por mais tempo,
com esses produtos, seja nas empresas
do agronegcio, seja na agricultura fa-
miliar ou camponesa onde a cultura
da Revoluo Verde tambm penetra e
tenta se impor , seja nas fbricas qu-
micas onde so formulados, seja, ainda,
nas campanhas de sade pblica onde
so utilizados. Um segundo grupo se-
riam as comunidades situadas em tor-
no desses empreendimentos agrcolas
ou industriais, onde comumente vivem
as famlias dos trabalhadores, nas cha-
madas zonas de sacrifcio, em reas
rurais ou urbanas. Um terceiro grupo
formado pelos consumidores de ali-
mentos contaminados; nele est inclu-
da praticamente toda a populao, de
acordo com os dados do Programa
de Anlise de Resduos de Agrotxicos
Dicionrio da Educao do Campo
92
em Alimentos (Para), da Anvisa, men-
cionados acima (Brasil, 2010).
Do ponto de vista cultural, o campo
hegemnico tem produzido e difundi-
do o mito de que sem os agrotxicos
no possvel produzir negando
assim os 10 mil anos de desenvolvi-
mento da agricultura que antecederam
o boom atual dos venenos, iniciado h
cerca de sessenta anos, e negando a ri-
queza das experincias de agroecologia
que forescem em diversos biomas, no
Brasil e no mundo. Difundem tambm
a ideia de que possvel o uso seguro
dos agrotxicos, ou seja, que podem
ser estabelecidas regras para garantir a
proteo das diferentes formas de vida
expostas a esses biocidas.
Essa a base conceitual de toda
a legislao brasileira para a regu-
lao dos agrotxicos. Assim, a lei
n 7.802/1989 e o decreto n 4.074/
2002 atribuem aos ministrios da Agri-
cultura, do Meio Ambiente e da Sade
a competncia de estabelecer diretri-
zes e exigncias objetivando minimizar
os riscos apresentados por agrotxicos,
seus componentes e afns (art. 2, inci-
so II). Entre elas esto a obrigatorieda-
de do registro dos agrotxicos, aps (re)
avaliao de sua efcincia agronmica,
de sua toxicidade para a sade e de sua
periculosidade para o meio ambiente;
o estabelecimento do limite mximo
de resduos aceitvel em alimentos e do
intervalo de segurana entre a aplicao
do produto e sua colheita ou comercia-
lizao; a defnio de parmetros para
rtulos e bulas; a fscalizao da produ-
o, importao e exportao; as aes
de divulgao e esclarecimento sobre o
uso correto e efcaz dos agrotxicos; a
destinao fnal de embalagens etc.
No que diz respeito aos trabalha-
dores, a legislao do Ministrio do
Trabalho e Emprego determina que
os empregadores realizem avaliaes
dos riscos para a segurana e a sa-
de e adotem medidas de preveno e
proteo, hierarquizadas em ordem de
prioridade, fcando os equipamentos
de proteo individual (EPIs) como
ltima alternativa. A primeira me-
dida prevista na NR 31 da portaria
n 3.214/1978 (Brasil, 1978) a elimi-
nao dos riscos, aplicvel, no campo
da higiene do trabalho, a todos os ris-
cos, mas muito especialmente queles
de maior gravidade, como seria o caso
da maioria dos agrotxicos; segue-se
a essa medida o controle de riscos na
fonte; a reduo do risco ao mnimo
pela introduo de medidas tcnicas
ou organizacionais e de prticas segu-
ras, inclusive mediante a capacitao; a
adoo de medidas de proteo pessoal,
sem nus para o trabalhador, de forma
complementar ou caso ainda persistam
temporariamente fatores de risco. Essa
norma sublinha ainda o direito dos tra-
balhadores informao, ao determi-
nar que se forneam a eles instrues
compreensveis sobre os riscos e as
medidas de proteo implantadas, os
resultados dos exames mdicos e com-
plementares a que forem submetidos,
os resultados das avaliaes ambientais
realizadas nos locais de trabalho etc.
Entretanto, no contexto atual,
possvel fazer valer o uso seguro dos
agrotxicos? Alm do enorme volume
de agrotxicos consumidos no Brasil
nos ltimos anos, o problema estaria
presente nos 5,2 milhes de estabe-
lecimentos agropecurios espalhados
por todo o pas e que ocupam rea
correspondente a 36,75% do territrio
nacional. O setor envolve 16.567.544
pessoas (incluindo produtores, seus
familiares e empregados temporrios
93
A
Agrotxicos
ou permanentes), que correspondem a
quase 20% da populao ocupada no
pas. H que considerar ainda as condi-
es institucionais para o Estado fazer
valer as leis e normas ante a extenso
socioespacial do pas, as defcincias
das polticas pblicas marcadas pelo
neoliberalismo, a composio dos qua-
dros de pessoal, a infraestrutura para
execuo das aes e a correlao de
foras polticas.
Em resposta a esses desafos, enti-
dades como a Assessoria e Servios a
Projetos em Agricultura Alternativa
(AS-PTA) desenvolvem a Campanha
por um Brasil Livre de Transgnicos e
Agrotxicos; alm disso, foi lanada, em
abril de 2011, a Campanha Permanen-
te contra os Agrotxicos e pela Vida,
qual j aderiram mais de trinta entidades
da sociedade civil brasileira, entre mo-
vimentos sociais, entidades ambientalis-
tas, estudantes, organizaes ligadas
rea da sade e grupos de pesquisado-
res. Ela tem como objetivos:
construir um processo de cons- 1)
cientizao na sociedade sobre a
ameaa que representam os agrot-
xicos, denunciando assim todos os
seus efeitos degradantes sade, ao
meio ambiente etc.;
denunciar e responsabilizar as em- 2)
presas que produzem e comerciali-
zam agrotxicos;
pautar na sociedade a necessidade 3)
de mudana do atual modelo agr-
cola, que produz comida envene-
nada;
fazer da campanha um espao 4)
de construo de unidade entre
ambientalistas, camponeses, tra-
balhadores urbanos, estudantes,
consumidores e todos aqueles que
prezam pela produo de um ali-
mento saudvel que respeite ao
meio ambiente;
explicitar a necessidade e o poten- 5)
cial que o Brasil tem de produzir
alimentos diversificados e saud-
veis para todos, em pleno convvio
com o meio ambiente e com base
em princpios agroecolgicos.
(Campanha Permanente contra os
Agrotxicos e pela Vida, 2011)
Notas
1
Commodities so produtos de origem mineral ou vegetal, geralmente em estado bruto ou
com pouco benefciamento, produzidos em massa e com caractersticas homogneas, in-
dependentemente da sua origem. Seu preo, normalmente, defnido pela demanda, e no
pelo produtor. Alguns exemplos de commodities so soja, caf, acar, ferro e alumnio.
Para saber mais
BRASIL. Decreto n 4.074, de 4 de janeiro de 2002. Regulamenta a lei n 7.802, de
11 de julho de 1989. Braslia: Presidncia da Repblica, 2002. Disponvel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4074.htm. Acesso em: 2
ago. 2011.
______. AGNCIA NACIONAL DE VIGILNCIA SANITRIA (ANVISA). PROGRAMA DE
ANLISE DE RESDUOS DE AGROTXICOS EM ALIMENTOS (PARA). Relatrio anual
de 2009. Braslia: Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, 2010. Disponvel
Dicionrio da Educao do Campo
94
em: http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/d214350042f576d489399f
536d6308db/RELAT%C3%93RIO+DO+PARA+2009.pdf ?MOD=AJPERES.
Acesso em: 2 ago. 2011.
______. MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABASTECIMENTO (MAPA). Sistema
de agrotxicos ftossanitrios (Agroft). Brasil: Mapa, 2004. Disponvel em: http://
agroft.agricultura.gov.br/agroft_cons/principal_agroft_cons. Acesso em: 25
jan. 2009.
______. MINISTRIO DO TRABALHO (MTB). Portaria n 3.214, de 8 de junho de 1978:
aprova as Normas Regulamentadoras (NR) do captulo V do ttulo II da Consolida-
o das Leis do Trabalho, relativas segurana e medicina do trabalho. Dirio Ofcial
da Unio, Braslia, 6 jul. 1978.
CAMPANHA PERMANENTE CONTRA OS AGROTXICOS E PELA VIDA. A problemtica dos
agrotxicos no Brasil. Curitiba, 2011. Disponvel em: http://www.recid.org.br/
c o mp o n e n t / k 2 / i t e m/ 2 7 9 - c a mp a n h a - p e r ma n e n t e - c o n t r a - o s -
agrot%C3%B3xicos-e-pela-vida.html. Acesso em: 3 ago. 2011.
CARVALHO, H. M. Apresentao. In: SEMINRIO NACIONAL SOBRE AGROTXICOS.
Guararema, So Paulo: Escola Nacional Florestan Fernandes, 17 a 18 de setembro
de 2010. (Mimeo.).
CEAR. SECRETARIA DOS RECURSOS HDRICOS. COMPANHIA DE GESTO DOS RECUR-
SOS HDRICOS (COGERH). Plano de Gesto Participativa dos Aquferos da Bacia
Potiguar, Estado do Cear. Relatrio fnal. Fortaleza: Cogerh, 2009. Disponvel
em: http://portal.cogerh.com.br/eixos-de-atuacao/estudos-e-projetos/aguas-
subterraneas/projetos/plano-de-gestao-participativa-dos-aquiferos-da. Acesso
em: 2 ago. 2011.
FERNANDES, B. M.; WELCH, C. A. Campesinato e agronegcio da laranja nos EUA
e Brasil. In: FERNANDES, B. M. (org.). Campesinato e agronegcio na Amrica Latina: a
questo agrria atual. So Paulo: Expresso Popular, 2008. p. 47-70.
FIDELES, N. Impactos da Revoluo Verde. RadioagenciaNP, So Paulo, set. 2006.
Disponvel em: http://www.radioagencianp.com.br. Acesso em: 12 jun. 2010.
FRANCO NETTO, G. On the Need to Assess Cancer Risk in Populations Environ-
mentally and Occupationally Exposed to Virus and Chemical Agents in Devel-
oping Countries. Cadernos de Sade Pblica, v. 14, supl. 3, p. 87-98, 1998.
FUNDAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). SISTEMA NACIONAL DE INFORMAES
TXICO-FARMACOLGICAS (SINITOX). Estatstica anual de casos de intoxicao e envenena-
mento. Rio de Janeiro: Sinitox, 2006.
______. ______. Estatstica anual de casos de intoxicao e envenenamentos: Brasil
2004. Rio de Janeiro: Sinitox, 2004.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTADSTICA (IBGE). Censo agropecu-
rio 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponvel em: http://www.ibge.gov.
95
A
Agrotxicos
br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/brasil_2006/Brasil_
censoagro2006.pdf. Acesso em: 21 nov. 2011.
KOIFMAN, R. J; MEYER, A. Human Reproductive System Disturbances and Pesticide
Exposure in Brazil. Cadernos de Sade Pblica, v. 18, n. 2, p. 435-445, mar.-abr. 2002.
MANSOUR, S. A. Pesticide exposure Egyptian scene. Toxicology, v. 198,
p. 91-115, 2004.
MARINHO, A. P. Contextos e contornos de risco da modernizao agrcola em municpios
do Baixo JaguaribeCe: o espelho do (des)envolvimento e seus refexos na sade,
trabalho e ambiente. 2010. Tese (Doutorado em Sade Pblica) Faculdade de
Sade Pblica, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2010.
MEIRELLES, L. C. Controle de agrotxicos: estudo de caso do estado do Rio de
Janeiro, 1985/1995. 1996. Dissertao (Mestrado em Engenharia) Programa de
Ps-graduao em Engenharia (Coppe), Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 1996.
MIRANDA, A. C. et al. Neoliberalismo, uso de agrotxicos e a crise da soberania ali-
mentar no Brasil. Cincia & Sade Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 15-24, 2007.
MOREIRA, R. J. Crticas ambientalistas Revoluo Verde. In: WORLD CONGRESS
OF RURAL SOCIOLOGY (IRSA), 10.; BRAZILIAN CONGRESS OF RURAL ECONOMIC
AND SOCIOLOGY (SOBER), 37. Rio de Janeiro, 2000. Disponvel em: http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/quinze/moreira
15.htm. Acesso em: 2 ago. 2011.
PERES, F.; MOREIRA, J. C.; DUBOIS, G. S. Agrotxicos, sade e ambiente: uma in-
troduo ao tema. In: ______; ______ (org.). veneno ou remdio? Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2003. p. 21-41.
PIGNATI, W. et al. Acidente rural ampliado: o caso das chuvas de agrotxicos so-
bre a cidade de Lucas do rio Verde MT. Cincia & Sade Coletiva, Rio de Janeiro,
v. 12, n. 1, p. 299-311, 2007.
PORTO, M. F.; MILANEZ, B. Eixos de desenvolvimento econmico e gerao de con-
fitos socioambientais no Brasil: desafos para a sustentabilidade e a justia ambien-
tal. Cincia & Sade Coletiva, Rio de janeiro, v. 14, n. 6, p. 1.983-1.994, 2009.
QUEIROZ, E. K. R.; WAISSMANN, W. Exposio ocupacional e efeitos sobre o sistema
reprodutor masculino. Cadernos de Sade Pblica, v. 22, n. 3, p. 485-493, mar. 2006.
RIGOTTO, R. M.; PESSOA, V. M. Estudo epidemiolgico da populao da regio do
Baixo Jaguaribe exposta contaminao ambiental em rea de uso de agrotxi-
cos documento sntese dos resultados parciais da pesquisa. Fortaleza, agosto
de 2010. (Mimeo.).
SILVA, J. M. et al. Agrotxico e trabalho: uma combinao perigosa para a sade
do trabalhador rural. Cincia & Sade Coletiva, v. 10, n. 4, p. 891-903, 2005.
Dicionrio da Educao do Campo
96
SINDICATO NACIONAL DA INDSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA AGRCOLA (SINDAG). Mer-
cado brasileiro de ftossanitrios. In: WORKSHOP AVALIAO DA EXPOSIO DE MISTURADORES,
ABASTECEDORES E APLICADORES A AGROTXICOS. Anais... Braslia, abril de 2009.
TEIXEIRA, M. M. A criao do confito foi que mostrou pra sociedade o qu que
estava acontecendo ali: agronegcio, vida e trabalho no Baixo Jaguaribe, CE.
2010. Monografa (Graduao em Direito) Faculdade de Direito, Universidade
Federal do Cear, Fortaleza, 2010.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). Human Development Report.
Oxford, Massachusetts: Oxford University Press, 2004.
A
AMBIENTE (MEIO AMBIENTE)
Carlos Walter Porto-Gonalves
Todo conceito tem uma histria, e o
de meio ambiente no foge regra. At
muito recentemente, a noo de am-
biente, ou simplesmente meio, tinha um
sentido vago. Alm disso, at os anos
1960 a discusso sobre o que hoje cha-
mamos questo ambiental estava restrita
a cientistas preocupados com a preser-
vao/conservao da natureza (pre-
servacionismo e conservacionismo).
Dos anos 1960 para c, o debate acerca
do meio ambiente passa a estar relacio-
nado ao desenvolvimento das sociedades
e, portanto, amplia-se e se complexifca.
Sai dos gabinetes e vem para as ruas.
Do ponto de vista cientfco, a no-
o de ambiente (meio ambiente) se
referia basicamente ao meio biogeof-
sico com o qual os homens haviam de
se relacionar. Sendo assim, o conceito
predominante nos meios cientfcos
sobre meio ambiente tem um forte
vis das cincias naturais, na medida
em que remete aos meios bitico (a
biosfera animal e vegetal) e abitico
(a litosfera geologia e geomorfologia
e a atmosfera). Ficam de fora dessa
concepo, normalmente, a noosfera
(esfera do conhecimento), a psicosfera
(a esfera da formao do psiquismo) e
a tecnosfera (o mundo das tcnicas).
Enfm, o conceito de meio ambiente
tem sido capturado por uma viso que
o reduz ao mundo das cincias naturais.
No devemos esquecer que a tradio
cientfca hegemnica, de origem eu-
ropeia, traz as marcas de uma tradio
flosfca que opera com a separao
entre homem e natureza, consagrada
na separao entre cincias naturais e
cincias humanas, que, modernamente,
vai ser afrmada na separao entre su-
jeito e objeto nas palavras de Ren
Descartes (1596-1650), res cogitans e res
extensa. Outro flsofo, Francis Bacon
(1561-1626), considerado o pai da cin-
cia moderna, vai acolher essa viso da
natureza como objeto, natureza que,
segundo ele, deveria ser torturada para
revelar seus mistrios. Essa viso con-
sagrada que separa homem e natureza
comandar o fazer cientfco e um dos
pilares do imaginrio do que se chama
mundo moderno, um mundo no qual,
97
A
Ambiente (Meio Ambiente)
em grande parte, o homem domina
a natureza.
Ora, a ideia de dominao da natu-
reza s tem sentido se consideramos
que a espcie humana no parte da
natureza, pois, se considerarmos que
somos natureza, nos vemos diante do
paradoxo de saber quem vai dominar o
dominador. Pode-se dizer que grande
parte do desafo ambiental contempo-
rneo est relacionado com esse imagi-
nrio de dominao da natureza, sobre
o qual se edifcou o mundo da cincia
moderna. A ideia de dominao da na-
tureza, assim como a prpria ideia de
dominao, implica, sempre, que o ser
a ser dominado sejam grupos sociais
(gnero, raa, opo sexual), classes
sociais, etnias ou a natureza no seja
considerado em sua plenitude, em suas
mltiplas virtualidades e potencialida-
des, mas sim em razo daquilo que nele
interessa ao dominador. Assim, todo
ser dominado , sempre, mais do que
aquilo que sob a dominao.
No devemos esquecer ainda que a
dominao da natureza pelos homens
acabou por autorizar a dominao de
povos/etnias e grupos sociais assimi-
lados natureza. Povos selvagens, por
exemplo, sendo das selvas, sendo das
matas, so da natureza e, assim, podem
ser dominados pelos povos civilizados.
possvel dizer o mesmo das raas
inferiores, geralmente negros e ama-
relos (os indgenas e orientais), que
devem ser dominadas pelas raas su-
periores, quase sempre brancos.
A ideia de dominao da natureza,
ao colocar o homem como sujeito
polo ativo numa relao e a nature-
za como objeto polo passivo , viu-
se obrigada a dessacralizar a natureza,
pois se ela estivesse povoada por deu-
ses no haveria como domin-la. Por
isso, os deuses foram expulsos da Terra
e enviados aos cus. E a natureza, sem
deuses, podia, enfm, ser dominada:
todo o conhecimento construdo por
inmeros povos originrios e grupos
camponeses entre os quais a nature-
za impunha limites dominao, por
ser habitada pelo sagrado, destrudo
como misticismo, animismo, crendice,
saberes inferiores...
Assim, todo um rico acervo de
conhecimentos, criativamente desen-
volvido e adaptado a circunstncias
locais, foi inferiorizado por uma viso
colonial que desperdiou essa imensa
experincia humana, desenvolvida ao
longo de milhares de anos, por milha-
res de povos. O conhecimento desses
povos, grupos sociais e etnias fun-
damental em qualquer poltica sria e
responsvel que vise cuidar do patri-
mnio natural da humanidade. Essa
a fonte de informao da maior parte
dos remdios de que a humanidade
dispe hoje, em grande parte objeto
de etnobiopirataria, pois as informa-
es geradas por essas populaes so
apropriadas por laboratrios de gran-
des corporaes para fins de acumula-
o, e no socializadas como o foram
at muito recentemente, quando eram
trocadas livremente com base na reci-
procidade. Agora vemos interromper-
se essa tradio milenar de partilha e
enriquecimento mtuo como resultado
de leis de patenteamento que cada vez
mais benefciam os laboratrios das gran-
des corporaes, sob os ditames da Orga-
nizao Mundial do Comrcio (OMC).
O mito segundo o qual o desen-
volvimento da cincia permitiria o
domnio da natureza se desfaz quando
vemos que o pas mais desenvolvido
do ponto de vista tcnico-cientfco,
os Estados Uni dos, no consegue
Dicionrio da Educao do Campo
98
produzir aquilo que a natureza fez e
que utiliza no seu processo de desen-
volvimento/acumulao. Afinal, ne-
nhum pas, nenhuma sociedade, pro-
duz gua, oxignio, carvo, petrleo,
energia solar (fotossntese): somos
extratores, somos usurios e devemos
legar esses recursos, como boni patres
familia como disse Karl Marx, assim
mesmo em latim s geraes futu-
ras. Como somos extratores, devemos
nos preocupar com o uso dos recur-
sos que no fazemos e em relao aos
quais dependemos que a natureza os
faa. Eis uma das lies que os serin-
gueiros, sob a liderana poltico-inte-
lectual de Chico Mendes, nos legaram
com suas reservas extrativistas. Ao se
assumirem como extrativistas, viam-
se diante da necessidade de respeitar
a produtividade biolgica primria,
respeito que, segundo Enrique Leff
(2009), um dos pilares de outra ra-
cionalidade, a ambiental, em contra-
posio racionalidade hegemnica,
a econmico-mercantil. Por isso, os
Estados Unidos mantm milhares de
bases militares em todo o mundo para
garantir pela fora o que no podem fa-
zer pela razo tecnocntrica.
O perodo de globalizao neolibe-
ral (de 1970 aos dias de hoje) j nascer
sob o signo do desafo ambiental, de-
safo que no se colocou para nenhum
dos perodos anteriores da globaliza-
o. Isso porque a natureza era consi-
derada, at ento, fonte inesgotvel de
recursos, como deixa claro o fordismo
e sua pretensa sociedade de consumo
de massas, em que cada operrio po-
deria adquirir um carro. Nisso Henry
Ford (1863-1947) se assemelha ao se-
cretrio-geral do Partido Comunista
francs George Marchais (1920-1997),
que prometeu em sua candidatura
Presidncia da Repblica, em 1974,
caso fosse eleito, que cada francs teria
direito a um automvel. Como se v, o
produtivismo se faz presente nos dois
lados do espectro ideolgico na tradi-
o iluminista.
Desde ento, o debate ambien-
tal veio afrmando uma longa lista de
questes efeito estufa, aquecimento
global, perda da diversidade biolgica
(extino de espcies), buraco na ca-
mada de oznio, poluio industrial
das guas, da terra e do ar, desmata-
mento, perda de solos por eroso, lixo
urbano, lixo txico... Nenhuma dessas
questes havia sido debatida de modo
to amplo como passou a ser aps os
anos 1960. O desafo ambiental est
vinculado ao perodo histrico que se
inicia nos anos 1960-1970, e pode-se
mesmo dizer que o ambientalismo
um dos vetores instituintes da ordem
mundial que ento se inicia.
A superao do desafo ambien-
tal inscrito no cerne da globalizao
neoliberal requer a compreenso das
questes colocadas pelos movimentos
sociais dos anos 1960, uma vez que a
globalizao neoliberal que se desenvol-
ver logo a seguir precisamente uma
resposta contra aquele movimento.
A questo ambiental est no centro
das contradies do mundo moderno-
colonial. Afnal, a ideia de progresso
e sua verso mais atual, desenvolvi-
mento , rigorosamente, sinnimo de
dominao da natureza! Portanto, aquilo
que a questo ambiental coloca como
desafo , exatamente, aquilo que o
projeto civilizatrio, nas suas mais di-
ferentes vises hegemnicas, acredita
ser a soluo, ou seja, a dominao da
natureza, ideia que comanda o imagi-
nrio do mundo moderno-colonial. A
questo ambiental coloca-nos diante
99
A
Ambiente (Meio Ambiente)
do fato de que h limites para a domi-
nao da natureza. Assim, estamos no
apenas diante de um desafo tcnico,
mas tambm de um desafo poltico
e civilizatrio.
Os anos 1960 comportam uma
ambiguidade em relao ideia de
desenvolvimento, e essa ambiguidade
ter importantes efeitos na nova eta-
pa do processo de globalizao nos
anos 1970. Ao mesmo tempo em que
se questiona o desenvolvimento l mesmo
onde ele parecia ter dado certo isto ,
na Europa e nos Estados Unidos , a
ideia de desenvolvimento, na perspec-
tiva de superar o subdesenvolvimento,
ganha corpo na Amrica Latina, na
frica e na sia. preciso verifcar que
a prpria ideia de subdesenvolvimento
traz em si a sua superao, na medida
em que o prefxo sub indica que se est
aqum de algo que se toma como pa-
rmetro, no caso o desenvolvimento: a
superao do subdesenvolvimento dar-
se- pelo desenvolvimento.
Desse modo, o desenvolvimentis-
mo passou a ganhar corpo nos pases
coloniais e semicoloniais, como Lenin
bem os caracterizou, no mesmo mo-
mento em que o desenvolvimento era
questionado nos pases hegemnicos.
emblemtica a posio do governo
brasileiro na primeira grande reunio
da Organizao das Naes Unidas
(ONU) sobre o meio ambiente, reali-
zada em Estocolmo em 1972, ao afr-
mar que a pior poluio era a pobreza,
convidando a que se trouxesse o desen-
volvimento por meio de investimentos
no Brasil. Na poca, dizia-se venham
poluir no Brasil, numa aceitao abso-
lutamente acrtica de que o desenvol-
vimento naturalmente est associado
degradao ambiental: o preo que
se paga pelo progresso. A partir des-
se momento, os chamados pases de-
senvolvidos, pases urbano-industria-
lizados, comearam a transferir para
alguns pases subdesenvolvidos, pases
agrcolas e rurais, suas plantas indus-
triais, inicialmente as mais poluidoras,
como a indstria de papel e celulose
e a de alumnio, dando incio a uma
nova diviso internacional do traba-
lho. Essa nova diviso do trabalho se
mostra hoje mais claramente; nela os
pases hegemnicos no sistema mundo
moderno-colonial so sociedades da
informao ou sociedades do conhe-
cimento; j os pases coloniais e semi-
coloniais, exportadores de commoditties
caracterstica, alis, que remonta ao
sculo XVI , so, hoje, pases que se
industrializam (vide a China e outros
pases asiticos, alm do Brasil, por
exemplo) numa perversa diviso do tra-
balho mundial. Nela, os pases coloniais
e semicoloniais so mo de obra da
obra desenhada, planejada e projetada
pelos que pensam, ou seja, pela cabe-
a dos designers, dos executivos e dos
intelectuais dos pases hegemnicos
do sistema mundo moderno-colonial.
Alm disso, as atividades limpas
conhecimento e informao fcam lo-
calizadas nos centros hegemnicos e as
atividades sujas agricultura e seus
agrotxicos, a indstria e seus rejeitos ,
nos pases coloniais e semicoloniais.
enfm, uma geografa socialmente desi-
gual dos proveitos e dos rejeitos.
At os anos 1960, a principal crtica
feita ao desenvolvimento provinha do
marxismo, que assinalava o carter ne-
cessariamente desigual em que se funda
o desenvolvimento capitalista. Porm,
a crtica era dirigida desigualdade do
desenvolvimento, e no ao desenvolvi-
mento em si, das foras produtivas ca-
pitalistas. Com isso, os que criticavam a
Dicionrio da Educao do Campo
100
desigualdade do desenvolvimento con-
tribuam para foment-lo, na medida
em que consideravam que a superao
da desigualdade e da misria seria feita
com mais desenvolvimento.
Outro dos paradoxos constituti-
vos do mundo moderno-colonial o
de que a superao da desigualdade se
transforma, na verdade, numa busca
para que todos sejam iguais a um padro
cultural, o europeu ocidental, e o do seu
flho bem-sucedido, os Estados Unidos.
Parece at mesmo absurdo dizer-se
que todos tm direito a ser iguais aos
ianommis, aos yukpas ou aos habitan-
tes da Mesopotmia (Al Iraque, em ra-
be). Entretanto, o aparente absurdo s
o na medida em que a colonizao do
pensamento nos fez crer que h povos
atrasados e adiantados, como se houves-
se um relgio
1
que servisse de parme-
tro universal. Assim, confunde-se a luta
contra a injustia social com uma
luta pela igualdade seguindo uma viso
eurocntrica: um padro cultural que se
cr superior e, por isso, passvel de
ser generalizado. Com isso, contribui-
se para que se suprima a diferena e a
diversidade, talvez o maior patrimnio
da humanidade.
Vivemos, hoje, a contradio de ja-
mais ter sido to vasto e profundo o
processo de dominao e devastao da
natureza quanto nesses ltimos trinta a
quarenta anos, perodo em que a questo
ambiental se instituiu como tema cen-
tral. Talvez no tenha havido, em todo
o mundo, uma regio to emblemtica
das contradies da globalizao do de-
senvolvimento quanto a Amrica Lati-
na e, dentre suas regies, a Amaznia.
2
Nesse perodo tivemos, ainda, a maior
onda expropriatria de camponeses e
povos originrios de toda a histria da
humanidade. Em outras palavras, gru-
pos sociais, povos e etnias que man-
tinham uma relao profunda com
a natureza foram desterritorializados
pelo avano de uma agricultura sem
agricultores, conforme a lcida carac-
terizao do argentino Miguel Teubal
(2011). O desmatamento generalizado
e a perda de solos e da diversidade bio-
lgica foram acompanhados, ainda, da
perda de diversidade cultural, quando
se jogaram nas cidades populaes que,
por serem pobres, viram-se obrigadas
a ocupar os fundos de vales, os man-
gues urbanos, as encostas instveis
e, assim, esto, paradoxalmente, mais
vulnerveis s intempries do quando
estavam nas reas rurais.
A questo ambiental urbana se ins-
creve como aquela socialmente mais
grave. Acrescente-se que esse pero-
do histrico que se inaugura nos anos
1970 foi aquele em que os Estados
se viram obrigados, pela orientao
neoliberal que lhes foi imposta por
organismos ditos multilaterais como
o Banco Mundial, o Fundo Monet-
rio Internacional (FMI) e a OMC, a
abandonar suas responsabilidades so-
ciais em prol do mercado. Com isso,
essas populaes tiveram de se virar
por si mesmas.
No por acaso, a maior parte dos
ncleos habitacionais das periferias
urbanas que se formaram desde ento
so baseadas em autoconstrues, fei-
tas, quase sempre, mediante prticas
sociais indgeno-camponesas, como os
mutires, e nas quais a solidariedade
concreta de ajuda mtua, em grande
parte fundada em relaes de paren-
tesco, garante a sobrevivncia, mes-
mo que sob o convite permanente ao
individualismo feito pela mdia, com
suas celebridades do mundo esportivo
e outros entretenimentos.
101
A
Ambiente (Meio Ambiente)
O controle da subjetividade se tor-
na vital, conforme comprova o fato de,
em 1998, uma empresa de fabricao
de tnis pagar a um s homem, ao jo-
gador de basquete Michael Jordan, mais
do que pagou a todos os que fabrica-
ram seus tnis em todos os cantos do
mundo. Enfm, os talentos esportivos
e artsticos so destacados, e o sonho
de ser um deles , por defnio, a im-
possibilidade de todos o serem. O so-
nho de cada um desses flhos de em-
pregados dessa empresa de tnis deve
ser ter um tnis e ser um esportista fa-
moso, como o Sr. Michael Jordan. H,
provavelmente, alguma organizao
no governamental (ONG) ensinando
a essas crianas a ter autoestima e a no
entrar no mundo do crime!
Em fnais dos anos 1960, o Clube
de Roma, criado por um grupo de em-
presrios e executivos transnacionais
de empresas como Xerox, IBM, Fiat,
Remington Rand e Ollivetti coloca
em debate, entre outras questes, o
lado da demanda por recursos no re-
novveis. O Relatrio Meadows do MIT
(Massachusetts Institute of Technology),
patrocinado pelo Clube de Roma,
tem um ttulo ilustrativo: The limits to
growth (Limites do crescimento) (Meadows
et al., 1972). Embora partindo de
uma hiptese simplifcadora, o docu-
mento assinalava o esgotamento dos
recursos naturais caso fossem manti-
das as tendncias de crescimento at
ento prevalecentes.
Com isso, o debate ambiental co-
mea a ganhar o reconhecimento do
campo cientfco e tcnico e, com ele, o
prprio campo ambiental torna-se mais
complexo, na medida em que captu-
rado pelo discurso tcnico-cientfco,
antes objeto de duras crticas. Desde
ento, veremos aproximaes e tenses
no interior do campo ambiental entre
perspectivas mais tcnico-cientfcas e
outras mais abertamente preocupadas
com questes culturais e polticas. No
a primeira vez que se vai observar esse
deslocamento do campo social e pol-
tico para o campo tcnico. Lembremos
que a expresso REVOLUO VERDE
se ope Revoluo Vermelha, que
ganhou grande visibilidade na luta con-
tra a fome quando milhes de campo-
neses brandiram suas bandeiras verme-
lhas na Revoluo Chinesa de 1949.
Desde ento h um esforo siste-
mtico para demonstrar que a questo
da fome um problema tcnico, a ser
solucionado com uma Revoluo Ver-
de, ideia que pouco a pouco se afr-
maria contra a ideia de que necessria
a Reforma Agrria e uma revoluo de
outra cor nas relaes sociais e de po-
der. O xito produtivo da Revoluo
Verde parece incontestvel, e hoje con-
vivemos com o paradoxo de mais de
1 bilho de habitantes passarem fome
ao lado da enorme produo de ali-
mentos. A concentrao fundiria em
grandes monocultivos, os pacotes tec-
nolgicos que subjugam os agriculto-
res com seu alto consumo de energia
e insumos, inclusive agrotxicos, e o
controle das sementes, cada vez mais
produzidas nas novas fbricas-labo-
ratrios das grandes corporaes e
no mais pelos camponeses e povos
originrios em seus prprios lugares
adaptadas criativamente s mais varia-
das situaes ecolgicas, no s so
capazes de produzir muitas toneladas
de gros, como tambm produzem mi-
lhes de pobres expropriados de suas
terras, bosques, campos, vrzeas...
importante recuperar a origem da
constituio do campo ambiental, com
suas questes e conceitos prprios,
Dicionrio da Educao do Campo
102
assim como a tenso que se estabelece
com o modo de produo de verdades no in-
terior da sociedade moderno-colonial,
no qual a cincia e a tcnica ocupam
um lugar de destaque. Ora, o discurso
cientfco e tcnico se constituiu exa-
tamente como o discurso de verdade
(da Verdade, com maiscula, prefere-
se) no mundo moderno-colonial. Com
isso, trouxe a desqualifcao de outros
saberes, de outros conhecimentos, de
outras falas. O que se v no Relatrio
Meadows o deslocamento da questo
ambiental em seus aspectos culturais
e polticos e sua assimilao lgica
tcnico-cientfca.
A ideia de que preciso colocar
limites ao crescimento seria refor-
ada ainda quando cientistas como
Ulrich Beck e Anthony Giddens (Beck,
Giddens e Lasch, 1995) comeam a falar
de sociedade de risco para designar as
contradies da sociedade moderna.
A caracterizao da sociedade como
sociedade de risco traz um componente
interessante para o debate ambiental, na
medida em que aponta para o fato de que
os riscos corridos pela sociedade con-
tempornea so, em grande parte, deriva-
dos da prpria interveno da sociedade
humana no planeta (refexividade), parti-
cularmente aquela derivada das interven-
es feitas pelo sistema tcnico. Assim,
sofremos refexivamente os efeitos da
prpria interveno que a ao humana
provoca por meio do poderoso sistema
tcnico de que modernamente se dispe.
possvel observar, ento, que o modelo
de ao humana europeu ocidental e es-
tadunidense, ao se expandir pelo mundo,
est colocando em risco o planeta intei-
ro, alm do fato de distribuir de modo
desigual seus benefcios e malefcios.
Quando se sabe que, segundo a
ONU, os 20% mais ricos do planeta
consomem cerca de 80% das matrias-
primas e da energia do mundo, estamos
diante de um fato limite, o de que seriam
necessrios cinco planetas para ofere-
cermos a todos os habitantes da Terra
o atual estilo de vida que, vivido pelos
ricos dos pases ricos e pelos ricos dos
pases pobres, pretendido pela maior
parte dos que no partilham dele. E po-
demos concluir que no a populao
pobre que est colocando o planeta e a
humanidade em risco, como insinua o
pobre discurso malthusiano afnal, os
80% mais pobres do planeta consomem
somente 20% dos recursos naturais, sen-
do o seu impacto sobre o destino eco-
lgico menor. Mahatma Gandhi colocou
bem a questo, quando indagou: Para
desenvolver a Inglaterra foi necessrio
o planeta inteiro. O que ser necessrio
para desenvolver a ndia?.
Estamos diante de uma mudana de
escala na crise atual de escassez por po-
luio do ar, de escassez por poluio
da gua, de escassez (limites) de mine-
rais, de escassez (limites) de energia, de
perda de solos (limites) os quais
demandam um tempo, no mnimo, geo-
morfolgico, para no dizer geolgico,
para se formarem , perda, enfm, de
elementos (ar, gua, fogo, terra) que
eram vistos como dados e que a cultura
ocidental e/ou ocidentalizada acredita-
va poder dominar. O efeito estufa, o
buraco na camada de oznio, a mudan-
a climtica global, o lixo txico, para
no falar do lixo propriamente, so os
indcios mais fortes desses limites co-
locados em escala global, ainda que sua
dinmica se evidencie melhor em outras
escalas (local, regional, nacional).
Agora no mais uma cultura ou
um povo especfco que coloca em risco
sua prpria existncia. A globalizao
de uma mesma matriz de racionalida-
103
A
Ambiente (Meio Ambiente)
de, comandada pela lgica econmica
em sentido estreito, nos conduz inexo-
ravelmente a uma economia que igno-
ra sua inscrio na Terra isto , no
ar, na gua, no solo, no subsolo (nos
minrios), nos ciclos vitais das cadeias
alimentares, de carbono, de oxignio
e, assim, a humanidade toda, embora
sofrendo de modo desigual, est sub-
metida a riscos derivados de aes de-
cididas por alguns poucos.
Enfm, a vida , tambm, respons-
vel pelo equilbrio dinmico do plane-
ta, conforme atesta a teoria de Gaia.
3
O conhecimento dessas complexas
relaes pode (e deve) ter importantes
implicaes de ordem tica e poltica,
sobretudo no que diz respeito utili-
zao dos combustveis fsseis a partir
da segunda revoluo prometeica a
Revoluo Industrial, quando uma es-
pcie viva, o ser humano, comeou a
usar amplamente a energia solar acu-
mulada sob a forma mineral, energia
produzida num tempo geolgico de
milhes de anos e que um motor a ex-
ploso, em frao de segundos, devol-
ve atmosfera. Aqui, mais uma vez, a
vida biolgica, por meio de um arte-
fato criado pelo homem, interfere nas
condies de equilbrio dinmico do
planeta, produzindo efeitos no pre-
tendidos e indesejados, e testando os
seus limites, tal como havia feito com
a agricultura quando da primeira revo-
luo prometeica. E agora, quando a
agricultura comea, com os agrocom-
bustveis, a produzir energia para as
mquinas, e as terras para a produo
de alimentos passam a ser disputadas
para a produo de energia, nos vemos
na iminncia de uma terceira revoluo
prometeica. Novos desafos.
Entretanto, sabemos que no o
conhecimento das leis da termodin-
mica que nos far conter os riscos que,
refexivamente, a sistematizao global
moderno-colonial est promovendo,
como tampouco o conhecimento das
leis da gravidade que nos impede de
nos lanarmos do alto de um edifcio,
muito embora devamos admitir com
Josu de Castro que a pulso da fome
seja criativa, assim como o a pulso
da sexualidade, como explicou Freud.
Alm disso, Elmar Altvater nos alerta:
[...] s saberemos tudo quando
for cientifcamente tarde de-
mais para evitar uma catstrofe
climtica ou a destruio das
espcies. A cincia positivis-
ta uma cincia ex post , por
precisar estar diante do aconte-
cimento para poder analis-lo
com seus mtodos refnados.
As tendncias so separadas de
seus contextos, portanto, tam-
bm no h prognsticos acer-
ca do desenvolvimento do todo
sobre a base de anlises e diag-
nsticos de suas partes. (1995,
p. 302-303)
O que est em jogo com a questo
ambiental a reapropriao social da na-
tureza. Com o capitalismo, as comuni-
dades camponesas e os povos origin-
rios foram expulsos de seus territrios.
Desterritorializados e dispersos, torna-
ram-se indivduos que nas cidades ti-
veram de vender sua fora de trabalho,
transformaram-se em mercadorias da
mesma forma que as suas terras ago-
ra, com a sua expulso, passaram a ser
objeto de compra e venda. Assim, no
capitalismo, a separao ser humano/
natureza no s uma questo de
paradigma, mas tambm uma ques-
to que constitui a sociedade, promo-
vendo a separao da maior parte da
Dicionrio da Educao do Campo
104
humanidade das suas condies natu-
rais de existncia.
Enfm, com a separao da natu-
reza, o capital a submete aos seus de-
sgnios de acumulao e joga por terra
a promessa iluminista de uma razo a
servio da emancipao. O limite do
capital o dinheiro, e o dinheiro, sendo
uma expresso quantitativa da riqueza,
no tem limites. A luta ambiental sina-
liza, hoje, mais do que qualquer outra
luta, que o sentido da emancipao
humana passa pela reapropriao so-
cial da natureza e, por isso, contra a
mercantilizao do mundo, essncia do
capitalismo e seus fetiches.
Assim, preciso resgatar um sen-
tido que os gregos reservaram para
os limites, o termo plis, forma como,
originariamente, designavam o muro
que delimitava a cidade do campo. So-
mente depois plis passou a designar o
que estava contido no interior do muro:
a cidade. Entretanto, a plis, a poltica, a
cidade e a cidadania mantm um vncu-
lo ntimo com aquele signifcado origi-
nrio. que a poltica a arte de defnir
os limites: tirania quando um defne os
limites para todos; oligarquia quando
poucos defnem os limites para todos; e
democracia quando todos participam
da defnio dos limites.
Portanto, preciso resgatar a pol-
tica, no seu sentido mais profundo de
arte de defnir os limites, sentido que
s pleno com democracia social e
econmica. No h limites imperativos
relao das sociedades com a natu-
reza. Esses limites, necessariamente,
havero de ser construdos pelos ho-
mens e mulheres de carne e osso, seja
por meio das lutas sociais, inclusive
de classes, seja por meio do dilogo
de saberes entre modalidades distintas
de produo de conhecimento, seja no
interior de uma mesma cultura, seja en-
tre culturas distintas. A espcie humana
ter de se autolimitar! Os limites so,
antes de tudo, polticos! Contra o capi-
talismo e a colonialidade (que sabemos
que sobrevive ao fm do colonialismo)!
Notas
1
Na verdade h um parmetro, sim, que meridianamente diz a hora certa do mundo:
Greenwich. No sem sentido, Greenwich um subrbio de Londres, ele mesmo marco da he-
gemonia britnica a partir do sculo XIX, substituindo outro meridiano o de Tordesilhas
que servira de marco da hegemonia ibrica. A histria geografza-se.
2
Isso talvez se explique pelo fato de a Amrica Latina ser, de todas as regies coloniais e
semicoloniais do mundo, aquela mais ocidentalizada, onde at mesmo o nome da regio
uma homenagem a um europeu, Amrico Vespcio. Isso no impediu que aqui se formas-
se uma rica tradio de pensamento crtico (a teoria da dependncia, a teologia da liberta-
o, a pedagogia do oprimido, o socioambientalismo) contra essa colonialidade que to bem
caracteriza o pensamento dependente de boa parte das elites.
3
A teoria de Gaia, criada pelo cientista ingls James Lovelock, em 1969, sustenta que a Terra
um ser vivo e que possui capacidade de autossustentao, ou seja, capaz de gerar, manter
e alterar suas condies ambientais. De incio, a teoria foi aceita apenas por ambientalistas e
defensores da ecologia; porm, atualmente, com o problema das mudanas climticas, est
sendo revista, e muitos cientistas tradicionais j aceitam algumas de suas ideias.
105
A
Articulaes em Defesa da Reforma Agrria
Para saber mais
ALPHANDRY, P.; BITOUN, P.; DUPONT, Y. O equvoco ecolgico: riscos polticos. So
Paulo: Brasiliense, 1992.
ALTVATER, E. O preo da riqueza. So Paulo: Editora da Unesp, 1995.
BARTRA, A. El hombre de hierro: los lmites sociales y ambientales del capital.
Mxico, D.F.: UACMItacaUAM, 2008.
BECK, U.; GIDDENS, A.; LASCH, S. Modernizao refexiva: poltica, tradio e
esttica na ordem social moderna. So Paulo: Editora da Unesp, 1995.
CORDEIRO, R. C. Da riqueza das naes cincia das riquezas. So Paulo: Loyola,
1995.
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. So Paulo: Hucitec, 1996.
LEFF, E. A racionalidade ambiental: a reapropriao social da natureza. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2006.
______. Ecologia, capital e cultura: a territorializao da racionalidade ambiental.
Petrpolis: Vozes, 2009.
MEADOWS, D. et al. (1972). Limites do crescimento: um relatrio para o projeto do
Clube de Roma sobre o dilema da humanidade. So Paulo: Perspectiva, 1972.
PDUA, J. A. Um sopro de destruio: pensamento poltico e crtica ambiental no
Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
PORTO-GONALVES, C. W. A globalizao da natureza e a natureza da globalizao.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2006.
______. Os (des)caminhos do meio ambiente. So Paulo: Contexto, 1989.
TEUBAL, M. Apuntes sobre el desarrollo. In: GIARRACA, N. (org.). Bicentenarios
(otros) transiciones y resistencias. Buenos Aires: Ventana, 2011.
A
ARTICULAES EM DEFESA DA REFORMA AGRRIA
Srgio Sauer
Com o processo de redemocratiza-
o poltica do Brasil, o qual teve in-
cio em fns dos anos 1970, resultando
no primeiro governo civil, em 1985, e
no processo Constituinte, entre 1987 e
1988, os movimentos sociais agrrios
retomaram e deram um carter nacio-
nal s lutas por terra. Surgem novos
movimentos sociais (ver MOVIMEN-
TO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM
TERRA) que, associados s organizaes
e entidades j existentes (ver COMISSO
Dicionrio da Educao do Campo
106
PASTORAL DA TERRA e SINDICALISMO
RURAL), ampliaram as lutas e intensif-
caram as demandas por Reforma Agr-
ria em todo o Brasil.
Anterior a esse processo de abertu-
ra poltica, enfrentando os duros anos
da ditadura militar (1964-1985), foi
criada, em 1969, a Associao Brasi-
leira de Reforma Agrria (Abra), sob a
coordenao de Jos Gomes da Silva. A
histria e o compromisso da Abra com
os temas do campo, na verdade, esto
intimamente ligados a seu idealizador,
fundador e principal liderana. Assim
como seu principal coordenador, a
Abra e os acadmicos a ela vinculados
foram incansveis na articulao e na
defesa da Reforma Agrria, mesmo
nos anos mais duros da ditadura.
Como lembra Snia Moraes, Jos
Gomes da Silva, um engenheiro agr-
nomo e militante incondicional da
Reforma Agrria, era um obstinado
pela justia no campo (2006, p. 15).
Suas posies e militncias, portanto,
faziam-se presentes na agenda e arti-
culaes da Abra, especialmente nos
debates tericos e no apoio luta pela
terra, sendo a associao um lugar de
acolhimento e incentivo aos movimen-
tos sociais existentes no pas (Moraes,
2006, p. 16).
Em um contexto de constantes
ameaas, perseguio poltica e repres-
so, a Abra fez coro com outras en-
tidades e organizaes do campo a
exemplo da Comisso Pastoral da Terra
(CPT), criada em 1975, e da Confede-
rao Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag), criada em 1963
na defesa dos povos do campo, no in-
centivo a grupos de estudo e refexo,
e em aes e mobilizaes em prol da
Reforma Agrria. Segundo Carvalho,
a Abra se tornou um espao de agre-
gao de pessoas de vrios matizes, de
pesquisadores universitrios e autno-
mos; uma escola de Reforma Agrria,
um centro de pensamento e de ao
(2006, p. 28).
J nos anos de abertura poltica, a
Abra como lugar de acolhimento e
incentivo aos movimentos sociais en-
to em ascenso mobilizou e partici-
pou ativamente nas lutas polticas, auxi-
liando nas formulaes e mobilizaes
por um pas democrtico e no processo
Constituinte, com Jos Gomes da Silva
atuando como um dos principais ani-
madores da participao popular e
como o formulador da emenda cons-
titucional de Reforma Agrria (Silva,
1987), assumida pela Campanha Na-
cional pela Reforma Agrria (CNRA)
e entidades do campo, a exemplo da
CPT, Abra, Contag, e do ento recm-
criado Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST).
A Campanha Nacional pela Refor-
ma Agrria (CNRA) foi organizada nos
anos 1980 e coordenada pelo Betinho
(Herbert de Souza), ento liderana
importante de uma organizao no
governamental, o Instituto Brasileiro
de Anlises Socioeconmicas (Ibase),
sediado no Rio de Janeiro. Essa cam-
panha desembocou, j nos anos 1990,
no Frum Nacional pela Reforma
Agrria e Justia no Campo (FNRA),
outra rede importante nos processos
de articulao, mobilizaes e lutas por
terra no Brasil.
Em pleno processo de redemocra-
tizao poltica e de ascenso das lutas
por terra, vrias entidades articularam a
CNRA a partir de 1983, como uma ma-
neira de apoiar as demandas populares
e as lutas por Reforma Agrria. Segun-
do depoimento de Betinho, no incio
parecia difcil construir um discurso
107
A
Articulaes em Defesa da Reforma Agrria
e formular uma proposta de interven-
o social que unisse, pelo menos par-
cialmente, a CPT, a Linha 6 da CNBB
[Conferncia Nacional dos Bispos do
Brasil], a Contag, o Cimi [Conselho In-
digenista Missionrio] e a Abra, mas,
depois de nove meses de conversas e
articulaes, nasceu a CNRA (Souza,
1997, p. 13).
A CNRA desempenhou importan-
te papel poltico, articulando diferen-
tes atores e dando maior visibilidade
s lutas do campo e aos muitos casos
de violncia (assassinatos, tentativas
de assassinatos, ameaas de morte etc.)
contra os trabalhadores rurais e suas
lideranas. Junto com a Abra, contri-
buiu nas mobilizaes em torno do
Plano Nacional de Reforma Agrria
(I PNRA), lanado em 1985 pelo Go-
verno Sarney, e nas formulaes e
propostas ao texto da Constituio de
1988 (Silva, 1987).
Nesse processo de redemocratiza-
o poltica e rearticulao popular,
consolida-se tambm, a partir do f-
nal da dcada de 1980, uma estrutura
sindical paralela ao sindicalismo ofcial
da Contag, com a criao do Departa-
mento Nacional dos Trabalhadores Ru-
rais (DNTR) (Picolotto, 2011, p. 2),
como prolongamento da Articulao
Sindical Sul, formada em 1984 por li-
deranas e entidades ligadas ao campo,
como a prpria CPT, e o ento recm-
criado Movimento de Atingidos por
Barragens (MAB).
O DNTR, departamento da Central
nica dos Trabalhadores (CUT), alm
de defender a liberdade e autonomia
sindical (Picolotto, 2011, p. 2), articu-
lou sindicatos de trabalhadores rurais e
departamentos estaduais (DETRs) em
lutas por direitos e por terra. Isso for-
taleceu a bandeira da Reforma Agrria
e as entidades agrrias nesse perodo.
Em meados dos anos 1990, com a f-
liao da Contag CUT, essa central
dissolveu o DNTR, mas aes sindi-
cais ampliaram a bandeira da Reforma
Agrria (ver SINDICALISMO RURAL). No
incio da dcada de 1990, federaes
sindicais e sindicatos de trabalhadores
rurais (STRs) do sistema Contag, alm
da histrica defesa da aplicao do Es-
tatuto da Terra, tambm passaram a
mobilizar famlias sem-terra e a ocupar
reas exigindo a desapropriao para
fns de Reforma Agrria (Sauer, 2002,
p. 149).
Diante de toda essa presso pela
Reforma Agrria, o Governo Sarney,
ao lanar o I PNRA em 1985, prome-
teu assentar 1,4 milhes famlias em
quatro anos. No entanto, as alianas
polticas especialmente as alian-
as com setores ruralistas que deram
sustentao ao primeiro governo ci-
vil ps-ditadura inviabilizariam o
I PNRA; diante do fracasso do mes-
mo, as mobilizaes pela Reforma
Agrria se concentraram no processo
de elaborao da nova Constituio, a
partir de 1987 (Sauer, 2010).
Associada a outras entidades e mo-
vimentos Abra, Contag, MST, Cen-
tral nica dos Trabalhadores, CPT,
Ibase, Instituto de Estudos Socioeco-
nmicos (Inesc), entre outros, a CNRA
sensibilizou, mobilizou e pressionou
membros (deputados e senadores) da
Assembleia Nacional Constituinte a
incluir um captulo sobre a Reforma
Agrria na nova Constituio (Silva,
1987). Nesse processo, as entidades da
CNRA apresentaram uma Emenda
Popular da Reforma Agrria, subscri-
ta por um milho e duzentas mil pes-
soas, emenda com o maior nmero de
apoios (Russo, 2008).
Dicionrio da Educao do Campo
108
Apesar dessa mobilizao e do am-
plo apoio emenda, os embates e dis-
putas com as entidades patronais (ver
ORGANIZAES DA CLASSE DOMINANTE
NO CAMPO) resultaram em um texto
constitucional ambguo, o qual levou
as entidades e redes a avaliaes nega-
tivas, alguns inclusive o consideraram
uma grande derrota (Souza e Sauer,
2009). Apesar de a emenda popular ter
sido acolhida e a Reforma Agrria fazer
parte da Constituio (art. 184 a 186), a
incluso do conceito de terras produ-
tivas (e a proibio de desapropriao
das mesmas, conforme art. 185) foi e
continua sendo considerada uma der-
rota (Souza e Sauer, 2009), levando as
entidades e movimentos a retomar
as mobilizaes e lutas diretas por terra.
As ocupaes de terra se amplia-
ram e, no incio da dcada de 1990, o
governo federal regulamenta os artigos
da Constituio, promulgando a lei da
Reforma Agrria (lei n 8.629, de 25
de fevereiro de 1993). A crescente con-
centrao de aes polticas no plano
nacional levou ao deslocamento da
CNRA, antes sediada no Ibase, no Rio
de Janeiro, para o Frum Nacional pela
Reforma Agrria e Justia no Campo
(FNRA), sediado em Braslia. As mobi-
lizaes em defesa da Reforma Agrria
resultaram, em meados dos anos 1990,
na articulao do FNRA, dando segui-
mento s aes e articulaes da Cam-
panha Nacional pela Reforma Agrria.
O FNRA foi estabelecido nacio-
nalmente por volta de 1995; atualmen-
te, composto por mais de quarenta
movimentos sociais, organizaes do
movimento sindical rural, entidades de
representao, pastorais sociais e orga-
nizaes no governamentais (ONGs)
(Sauer, 2010). Fazem parte dele mo-
vimentos e entidades como o MST,
a Contag, a Federao Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar
(Fetraf), o Movimento dos Atingidos
por Barragens, o Movimento dos Peque-
nos Agricultores (MPA) e o Movimento
de Mulheres Camponesas (MMC Brasil),
entre outras organizaes e entidades de
apoio s lutas por justia no campo.
Como articulao nacional e espao
de debate e de aliana, as aes (campa-
nhas, assembleias, seminrios, audin-
cias pblicas...) do FNRA so orga-
nizadas por temas consensuais, como
base de atuao conjunta.
1
Mesmo ha-
vendo consenso, o FNRA um espao
de articulao e discusso, sem que as
organizaes membro sejam obrigadas
seguir as suas decises (Sauer, 2010).
Com base em acordos polticos, as
entidades do FNRA passaram a atuar
em temas como reivindicao de atua-
lizao dos ndices de produtividade e
campanha pelo estabelecimento de li-
mite propriedade da terra, em 2010
(Sauer, 2010). O FNRA organizou al-
guns eventos nacionais com relativo
sucesso entre eles campanhas, semi-
nrios e conferncias, como a Confe-
rncia Nacional de Terras e da gua,
realizada em 2004, que contou com a
participao de mais de 10 mil campo-
neses sem-terra, agricultores familiares,
lideranas indgenas, famlias atingidas
por barragens, mulheres camponesas,
entre outros.
Assim como o FNRA e a Abra,
existem vrias redes, associaes e f-
runs que lutam pela transformao do
modelo agrrio, a exemplo da Articula-
o Nacional de Agroecologia (ANA).
A ANA uma rede de entidades que,
fundamentalmente, promove, incenti-
va, apoia, divulga e articula as experin-
cias em agroecologia (ver AGROECO-
LOGIA) como uma forma diferente de
produzir no campo e de se relacionar
com o meio ambiente. Essas redes exis-
109
A
Articulaes em Defesa da Reforma Agrria
tem como esforos e articulaes que
procuram ampliar a histrica luta por
Reforma Agrria e alterar as formas
ambientalmente predatrias e social e
politicamente excludentes de apropria-
o e uso da terra no Brasil.
Nota
1
As entidades do FNRA, historicamente, tomaram posio conjunta pela Reforma Agrria
e contra a violncia no campo, com aes como a realizao da Conferncia Nacional da
Terra e da gua (ver Sauer, 2007), realizada em 2004. Posicionaram-se, tambm, contra
os programas de Reforma Agrria de mercado, capitaneados pelo Banco Mundial, entre
1996 e 2000, e, mais recentemente, articularam a campanha nacional pelo limite mximo de
propriedade da terra no Brasil.
Para saber mais
CARVALHO, A. V. de. Homenagem a Jos Gomes da Silva. Revista da Abra, v. 33,
n. 2, p. 19-30, ago.-dez. 2006.
GRZYBOWSKI, Cndido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo.
Petrpolis: Vozes; Rio de Janeiro: Fase, 1987.
MORAES, S. H. N. Biografa de Jos Gomes da Silva. Revista da Abra, v. 33, n. 2,
p. 7-18, ago.-dez. 2006.
PICOLOTTO, E. L. A formao de um sindicalismo de agricultores familiares no
Sul do Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 15. Anais... Curitiba:
Sociedade Brasileira de Sociologia, julho de 2011. Disponvel em: http://www.
sbsociologia.com.br/portal/index.php. Acesso em: ago. 2011.
RUSSO, O. A Constituinte e a Reforma Agrria. So Paulo, 2008. Disponvel em:
http://www.reformaagraria.net/node/644. Acesso em: abr. 2011.
SAUER, S. (org.). Conferncia Nacional da Terra e da gua: Reforma Agrria, demo-
cracia e desenvolvimento sustentvel. So Paulo: Expresso Popular; Braslia:
FNRA, 2007.
______. Terra e modernidade: a dimenso do espao na aventura da luta pela terra.
2002. Tese (Doutorado em Sociologia) Departamento de Filosofa, Instituto de
Cincias Humanas, Universidade de Braslia, Braslia, 2002.
______. Terra e modernidade: a reinveno do campo brasileiro. So Paulo:
Expresso Popular, 2010.
SILVA, J. G. da. Buraco negro: a Reforma Agrria na Constituinte de 1987-88. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1989.
SOUZA, H. de. Prefcio. In: SECRETARIADO NACIONAL DA CPT. A luta pela terra: a
Comisso Pastoral da Terra vinte anos depois. So Paulo: Paulus, 1997. p. 11-13.
SOUZA, M. R.; SAUER, S. A Reforma Agrria e a Constituinte. In: COMISSO DE
LEGISLAO PARTICIPATIVA. Constituio 20 anos: Estado, democracia e participao
popular. Braslia: Cmara dos Deputados, 2009. p. 145-150.
Dicionrio da Educao do Campo
110
A
ASSENTAMENTO RURAL
Sergio Pereira Leite
A emergncia dos assentamentos
rurais no cenrio da questo agrria
brasileira um dos fatos marcantes que
caracterizam especialmente o perodo
que vai da dcada de 1980 at os dias
atuais. Com os assentamentos, ganham
projeo tambm os seus sujeitos di-
retos, isto , os assentados rurais, bem
como os movimentos e as organizaes
que, em boa parte dos casos, garanti-
ram o apoio necessrio para que o es-
foro despendido ao longo de lutas as
mais diversas resultasse na constituio
de projetos de Reforma Agrria, tam-
bm conhecidos como assentamentos
rurais. Assim, em diferentes situaes,
nmero expressivo de trabalhadores
que participaram de processos de ocu-
pao de terra deixaram de ser acampa-
dos para se tornarem, num momento
seguinte, assentados.
Duas questes parecem centrais
nesse movimento. A primeira delas
que no podemos reduzir esse processo
a um nico modelo, seja em relao
origem do trabalhador que reivindi-
ca terra, seja organizao da luta, do
acampamento e do prprio assenta-
mento, seja, ainda, s atividades prati-
cadas nesses novos espaos e a forma
pela qual eles se materializam. Assim,
so vlidas e legtimas as lutas de traba-
lhadores que, tendo sua ltima moradia
e/ou local de trabalho no meio rural,
passam a se engajar nos movimentos
pela democratizao da terra, como so
igualmente vlidas as reivindicaes de
trabalhadores oriundos do meio ur-
bano (metropolitano ou no), muitas
vezes com um trajetria anterior no
meio rural, que buscam a (re)conver-
so aos espaos proporcionados pela
Reforma Agrria.
A segunda questo diz respeito
diversidade de lutas que tm na de-
manda e no acesso terra (portanto,
em boa medida, na construo dos as-
sentamentos rurais) seu principal obje-
tivo. No desconhecido o fato de que
existe hoje no Brasil grande nmero
de movimentos organizados que lutam
pelo acesso terra e aos recursos natu-
rais e constroem a realidade ps-assen-
tamento das formas mais diferenciadas
possveis. Essas diferentes lutas so,
de fato, responsveis pela implantao
dos projetos de assentamento. A lite-
ratura especializada (Leite et al., 2004,
por exemplo) tem destacado o fato de
a poltica de assentamentos do gover-
no vir a reboque da ao dos setores
organizados mobilizados em torno da
bandeira da Reforma Agrria.
Esses aspectos levam necessidade
de compreender melhor o signifcado
e a dimenso que esses novos sujeitos
e essas novas unidades (de produo,
consumo, trabalho, moradia, lazer,
vida etc.) passam a cumprir no seio
da chamada questo agrria brasileira.
Mesmo que ainda reduzido ante a for-
te concentrao fundiria que marca o
caso brasileiro, o nmero de projetos
de assentamentos rurais vem aumen-
tando, permitindo afrmar que existe
certa irreversibilidade nesse proces-
so e uma quantidade no desprezvel
111
A
Assentamento Rural
de famlias que acionam o novo esta-
tuto de assentado para a construo
de novas formas de organizar a vida, a
produo etc., bem como para acessar
um conjunto de bens, servios, merca-
dos e polticas pblicas.
Grosso modo, a expresso assen-
tamento rural (criada na esteira dos
processos de assentamentos urba-
nos) parece datar de meados dos anos
1960, sobretudo como referncia em
relatrios de programas agrrios of-
ciais executados na Amrica Latina,
designando a transferncia e a alocao
de determinado grupo de famlias de
trabalhadores rurais sem-terra (ou com
pouca terra) em algum imvel rural
especfco, visando constituio de
uma nova unidade produtiva em um
marco territorial diferenciado, como
frisou Fernandes (1996). Bergamasco e
Noder (1996) referem-se ao caso ve-
nezuelano, dessa mesma poca, para
indicar o emprego do termo nos pro-
gramas de reforma e/ou reestrutura-
o fundiria. E sugerem que essa pr-
tica encontra exemplos semelhantes no
contexto dos ejidos mexicanos ou dos
kibutzim e moshavim israelenses.
No Brasil, o termo assentamento ru-
ral esteve atrelado, por um lado, atu-
ao estatal direcionada ao controle e
delimitao do novo espao criado e,
por outro, s caractersticas dos proces-
sos de luta e conquista da terra empreen-
didos pelos trabalhadores rurais.
No que diz respeito atuao es-
tatal, a defnio governamental dada
ultimamente ao termo tem mantido
diferenas e semelhanas com outras
situaes afins, como a colonizao
dirigida e a regularizao fundiria, e
enfatizado a criao e a integrao de
novas pequenas propriedades rurais
(atualmente compreendidas como par-
te do universo da agricultura familiar
e/ou camponesa) ao processo produ-
tivo, com base na desapropriao de
terras ociosas ou, ainda, na aquisio
de imveis rurais e fornecimento de
crdito fundirio, ainda que essa lti-
ma prtica no possa ser caracterizada
necessariamente como um processo
de Reforma Agrria (servindo muito
mais ao modelo implementado pelo
Banco Mundial em diferentes pases,
como frica do Sul, Brasil e Colmbia,
entre outros).
Em diversos programas ofciais de
assentamentos rurais, o projeto de as-
sentamento j foi compreendido, inclu-
sive, como uma unidade administrativa
do Estado, o que levaria ao extremo a
ideia de que tais reas resultam de e ex-
pressam apenas a lgica da interveno
governamental, negligenciando-se os
esforos empreendidos pelos deman-
dantes de terra e suas organizaes.
No entanto, pode-se concordar com o
fato de que a criao do assentamento,
enquanto unidade de referncia desses
processos (polticas pblicas e lutas
por terra), demanda necessariamente
algum marco legal, passvel de uma
ao do Estado.
Em documento ofcial de meados da
dcada de 2000, o Estado brasileiro de-
fne o projeto de assentamento como
[...] um conjunto de aes pla-
nejadas e desenvolvidas em rea
destinada Reforma Agrria,
de natureza interdisciplinar e
multissetorial, integradas ao
desenvolvimento territorial e
regional, defnidas com base em
diagnsticos precisos acerca do
pblico benefcirio e das reas
a serem trabalhadas, orientadas
para a utilizao racional dos
Dicionrio da Educao do Campo
112
espaos fsicos e dos recursos
naturais existentes, objetivan-
do a implementao dos sis-
temas de vivncia e produo
sustentveis, na perspectiva do
cumprimento da funo social
da terra e da promoo econ-
mica, social e cultural do traba-
lhador rural e de seus familiares.
(Brasil, 2004, p. 148)
Embora relativamente vaga, a def-
nio acima ressalta a ideia do cumpri-
mento da funo social da terra como
base para a prpria ao do Estado no
processo de arrecadao dos imveis
ociosos e tambm como resultado da
prtica observada com a constituio
dos assentamentos rurais, que devem
atender os requisitos para que um im-
vel rural cumpra com sua funo social.
No segundo caso, ou seja, em re-
lao s caractersticas dos processos
de luta e conquista da terra, as desig-
naes assentamento/assentado pare-
cem estar muito mais associadas ideia
de Reforma Agrria do que de colo-
nizao, visto que o termo vem carre-
gando, historicamente, um confronto
de projetos polticos. Se, da perspec-
tiva do Estado, a referncia bsica
era o programa de colonizao con-
duzido sob um esquema de segurana
nacional (entre os anos 1970 e 1980),
do prisma dos movimentos sociais e
entidades de apoio luta pela terra, a
conquista de novas reas traduzia um
movimento mais geral de afirmao e
visibilidade poltica, dando nova colo-
rao a uma categoria classificada
pelas agncias governamentais como
eminentemente tcnica.
Apreender a dimenso exata do
exposto anteriormente tarefa com-
plicada. Em primeiro lugar, por causa
da prpria caracterizao das diversas
situaes criadas que poderiam vir a
integrar o conjunto dos assentamentos
rurais. Nesse sentido, parece-nos que, a
despeito das peculiaridades dos distin-
tos programas de interveno pblica
que marcaram a implantao de proje-
tos no campo e das formas diferencia-
das de luta pela terra que pontuaram
os vrios movimentos, podemos con-
ceituar como assentamentos as seguin-
tes modalidades: projetos de Reforma
Agrria com base nos instrumentos de
desapropriao por interesse social
de imveis rurais que no cumprem
a sua funo social; reassentamentos
derivados da realocao de populao
rural em razo da construo usinas
hidreltricas, especialmente durante
os anos 1980; projetos de colonizao
dentro do programa ofcial de coloni-
zao ocorrido, sobretudo, no pero-
do 1970-1985; projetos de valorizao
das terras pblicas, frutos da ao dos
distintos governos, principalmente es-
taduais, na utilizao de recursos fun-
dirios pblicos para fns de Reforma
Agrria, prtica em voga durante os
anos 1980 e incio dos anos 1990; e,
ainda, reservas ou projetos (agro)extra-
tivistas advindos do plano de demarca-
o de reservas, com nfase na regio
Norte do pas, implantados nas dca-
das de 1980-2000, e que compreen-
dem, no perodo recente, aquilo que
vem sendo denominado pelo Instituto
Nacional de Colonizao e Reforma
Agrria (Incra) rgo governamen-
tal responsvel pela gesto da poltica
de assentamentos no pas projetos
especiais de assentamento, os chama-
dos projeto ambientais: Florestas Na-
cionais (Flonas), projetos agroextra-
tivistas, de assentamento florestal,
de desenvolvimento sustentvel e as
reservas extrativistas e de desenvolvi-
mento sustentvel.
113
A
Assentamento Rural
Assim, a diversidade de lutas e ex-
perincias que caracterizaram o mo-
vimento organizado de trabalhadores
rurais e a prtica das polticas pblicas,
com diferenciaes regionais signifca-
tivas, pode, de certo modo, ser unif-
cada conceitualmente na terminologia
proposta. Dessa forma, ao mesmo
tempo em que se identifcam trajetrias
e estratgias comuns em um marco es-
trutural em que todo o processo se de-
senvolve, a busca por uma compreen-
so de carter globalizante permite,
ainda, esboar um quadro poltico de
representao desses atores e um canal
especfco de dilogo com o Estado de
forma ampliada.
Os assentamentos assumem, ento,
confguraes distintas coletivos/in-
dividuais; agrcolas/pluriativos; habita-
es em lotes/em agrovilas; frutos de
programas governamentais estaduais/
federais; com poucas/muitas fam-
lias; organizados e/ou politicamente
representados por associaes de as-
sentados, cooperativas, movimentos
sociais, religiosos, sindicais, etc. , mas
signifcaro sempre, malgrado as pre-
cariedades que ainda caracterizam n-
mero expressivo de projetos, um ponto
de chegada e um ponto de partida na
trajetria das famlias benefciadas/
assentadas. Ponto de chegada enquan-
to um momento que distingue funda-
mentalmente a experincia anterior de
vida daquela vivenciada aps a entrada
no projeto (muitas vezes representada
pela ideia de liberdade comparada s
situaes de sujeio s quais esta-
vam presos os trabalhadores); pon-
to de partida como conquista de
um novo patamar do qual se pode
acessar um conjunto importante de
polticas (de crdito, por exemplo),
mercados e bens, inacessveis na si-
tuao anterior.
Para saber mais
BERGAMASCO, S., NORDER, L. C. O que so assentamentos rurais? So Paulo: Brasiliense,
1996.
BRASIL. MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRRIO (MDA). INSTITUTO NACIO-
NAL DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA (INCRA). Instruo normativa Incra
n 15, de 30 de maro de 2004. Dirio Ofcial da Unio, n. 65, seo 1, p. 148,
5 abr. 2004.
FERNANDES, B. M. MST: formao e territorializao. So Paulo: Hucitec, 1996.
LEITE, S. Assentamento rural. In: MOTTA, M. M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005. p. 43-45.
LEITE, S. et al. Impactos dos assentamentos: um estudo sobre o meio rural brasileiro.
So Paulo: Editora da Unesp; Braslia: Nead, 2004.
______; VILA, R. Um futuro para o campo: Reforma Agrria e desenvolvimento
social. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2007.
MEDEIROS, L. Reforma Agrria no Brasil: histria e atualidade da luta pela terra. So
Paulo: Perseu Abramo, 2003.
Dicionrio da Educao do Campo
114
______; LEITE, S. (org.). A formao dos assentamentos rurais no Brasil: processos so-
ciais e polticas pblicas. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
______ et al. (org.). Assentamentos rurais: uma viso multidisciplinar. So Paulo:
Editora da Unesp, 1994.
ROMEIRO, A.; GUANZIROLI, C.; LEITE, S. (org.). Reforma agrria: produo, emprego
e renda. 2. ed. Petrpolis: Vozes, 1995.
SILVA, M. A. M. A luta pela terra: experincia e memria. So Paulo: Editora da
Unesp, 2004.
STEDILE, J. P. (org.). A questo agrria no Brasil. So Paulo: Expresso Popular,
2005-2007. 4 v.
TEFILO, E. (org.). A economia da Reforma Agrria: evidncias internacionais.
Braslia: Nead, 2001-2002. 2 v.
115
C
C
CAMPESINATO
Francisco de Assis Costa
Horacio Martins de Carvalho
Campesinato o conjunto de fam-
lias camponesas existentes em um ter-
ritrio. As famlias camponesas existem
em territrios, isto , no contexto de
relaes sociais que se expressam em
regras de uso (instituies) das dispo-
nibilidades naturais (biomas e ecossis-
temas) e culturais (capacidades difusas
internalizadas nas pessoas e aparatos
infraestruturais tangveis e intangveis)
de um dado espao geogrfco politica-
mente delimitado.
Camponesas so aquelas famlias
que, tendo acesso terra e aos recursos
naturais que ela suporta, resolvem seus
problemas reprodutivos suas necessi-
dades imediatas de consumo e o enca-
minhamento de projetos que permitam
cumprir adequadamente um ciclo de
vida da famlia mediante a produo
rural, desenvolvida de tal maneira que
no se diferencia o universo dos que
decidem sobre a alocao do trabalho
dos que se apropriam do resultado des-
sa alocao (Costa, 2000, p. 116-130).
Unidades camponesas produzem
orientadas pela fnalidade comum da
reproduo dos respectivos grupos fa-
miliares, em perspectiva que incorpora
consistncia entre geraes a gerao
operante se v parte constitutiva das
realizaes de seus ascendentes e des-
cendentes. Validam essa natureza essen-
cial, entretanto, em combinaes indi-
vidualizadas de capacidades privadas,
condicionadas por possibilidades e res-
tries das realidades locais, regionais
e nacionais, que fndam por defnir a
sua forma de existncia. Nessa condio
concreta, constituem um campesinato.
Dada a historicidade dos territ-
rios os pases mudam seus modos de
produo e, nesses, distintos regimes
e padres de regulao alteram regras
fundamentais das relaes entre os ho-
mens, entre eles e o Estado, entre eles
e as capacidades ancestrais acumuladas,
entre eles e os elementos da natureza ,
mudam tambm as formas de existncia
dos camponeses que neles habitam
seus campesinatos.
Dada a territorialidade da histria
a cada momento h distintas forma-
es sociais, pases com diferentes
modos de produo e diferentes re-
gimes de acumulao, pases com um
mesmo regime em graus distintos de
desenvolvimento, com diversidades
ampliadas pelas distines internas,
de natureza e de cultura , perodos
historicamente relevantes so marca-
dos, tambm, por terem como con-
temporneas formas muito distintas
de campesinatos.
Tal multiplicidade de formas de
existncia de camponeses e as particu-
laridades que apresentam nas interaes
com o desenvolvimento das socieda-
des de que fazem parte tm suscitado
debates. Particularmente, o papel dos
camponeses no desenvolvimento do
capitalismo tem sido razo para conti-
Dicionrio da Educao do Campo
116
nuadas e controversas refexes, cujas
repercusses prticas tm afetado a
histria moderna dos camponeses e a
saga das suas relaes com as socieda-
des hodiernas, por rotas de conforma-
o e ajustamento, em alguns casos, ou
de tenso e confito, em outros.
Em essncia, a questo a responder
seria se essas distintas formas expres-
sam a fortaleza ou a debilidade histri-
ca dos camponeses, isto , se indicam
restar-lhes uma condio de classe
transitria, historicamente efmera, ou
se lhes so prprias as capacidades para
se estabelecerem na condio de classe
no capitalismo (Bottomore, 1988.)
A resposta marxista clssica enun-
ciava que a concorrncia com a grande
agricultura destruiria inexoravelmen-
te a produo camponesa, em parte
porque se tinham como certos ganhos
de escala na assimilao de insumos
industriais, em parte porque se enten-
dia que o que havia de especfco na
racionalidade camponesa bloquearia a
sua capacidade de se modernizar para
o pesado embate com a concorrncia.
A transitoriedade do campesinato se da-
ria, isso posto, por dois caminhos. Pela
via prussiana: ali onde as condies
institucionais fossem marcadas por um
domnio latifundirio, o acesso terra
se manteria sob o controle de uma aris-
tocracia ou de uma oligarquia. Nesse
caso, as grandes propriedades se mo-
dernizariam em empresas capitalistas.
Em contraste com esse caminho, pr-
prio de um capitalismo autoritrio, a
via democrtica se desenvolveria ali
onde as instituies se conformassem
por meio da quebra do domnio lati-
fundirio, com a formao correlata de
um campesinato de grandes dimenses.
Nessas situaes, a transio para o ca-
pitalismo seria feita por diferenciao
interna das prprias unidades campo-
nesas: uma cumulao de vantagens
econmicas que faria os camponeses
mais ricos tornarem-se cada vez mais
ricos, at o ponto de mudarem sua na-
tureza sociolgica, vindo a se tornar
empresrios capitalistas que absorve-
riam tanto as terras quanto a capacida-
de de trabalho das famlias camponesas
pobres, que perderiam sua autonomia
produtiva. Ao fnal, seja seguindo um
trajeto ou o outro, concentrao da
propriedade da terra se seguiria a con-
centrao da produo, com a resul-
tante de uma agricultura convertida em
nada mais que um ramo da indstria.
Nessa tica, as diferenas entre os di-
versos campesinatos seriam expresses
de estgios, ou combinaes, desses di-
ferentes modelos.
Outra perspectiva observa as dife-
rentes formas de existncia campone-
sa como manifestaes da capacidade
de os camponeses se constiturem
em, ou se afrmarem como, classe no
capitalismo como, de resto, em ou-
tros modos de produo, pr e ps-
capitalistas. Esse ponto de vista herda
dos populistas russos a noo de que a
condio dual de unidades de consumo
e de produo (Chayanov, 1923) torna
as famlias-empresas camponesas sen-
sveis ao inexorvel crescimento das
necessidades ao longo do desenvolvi-
mento natural da famlia e ao risco de
no poderem satisfazer tais exigncias.
Em relao a isso, as empresas cam-
ponesas mostraram capacidade adap-
tativa, a par da disposio de investir,
constituindo, a partir disso, um modo
de produo estvel, porque capaz de
evoluir. Os diferentes campesinatos se
explicariam, agora, pelos diferentes
trajetos evolutivos resultantes, por um
lado, das estratgias adaptativas das
117
C
Campesinato
unidades camponeses ao ambiente ins-
titucional e natural de cada pas e, no
interior deles, de cada regio que lhes
sirva de habitat os territrios, de que
so partes constitutivas e, por ou-
tro lado, da confgurao do ambiente
institucional de uma perspectiva pol-
tica, derivada das relaes estratgicas,
mediadas pelo Estado, entre as demais
classes e os camponeses.
Assim, nos pases industriais ricos,
e particularmente nos Estados Unidos,
dominam a cena agrcola formas cam-
ponesas apoiadas em movimentos coo-
perativos e na introduo de inovaes
tecnolgicas garantidas por sistemas
de crdito e de produo de tecnolo-
gia fuentes nem sempre adequadas a
um convvio harmonioso social e com
a natureza , alm de mecanismos de
controle do risco. Em troca, vm ga-
rantindo produtos baratos aos setores
urbanos. Esses camponeses lutam com
xito por um posto na sociedade de
mercado (Shanin, 1983).
Os pases em situao econmica
pobre, por seu turno, so marcados pela
existncia de um grande nmero de cam-
poneses economicamente pobres, por
vezes com difculdades de suprir a si pr-
prios, dado o tipo de tecnologia pouco
apropriada ao contexto onde se situam
ou precariedade relativa de meios fun-
damentais, como a terra. Essas realida-
des se caracterizam pela relevncia do
papel dos comerciantes e proprietrios
de terras, por vezes fundidos em um s
agente, na mediao entre o campesinato
e a sociedade envolvente, seja nas rela-
es econmicas, seja nas relaes po-
lticas (Bernstein, 1982; Badoury, 1983;
Daz-Polanco, 1977). Essas redes so-
ciais assumem geralmente o carter de
economia moral, que combina instituies
comunitrias, que provm segurana s
famlias com relaes clientepatro,
que mantm os camponeses em graus
elevados de subordinao.
No entanto, ainda que de forma
presente, as instituies comunitrias
vo muito alm do carter de uma eco-
nomia moral que prov segurana s fa-
mlias, com relaes clientepatro. Isso
porque a comunidade rural camponesa,
sendo um elemento central no modo de
vida campons, lhes d suporte econ-
mico, poltico e ideolgico para as re-
sistncias sociais que permeiam os seus
cotidianos, numa afrmao confituosa
de suas especifcidades:
Na comunidade h o espao da
festa, do jogo, da religiosidade,
do esporte, da organizao, da
soluo dos confitos, das ex-
presses culturais, das datas
significativas, do aprendizado
comum, da troca de experincias,
da expresso da diversidade, da
poltica e da gesto do poder,
da celebrao da vida (aniver-
srios) e da convivncia com a
morte (ritualidade dos funerais).
Tudo adquire signifcado e todos
tm importncia na comuni-
dade camponesa. Nas comunidades
camponesas as individualidades
tm espao. As que contrastam
com o senso comum encontram
meios de infuir. Os discretos so
notados. No h anonimato na
comunidade camponesa. Todos se
conhecem. As relaes de paren-
tesco e vizinhana adquirem um
papel determinante nas relaes
sociais do mundo campons. Nis-
to se distingue profundamente das
culturas urbanas e suas mais varia-
das formas de expresso. (Grgen,
2009, p. 5)
Dicionrio da Educao do Campo
118
O campesinato, enquanto uni-
dade da diversidade camponesa,
se constitui num sujeito social
cujo movimento histrico se
caracteriza por modos de ser e
de viver que lhe so prprios,
no se caracterizando como ca-
pitalistas ainda, que inseridos na
economia capitalista. (Carvalho,
2005, p. 171)
Nessa diversi dade camponesa,
insere-se uma multiplicidade de fam-
lias que no se autodenominam ne-
cessariamente de camponesas. Uma
ampla variedade de autonomeaes
pode ser identificada no Brasil, resul-
tante de suas histrias de vida e de
seus contextos,
[...] desde os camponeses pro-
prietrios privados de terras aos
posseiros de terras pblicas e
privadas; desde os camponeses
que usufruem dos recursos na-
turais pblicos como os povos
das forestas, os agroextrati-
vistas, a recursagem,
1
os ribeiri-
nhos, os pescadores artesanais
lavradores, os catadores de
caranguejos e lavradores, os
castanheiros, as quebradeiras
de coco babau, os aaizeiros,
os que usufruem dos fundos de
pastos, at os arrendatrios no
capitalistas, os foreiros e os que
usufruem da terra por cesso;
desde camponeses quilombolas
a parcelas dos povos indgenas
j camponeizados; os serranos,
os caboclos e os colonizadores,
assim como os povos das fron-
teiras no Sul do pas. E os novos
camponeses resultantes dos as-
sentamentos de Reforma Agr-
ria. (Carvalho, 2005, p. 171)
O campons, enquanto unidade fa-
miliar de produo e de consumo, assim
como o campesinato, enquanto classe
social em construo, enfrentam desa-
fos fundamentais para garantir a sua re-
produo social numa formao social
sob a dominao do modo de produo
capitalista: o campons, para a afrma-
o da sua autonomia relativa perante as
diversas fraes do capital; o campesi-
nato, para a construo de uma identi-
dade social que lhe permita constituir-
se como classe social e, portanto, como
sujeito social na afrmao de seus inte-
resses de classe. Ambas, a afrmao da
autonomia relativa camponesa como a
construo do campesinato como classe
social se inter-relacionam numa dinmi-
ca social marcada por relaes de poder
em disputa.
No entanto, se da maior relevn-
cia, do ponto de vista da historicida-
de dos territrios, a compreenso das
distintas formas de campesinatos neles
existentes, indispensvel, por outra
parte, ressaltar que, para a compre-
enso da especifcidade camponesa,
conforme Shanin, o cerne de suas
caractersticas determinantes parece
repousar na natureza e na dinmica do
estabelecimento rural familiar, enquan-
to unidade bsica de produo e meio
de vida social (2005, p. 5).
Assumindo as consequncias lgi-
cas e tericas da centralidade da razo
reprodutiva que afrma a especifcidade
da racionalidade camponesa, a autono-
mia relativa do campons perante as di-
versas fraes do capital com as quais
se relaciona, direta ou indiretamente,
na dinmica da sua reproduo social
pode ser compreendida num mode-
lo baseado em trs premissas (Costa,
2000, cap. 4) sobre as unidades de pro-
duo e de vida camponesas. Deveras,
119
C
Campesinato
a construo da autonomia relativa
camponesa um processo poltico e
economicamente necessrio para que
o campesinato se afrme como classe
social, como sujeito da realizao dos
seus interesses de classe social que
so distintos daqueles que motivam as
aes de classe seja da burguesia, seja
do proletariado.
A primeira premissa a de que a
unidade produtiva camponesa tende a ser
regulada em seu tamanho e em sua ca-
pacidade de mudar pela capacidade de
trabalho que ela possui enquanto famlia.
A capacidade de trabalho total de uma
famlia camponesa tender a apresen-
tar um limite, tanto para garantir a re-
produo social da famlia quanto para
empreender inovaes nos processos
de trabalho que desejem concretizar.
Essa premissa permite que se
estabeleam desdobramentos sobre
a extenso e a intensidade do uso da
capacidade de trabalho prpria fam-
lia tanto nas suas alocaes diretas nas
atividades a campo quanto na gesto
do processo produtivo. Os resultados
desejados da unidade produtiva so li-
mitados por essa capacidade interna de
trabalho familiar.
A segunda premissa afrma que, na
dinmica da reproduo social da fa-
mlia, emergem foras que promovem
tenses contrrias: umas originadas das
necessidades reprodutivas da famlia,
que impulsionam ao trabalho, e ou-
tras que apelam ao lazer.
2
Estabelece-
se, assim, pela experincia pessoal dos
componentes da famlia e sua vivncia
cultural, um padro reprodutivo.
O que aqui se denomina de padro
reprodutivo a resultante conjuntural,
num dado momento da vida da fam-
lia camponesa, que envolve certa ma-
neira na distribuio do trabalho para
dar conta de um conjunto de ativida-
des cujos resultados entram direta ou
indiretamente no processo produtivo,
na forma de meios de produo, ou
no processo reprodutivo da famlia, na
forma de meios de consumo.
Um padro reprodutivo , portan-
to, constitudo de um hbito de consumo
familiar ajustado a uma rotina de trabalho,
um e outro entendidos isto , subje-
tivamente avaliados como adequados.
Devido a distintas variveis que afetam
a alocao da fora de trabalho, um
padro reprodutivo alcana um ponto
de acomodao num determinado n-
vel de aplicao de trabalho, nvel esse
que necessariamente menor ou igual
capacidade de trabalho potencial to-
tal (primeira premissa) que a famlia
possui. Esse ponto de acomodao na
alocao da fora de trabalho familiar
num determinado momento da unidade
de produo camponesa denominado
oramento de reproduo.
O oramento de reproduo , portanto,
constitudo de dois componentes: um
equivale aos bens diretamente consu-
midos pela famlia, componente que
resultante do hbito de consumo familiar;
e outro equivale ao que Tepicht (1973)
chamou de consumo produtivo da famlia,
quer dizer, a necessidade de manuten-
o dos meios de produo utilizados,
que so decorrentes da rotina de traba-
lho estabelecida.
Por fm, de acordo com a terceira
premissa, as relaes entre a famlia
camponesa (na dinmica da unidade
de produo/consumo) e os demais
setores da sociedade (local, regional ou
nacional) so realizadas por mltiplas
mediaes, algumas imediatas outras
mediatas, relaes essas que estabele-
cem as condies de realizao do ora-
mento de reproduo (segunda premissa).
Dicionrio da Educao do Campo
120
Assim, em decorrncia dessas relaes
com outros setores, ou do envolvimen-
to da famlia camponesa com a socie-
dade envolvente, que se estabelecer
o dispndio efetivo de trabalho dos mem-
bros da famlia para que se realize o
oramento de reproduo.
O que estabelece a diferena entre
o dispndio efetivo de trabalho e o traba-
lho efetivamente demandado por de-
terminado oramento reprodutivo so as
condies de permuta entre o trabalho
despendido pelos membros da famlia,
mediado pelas condies prprias da
unidade produtiva, e o trabalho desen-
volvido em outros ramos e setores pro-
dutivos, bem como em outras esferas
do sistema econmico entre as quais
se destaca a esfera da circulao de
mercadorias como a mais evidente.
A unidade de produo familiar se-
ria, portanto, um sistema inserido nos
mercados, relacionado com diversas
instituies pblicas e cujas necessi-
dades reprodutivas organizam-se aten-
dendo a dois conjuntos de foras e a
uma restrio fundamental. Atende s
foras que estabelecem o oramento re-
produtivo (hbito de consumo familiar e
consumo produtivo da famlia) e s que
estabelecem dispndio efetivo de trabalho
dos membros da famlia (tendncias e
instabilidade do sistema envolvente).
As foras que tensionam para um
determinado dispndio efetivo de traba-
lho no sentido de alcanar um dese-
jado oramento reprodutivo, levando
as famlias camponesas a buscarem
maior equilbrio entre o trabalho des-
pendido e a qualidade da vida e do
trabalho, materializam-se em esfor-
os de investimento, isto , na apli-
cao de trabalho extraordinrio para
a mudana e os ajustes na base e no
processo produtivo.
Quando o dispndio efetivo de tra-
balho se distancia do oramento reprodu-
tivo, a disposio mudana cresce e,
com ela, a disposio ao investimen-
to. Essa disposio se transforma em
investimentos reais, tangveis e intan-
gveis, a depender do ambiente insti-
tucional que faz a mediao entre os
camponeses e a sociedade envolvente.
Se o ambiente institucional adequa-
do economia camponesa ou seja, se
h recursos tecnolgicos e formas de
acesso a eles compatveis com as for-
mas de existncia dos camponeses ,
a disposio ao investimento e mu-
dana canalizada em meios de ef-
cientizao da reproduo (consumo e
trabalho) das famlias camponeses; se
o ambiente institucional hostil, a dis-
posio mudana e ao investimento
inibida, tolhida ou mesmo bloqueada.
O Estado tem desempenhado papel
decisivo na conformao do ambiente
institucional que envolve os campone-
ses, em geral orientado por estratgias
que tornam os camponeses efcientes
na perspectiva da indstria e das ne-
cessidades gerais dos setores urbanos.
No menos decisivo, tambm, tem sido
o desempenho poltico dos prprios
camponeses na conformao desses
ambientes. Todavia, a ausncia de con-
cepes e propostas de afrmao da
autonomia relativa camponesa pode
comprometer o papel do Estado cujas
estratgias de efcientizao dos cam-
poneses tenderiam a conduzi-los a uma
maior dependncia perante as diversas
fraes do capital.
De um modo ou de outro, a persis-
tncia da presena camponesa na his-
tria e os graus de autonomia relativa
que podem vir a desfrutar dependem
das trajetrias tecnolgicas que possam
seguir em uma estratgia continuada de
121
C
Campesinato
mudanas que, ao mesmo tempo, pos-
sam responder s tenses para o cresci-
mento da produtividade do trabalho
uma exigncia da convivncia com as
leis de reproduo do prprio sistema
capitalista e para garantir a lgica re-
produtiva baseada na famlia que pr-
pria da racionalidade camponesa.
O esforo das famlias camponesas
para encontrarem um padro reproduti-
vo que lhes permita a reproduo social
da famlia sem tenderem para uma di-
ferenciao social quer pela hiptese
da proletarizao, quer por sua transfor-
mao em pequenos burgueses agrrios,
com a introduo de relaes sociais de
produo de assalariamento , pressu-
pe que, mesmo em distintos contextos
sociais, afrmem a sua autonomia relati-
va perante as diversas fraes do capital
com as quais se relacionam nos diversos
mercados onde se inserem.
Essa afrmao da autonomia relati-
va camponesa est diretamente relacio-
nada com a construo de uma identi-
dade que supere a identidade de resistncia
para alcanar, conforme Castells (1999,
p. 22 e seg.), uma identidade de projeto.
Essa ltima se constitui quando atores
sociais, utilizando-se de qualquer tipo
de material cultural ao seu alcance,
constroem uma nova identidade capaz
de redefnir sua posio na sociedade
e, ao faz-lo, transformam toda a es-
trutura social.
Ainda que a resistncia social cam-
ponesa s tentativas, na maior parte das
vezes exitosas, da expanso da raciona-
lidade capitalista, seja pela induo a
uma diferenciao social em curso, seja
pelo estabelecimento de relaes sociais
de dominao que lhes subalternizam,
venha ocorrendo em uma multiplicida-
de de formas e de contextos sociais, a
possibilidade de uma autonomia relati-
va da unidade de produo camponesa
pressupor que tais famlias j estejam
em fase de redefnio de sua identi-
dade, de uma identidade de resistncia
para outra identidade social, que se su-
pe de projeto.
A redefnio de ou a passagem para
essas identidades se manifesta mais alm
do nvel do indivduo. Elas revelam a
afrmao do campesinato como sujeito
social, como ator social coletivo cuja di-
reo principal das aes est orientada
para a superao das relaes de domi-
nao e de subalternidade a que ele se
encontre submetido. A mediao dos
movimentos e organizaes sociais cam-
ponesas est presente nesse processo.
Na formao social brasileira, a
construo de uma identidade social de
projeto do campesinato dever pressu-
por no apenas a afrmao da autono-
mia relativa dos camponeses perante os
capitais portanto, de uma concepo
de campesinato portadora da lgica que
assevera a especifcidade camponesa ,
como a presena, em maior ou menor
grau de explicitao, de uma maneira
de se fazer agricultura diferente daque-
la presente no paradigma capitalista.
Notas
1
Recursagem um potencial da natureza recursado pelo conhecimento sistematizado e
conjunto de tcnicas da famlia, que est embasado numa classifcao e discriminao do
meio, passada de gerao a gerao. Ver Mazzetto, 1999.
2
Ou substanciam uma averso penosidade do trabalho. Alguns autores acham que essa
a caracterstica mais marcante da racionalidade camponesa. Ellis (1988, p. 102-119) en-
Dicionrio da Educao do Campo
122
tende, at, que a teorizao de Chayanov d conta apenas de um drudgery-averse peasant
(a verso camponesa ao trabalho penoso).
Para saber mais
BADOURY, A. La estructura econmica de la agricultura atrasada. Mxico, D.F.: Fondo de
Cultura Econmica, 1983.
BERNSTEIN, H. Notes on Capital and Peasantry. In: HARRIS, J. (org.). Rural Develop-
ment: Theories of Peasant Economy and Agrarian Change. Londres: Hutchinson
University Press, 1982. p. 160-177.
BOTTOMORE, T. (org.). Dicionrio do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Zahar,
1988.
CARVALHO, H. M. (org.). O campesinato no sculo XXI: possibilidades e condicionan-
tes do desenvolvimento do campesinato no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2005.
CASTELLS, M. O poder da identidade. So Paulo: Paz e Terra, 1999. V. 2: A era da
informao: economia, sociedade e cultura.
CHAYANOV, A. Die Lehre von der buerlichen Wirtschaft: Versuch einer Theorie der
Familienwirtschaft im Landbau. Berlim: Verlag Paul Parey, 1923.
COSTA, F. A. Formao agropecuria da Amaznia: os desafos do desenvolvimento
sustentvel. Belm: Ncleo de Altos Estudos Amaznicos, Universidade Federal
do Par, 2000.
DAZ-POLANCO, H. Teora marxista de la economa campesina. Mxico, D.F.: Juan
Pablos, 1977.
ELLIS, F. Peasant Economics: Farm Households and Agrarian Development.
Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press, 1988.
GRGEN, |Frei| S. Agricultura camponesa. Cadernos de Estudos Cooperfumos, Santa
Cruz do Sul, ago. 2009.
MAZZETTO, C. E. S. Cerrados e camponeses no norte de Minas: um estudo sobre a sus-
tentabilidade dos ecossistemas e das populaes sertanejas. 1999. Dissertao
(Mestrado em Geografa) Instituto de Geocincias, Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 1999.
SHANIN, T. La clase incmoda. Madri: Alianza, 1983.
______. A definio de campons: conceituaes e desconceituaes o
velho e o novo em uma discusso marxista. Nera, Presidente Prudente, v. 8,
n. 7, jul.-dez. 2005.
TEPICHT, J. Marxi sme et agri cul tur e: l e paysan pol onai s. Pari s: Ar mand
Col i n, 1973.
123
C
Capital
C
CAPITAL
Guilherme Delgado
A tradio marxista, diferentemente
das tradies clssica e neoclssica, tra-
ta o capital como uma relao social de
apropriao de todos os meios de pro-
duo, convertidos em mercadoria, di-
nheiro e capital, a servio da produo
da mais-valia, que ser defnida mais
adiante. J o pensamento clssico e neo-
clssico opera com a noo de capital
como fator ou meio de produo numa
funo de produo, semelhana das
partes e peas de uma engrenagem
mecnica que se combinam a outros
fatores para gerar o output fnal. Nes-
te texto, utilizaremos a conceituao
marxiana, de modo que a noo con-
vencional de capital da economia neo-
clssica aparecer, em alguns casos,
como contraponto.
Em Marx, a concepo abstrata e
geral do capital assume na forma di-
nheiro seu carter mais universal de
equivalente geral (para troca das
mercadorias) ou de encarnao univer-
sal do trabalho humano abstrato, capaz
de expressar a relao entre trabalhos
particulares e o trabalho social total
(Marx, 1980). A forma dinheiro do va-
lor, como se ver em seguida, assume
carter ainda mais abstrato no conceito
de capital fnanceiro, de que trataremos
mais adiante.
O capital, nessa concepo de equi-
valente geral, sob a forma de dinheiro,
inicia o processo produtivo decompos-
to em dois componentes: C, que
o capital constante, a ser despendido no
gasto com meios de produo, e V,
que o capital varivel, a ser gasto com
o pagamento do trabalho diretamente
envolvido no processo de produo. O
terceiro componente essencial da com-
posio do capital a mais-valia, M, o
excedente bruto ou lucro bruto que se in-
corporar ao valor do produto no fnal do
processo produtivo, quando a mercado-
ria for vendida. A mais-valia o motor de
todo o processo de produo de merca-
dorias e a chave terica da teoria do
capital e da explorao do trabalho a
teoria do valor trabalho marxiana.
Por seu turno, essa rel ao de
apropriao do valor que determina-
da classe social capaz de impor nos
mercados organizados por, pressupe
vrias condies especfcas da vida
social, condies que so prprias do
capitalismo em sua fase industrial, dis-
tintamente de outros modos de produ-
o que o antecederam. Nas socieda-
des pr-capitalistas, a apropriao do
excedente econmico, como bem sin-
tetizou Celso Furtado (2000), em geral
se faz sob coero da autoridade; j no
capitalismo, essa apropriao se d sob
a forma mercantil, ainda que tambm
seja necessrio que exista um Estado
garantidor das condies de funciona-
mento da chamada ordem econmica
burguesa garantia da propriedade
privada, da adimplncia dos contratos
mercantis e da segurana pblica.
A forma especfca que o capital as-
sume em diferentes setores produtivos,
ou mesmo fora da esfera produtiva, na
esfera da circulao, comporta distin-
es materiais importantes, suscept-
veis de incorporar grandes diferenas
Dicionrio da Educao do Campo
124
ao processo produtivo e ao proces-
so da circulao, que so essenciais
compreenso das relaes sociais que
lhe so subjacentes veremos essas
distines pouco mais adiante. Assim,
quando Marx escreveu os livros 1 e 2
de O capital (O processo de produ-
o do capital e O processo de cir-
culao do capital, respectivamente),
estava observando, explicitamente, a
produo da mercadoria sob a base
da produo tcnica da maquinaria e
grande indstria na era da Revoluo
Industrial. Nesse contexto, a revoluo
tecnolgica e o domnio da inovao,
comandados pelo capital industrial na
esfera da produo, e a metamorfo-
se do capital comercial, no processo
da circulao mercantil, confguram
capitais materialmente distintos, pro-
duzidos em escala nacional, mas com
clara tendncia a se globalizarem e as-
sumirem a forma do equivalente geral,
perseguindo em cada setor ou ramo da
circulao uma taxa diferente de lu-
cro. Essas distintas taxas de lucro, su-
jeitas concorrncia intercapitalista,
convergem para uma taxa mdia geral.
Por sua vez, quando Marx trata na
mesma obra dos problemas mais espe-
cfcos do capital agrrio (Livro 3, O
processo global de produo capitalis-
ta), j o faz numa perspectiva terica
da distribuio ou da apropriao in-
tercapitalista da mais-valia. Ele discute
aprofundadamente a categoria renda
fundiria, mas no est interessado
em destacar diferenas fundamentais,
no processo de acumulao de capital,
desse setor em relao aos demais. Af-
nal, o circuito dinheiromercadoria
dinheiro tambm segue nele a mesma
norma mercantil.
A diferena crucial do capital que
migra para o setor agrrio que ele ter
pela frente um meio de produo do
qual precisa se apropriar, mas que no
produzido nem reproduzido pelo ca-
pital: a terra e todos os recursos natu-
rais superfciais e subjacentes.
Segundo a teoria marxista do valor,
parcelas do capital constante precisam
ser despendidas na aquisio de meios
de produo aqui, especifcamente,
Marx (1980) pressupe o arrendamen-
to de terras, mas tambm poderia ser a
compra de terras, que se transformaria
num componente do capital fxo. Esse
componente do capital imobilizado em
terra, portanto capital fxo na lingua-
gem marxiana do processo de circula-
o do capital, como todo capital fxo,
incorpora-se ao valor da mercadoria de
maneira muito lenta, porm extrai renda
fundiria imediatamente e, portanto,
gera excedente ou mais-valia quando
da realizao da produo. Essa ren-
da ser to mais elevada quanto maior
for a demanda pel os produt os-
mercadorias da terra, expressa pelos
seus preos de mercado.
Desde os primrdios da teoria do
capital, o capital agrrio pressupe o
componente do capital fundirio, que,
de certa forma, uma excrescncia teo-
ria do capital e do dinheiro. Isso por-
que os meios de produo fundirios,
que geram rendas e mais valia diferen-
ciais, de acordo com a fertilidade e/ou
a localizao dos recursos naturais, no
so produzidos pelo trabalho huma-
no, mas sim apropriados pelo capital,
segundo condies histricas muito
diferentes em cada pas. Na realidade
histrica concreta da Inglaterra poca
de Marx, os capitalistas no eram pro-
prietrios dos meios de produo fun-
dirios, e sim uma classe de landlords,
de origem feudal. No Brasil, o longo
processo de cinco sculos de apropria-
125
C
Capital
o dos recursos naturais pelo capital
distinto do padro europeu, mas no
deixa de ser tambm um processo coer-
citivo de apropriao da renda fundi-
ria em diferentes condies histricas,
at o presente, e que est muito bem
documentado em Terras devolutas e la-
tifndio, texto clssico de Ligia Osorio
Silva (2008).
O fato de o capitalismo penetrar di-
retamente no mercado de terras, trans-
formando-as em ativo mercantil com-
pletamente ajustado s necessidades da
expanso da produo de commodities,
no elimina a contradio original, pois
a terra no mercadoria ou seja, um
produto do trabalho humano e, por-
tanto, no pode ser convertida em mer-
cadoria pela apropriao capitalista dos
recursos naturais. Assim, o mercado de
terras continua sendo uma questo es-
sencialmente jurdica ligada conota-
o do estatuto do direito da proprie-
dade fundiria em cada pas, e no uma
questo estritamente mercantil.
Retomando as distines materiais
do capital agrrio nos processos de
produo e circulao de mercadorias,
convm fazer dois destaques de certa
importncia conceitual. O processo de
produo de mercadorias na agricul-
tura est sujeito ao regime natural das
fases adequadas de plantio e colheita,
e aos tratos culturais. Diferentemente
dos processos produtivos na indstria,
o perodo de produo descontnuo, e
o trabalho humano se ajusta aos ritmos
naturais de absoro da energia da fo-
tossntese. Isso impe um ritmo e uma
forma de produzir mercadoria essen-
cialmente dependentes dos recursos da
natureza, algo que tambm distinto
dos processos urbano-industriais. Uma
diferena crucial para a teoria do ca-
pital oriunda dessa distino entre os
processos produtivos agrcola e indus-
trial a mais lenta rotao do capital
na agricultura.
No obstante as diferenas aponta-
das, o processo produtivo agrcola tam-
bm ser modernizado pelo capital
industrial, por meio da combinao de
inovaes mecnicas, biolgicas e fsico-
qumicas que tendem a elevar a pro-
dutividade do trabalho na agricultura.
O aumento da produtividade se dar
pela substituio da energia muscular e
animal por trao mecnica, pela ace-
lerao dos processos de absoro da
fotossntese e pelo incremento da ab-
soro de nutrientes do solo (NPK +
micronutrientes), combinados com o
uso intenso de agrotxicos.
Por sua vez, como os perodos de
produo no so contnuos, mas de-
pendentes dos calendrios estacionais,
o processo de circulao das mercado-
rias produzidas tambm comportar
defasagens, sob a forma de distribuio
irreversvel do estoque produzido no
ano. Isso ter consequncias na forma-
o dos preos agrcolas, introduzin-
do neles elementos de estacionalidade
e volatilidade que so especfcos dos
produtos agrcolas.
Finalmente cabe uma digresso
especfca sobre o capital fnanceiro e,
em especial, acerca de sua relao com
a agricultura, consideradas as particu-
laridades que levantamos neste texto:
capital fundirio e renda fundiria, ino-
vaes tcnicas e diferenas no proces-
so produtivo e comercial.
Retornando ao tema inicial deste
texto, quando tratamos do equivalente
geral dinheiro transformado em ca-
pital, tendo em vista acrescer seu valor
pela produo da mais-valia , temos
nessa formulao a mediao necessria
dos processos de produo e circulao
Dicionrio da Educao do Campo
126
mercantis como condio explorao
do trabalho humano para produo do
valor. H, porm, uma categoria im-
plcita nessa formulao: a das massas
lquidas de capital dinheiro, suscetveis
originalmente de se aglutinarem, como
fundos aplicveis em distintos proces-
sos produtivos, como capital bancrio.
Com o processo de desenvolvimento
das instituies fnanceiras no capita-
lismo, o capital fnanceiro adquire cres-
cente autonomia.
O eixo explicativo aqui considerado
do capital fnanceiro continua a ser o de
uma relao social abstrata e geral do
capital consigo prprio, que comanda
da rbita fnanceira a centralizao e
mobilidade do capital, organiza mono-
polisticamente tambm os mercados
agrcolas e diversifca suas aplicaes
multissetorialmente em busca de uma
taxa mdia de lucro do conglomerado
(Delgado, 1985, p. 13).
Em especial, a operao concreta
do capital fnanceiro se d no sistema
de crdito bancrio, com funo de pro-
ver liquidez aos processos produtivo e
comercial da agricultura capitalista, mas
tambm de propiciar a adoo das ino-
vaes tecnolgicas introduzidas pela
indstria. Contudo, no mercado de ter-
ras que haver uma voraz perseguio da
renda fundiria. Assumindo a forma
de capital fundirio, o capital fnanceiro
na agricultura funcionar como grande
alavanca dos agronegcios, apresentan-
do atualmente, inclusive, certa tendn-
cia internacionalizao. A captura dos
ganhos de fundador e outras rendas
especulativas, especialmente atrativas
nas etapas de expanso da produo de
commodities, converte todos esses merca-
dos as prprias commodities, os crditos,
os ttulos comerciais, e especialmente os
ttulos patrimoniais fundirios em
campo propcio operao do capital
fnanceiro global.
As expresses fnanceirizao do
capital e globalizao do capital, mui-
to em uso nas ltimas trs dcadas, con-
tm aspectos histricos comuns: cor-
respondem a processos histricos bem
marcados dos anos 1980 at o presente,
mas que, de certa forma, j estavam ins-
critos na natureza essencial do capital.
A primeira a fnanceirizao sugere
o predomnio crescente das instituies
centralizadoras e mobilizadoras do ca-
pital (bancos, holdings, grandes empresas
multinacionais, grandes conglomerados
emissores de ttulos portadores de renda
etc.), em sua forma lquida de dinheiro
ou em ttulos patrimoniais, na direo
do processo de acumulao de capital
em escala nacional. A segunda a glo-
balizao indica que, sob a hegemonia
do capital fnanceiro, operou-se a mun-
dializao da acumulao do capital, o
que implica sua completa liberdade de
ir e vir e a chamada abertura da conta
capital dos balanos de pagamentos dos
pases. Isso evidentemente ter conse-
quncias monetrias, cambiais, fscais
etc., provocando enormes movimentos
reais e especulativos do capital em es-
cala global e criando um potencial de
crises fnanceiras muito mais frequentes
e profundas.
Finalmente, preciso fazer uma
observao fnal. fundamentalmen-
te pelo controle do Estado que o ca-
pital fnanceiro opera na agricultura e
em outros setores da economia, pois,
sem o domnio dos sistemas de crdi-
to pblico e fnanas pblicas, e sem a
cooptao e a colaborao das agncias
reguladoras dos ativos patrimoniais
fundirios, impossvel essa forma de
capital realizar sua estratgia de apro-
priao do valor econmico.
127
C
Ciranda Infantil
Para saber mais
DELGADO, G. C. Capital fnanceiro e agricultura no Brasil: 1965-1985. Campinas:
coneUnicamp, 1985.
FURTADO, C. Introduo ao desenvolvimento: enfoque histrico-estrutural. So Paulo:
Paz e Terra, 2000.
MARX, K. O capital. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980. L. 1-3.
SILVA, L. O. Terras devolutas e latifndio. Campinas: Editora da Unicamp, 2008.
C
CIRANDA INFANTIL
Edna Rodrigues Arajo Rossetto
Flvia Tereza da Silva
Ciranda Infantil um espao edu-
cativo da infncia Sem Terra, organiza-
do pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) e mantidos por
cooperativas, centros de formao e
pelo prprio MST, em seus assentamen-
tos e acampamentos. O nome foi esco-
lhido pelo fato de ciranda remeter cul-
tura popular e estar presente nas danas,
brincadeiras e cantigas de roda vivencia-
das pelas crianas no coletivo infantil.
Em maro de 1997, o nome Ciran-
da Infantil foi o mais votado numa reu-
nio do coletivo nacional do MST, e, em
julho de 1997, o setor de educao j
organizava a primeira Ciranda Infantil
Itinerante Nacional, sendo o nome das
creches dos assentamentos e seus pro-
jetos poltico-pedaggicos substitudos
por Ciranda Infantil. Na ocasio, foram
defnidos tambm dois tipos de Ciran-
da: permanente e itinerante.
As primeiras experincias das Ci-
randas Infantis Permanentes do MST,
entre 1989 e 1995, contaram com a
organizao o Setor de Produo,
Cooperao e Meio Ambiente do MST,
e todos os integrantes dos assentamen-
tos foram convidados a participar do
processo. No incio do trabalho, for-
maram-se os laboratrios de produo.
Para permitir a participao das mu-
lheres, foram criados setores como o
refeitrio coletivo e a creche.
Inicialmente, a Ciranda Infantil es-
tava dirigida apenas a crianas de 0 a 6
anos. Com o passar do tempo e com o
desenvolvimento do trabalho das coo-
perativas e das aes do movimento,
colocou-se um novo desafo para aque-
les que vinham desenvolvendo o tra-
balho pedaggico com as crianas na
Ciranda Infantil: contemplar a insero
de todas as crianas do assentamento,
independentemente de sua idade ou do
fato de seus pais serem ou no scios
das cooperativas at ento, a Ciranda
Infantil atendia apenas flhos dos scios
das cooperativas. Por isso, atualmente,
a idade das crianas que frequentam a
Ciranda Infantil alcana crianas com
at 12 anos de idade, ampliando-se o
Dicionrio da Educao do Campo
128
nmero de meninos e meninas que
participam desse processo pedaggico
no qual as crianas Sem Terra emergem
como sujeitos que constroem a sua par-
ticipao histrica na luta pela terra, su-
jeitos que, na condio de crianas Sem
Terrinha, desenvolvem e assumem o
sentido de pertena a essa luta.
A organizao da Ciranda Infantil
Permanente se d pela composio do
ncleo de base, de acordo com o n-
mero de crianas que estejam partici-
pando da Ciranda Infantil. Os ncleos
de base geralmente so compostos ob-
servando-se alguns critrios idade e
gnero, por exemplo. O ncleo de base
tambm a forma como as famlias se
organizam nos acampamentos e assen-
tamentos para participar da coletivida-
de. Na Ciranda, essa forma organizati-
va tem como um de seus objetivos o de
trabalhar a dimenso da auto-organiza-
o das crianas
O trabalho pedaggico se funda nas
necessidades das crianas ou est basea-
do no trabalho das mulheres envolvidas
na cooperativa. Nessa perspectiva, os
educadores organizam e planejam os es-
paos pedaggicos de forma a garantir o
equilbrio entre as diferentes atividades
dirigidas, livres, individuais ou coleti-
vas e considerando os sujeitos envol-
vidos, a fm de que as atividades sejam
adequadas e prazerosas para as crianas.
O ambiente educativo das Cirandas
Infantis organizado de maneira a que
as experincias pedaggicas apaream
nesse ambiente. Por ambiente educati-
vo, entendemos tudo o que acontece na
vida da Ciranda, dentro e fora dela.
Em relao ao tempo de funcio-
namento da Ciranda Infantil ou de
permanncia da criana no espao, ele
varia segundo a necessidade das mes
ou a necessidade da criana. Quando
as atividades na cooperativa exigem
mais tempo dos adultos no trabalho, as
crianas menores, que no frequentam
a escola, fcam o dia inteiro na Ciranda;
do contrrio, permanecem na Ciranda
Infantil somente o tempo necessrio
para que os educadores e educadoras
possam desenvolver as atividades pe-
daggicas previstas.
Como as crianas frequentadoras da
Ciranda Permanente so de vrias ida-
des, em diversos momentos as crianas
maiores, com 7 a 12 anos, brincam com
as mais novas, ajudando-as tambm em
suas atividades pedaggicas. Todas as
crianas em idade de escolarizao fre-
quentam a escola do assentamento em
outro perodo, e a Ciranda passa a ser
um espao de encontro das crianas,
ou seja, um espao educativo onde as
crianas constroem relaes entre si,
com os adultos e com a comunidade;
um espao de referncia para o de-
senvolvimento de um trabalho com a
infncia e com as famlias do assenta-
mento; um espao em que elas apren-
dem a viver coletivamente, a respeitar
o seu companheiro, a fazer amizade
com as outras crianas, a compartilhar
o lpis, o brinquedo, o lanche... o es-
pao no qual constroem sua identidade
de crianas Sem Terrinha e inventam,
criam e recriam as coisas. Nas Ciran-
das Infantis, as crianas exercitam sua
capacidade de inventar, sentir, decidir,
arquitetar, reinventar, se aventurar,
agir para superar os desafos das brin-
cadeiras, apropriando-se da realidade
e demonstrando, de forma simblica,
os seus desejos, medos, sentimentos,
agressividade, suas impresses e opi-
nies sobre o mundo que as cerca.
assim que a Ciranda vai tor-
nando-se um lugar de referncia para
as crianas, um espao de direito da
129
C
Ciranda Infantil
criana Sem Terra e de referncia para
as famlias, no apenas por permitir
que mes, pais e responsveis possam
empreender suas tarefas, mas princi-
palmente por implicar a construo de
um coletivo infantil por meio do qual
as crianas sentem-se parte do MST.
As Cirandas Infantis Itinerantes
so organizadas sempre que a partici-
pao das mulheres em instncias, di-
rees, cursos, reunies, congressos e
marchas enfm, no processo de luta
pela terra o exige. Como so orga-
nizadas especialmente para as crianas
que acompanham seus pais e mes em
aes e atividades do processo de luta
pela terra, elas tm data para comear e
para terminar. O MST do Cear foi um
dos primeiros a introduzir a experincia.
No mbito nacional, a primeira Ciranda
Infantil Itinerante ocorreu em 1997, no
Encontro Nacional dos Educadores/
as da Reforma Agrria (Enera), em
Braslia, e contou com a participao
de 80 crianas de todo o pas.
Na Ciranda Itinerante do V Con-
gresso do MST, que ocorreu de 11 a 15
de junho de 2007 em Braslia, e do qual
participaram 18 mil delegados de todos
os assentamentos e acampamentos do
Brasil, a organizao das crianas foi feita
por ncleos de base, da seguinte forma:
primeiro ncleo: bebs de at 1
ano de idade; para cada dois bebs,
havia um/a educador/a;
segundo ncleo: bebs de 2 a 3
anos idade; para cada trs bebs,
havia um/uma educador/a;
terceiro ncleo: crianas de 4 a 6
anos de idade; para cada dez crian-
as, havia um/a educador/a;
quarto ncleo de base: crianas de 7
a 8 anos; para cada dez crianas, h
um/a educador/a;
quinto e ltimo ncleo: crianas de
9 a 12 anos; para cada doze crian-
as, havia um/a educador/a.
As crianas que participaram do
processo de luta pela terra possuem ca-
ractersticas coletivas que contribuem
para o seu processo de formao e que
se manifestam nas atitudes cotidianas,
na famlia, na Ciranda Infantil, na escola
e no grupo social no qual convivem, ou
seja, no meio em que esto inseridas.
nesse cirandar da Ciranda que as
crianas vo compreendendo o pro-
jeto de sociedade que o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Ter-
ra est construindo e vo realizando
sua infncia, pois esse processo no
precisa ser isolado do espao da luta
de classe. A coletividade vivenciada
pelas crianas nas Cirandas Infantis
tem uma intencionalidade pedaggi-
ca vinculada ao projeto educativo que
vem sendo desenvolvido no interior
do MST. E pelas vivncias no cole-
tivo infantil as crianas tm possibi-
lidade de se apropriar dos elementos
do processo histrico para a compre-
enso da realidade.
Por fm, o coletivo infantil uma
construo conjunta da qual partici-
pam crianas, educadores e educado-
ras, com a Ciranda Infantil constituin-
do uma referncia para as crianas,
pois possibilita a sua participao na
luta pela terra. A Ciranda se confgura
como espao de resistncia e reafrma-
o da identidade tanto de Sem Terra
quanto de ser criana. Isso ocorre por
intermdio das brincadeiras, jogos, pa-
lavras de ordens, msticas, enfm, pela
vivncia da infncia no movimento. As
crianas esto em constante movimen-
to na Ciranda Infantil e so as vivn-
cias nesse coletivo infantil que desper-
tam nelas uma verdadeira prtica de
Dicionrio da Educao do Campo
130
educao emancipadora. nessa coleti-
vidade que as crianas vo se aproprian-
do de elementos que contribuem para o
seu processo de formao, e esse proces-
so faz do seu tempo de infncia um mo-
vimento pedaggico em luta, na luta pela
terra, pela Reforma Agrria, umaa luta
pela transformao da sociedade.
Para saber mais
ARENHART, D. Infncia, educao e MST: quando as crianas ocupam a cena.
Chapec: Argos, 2007.
ALVES, S. C. As experincias educativas das crianas no acampamento ndio Galdino do
MST. 2001. Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade de Educao,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2001.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. Educao infantil: movi-
mento da vida, dana do aprender. Caderno de Educao, MST, So Paulo, n. 12,
nov. 2004.
_______. A Escola Itinerante Paulo Freire no 5 Congresso no MST. Fazendo
Escola, Braslia, n. 4, 2008.
ROSSETO, E. R. A. Essa ciranda no minha, ela de todos ns: a educao das crianas
Sem-Terrinha no MST. 2009. Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade
de Educao, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
C
COMISSO PASTORAL DA TERRA (CPT)
Antonio Canuto
A Comisso Pastoral da Terra (CPT)
um organismo pastoral, ecumnico,
vinculado Igreja Catlica e a outras
igrejas crists, de modo particular
Igreja Evanglica de Confsso Lute-
rana no Brasil, Igreja Anglicana e
Igreja Metodista. Desenvolve sua ao
junto dos homens e mulheres do cam-
po em toda a sua diversidade: pequenos
proprietrios, agricultores familiares,
agricultores sem-terra, camponeses e
camponesas de diversos matizes qui-
lombolas, ribeirinhos, extrativistas e
outros muitos , trabalhadoras e traba-
lhadores rurais assalariados, com aten-
o especial para os submetidos a con-
dies anlogas ao trabalho escravo.
Trataremos aqui do contexto em que
surgiu a CPT, sua misso e organiza-
o, os temas acentuados, a preocupa-
o com a formao e os compromis-
sos e objetivos de sua atuao.
Contexto
O regime militar estabeleceu como
uma das suas metas de desenvolvimen-
to a ocupao da Amaznia, com a pa-
lavra de ordem levar os homens sem
131
C
Comisso Pastoral da Terra (CPT)
terra para uma terra sem homens. A
fm de tornar vivel esse objetivo, foi
criada a Superintendncia de Desen-
volvimento da Amaznia (Sudam). Por
meio da Sudam, foram oferecidos in-
centivos fscais s empresas que se dis-
pusessem a investir no desenvolvimen-
to da Amaznia. Dessa forma, grandes
bancos e empresas dos mais diferentes
ramos, para terem acesso aos recursos
dos incentivos fscais, adquiriram ex-
tensas reas de terra, onde iriam con-
cretizar seus projetos. Consideravam
como inabitadas as reas adquiridas,
mesmo se nelas houvesse aldeias ind-
genas e vilarejos de sertanejos, a maior
parte constituda de posseiros.
O resultado imediato dessa poltica
foi a invaso dos territrios indgenas
e a expulso de milhares e milhares de
famlias sertanejas. Ao mesmo tempo,
de outras partes do pas, sobretudo do
Nordeste, eram trazidos milhares de
trabalhadores para derrubar as matas, a
fm de nelas se estabelecerem as ativida-
des agropecurias dos projetos aprovados.
Foi o incio de um longo perodo
de confitos e violncia contra os tra-
balhadores, que no tinham qualquer
forma de organizao. Quem compar-
tilhou com os trabalhadores e trabalha-
doras essa situao foi a Igreja, nica
instituio presente na regio.
Em 1971, por ocasio de sua ordena-
o episcopal, dom Pedro Casaldliga,
bispo da recm-criada Prelazia de So
Flix do Araguaia, no Mato Grosso, pu-
blicou uma carta pastoral com o ttulo
Uma igreja da Amaznia em confito
com o latifndio e a marginalizao so-
cial. Nela, descreve a realidade dura e
violenta em que viviam as comunida-
des indgenas e sertanejas e os pees
(trabalhadores das fazendas).
Em 1972, realizou-se, em Santarm/
PA, um encontro inter-regional dos
bispos de toda a Amaznia. O en-
contro foi um marco histrico da
caminhada da Igreja na regio, ao def-
nir Linhas prioritrias da pastoral da
Amaznia. Essas linhas prioritrias
tinham como uma de suas diretrizes
bsicas a encarnao da Igreja na rea-
lidade do povo; entre suas prioridades
estavam a Pastoral Indigenista e a ao
diante da abertura de estradas e de ou-
tras frentes pioneiras.
Em 1975, a Comisso Brasileira
de Justia e Paz, vinculada Confe-
rncia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), convocou os bispos e prela-
dos da Amaznia a uma reunio em
Goinia, para intercmbio de conhe-
cimentos sobre a realidade da regio e
busca de uma ao conjunta da Igreja
diante da mesma. O encontro termi-
nou com algumas propostas, entre
elas a de se constituir uma comisso
de terras que interligasse, assessorasse
e dinamizasse os que trabalhavam em
favor dos homens sem-terra e dos tra-
balhadores rurais. Em reunies sub-
sequentes para dar corpo comisso,
acabou-se por nome-la Comisso
Pastoral da Terra.
Nascida da premncia e da urgn-
cia da realidade amaznica, a recm-
criada CPT comeou a se articular no
s na Amaznia, mas em praticamente
todas as regies do Brasil, de tal forma
que logo estava implantada em quase
todo o territrio nacional, adquirin-
do, em cada regio, tonalidade dife-
rente, de acordo com os desafios que
a realidade regional colocava. Hoje a
CPT est organizada em 21 sees
regionais, com equipes de base em
vrias dioceses.
Dicionrio da Educao do Campo
132
Misso
A misso da CPT se alicera no cla-
mor que vem dos campos e forestas, na mem-
ria subversiva do Evangelho e na fdelidade
ao Deus dos pobres e aos pobres da terra. Ser
uma presena solidria, proftica, ecu-
mnica, fraterna e afetiva, que presta
um servio educativo e transformador
para os povos da terra e das guas, a
fm de estimular e reforar o seu pro-
tagonismo, contribuindo para articular
as iniciativas das comunidades campo-
nesas, ao mesmo tempo em que busca
envolver toda a sociedade na luta pela
terra e na terra, assim que a CPT ex-
pressa sua forma de agir.
Acentos na trajetria
No decorrer de sua histria, certas
realidades e situaes foram mais acen-
tuadas no conjunto das aes da CPT,
conforme as necessidades eram mais
ou menos intensas, ou de acordo com
o que a conjuntura exigia.
O que a Comisso Pastoral da
Terra nunca esqueceu que ela existe
como um servio causa dos traba-
lhadores e trabalhadoras e como um
suporte para a sua organizao. o
trabalhador que define os rumos que
deseja seguir, seus objetivos e metas.
A CPT o acompanha, no cegamen-
te, mas com esprito crtico. E desde
o comeo tinha clareza de que os pro-
tagonistas dessa histria so eles, os
trabalhadores e as trabalhadoras.
Os posseiros foram os que primei-
ro mereceram a ateno da CPT e
constatou-se que existiam posseiros
em todas as regies do Brasil. A co-
misso incentivou os trabalhadores
a organizar sindicatos onde eles no
existiam, ou a conquistar espaos e
direo onde eles existiam, mas eram
subservientes aos interesses dos pro-
prietrios ou do governo.
Em algumas regies, os atingidos
pelos grandes projetos oficiais, de
modo particular pelas barragens
de hidreltricas, tiveram um acompa-
nhamento mais intenso, com desta-
que para a construo da barragem de
Sobradi nho, no ri o So Franci sco,
Bahia, e Itaipu, no Paran. A organi-
zao dos trabalhadores que tentavam
resistir Usina Hidreltrica de Itaipu,
ou pelo menos reivindicavam indeni-
zaes justas, serviu de baliza para o
surgimento, mais tarde, do MOVIMENTO
DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB),
apoiado e estimulado pela CPT.
Mais adiante, o acento da ao da
CPT foi o apoio conquista da terra
pelos sem-terra. A primeira reunio
de sem-terras convocada pela CPT se
realizou em Goinia, em 1982. Dois
anos mais tarde, surgiu o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST).
Terra garantida ou conquistada, o
desafio o de nela sobreviver. A pro-
duo, a comercializao e a agricul-
tura familiar passaram a ter destaque
especial, mas no qualquer produo,
pois o meio ambiente tem de ser res-
peitado e a produo precisa ser sau-
dvel. Os pequenos agricultores que
no se sentiam representados pelos
sindicatos criaram, com o apoio da
CPT, o MOVIMENTO DOS PEQUENOS
AGRICULTORES (MPA).
Novos elementos comearam a fa-
zer parte da compreenso da CPT. A
terra no s espao de produo, mas
lugar da vida; e, nesse espao, devem ser
desenvolvidas relaes harmoniosas
com a natureza e com todos os seres
vivos que a habitam. E a CPT incor-
133
C
Comisso Pastoral da Terra (CPT)
porou uma ateno especial gua,
com suas mltiplas dimenses e usos.
Incorporou tambm o conceito de
territrio na defesa do direito terra,
sobretudo pelas comunidades indge-
nas, quilombolas e outras comunidades
tradicionais.
A ateno aos trabalhadores e tra-
balhadoras assalariados, os boias-frias,
foi um dos acentos na trajetria da
CPT; com isso, os boias-frias consegui-
ram, por algum tempo, ganhar a cena,
mas hoje enfrentam difculdades de or-
ganizao e articulao.
Desde sua origem, a CPT se preo-
cupou com os pees das fazendas, mui-
tas vezes submetidos a condies an-
logas ao trabalho escravo, e denunciou
esse tipo de explorao. Em 1997, lan-
ou uma Campanha Nacional contra o
Trabalho Escravo, que, alm de denun-
ciar a continuidade dessa chaga social,
promove aes de conscientizao nas
regies de onde saem os trabalhadores
e busca dar apoio aos resgatados.
Apesar das nfases diferentes, uma
linha comum entrelaa os diferentes
perodos: a dos direitos. Na sua ao,
explcita ou implicitamente, o que
sempre esteve em jogo foi o direito
do trabalhador, de tal forma que se
pode dizer que a CPT tambm uma
entidade de defesa dos direitos huma-
nos, ou uma pastoral dos direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras da terra.
A formao, mola mestra
da ao
Desde os primeiros momentos at
hoje, a Comisso Pastoral da Terra
considerou a formao um elemento
essencial para a sua ao e para que os
homens e as mulheres do campo as-
sumam as rdeas de suas lutas, sendo
protagonistas de sua histria. A CPT
nunca desenvolveu processos de edu-
cao formal, a no ser de alfabetiza-
o de adultos em alguns lugares, mas
dedicou e dedica parte signifcativa de
seu tempo e de seus recursos a realizar
encontros e cursos de formao que
ajudem os trabalhadores e trabalhado-
ras a ler com olhos crticos a realidade
na qual esto inseridos, a conhecer os
direitos que a lei lhes garante, a reivindi-
car direitos que a lei lhes nega e a de-
senvolver prticas de cultivo e cuidado
da terra que melhorem a sua produo,
respeitando os direitos da natureza.
Tambm desenvolveu e desenvolve
aes de formao com grupos especf-
cos de camponeses, como os ribeirinhos,
os quilombolas, os seringueiros e outros.
Ao mesmo tempo, tem dado ateno
formao das mulheres camponesas,
incentivando-as a se empoderarem e
a defenderem suas prprias causas. A
CPT acompanhou com carinho e aten-
o a formao da Articulao Nacio-
nal das Mulheres Trabalhadoras Rurais
(ANMTR), que se converteu no atual
MOVIMENTO DAS MULHERES CAMPONESAS
(MMC Brasil).
Como suporte s aes de forma-
o, a organizao produziu, em todos
os cantos do pas, cartilhas sobre a
realidade brasileira, os direitos das di-
versas categorias de trabalhadores do
campo posseiros, meeiros, arrendat-
rios, ribeirinhos, quilombolas e sobre
prticas de sade alternativa e popular,
de cultivo da terra e de preservao
e recuperao de fontes e nascentes.
Tambm produziu cartilhas de alfabe-
tizao dentro do esprito e do mtodo
de Paulo Freire.
Nesse contexto, a CPT tambm no
descurou da formao de seus agentes
Dicionrio da Educao do Campo
134
para que pudessem prestar um servio
mais qualifcado aos grupos e s co-
munidades com as quais trabalhavam
e trabalham.
Reafirmao de
compromissos
A CPT, ao longo de sua histria, foi
avaliando sua ao e, a fm de manter
fdelidade sua misso, reafrmou seus
compromissos e assumiu novos que
melhor respondessem aos desafos da
realidade. So eles:
1) A promoo da vida dos seres humanos e
do planeta terra: a luta pela terra no
pode estar dissociada da luta pela
Terra, o planeta, que sofre contnu-
as agresses e manifesta o estresse
a que foi submetida.
2) A construo de prticas e valores no
campo que criem novas relaes entre pes-
soas, famlias, comunidades e povos numa
perspectiva de solidariedade: a CPT
entende que um projeto novo ex-
ige prticas novas ou o resgate de
prticas antigas que o modelo de
desenvolvimento imperante fez
abandonar, mas que carregam sa-
beres e dinmicas capazes de salvar
o planeta e as boas relaes.
3) O protagonismo dos camponeses e das
camponesas, dos trabalhadores e das
trabalhadoras, em busca do fortaleci-
mento do pode r popul ar : campon-
eses e camponesas, trabalhadores
e trabalhadoras devem assumir as
rdeas de sua histria; no podem
fcar subordinados ao que ditam as
elites, que determinam o que todos
tm de fazer, para garantir seus
prprios interesses. Por isso, a ao
da CPT junto das comunidades
camponesas pretende que elas es-
tejam organizadas e articuladas en-
tre si e que fortaleam sua prpria
identidade, compreendendo os de-
safos da realidade e as ciladas do
modelo atual de desenvolvimento.
4) A luta pela terra e pelos territrios, com-
batendo o latifndio e o agronegcio e in-
corporando na luta a convivncia com os
diversos biomas e as diversas culturas dos
povos que ali vivem e resistem, buscando
formar comunidades sustentveis: a luta
pela terra no s a luta por um
pedao de cho para trabalhar, mas
a luta pela defesa de territrios, nos
quais as comunidades exercem sua
autonomia, defnem suas prprias
formas de ocupao e organizam
seu espao de vida e relaes.
5) O enfrentamento ao modelo predador do
ambiente e escravizador da vida de pessoas e
comunidades: o modelo de desenvolvi-
mento capitalista s enxerga a nature-
za como fonte de riqueza que deve
ser explorada at o esgotamento para
gerar lucros cada vez maiores, lan-
ando mo de relaes de trabalho,
superadas como o trabalho escravo,
para que seus lucros sejam cada vez
maiores. A CPT prope que esse
modelo seja enfrentado com clareza
e frmeza.
Por isso, a CPT, atuando como su-
porte e parceira solidria, tem como
objetivo estratgico de sua ao que as
comunidades camponesas conquistem prticas,
valores e direitos que promovam e defendam a
vida dos seres humanos e do planeta Terra e
que, ao mesmo tempo, garantam o protagonis-
mo das populaes camponesas e dos traba-
lhadores e trabalhadoras do campo.
Nessa luta, a CPT no est sozinha.
Articula-se com as pastorais sociais das
Igrejas e com os movimentos, associa-
es e organizaes de camponeses e
camponesas. A CPT parte integran-
te do Frum Nacional pela Reforma
135
C
Commodities Agrcolas
Agrria e Justia no Campo (FNRA) e
da Via Campesina. Por ser a Via Cam-
pesina uma articulao internacional
de movimentos e entidades dos tra-
balhadores e trabalhadoras do campo,
a CPT, como entidade de assessoria e
apoio, dela participa ativamente, ainda
que na qualidade de convidada.
Para saber mais
COMISSO PASTORAL DA TERRA. Pastoral e compromisso. Petrpolis: Vozes, 1983.
______. Conquistar a terra, reconstruir a vida: CPT, dez anos de caminhada.
Petrpolis: Vozes, 1985.
_____. A luta pela terra: a Comisso Pastoral da Terra 20 anos depois. So Paulo:
Paulus, 1997.
POLETTO, I.; CANUTO, A. Nas pegadas do povo da terra: 25 anos da Comisso Pastoral
da Terra. So Paulo: Loyola, 2002.
C
COMMODITIES AGRCOLAS
Nelson Giordano Delgado
O termo commodity, que em portu-
gus significa mercadoria, tem longa
tradio de uso tanto na economia
poltica quanto em sua crtica. Diz-se
que um recurso, um bem ou um servi-
o torna-se uma mercadoria quando
comprado e/ou vendido no mercado,
adquirindo, portanto, um preo. As-
sim, o arroz torna-se uma mercadoria
quando produzido para ser vendi-
do no mercado, o que no acontece
quando consumido diretamente pelo
produtor ou canalizado para os con-
sumidores por outros mecanismos
que no os do mercado (por exemplo,
sua distribuio direta por agncias
governamentais ou organizaes de
produtores). Da mesma forma, a for-
a de trabalho humana torna-se uma
mercadoria apenas quando vendida
no mercado, obtendo um preo repre-
sentado pelo salrio monetrio.
Isso significa que a produo de
mercadorias um atributo de um
sistema de mercado e no apenas do
capitalismo. Uma economia de peque-
nos produtores mercantis um siste-
ma que produz mercadorias, embora
no seja um sistema capitalista. No
entanto, apenas no capitalismo que
o mercado se torna o grande poder
organizador do sistema econmico e
social, de modo que os mercados pas-
sam a controlar a sociedade humana,
que vira um acessrio do sistema
econmico, como diz Polanyi (2000,
p. 97), e a produo de mercadorias
se generaliza por toda a economia. No
capitalismo, a sociedade , fundamen-
talmente, uma sociedade produtora
de mercadorias, de tal forma que a ri-
queza, na expresso de Marx, aparece
como uma imensa coleo de merca-
dorias (1983, p. 45).
Dicionrio da Educao do Campo
136
O termo commodity primria refere-
se a produtos que so produzidos para
serem transacionados unicamente no
mercado nesse caso especfco, no
mercado internacional e est associa-
do a um tipo de organizao da produ-
o que representou historicamente a
integrao das economias e sociedades
perifricas diviso do trabalho no sis-
tema capitalista internacional.
Uma defnio ofcial de commodi-
ty primria apresentada pela Carta de
Havana, aprovada na Conferncia das
Naes Unidas sobre Comrcio e Em-
prego, realizada em Havana em maro
de 1948:
[...] qualquer produto origin-
rio de atividade agropecuria,
forestal ou pesqueira ou qual-
quer mineral em sua forma na-
tural ou que tenha passado por
processamento costumeiramen-
te requerido para prepar-lo
para comercializao em volume
substancial no comrcio interna-
cional. (Delgado, 2009, p. 128)
Assim, nas commodities primrias
esto includos, alm das chamadas
commodities agrcolas, produtos como
cobre, alumnio, gs natural, petr-
leo bruto, peixes, madeira bruta etc.
O termo commodities agrcolas englo-
ba produtos originrios de atividades
agropecurias, vendidos em quantida-
des considerveis, no mercado interna-
cional, em sua forma natural ou aps
passarem por um processamento ini-
cial necessrio sua comercializao.
Commodities agrcolas no so, portan-
to, produtos industrializados, os quais
incorporam significativo valor, adi-
cionado s matrias-primas utilizadas
para a sua produo. O trigo em gro
uma commodity agrcola, mas no o
po, o macarro e outros produtos
derivados do trigo e que passam por
processos manufatureiros.
Usualmente, as commodities agrcolas
so classifcadas em commodities tropi-
cais ou leves e commodities duras.
As primeiras incluem produtos como
caf, cana-de-acar, banana, cacau e
ch, produzidos em pases perifricos
de clima tropical, com sua produo
originariamente destinada aos pases
centrais, para consumo direto ou in-
dustrializao. As commodities agrcolas
duras incluem produtos como algo-
do, trigo, soja, carnes, arroz, milho
e outros, produzidos tanto em pases
perifricos quanto em pases centrais
de clima temperado, de modo que sua
forma de produo e seus preos so
afetados por fatores diversos daqueles
que afetam os produtos tropicais.
As chamadas commodities agrcolas
tropicais esto, em grande parte, iden-
tificadas com a histria dos pases pe-
rifricos desde o perodo colonial ou,
mais recentemente, desde a sua inser-
o na diviso internacional do traba-
lho a partir do sculo XIX. No caso
do Brasil, basta pensarmos nos cha-
mados ciclos da cana e do caf para
percebermos a importncia decisiva
das commodities agrcolas na formao
da sociedade e da economia brasilei-
ras e no padro de integrao do pas
ao sistema capitalista internacional at
meados do sculo XX.
Foi principalmente para as com-
modities agrcolas tropicais e para os
pases que as produziam seja atravs
de sistemas de plantation, seja utilizan-
do pequenos produtores rurais que
se colocou historicamente o chamado
problema das commodities (Depart-
ment for International Development,
2004, p. 6), que buscava descrever uma
137
C
Commodities Agrcolas
dupla tendncia: 1) o declnio nos ter-
mos de troca entre commodities agrco-
las e produtos manufaturados a longo
prazo; e 2) a enorme volatilidade nos
preos dessas commodities a curto pra-
zo. Essa volatilidade usualmente est
associada aos hiatos temporais entre as
decises de produzir e a capacidade de
entregar as mercadorias no mercado;
aos choques de oferta causados por mu-
danas climticas ou perturbaes na-
turais inesperadas; baixa elasticidade-
renda da demanda desses produtos; e
inelasticidade-preo de sua oferta.
1
Duas ocorrncias merecem des-
taque na considerao das commodities
agrcolas tropicais (e das commodi-
ties primrias em geral) e do problema
das commodities, acima assinalado. Em
primeiro lugar, a anlise do comporta-
mento histrico da relao de trocas
entre os preos das commodities e os pre-
os dos produtos industriais, as primei-
ras exportadas pelos pases da periferia
e os segundos exportados pelos pases
centrais, tornou-se um dos pilares da
pioneira teoria do desenvolvimento e
do subdesenvolvimento econmicos
formulada, no quase imediato ps-
Segunda Guerra Mundial, pela Comis-
so Econmica para a Amrica Latina
e o Caribe (Cepal) (Prebisch, 1964;
Furtado, 1961). A deteriorao histri-
ca desses termos de troca ou intercm-
bio est associada, na concepo de
Prebisch e Furtado, insufcincia di-
nmica do desenvolvimento baseado
em commodities agrcolas ou primrias em
geral, que, alm disso, no pode ser
enfrentada de forma equitativa por
intermdio dos mecanismos de mer-
cado. Da a proposio que se tor-
naria fundadora da reivindicao de
desenvolvimento econmico dos pa-
ses perifricos no ps-guerra: a exe-
cuo de projetos de industrializao
orientados e estimulados pela ao da
poltica econmica dos Estados na-
cionais, visando superar sua condio
de pases vocacionados para a pro-
duo de commodities primrias.
A segunda ocorrncia que merece
registro no tema das commodities agr-
colas foram as tentativas de enfrentar
os problemas oriundos da deteriorao
dos termos de intercmbio e, princi-
palmente, da volatilidade dos preos
por meio da realizao de acordos in-
ternacionais ou intergovernamentais
sobre commodities. Embora intentos de
concretizao desse tipo de acordos
tivessem sido feitos anteriormente
(em grande parte de forma bilateral),
foi no processo de negociao da or-
dem comercial internacional a vigorar
no segundo ps-guerra que surgiram
tentativas de retomar a discusso des-
ses acordos internacionais nos fruns
internacionais em construo (Depart-
ment for International Development,
2004; Delgado, 2009).
Inicialmente, Keynes, em sua pro-
posta de reorganizao da ordem fnan-
ceira e comercial internacional apre-
sentada na reunio de Bretton Woods,
incluiu a criao de agncias internacio-
nais para o controle dos preos das com-
modities primrias, mediante uma poltica
de estoques, intento abortado devido
oposio dos Estados Unidos e sua de-
fesa da liberalizao comercial.
Tambm nas discusses prepara-
trias para a elaborao de uma pro-
posta de Organizao Internacional do
Comrcio (abandonada pelos Estados
Unidos em 1950), a questo dos acor-
dos intergovernamentais sobre com-
modities esteve presente em abordagens
alternativas, algumas das quais implica-
vam ampla interveno governamental.
Dicionrio da Educao do Campo
138
Porm, novamente prevaleceu a posi-
o hegemnica dos Estados Unidos de
defesa do princpio do liberalismo como
eixo da poltica comercial mundial; nes-
sa viso, os acordos sobre commodities se-
riam permitidos apenas como excees
s regras da liberalizao e com durao
e carter bastante limitados. E dessa
forma que foram incorporados na Carta
de Havana e na normativa do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comrcio (Gatt,
do ingls General Agreement on Tariffs
and Trade), instituio que se tornou
reguladora do comrcio internacional
no ps-guerra, at a criao da Organi-
zao Mundial do Comrcio (OMC) na
dcada de 1990.
Por fm, houve uma tentativa de
reintroduzir a questo dos acordos so-
bre commodities em 1955, no Gatt, com
o Acordo Especial sobre as Disposi-
es para Commodities (SACA, do in-
gls Special Agreement on Commodity
Arrangements), visando regular sua
oferta e demanda no comrcio mun-
dial; outra tentativa foi feita na Con-
ferncia das Naes Unidas sobre Co-
mrcio e Desenvolvimento (Unctad,
do ingls United Nations Conference
on Trade and Development) nos anos
1970, atravs de um Programa Integra-
do para as Commodities (IPC, do ingls
Integrated Program for Commodities);
e outra foi realizada em 1980, com a as-
sinatura de um acordo estabelecendo o
Fundo Comum para Commodities (CFC,
do ingls Common Fund for Com-
modi t i es) . Todas essas t ent at i vas
estavam fundadas na ideia do esta-
belecimento de estoques reguladores
internacionais cuja operao busca-
ria estabilizar os preos mundiais. E
todas essas tentativas fracassaram ou
tornaram-se letra morta diante no s
da oposio dos Estados Unidos, mas
tambm do predomnio nos pases
centrais do princpio da liberalizao
comercial, que cada vez mais se iden-
tifcou com a defesa do livre-comrcio,
da abertura dos mercados dos pases
perifricos s empresas transnacionais
e da integrao globalizao fnancei-
ra e comercial, em especial a partir da
dcada de 1980.
A situao em relao s commodities
agrcolas duras, como mencionado
anteriormente, muito diversa daque-
la das commodities agrcolas tropicais: as
commodities duras passaram a domi-
nar as negociaes agrcolas interna-
cionais pelo menos a partir da dcada
de 1960, tornando-se o foco principal
dos conflitos no comrcio mundial
agropecurio. Uma caracterstica par-
ticular das commodities agrcolas duras
o fato de terem peso considervel
nas agriculturas dos pases centrais
e desempenharem papel decisivo na
estrutura do sistema agroalimentar
mundial, dominado por grandes em-
presas transnacionais e enormemente
influenciado pelas polticas agrcolas
daqueles pases (Wilkinson, 1989 e
2009; Cartay e Ghersi, 1996).
Outra caracterstica que as com-
modities agrcolas duras passaram a
ocupar um lugar muito mais impor-
tante do que as commodities agrcolas
tropicais em muitos pases perifricos,
representando um componente prin-
cipal da sua renda agrcola e da sua
pauta de exportaes, e infuenciando,
direta ou indiretamente, mas sempre
de forma marcante, as tendncias e
possibilidades de desenvolvimento dos
segmentos capitalista e familiar de suas
agriculturas. No deixa de ser impac-
tante constatar que muitos pases pe-
rifricos, inclusive o Brasil, passaram a
reconstruir a originria vocao agr-
139
C
Commodities Agrcolas
cola, to cara s suas elites agrrias,
a partir da dcada de 1970 com as
mudanas ocorridas no comrcio e no
sistema agroalimentar mundiais e du-
rante as dcadas de 1980 e de 1990
com as mudanas da poltica econ-
mica e a abertura dos mercados, in-
duzidas pela crise da dvida externa e
pela adoo do receiturio neoliberal
(Delgado, 2010). A diferena funda-
mental que essa reconstruo est
baseada agora na especializao em
commodities agrcolas duras e no mais
em commodities agrcolas tropicais, con-
tornando algumas condies de insu-
fcincia dinmica do desenvolvimento
associado a essas ltimas, mas no en-
frentando e muitas vezes obstaculi-
zando as mudanas estruturais de-
fendidas por Prebisch e Furtado para
as economias perifricas.
O preo internacional, a quantidade
produzida e a rentabilidade das commodi-
ties agrcolas duras so determina-
dos em grande medida pelas polticas
agrcolas protecionistas dos pases cen-
trais. Essas polticas foram inauguradas
na dcada de 1930 nos Estados Uni-
dos, em resposta aos efeitos devasta-
dores da Grande Depresso, de 1929
sobre o meio rural, e se fortaleceram
bastante no ps-guerra, aps a deciso
norte-americana de impedir que as com-
modities agrcolas fossem submetidas s
regras do Gatt, e com o surgimento,
na dcada de 1950, da Poltica Agr-
cola Comunitria, a PAC, que repre-
sentou um componente politicamente
importante no processo de construo
da Comunidade Econmica Europeia
(CEE) no perodo. Como resultado, a
produo agrcola cresceu extraordi-
nariamente nos Estados Unidos e na
Europa, de modo que essa ltima pas-
sou a ser exportadora lquida de com-
modities agrcolas no incio da dcada de
1980, dando origem aos confitos co-
merciais entre Estados Unidos e CEE
(atual Unio Europeia), que passaram
a dominar o cenrio das negociaes
agrcolas internacionais desde ento.
Ademais, com a necessidade de os
pases perifricos aumentarem consi-
deravelmente suas exportaes de com-
modities agrcolas duras, em virtude
da crise da dvida e das transformaes
do sistema agroalimentar mundial, as
polticas protecionistas dos pases cen-
trais passaram a infuenciar igualmente
as possibilidades no apenas de cresci-
mento da agricultura e das exportaes
agrcolas, mas tambm de equilbrio na
balana comercial desses pases.
O exame do comportamento hist-
rico dos preos das commodities agrco-
las duras indica substancial variabi-
lidade de preos, alternando elevaes
e quedas peridicas nos preos reais
com evidncias, embora controversas,
de tendncia declinante de seus preos
reais a longo prazo (Hathaway, 1987,
cap. 1 e 2). Assim, na dcada de 1960,
o comrcio agrcola mundial cresceu
lenta mas continuamente, e os preos
das commodities permaneceram relativa-
mente estveis. Essa situao mudou
consideravelmente na dcada de 1970,
quando o volume do comrcio de com-
modities agrcolas aumentou, em termos
reais, quatro vezes mais do que a sua
produo, provocando aumentos con-
siderveis nos preos mundiais (nomi-
nais e reais). Nessa dcada, dentre as
transformaes ocorridas no comrcio
mundial de commodities, cabe destacar o
grande aumento das exportaes agr-
colas dos Estados Unidos, estimulado
pela poltica de desvalorizao do d-
lar o que tornou a sua agricultura
mais dependente das exportaes e
Dicionrio da Educao do Campo
140
o enorme aumento da produo agr-
cola europeia em resposta aos estmu-
los da PAC.
Na dcada de 1980, ocorre, portan-
to, um considervel excesso de oferta
nos mercados mundiais de commodities,
acompanhado de uma relativa estagna-
o da demanda, tanto nos pases cen-
trais quanto nos perifricos (em decor-
rncia da crise da dvida externa), que
provocou grave crise no mercado mun-
dial, especialmente na primeira metade
da dcada, com drstica queda dos
preos internacionais, em termos reais.
Como consequncia, intensifcaram-se
os confitos comerciais em torno das
commodities agrcolas. Isso estimulou
o lanamento da Rodada Uruguai do
Gatt, a criao da OMC e a formulao
de um acordo agrcola que, pela primei-
ra vez na histria do ps-guerra, busca-
va trazer a agricultura, por assim dizer,
para dentro das regras do Gatt, com
o objetivo de tentar controlar o prote-
cionismo e seus efeitos deletrios so-
bre o comrcio mundial de commodities.
Os efeitos desse acordo da OMC para
a agricultura sobre a reduo do prote-
cionismo nos pases centrais foram, no
entanto, pouco importantes, de modo
que os impasses em torno das nego-
ciaes agrcolas internacionais perma-
necem at hoje, especialmente quando
observados da perspectiva do interesse
dos pases perifricos.
A conjuntura dos anos 1990 no
mundo das commodities agrcolas foi
bastante complexa, pois, alm dos con-
fitos comerciais, essa dcada assistiu
generalizao do receiturio neoliberal
e da ideologia da globalizao entre
os pases perifricos, em especial na
Amrica Latina; crescente importn-
cia de arranjos de integrao comercial
regional; reorganizao institucional
da Europa Central; intensifcao da
preocupao com a preservao e a
sustentabilidade ambientais; e emer-
gncia dos pases asiticos, em parti-
cular da China, como eixo dinmico
do comrcio mundial agroalimentar.
De modo geral, o comportamento dos
preos das principais commodities agr-
colas foi bastante voltil na dcada,
alternando entre um vigoroso cresci-
mento na primeira metade seguido de
uma igualmente vigorosa queda na se-
gunda metade da dcada.
Por fim, a primeira dcada dos
anos 2000 trouxe um comportamen-
to novamente voltil para os preos
das commodities agrcolas, embora com
vis de alta, associado a novas preocu-
paes com a possibilidade de crises
alimentares e com a insustentabilida-
de do sistema agroalimentar mundial,
alm das consequncias da severa crise
financeira internacional ocorrida em
2008 nos pa ses centrai s (Abbot,
2009; Ghosh, 2011; Ploeg, 2010;
United Nations Conference on Trade
and Development, 2010).
As explicaes para a tendncia
de elevao dos preos das commodities
agrcolas destacam tanto aspectos da
demanda quanto da oferta desses pro-
dutos (Ghosh, 2011). No que diz res-
peito demanda, o grande peso recai
sobre a China e a ndia, especialmente
no caso do enorme crescimento da de-
manda por soja por parte da China. No
que diz respeito oferta, um conjun-
to de fatores so elencados: o destino
crescente de reas cultivveis e de com-
modities plantadas para a produo de
agrocombustveis em vez de alimentos
(como exemplifcado pelo caso do
milho nos Estados Unidos); o aumento
dos custos dos insumos como resulta-
do da elevao do preo do petrleo;
141
C
Commodities Agrcolas
a queda dos rendimentos agrcolas por
causa da destruio dos solos e dos
investimentos pblicos inadequados
e insufcientes em pesquisa agrcola e ex-
tenso rural; o impacto das mudanas
climticas sobre as safras agrcolas; e a
reduo dos estoques mundiais de com-
modities. Alm disso, tambm so men-
cionados fatores como a desvalorizao
do dlar e a reduo das taxas de juros,
notadamente nos Estados Unidos.
No entanto, nmero crescente de
anlises sugere que variaes na oferta
e na demanda no so sufcientes para
explicar a exploso de preos ocorrida
em 2007, e, especialmente, no incio
de 2008, que parece estar associada ao
processo de fnanceirizao das com-
modities, ou seja, especulao fnan-
ceira, que se deslocou para o setor de
commodities primrias com a crise fnan-
ceira internacional, desencadeada pela
inadimplncia do subprime
2
nos Estados
Unidos. A maior preocupao dos
analistas que a especulao fnan-
ceira tenha se tornado um novo
componente estrutural explicativo
da volatilidade dos preos das com-
modities agrcolas, como parece ser
exemplificado pelo que ocorreu na
metade de 2008, quando muitos
investimentos financeiros tiveram
de abandonar o mercado de com-
modities para cobrir perdas e prover
liquidez em outras atividades, pro-
vocando uma queda em seus preos.
Como diz Ghosh, os mercados in-
ternacionais de commodities comea-
ram progressivamente a desenvolver
muitas das caractersticas dos mer-
cados fi nancei ros
3
(2011, p. 54;
nossa traduo).
De acordo com o relatrio da
Unctad de 2010, em geral, os preos
das commodities tm permanecido alta-
mente volteis e sua evoluo futura
extremamente incerta. Na medida
em que a especulao excessiva no
for contida, a forte presena de in-
vestidores financeiros continuar a
adicionar instabilidade nesses mer-
cados
4
(United Nations Conference
on Trade and Development, 2010,
p. 11; nossa traduo).
Por fm, para muitos analistas este
comportamento internacional das com-
modities agrcolas na primeira dcada de
2000 refete, na verdade, a existncia
de uma verdadeira crise agrria e ali-
mentar. Para Ploeg, por exemplo, esta
crise emerge da interao de trs fatores:
1) uma parcial, mas progressiva
industrializao da agricultura;
2) a emergncia do mercado
mundial como o princpio or-
denador da produo e da co-
mercializao agrcolas; e 3) a
reestruturao das indstrias
processadoras, das grandes em-
presas comercializadoras e das
cadeias de supermercados em
imprios alimentares que exer-
cem um poder monopolista
crescente sobre a cadeia de ofer-
ta de alimentos como um todo.
5
(2010, p. 99; nossa traduo)
A interao desses fatores, asso-
ciada constatao de que o mercado
mundial um princpio organizador
intrinsecamente instvel do sistema
agroalimentar internacional, tende a
tornar a turbulncia, segundo Ploeg,
uma caracterstica permanente do re-
gime alimentar, com consequncias
sobre o aumento da volatibilidade dos
preos das commodities agrcolas, em de-
trimento tanto de produtores quanto
de consumidores.
Dicionrio da Educao do Campo
142
Notas
1
Os termos de troca entre commodities agrcolas e produtos manufaturados indicam a rela-
o entre os preos desses produtos (Pcommodities/Pindustrializados, onde P=ndice de
preos). Se essa relao declinante ao longo do tempo, isso signifca que os preos dos
produtos industrializados aumentam mais rapidamente do que os preos das commodities
agrcolas, acarretando, como consequncia, uma transferncia de recursos dos produtores
de commodities agrcolas para os produtores de manufaturas. Uma baixa elasticidade-renda da
demanda denota que, quando a renda aumenta, o incremento da demanda por commodities
agrcolas dela derivado ocorre numa proporo inferior usualmente muito inferior ele-
vao da renda. A inelasticidade-preo da oferta sugere que, quando o preo das commodities
agrcolas aumenta, a quantidade ofertada aumenta em menor proporo do que o preo
e quando o preo cai, a quantidade ofertada diminui tambm em menor proporo.
2
Crdito de risco concedido a um tomador de emprstimos que no oferece garantias
sufcientes; no caso dos Estados Unidos, o termo designa especifcamente as hipotecas do
setor imobilirio.
3
[...] international commodity markets increasingly began to develop many of the features
of fnancial markets.
4
In general, commodity prices have remained highly volatile, and their future evolution
is extremely uncertain. As long as excessive speculation on commodity markets is not
properly contained, the strong presence of fnancial investors will continue to add
instability to these markets [...].
5
(1) a partial but constantly ongoing industrialization of agriculture; (2) the emergence of
the world market as the ordering principle for agricultural production and marketing; and
(3) the restructuring of processing industries, large trading companies and supermarket
chains into food empires that increasingly exert a monopolistic power over the entire food
supply chain.
Para saber mais
ABBOTT, P. Developments Dimensions of High Food Prices. OECD Food,
Agriculture and Fisheries Working Papers, n. 18, 2009.
CARTAY, R.; GHERSI, G. El escenario mundial agroalimentario. Caracas: Fundacin
Polar, 1996.
DELGADO, N. G. O regime de Bretton Woods para o comrcio mundial: origens, institui-
es e signifcado. Rio de Janeiro: Mauad X; Seropdica: Edur, 2009.
DELGADO, N. G. O papel do rural no desenvolvimento nacional: da moderniza-
o conservadora dos anos 1970 ao Governo Lula. In: MOREIRA, R. J.; BRUNO, R.
(org.). Dimenses rurais de polticas brasileiras. Rio de Janeiro: Mauad X; Seropdica:
Edur, 2010. p. 17-53.
DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (DFID). Rethinking Tropical
Agricultural Commodities. Londres: DFID, 2004.
FURTADO, C. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de
Cultura, 1961.
143
C
Conflitos no Campo
GHOSH, J. Commodity Speculation and the Food Crisis. In: INSTITUTE FOR
AGRICULTURE AND TRADE POLICY (IATP). Excessive Speculation in Agriculture Com-
modities: Selected Writings from 2008-2011. Minneapolis: IATP, 2011. p. 51-56.
HATHAWAY, D. E. Agriculture and the Gatt: Rewriting the Rules. Washington (D.C.):
Institute for International Economics, 1987.
MARX, K. O capital. So Paulo: Abril Cultural, 1983. V. 1, t. 1. (Os economistas).
PLOEG, J. D. The Food Crisis, Industrialized Farming and the Imperial Regime.
Journal of Agrarian Change, v. 10, n. 1, p. 98-106, Jan. 2010.
POLANYI, K. A grande transformao: as origens da nossa poca. 2. ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2000.
PREBISCH, Ral. Dinmica do desenvolvimento latino-americano. Rio de Janeiro: Fundo
de Cultura, 1964.
UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). Trade
and Development Report, 2010. Nova York: United Nations, 2010.
WILKINSON, J. O futuro do sistema agroalimentar. So Paulo: Hucitec, 1989.
WILKINSON, J. The Globalization of Agribusiness and Developing World Food
Systems. Monthly Review, p. 41-53, Sept. 2009.
C
CONFLITOS NO CAMPO
Clifford Andrew Welch
O ttulo deste verbete expressa uma
frase que virou marca da COMISSO
PASTORAL DA TERRA (CPT), organiza-
o ecumnica fundada em 1975, com
a misso de defender os interesses dos
camponeses. Desde 1985, a organiza-
o publica Conflitos no campo Brasil,
inicialmente um relatrio ocasional
e depois uma srie, com um volume
anual, e livro-testemunho da situao
socioeconmica dos trabalhadores ru-
rais e de sua resistncia aos ataques
constantes contra seus direitos tra-
balhistas e posses territoriais. Vamos
utilizar a CPT como ponto de partida
para examinar a conceituao do ter-
mo, a histria dos conflitos e a situa-
o atual.
Os relatrios da CPT estabelecem
categorias de anlise para registrar os
conflitos. Os organizadores dos rela-
trios destacam os temas terra, gua,
trabalho, violncia e manifestaes.
Para aprofundar a anlise, a CPT criou
subcategorias, como despejos, ex-
pulses, tempos de seca, reas de
garimpo, polticas pblicas e sin-
dicatos. Alm disso, a CPT procura
registrar todas as aes de resistn-
cia e enfrentamento que ocorrem
no Brasil.
Dicionrio da Educao do Campo
144
A perspectiva da CPT segue sua vo-
cao como protagonista e intermedi-
ria dos trabalhadores e trabalhadoras
do campo. Desses sujeitos, a organiza-
o registra uma diversidade de ativida-
des econmicas, relacionando posseiros,
assentados, remanescentes de quilom-
bos, parceleiros, pequenos arrendat-
rios, pequenos proprietrios, ocupantes,
sem-terras, seringueiros, quebradeiras
de coco babau, castanheiros, faxina-
lenses etc. Nos etc., esto englobados
assalariados, escravos, ribeirinhos, atin-
gidos por barragens, pescadores, garim-
peiros e grupos indgenas. Esses sujei-
tos, que no so mansos, herdaro
a terra e se deleitaro na abundncia da
paz (Salmos 37:11), com a assero do
papel testemunhante da CPT. A lista de
protagonistas ainda no completa.
Na categoria manifestaes, esto
includos os movimentos socioterrito-
riais, tais como o movimento sindical
rural, principalmente a Confederao
Nacional dos Trabalhadores na Agricul-
tura (Contag), e o Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST), que
lutam h dcadas pela Reforma Agrria.
Outros sujeitos essenciais para traar
os confitos so os ruralistas. Os cam-
poneses so protagonistas dos confitos
no campo hoje, mas s porque donat-
rios, senhores de engenho, fazendeiros,
grileiros, agroindustriais, agronegocian-
tes e polticos ruralistas o foram ontem.
No fosse pela agresso, pela acumula-
o primitiva da terra e pela explorao
do trabalho, os camponeses no teriam
motivos para se engajarem nos confi-
tos. Por isso, qualquer abordagem do
tema teria de comear no perodo colo-
nial, a fm de conseguir explicar os con-
fitos no campo no sculo XXI.
Numa perspectiva histrica, os
confitos modernos comearam com
o comrcio de pau-brasil, que marcou
profundamente as representaes do
Brasil como pas pacfico. Nos mapas
do incio da poca colonial, o interior
(ainda desconhecido pelo colonizador)
foi usado como pano de fundo para
que criativos cartgrafos retratassem
o processo de extrao da madeira pe-
los ndios tupinambs. Enquanto os
homens nativos aparecem negociando
na costa com comerciantes europeus,
as mulheres so retratadas no interior,
caando, cuidando de crianas ou co-
zinhando (Rocha, Presotto e Cavalhei-
ro, 2007). As cenas so prosaicas, uma
vez que sugerem uma relao suposta-
mente harmoniosa entre os elementos
indgena e portugus. Essas imagens
retratam um momento de uso da terra
em resposta demanda europeia que,
mesmo sem ter durado muito tempo,
era relativamente livre de conflitos
(Fausto, 1997).
Ainda que a explorao do solo
brasileiro tivesse sido concedida ao
Estado portugus por decreto papal,
as demais monarquias europeias no
respeitavam a autoridade do Vaticano.
Para proteger e desenvolver o seu novo
territrio, a Coroa Portuguesa estabe-
leceu, a partir de 1530, uma rede de
capitanias e passou o controle des-
sas subdivises a uma classe de nobres
de sua total confiana. Esses dona-
trios se comprometiam a povoar,
desenvolver, defender e administrar
os territrios em nome da Coroa, sob
pena de perder as terras.
Um legado importante do sistema
de capitanias foi a proliferao de uma
srie de sesmarias. Trata-se, essencial-
mente, de reas extensas, no interior
das capitanias, que foram sublocadas
a terceiros pelos donatrios (Fausto,
1997; Motta, 2009). O sistema de ses-
145
C
Conflitos no Campo
marias implantado na colnia precisa
ser examinado, uma vez que permane-
ce infuenciando os confitos no campo
at o presente.
O sistema original de sesmaria foi
criado em 1375, em Portugal. Com ele,
buscou-se promover o desenvolvimen-
to rural por meio do cultivo de cereais,
alm de segurar os camponeses na ter-
ra. O sistema ajudou a amenizar a cri-
se alimentar que devastara Portugal e
causara grande xodo do campesinato.
No sculo XV, o rei Afonso V utilizou
a mesma lei para promover a coloniza-
o das reas de fronteira, aumentar a
produo e assegurar as fronteiras de
Portugal contra a invaso espanhola
pelo Reino de Castela. Quem no con-
seguisse cultivar as terras num prazo
previamente determinado, precisava
devolv-las. Essas terras devolutas
deviam ser repassadas, com as mesmas
restries, para novos sesmeiros (aque-
les que recebiam a doao) (Motta,
2009, p. 15-17).
No Brasil onde os piratas
franceses e holandeses ameaavam a
hegemonia portuguesa , os motivos
para a utilizao do sistema no esta-
vam muito distantes daqueles que ha-
viam inspirado o uso prvio da poltica
pela monarquia lusa. Uma vez doado pela
Coroa, fcava a cargo do sesmeiro culti-
var, medir e demarcar o territrio.
Entretanto, as exigncias do sistema
de sesmaria no tiveram efeito prtico
no Brasil. O arrendatrio, que recebia
pores de sesmarias para desenvol-
v-las, alugava parcelas delas para pe-
quenos agricultores, mas ningum se
interessou em medi-las ou demarc-
las. Muito pelo contrrio, os grandes
arrendatrios aproveitavam a madeira
produzida pelo desbravamento e pres-
sionavam os camponeses a desmatar
outras reas. O abandono do cultivo da
terra no resultou em devoluo, pois a
fscalizao sempre foi muito precria
(Alveal e Motta, 2005).
Dessa forma, a sesmaria atribuda
a determinado nobre no Brasil tornar-
se-ia permanente, como uma grande rea
particular. ela a base de um sistema de
latifndio pouco produtivo, que contri-
buiu para a problemtica da formao
social do pas. Como difcilmente as
sesmarias coloniais eram devolvidas ao
rei, o signifcado de terras devolutas
tambm diferiu no Brasil, referindo-se
essencialmente s terras ainda no doa-
das ou desenvolvidas isto , a grande
maioria daquilo que viria a ser o Brasil
independente a partir de 1822.
Parece claro que o perodo colo-
nial produziu uma tendncia a permi-
tir que o poderoso controlasse gigan-
tescas pores de terras e sustentasse
suas vantagens atravs dos tempos. O
elemento portugus menos influen-
te possua a terra de modo precrio,
como arrendatrio, meeiro ou mesmo
posseiro; os ndios e africanos foram
escravizados. E isso transferiu para as
futuras geraes uma estrutura fun-
diria dualista, de terras subutilizadas
em forma de latifndio e de terras su-
perutilizadas em forma de minifndio,
bem como uma formao social alta-
mente estratificada.
Outra herana do sistema colonial,
argumenta a historiadora Mrcia Motta
(2009, p. 263-266), o uso pelos tribu-
nais da data de concesso da sesmaria
como referncia para determinar a ti-
tularidade. Em caso de confito sobre
a legitimidade de um ttulo de terra, os
tribunais geralmente exigem a realiza-
o de um processo de discriminao, a
fm de comprovar o direito original de
uso e posse da sesmaria.
Dicionrio da Educao do Campo
146
A ironia dessa busca de legitimida-
de que, alm da alterao do signi-
fcado da palavra sesmaria no Brasil,
a exigncia cultive ou perca perma-
neceu cega. Assim, em vez de desle-
gitimar a reivindicao daqueles que
pretendiam documentar seus ttulos, a
descoberta da subveno original ge-
ralmente confrmava o patrimnio de
uma rea, apesar de mostrar que as ter-
ras em litgio so, quase por defnio,
no desenvolvidas. At agora, ento, o
Judicirio tem interpretado o descober-
to como confrmao da legalidade do
reclamante e no como prova da falha
total de cumprir as condies estabele-
cidas pelo rei para garantir o usufruto
da rea.
A busca por ttulos originais tor-
nou-se especialmente importante aps
a promulgao da Lei de Terras, de 18
de setembro de 1850. Com o fm do
perodo colonial e o incio do Imprio,
os funcionrios imperiais tentaram fa-
zer coincidir suas demandas com aque-
las da monarquia inglesa. Sob a pres-
so britnica para abolir a escravido,
conceberam a Lei de Terras, que pro-
curava valorizar a propriedade da terra,
regulamentando a sua comercializao,
e atrair trabalhadores imigrantes com
todo tipo de promessa (Silva, 1996,
p. 127-139).
Muitos estudiosos tm interpretado
a lei como intencionalmente projetada
pela classe dominante para impedir que
a via farmer
1
servisse como modelo
de desenvolvimento agrrio. Para esses
pensadores, o que a classe dominante
tinha em mente era a transformao da
terra em mercadoria para que a vasta
maioria de posseiros brasileiros, imi-
grantes e escravos libertos no tivesse
recursos sufcientes para adquiri-las.
Alm disso, acreditam esses estudiosos
que o Estado imperial queria garantir
a disponibilidade dos escravos libertos
no mercado de trabalho que teria de
ser criado quando a abolio eliminas-
se, de vez, a fora de trabalho baseada
na escravido (Guimares, 1968; Costa,
1985; Martins, 1986).
Contudo, como demonstra a his-
toriadora Ligia Osorio Silva (1996),
os elaboradores da lei buscavam exa-
tamente o oposto: queriam criar um
mercado de terras seguro para atrair
investidores e imigrantes com a pro-
messa de poderem virar proprietrios
no Brasil. Isso levou os latifundirios
que dominavam o Parlamento a resis-
tirem aplicao da lei at que seus
efeitos pudessem ser controlados. No
contexto da prxima transio poltica,
quando da reinveno do Brasil como
Repblica, conseguiram descentralizar
a administrao da lei, passando a res-
ponsabilidade de sua execuo aos
governos estaduais recm-formados
(Silva, 1996; Linhares e Silva, 1999).
Ao tornar os estados responsveis
pela questo da terra, o governo federal
deixou a questo agrria nas mos do
grupo mais interessado em no implan-
tar a via farmer: a oligarquia agrcola
que governaria o pas durante a maior
parte do sculo XX. Dependendo
do estado e da regio, problemas do
uso e da posse da terra raramente
foram abordados por legisladores esta-
duais. Quando isso ocorreu, foram ge-
ralmente resolvidos pelos prprios go-
vernadores estaduais, muitos dos quais
fazendeiros e dependentes do apoio
dos ricos locais, no somente na busca
por recursos, mas tambm por votos.
Ao centro do sistema que conferia
poder aos estados estava a figura do
coronel, indivduo que controlava
o voto de dezenas, centenas ou mi-
147
C
Conflitos no Campo
lhares de trabalhadores. Os coronis
eram polticos locais que manipula-
vam o apoio eleitoral dos seus agre-
gados e dependentes, buscando que o
aparelho do Estado atendesse s suas
reivindicaes imediatas e de longo
prazo (Silva, 1996; Fausto, 1997), num
sistema onde uma mo lavava a ou-
tra. Ao longo do tempo, formas de
registro da terra foram estabelecidas e
a data-limite para a garantia de direi-
tos adquiridos de imveis, nos termos
da Lei de Terras de 1850, foi adiada de
1854, para 1878 e, depois, para vrios
anos entre 1900 e 1930, dependendo
dos interesses dos governos estaduais
e de coronis e latifundirios.
A necessidade da documentao
original de aquisio e utilizao efe-
tiva no interior do Brasil criou um
novo protagonista para os confitos no
campo: o grileiro. O valor da terra em
So Paulo e o medo do proprietrio de
perd-la para especuladores so fatores
que contriburam para tornar a prtica
bastante comum no estado. O grileiro
falsifcava documentos e os registrava
ofcialmente, corrompendo os ofciais
dos cartrios que, muitas vezes, fze-
ram parte do processo de falsifcao
de ttulos de propriedades. A prtica
da grilagem continuou a falsifcar do-
cumentos para a apropriao de terras
que pertenceram aos estados (Silva,
1996; Linhares e Silva, 1999).
A descentralizao do sistema de
registros e o poder de infuncia das
ol i garqui as r urai s tomaram for mas
diversas nas di ferentes regi es do
Brasil. Em todos os casos, no entanto,
prevaleceu a tendncia de reafrmao
do sistema latifndio-minifndio. Os
grileiros aumentavam o tamanho e a
quantidade dos latifndios por meio
da obteno de documentos falsos e a
agricultura de pequena escala sobrevi-
via precariamente, dependendo, mui-
tas vezes, da grande propriedade para
continuar a existir (Guimares, 1968;
Linhares e Silva, 1999).
Aps 1930, as mudanas polticas
no Brasil permitiram a instituio de
um governo central forte, que procurou
reduzir a infuncia da oligarquia rural
priorizando uma poltica desenvolvi-
mentista. O Estado Novo getulista se
estendeu de 1937 a 1945 e, no perodo,
decretos-leis procuraram reforar as
relaes capitalistas no campo. Entre
as contribuies do regime semifascis-
ta de Getlio Vargas, destaca-se a pro-
moo da organizao social e poltica
das classes rurais, inclusive a criao de
uma estrutura associativa e o estabele-
cimento do sistema judicirio do traba-
lho, usado para regular os confitos no
campo (Welch, 2010).
A partir de ento, as estruturas or-
ganizativas se tornaram objeto de dis-
puta poltica at os anos de 1960, quan-
do o governo determinou a criao de
um sistema de sindicatos tanto para os
latifundirios quanto para os campone-
ses. No entanto, esse ato fez agravar o
medo da oligarquia rural, uma vez que
sinalizou a possibilidade da perda de
seu poder e o aumento do controle
do Estado sobre a terra. Dessa forma,
os proprietrios de terra preferiram rea-
gir e garantir a dominao mediante o
golpe militar de 1964 (Welch, 2010).
Numa aparente contradio, a admi-
nistrao inicial da ditadura militar con-
seguiu aprovar no Congresso Nacio-
nal a primeira lei de Reforma Agrria,
em novembro de 1964. O Estatuto da
Terra defniu Reforma Agrria como
o conjunto de medidas que visam a
promover melhor distribuio da ter-
ra mediante modifcao no regime de
Dicionrio da Educao do Campo
148
posse e uso, a fm de atender aos prin-
cpios de justia social e do aumento
da produtividade (apud Bruno, 1995,
p. 5). Contudo, tal como a Lei de Terras
de 1850, o estatuto de 1964 foi escri-
to pra ingls ver. O documento foi
elaborado por um comit executivo de
revisores do prprio regime, com vis-
tas a eliminar o latifndio e promover a
agricultura familiar pela redistribuio
de terras, apostando na formao de
uma classe mdia rural. A essncia do
estatuto fnal, entretanto, foi transfor-
mada pelos representantes dos latifun-
dirios no Congresso.
Temendo a sua utilizao por parte
dos camponeses, os ruralistas se arti-
cularam para alterar a linguagem e os
objetivos do estatuto, de modo que o
apoio estatal fcou restrito moder-
nizao da agricultura de larga escala,
consolidando a agroindstria nacio-
nal. Essa mudana delineou a face da
REVOLUO VERDE no Brasil, um pro-
cesso que intensifcou as expropria-
es, os despejos e as expulses, agra-
vando o xodo rural, com a chegada de
mais de 20 milhes de camponeses s
periferias das cidades (Palmeira, 1989;
Bruno, 1995; Gonalves Neto, 1997).
Essas manobras revelam a infun-
cia contnua dos latifundirios no regi-
me e nas polticas fundirias. Sua capa-
cidade de dissimular a luta de classes
foi sempre muito grande, bem como
de impedir ou de abortar polticas p-
blicas para as populaes camponesas.
Com essa prtica de controle territo-
rial, as oligarquias rurais fzeram que
o problema fundirio fosse mantido, e
ele se intensifcaria nas dcadas seguin-
tes, com o aumento dos confitos no
campo no contexto do fm da ditadura
militar e da redemocratizao do Brasil
nos anos 1980.
Os confitos no campo documen-
tados pela CPT desde 1985 so novos
captulos de uma longa histria. So os
confitos pela terra que demarcam a his-
tria do Brasil, determinando as tran-
sies polticas, sustentando ou derru-
bando governos, formando as classes
sociais, selecionando os privilegiados e
os marginalizados, estabelecendo os sis-
temas de dominao e resistncia e dei-
xando para a gerao atual um punhado
de memrias de vencedores e vencidos.
Sabemos do guerreiro Zumbi e da
resistncia do quilombo de Palmares
durante o sculo XVII, da defesa dos
guaranis, orientados por Sep Tiaraju,
contra a sua reduo a escravos em mea-
dos do sculo XVIII, da rebelio dos
camponeses do Nordeste contra os no-
vos regulamentos de registro na oitava
dcada do sculo XIX, da contribuio
dos africanos escravizados ao fm da es-
cravido em 1888, da perseverana at a
ltima gota de sangue dos fagelados de
Canudos nos anos 1890, dos colonos
grevistas de So Paulo que deram par-
tida ao movimento sindical campons
no incio do sculo XX, do Partido Co-
munista Brasileiro (PCB), que susten-
tou durante dcadas o movimento, da
insistncia das Ligas Camponesas de
Francisco Julio na Reforma Agrria
radical como nica soluo para os gra-
ves problemas do pas no comeo dos
anos 1960, da coragem dos fundadores,
em 1963, da Confederao dos Tra-
balhadores da Agricultura, dos guerri-
lheiros do Araguaia, membros do Par-
tido Comunista do Brasil (PCdoB),
nico partido que tentou, durante
anos, mobilizar os camponeses do
serto na guerra contra a ditadura
que ameaava destruir o seu modo de
vida nos anos 1970 (Medeiros, 1989;
Welch, 2006).
149
C
Conflitos no Campo
Relembrar as lutas sociais de des-
taque na histria subalterna do campo
no um exerccio de histria social, e
sim a tentativa de caracterizar pontos-
chave na tradio inventada do movi-
mento campons do fm do sculo XX
e no incio do sculo XXI, que conse-
guiu elevar os eventos a mitos entre
os seus seguidores, se no na popula-
o em geral. A histria subalterna
a escrita da narrativa do passado pela
perspectiva dos vencidos, dos subor-
dinados, que se colocam eles mesmos
no papel de protagonistas dos eventos.
A tentativa de territorializar a histria
outra marca dos confitos no campo.
Mitos, longe de serem contos de deu-
sas falsas, so a liga cultural que serve
como memria coletiva de comunida-
des, tais como os movimentos socio-
territoriais (Fernandes, 2000).
As histrias das lutas camponesas
relembradas em cartilhas ou recriadas
em msticas fortalecem o movimento
campons, dando sentido e fundamen-
to aos confitos contemporneos no
campo. Eles no so confitos isolados,
mas parte de um fo histrico. A luta
de hoje faz parte de uma luta contnua
e permanente que precisa de seus sol-
dados tanto quanto as lutas do passa-
do. Um dia seremos ns os sujeitos
inspiradores de mais uma fase da luta
pela territorializao do campesinato
no Brasil.
A fase atual, testemunhada pela
CPT, a mais rica de todas em termos
de avanos dos movimentos socioter-
ritoriais. Enquanto o campons tradi-
cional, vivendo na terra durante gera-
es, sofreu brutais transformaes no
Brasil, o campons produto da luta
pela Reforma Agrria nunca esteve to
bem organizado. So mais de 1 milho
de famlias por volta de 5 milhes
de pessoas representadas por cerca
de 30 organizaes de diversas orien-
taes. O novo campons mora e tra-
balha em mais de 8.500 assentamentos,
estabelecidos pelos governos estaduais
e federal , e que ocupam quase 80
milhes de hectares 20% da terra
explorada pela agricultura (Ncleo
de Estudos, Pesquisas e Projetos de
Reforma Agrria, 2010). A gran-
de maioria dessas famlias foi assentada
depois de 1988, quando foi promulga-
da a nova Constituio, que especifcou,
como dever do Estado, a desapropria-
o para fns de Reforma Agrria, de
propriedades em violao das leis traba-
lhistas, ambientais ou simplesmente im-
produtivas. Os artigos constitucionais,
apesar de oferecerem menos do que
fora exigido, so produtos dos confitos
no campo.
Outras estatsticas so reveladoras
das complexidades dessas conquistas.
Nos embates provocados entre porta-
vozes da Via Campesina e do agrone-
gcio, clara a impossibilidade de di-
logo entre as partes: a Via Campesina
prega a Reforma Agrria e a segunda,
a extino da mesma. Por isso, a CPT
relatou que as ocorrncias de confitos
de terra aumentaram bastante entre
2001 (625) e 2010 (853); as incidncias
de trabalho escravo aumentaram mais
do que cinco vezes, de 45 (2001) para
204 (2010); os confitos pela gua pu-
laram de 14 (2002) para 87 (2010); e a
mdia dos assassinatos para mencio-
nar s a forma mais extrema de vio-
lncia praticada no campo foi de 38,
com alta de 73 em 2003 e baixa de 26
em 2009 (Comisso Pastoral da Terra,
2011). Com tragdias e vitrias como
essas, os confitos no campo continua-
ro a criar novos territrios e memrias
de resistncia.
Dicionrio da Educao do Campo
150
Nota
1
Via farmer uma expresso utilizada desde o sculo XIX para descrever o modelo de
desenvolvimento rural utilizado inicialmente no nordeste dos Estados Unidos da Amrica,
caracterizado pela predominncia do pequeno agricultor.
Para saber mais
ALVEAL, C.; MOTTA, M. Sesmarias. In: MOTTA, M. (org.) Dicionrio da terra. Rio
de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005. p. 427-431.
BRUNO, R. O Estatuto da Terra: entre a conciliao e o confronto. Estudos Sociedade
e Agricultura, n. 5, p. 5-31, nov. 1995.
COMISSO PASTORAL DA TERRA (CPT). Confitos no campo Brasil 2010. Goinia:
Comisso Pastoral da Terra, 2011.
COSTA, E. V. The Brazilian Empire: Myths and Histories. Chicago: The University
of Chicago Press, 1985.
FAUSTO, B. Histria do Brasil. So Paulo: Edusp, 1997.
FERNANDES, B. M. A formao do MST no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2000.
GONALVES NETO, W. Estado e agricultura no Brasil: poltica agrcola e modernizao
econmica brasileira, 1960-1980. So Paulo: Hucitec, 1997.
GUIMARES, A. P. Quatro sculos de latifndio. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.
LINHARES, M. Y.; SILVA, F. C. T. Terra prometida: uma histria da questo agrria no
Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
MARTINS, J. S. O cativeiro da terra. So Paulo: Hucitec, 1986.
MEDEIROS, L. S. Histria dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: Fase, 1989.
MOTTA, M. M. M. Direito terra no Brasil: a gestao do confito 1795-1824. So
Paulo: Alameda, 2009.
NCLEO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE REFORMA AGRRIA (NERA). Rela-
trio DATALUTA Banco de dados da luta pela terra 2009. Presidente Prudente:
Nera, 2010.
PALACIOS, G. Campesinato e escravido: uma proposta de periodizao para a his-
tria dos cultivadores pobres livres no Nordeste oriental do Brasil (1700-1875).
In: WELCH, C. A. et al. (org.). Camponeses brasileiros: leituras e interpretaes clssi-
cas. So Paulo: Editora da Unesp, 2009. p. 145-178.
PALMEIRA, M. Modernizao, Estado e questo agrria. Estudos Avanados, So
Paulo, v. 3, n. 7, p. 87-108, 1989.
ROCHA, Y. T.; PRESOTTO, A.; CAVALHEIRO, F. The Representation of Caesalpi-
nia echinata (Brazilwood) in Sixteenth and Seventeenth-Century Maps. Anais da
Academia Brasileira de Cincias, v. 79, n. 4, p. 751-765, 2007.
151
C
Conhecimento
SILVA, L. O. Terras devolutas e latifndio: efeitos da lei de 1850. Campinas: Editora
da Unicamp, 1996.
WELCH, C. A. A semente foi plantada: as razes paulistas do movimento campons,
1924-1964. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
______. Movimentos sociais no campo: a literatura sobre as lutas e resistncias
dos trabalhadores rurais do sculo XX. Revista Lutas e Resistncias, Londrina, n. 1,
p. 60-75, set. 2006.
C
CONHECIMENTO
Mrcio Rolo
Marise Ramos
O termo conhecimento, derivado
do latim cognoscere, possui vrias acep-
es. Ele pode signifcar: a) uma sim-
ples informao ou a cincia de
algo ou de um fato particular, como
em: Eu no tinha conhecimento deste
fato at que ela me falou; b) discerni-
mento, critrio, distino, como
em: Conheo se um quadro de Van
Gogh pelos seus tons de amarelo;
c) experincia, como em: Como jor-
nalista, ele conheceu o melhor e o pior
dos mundos; e e) um objeto apropria-
do pelo pensamento por meio de um
processo sistematicamente elaborado
no qual os passos pelos quais se chega
ao resultado fazem parte de sua estru-
tura, como em: O conhecimento bio-
lgico representar para o sculo XXI
o que a fsica-matemtica representou
para o sculo XX.
Uma afrmao como: No conheo
pessoalmente as pessoas que fazem parte
da comisso, mas conheo muito a res-
peito delas contrasta a acepo a com
a acepo e. Esses sentidos podem ser
apreendidos tambm em algumas for-
mas verbais derivadas do termo conhe-
cimento, como no verbo reconhecer.
A afrmao: No o reconheci quando
voc passou por mim na rua compar-
tilha da acepo a; j a afrmao: Eu
reconheci o meu erro se reporta ao sen-
tido de e, na medida em que se refere
ao ato de apreenso das inter-relaes
cognitivas de um objeto.
Percebe-se, ento, como as diver-
sas acepes da palavra conhecimento
apresentam como critrio de sua estru-
turao uma forma de relao que o co-
nhecimento mantm com o seu objeto.
Essa relao pode ser tanto imediata e
direta como o caso do seu sentido
de notcia ou experincia quanto
mediada e processual como o caso
do seu sentido cientfco ou arts-
tico. Essa ltima relao se repor-
ta a um universo bem mais amplo de
questes, na medida em que se refere
ao conhecimento como uma sequncia
aberta de operaes, um processo per-
manente de construo, um devir.
Eis por que se pode falar de dife-
rentes tipos de saber ou de conheci-
mento: conhecimento sensvel, intui-
tivo, afetivo; conhecimento intelectual,
Dicionrio da Educao do Campo
152
lgico, racional; conhecimento artsti-
co, esttico; conhecimento axiolgico;
conhecimento religioso; e, mesmo,
conhecimento prtico e conhecimento
terico (Saviani, 2005, p. 7). Isso nos
permite dizer que as formas como o
ser humano apreende o real so varia-
das, incluindo tanto os aspectos de co-
nhecimento das propriedades do mun-
do real (cincia) quanto tambm os de
valorizao (tica) e de simbolizao
(arte) desse mundo.
Mesmo a aproximao das pro-
priedades do mundo real no ocorre
de uma nica forma. Ela pode se dar,
inicialmente, como uma aproximao
sensvel, nos limites da aparncia das
coisas, produzindo o conhecimento
cotidiano. Uma investigao metdica
e sistematizada, por sua vez, tpica da
produo do conhecimento cientfco.
Mesmo essa, dependendo da concep-
o de mundo e de verdade, pode
ser orientada por distintas referncias
terico-metodolgicas, levando-nos a
ter como questo o quanto determina-
do conhecimento, considerado como
cientfco, resultou da aplicao cor-
reta de um mtodo, isto , o quanto ele
corresponde s determinaes concre-
tas de um objeto.
Com efeito, a pergunta o que o
conhecimento no teria importncia
signifcativa se as coisas se apresen-
tassem para os nossos sentidos e para
o nosso pensamento tais como elas
so isto , de um modo imediato
e manifesto. Se assim fosse, bastaria
descrever do modo mais objetivo pos-
svel o que vemos, o que ouvimos ou
sentimos e teramos todos a mesma
considerao a respeito das coisas do
mundo. O modo como as coisas so
em sua essncia no se manifesta ime-
diatamente ao homem, e para que elas
o faam preciso, antes, um esforo do
pensamento de descobrir as suas estru-
turas e as suas leis de funcionamento.
Esse esforo implica simultaneamente
o surgimento da compreenso concei-
tual dos fenmenos e sua expresso
adequada por meio de uma linguagem.
O descompasso entre o que se apre-
senta aos sentidos humanos na forma
de aparncia e as estruturas ou leis que
presidem e explicam os fenmenos faz
surgir a relao sujeitoobjeto.
Ora, uma vez que o conhecimento
no imediato, caberia perguntar pela
natureza desse termo lgico a media-
o que se coloca entre o sujeito e
o objeto do conhecimento, estabele-
cendo a relao entre eles. A conscin-
cia flosfca cheia de contradies
dos ltimos 25 sculos esteve dividida
acerca desse problema. A exigncia de
defnir, ou mesmo superar, a oposio
sujeitoobjeto acha-se no fundamento
da flosofa ocidental, e a aventura de
percorr-la desde a Antiguidade grega,
passando por Parmnides, Herclito,
Plato, Aristteles, bem como por
Toms de Aquino, Descartes, Kant,
Nietzsche e Hegel, leva-nos a perce-
ber os pontos de vista contraditrios
assumidos por cada um desses autores
para pensar essa relao. Por vezes, a
natureza processual do conhecimento
atribuda a uma limitao que reside
no objeto do conhecimento: uma vez
que cada coisa ou processo modifca-
se no tempo, os juzos sobre a reali-
dade tm um prazo de validade limi-
tado pela prpria natureza do objeto.
Outras vezes essa limitao atribuda
ao sujeito cognoscitivo: nesse caso, o
conhecimento no seria determinado
apenas pelo objeto, mas tambm pelas
particularidades individuais ou cultu-
rais do homem. As formas com que as
153
C
Conhecimento
opinies subjetivas se destacam ou se
agregam irremediavelmente objetivi-
dade passam a ser um problema teri-
co de grande complexidade.
Marx um dos pensadores moder-
nos que se dedicaram a compreender
como as coisas podem ser conhecidas
para que possam ser transformadas
afrmou que toda cincia seria suprfua
se a forma de aparecimento (forma fe-
nomnica) e a essncia das coisas ime-
diatamente coincidissem. H, segundo
ele, um descompasso entre o que perce-
bemos com os nossos sentidos e aquilo
que as coisas so quando explicadas me-
diante categorias cientfcas. Esse des-
compasso se evidencia, por exemplo, no
campo da economia poltica. A forma
acabada das relaes econmicas tal
como elas se mostram em sua superf-
cie, em sua existncia real bastante
diferente e, de fato, contrria ao conceito
que corresponde a ela.
Pode-se ver a no imediaticidade
entre essncia e fenmeno em diver-
sos campos do conhecimento. No livro
Contribuio crtica da economia poltica,
Marx desenvolve uma densa refexo
sobre o descompasso entre o modo
com a mercadoria se apresenta aos ho-
mens aparentemente como uma coi-
sa sem relao com os homens e o
que ela na verdade, isto , uma relao
entre os homens. Esse descompasso
entre os sentidos e as categorias cien-
tfcas pode evidenciar-se, igualmente,
no mbito das cincias da natureza. De
acordo com Marx, a verdade cientfca
sempre um paradoxo se julgada pela
experincia cotidiana (a lua no pare-
ce mover-se no cu segundo um mo-
vimento para ns inteiramente falso?)
e, por isso, ele dir: a natureza no
est, nem objetiva nem subjetivamente,
imediatamente disponvel ao ser huma-
no de modo adequado (Marx, 2008a,
p. 128).
As consideraes de Marx se re-
portam determinada abertura que
permite instalar o conhecimento como
processo. Sem jamais duvidar da in-
dependncia que o mundo material
tem em relao ao homem, ele chama
a ateno, entretanto, para o aspecto
sempre problemtico e criador que ca-
racteriza o mtodo por meio do qual o
conhecimento nasce e se estabiliza no
interior de uma formao social.
Vale a pena nos deter na relao aci-
ma mencionada: a relao entre mtodo
de conhecimento e sociedade. Em um de
seus primeiros livros, os Manuscritos
econmico-flosfcos, Marx relacionou os
sentidos humanos segundo ele, a
base de toda cincia com o conjunto
das relaes sociais nas quais os ho-
mens vivem e se formam, mostrando
que o trabalho, a cultura, a linguagem,
em suma, a histria do homem, so
uma condio inerente ao modo como
se engendram os sentidos humanos e,
por conseguinte, o conhecimento. Para
Marx, os homens se efetivam objeti-
vamente no mundo no somente por
meio do pensamento, mas tambm pe-
los sentidos, e a formao desses sen-
tidos no seno um processo social:
A formao dos cinco sentidos um
trabalho de toda a histria do mundo
at aqui (Marx, 2008b, p. 110).
preciso abandonar o ponto de
vista a partir do qual as coisas so da-
das como imediatas, para descobri-las
em seu condicionamento histrico.
Apoiado na noo de que a conscincia
humana s nasce mediante outra cons-
cincia, Marx dir que o sensvel tanto
uma forma social defnida pela prxis hu-
mana isto , pela ao transformado-
ra do homem quanto um objeto social
Dicionrio da Educao do Campo
154
apreendido isto , um objeto construdo
na coletividade humana e apropriado
individualmente por cada homem.
No h, poi s, um conheci mento
a-histrico, um conhecimento das coi-
sas defnitivo e elaborado a partir de
categorias no humanas, atemporais.
Todo fenmeno se exterioriza num
campo de sociabilidade, e ele nada
para-o-homem fora das determinaes
dadas por esse campo. As formas como
essa atividade se realiza, Marx as enten-
de por efetivao humana. O homem efeti-
va sua humanidade quando contempla-
se a si mesmo no mundo criado por
ele. Esse mundo pode ser o da arte, da
cincia, da religio.
Percebe-se como a flosofa mar-
xista, recusando os pressupostos das
flosofas intuicionistas, para quem a
intuio meramente um encontro
da sensibilidade com o objeto a ser
apreendido, postula uma nova forma
de conceber o sujeito na sua relao
com o dado sensvel. Aqui, o conceito
de dado esvaziado de seu sentido
flosfco tradicional, como aquilo que
fornecido imediatamente a um sujeito
considerado um espectador imparcial
do processo de construo do conhe-
cimento, para assumir um sentido de
trabalho, de mediao, de inventividade
dos meios de se fazer coincidir teo-
ricamente o fenmeno e a aparncia.
O mtodo por meio do qual se elabora
o conhecimento uma relao aber-
ta, engajada num campo de sociabi-
lidade que se efetiva mediante a ativi-
dade humana. Por conta desta abertura
Marx dir que o sentido de um ob-
jeto para mim vai precisamente to
longe quanto vai o meu sentido
(Marx, 2008b, p. 110).
Ao afrmar que o dado cientfco
nunca imediato, mas que ele s ocorre
no decurso de um processo, a concep-
o marxista de conhecimento se ope
ao positivismo, uma concepo de co-
nhecimento que preconiza uma relao
direta e sem mediaes entre essncia e
fenmeno. A concepo positivista de
conhecimento nasceu no sculo XVIII
como uma utopia crtico-revolucionria
da burguesia antiabsolutista, para tor-
nar-se, no decorrer do sculo XIX at
os nossos dias, uma ideologia conser-
vadora identifcada com a ordem in-
dustrial burguesa. Ela acha-se fundada
no seguinte conjunto de pressupostos
epistemolgicos: 1) crena na neutra-
lidade cientfca; 2) existncia de um
mtodo universal de conhecimento,
3) crena numa objetividade cientfca
a-histrica; 4) fetichizao das catego-
rias cientfcas isoladas, pensadas fora
de uma totalidade; 5) crena num cogi-
to cartesiano, isto , num EU fechado
em si mesmo e independente do mun-
do; e 6) conceito de natureza abstrado
de toda relao humana.
Ora, uma vez que, para Marx, a for-
mao dos sentidos mediante os quais
apreendemos as relaes entre as coisas
um trabalho de toda a histria, per-
cebe-se como, mais do que meramente
condicionado pelas relaes sociais,
o conhecimento , em si, uma relao so-
cial. Atravs dos sentidos humanos, os
determinantes essenciais do processo
histrico penetram o conhecimento em
seu ncleo mais ntimo, moldando-o
segundo as caractersticas de uma dada
formao social.
Por isso, o conhecimento que temos
do real no propriamente de coisas,
entidades, seres etc., mas sim de rela-
es que a investigao trata de desco-
brir, determinar, apreender no plano do
pensamento. Apreender e determinar
essas relaes exige um mtodo que
155
C
Conhecimento
parte do que dado imediatamente, da
forma como a realidade se manifesta
o concreto emprico , e, mediante uma
determinao mais precisa atravs da
anlise, chega a relaes gerais que so
determinantes da realidade concreta.
Essas relaes gerais constituem a sn-
tese, isto , a forma geral do conceito
que rene o conjunto de propriedades
reveladas pela anlise, e que represen-
ta com a maior fdelidade possvel o
concreto do qual se partiu. O mtodo
que consiste em elevar-se do abstrato
ao concreto no seno a maneira de
proceder do pensamento para se apro-
priar do concreto, para reproduzi-lo
como concreto pensado (Marx, 1978,
p. 117). So as apreenses assim elabo-
radas e formalizadas que constituem a
teoria e os conceitos. A cincia a par-
te do conhecimento expresso na forma
de conceitos representativos das rela-
es determinadas e apreendidas da rea-
lidade considerada. O conhecimento
de uma seo da realidade concreta, ou
a realidade concreta tematizada, consti-
tui os campos da cincia.
Colocado nessa perspectiva, o co-
nhecimento do real tanto histrico
quanto dialtico, uma vez que as mo-
tivaes e as formas de se conhecer
so orientadas historicamente pelos
problemas que a humanidade se coloca
e pelas delimitaes e contornos teri-
cos, metodolgicos e polticos que as
relaes sociais de produo impem
ao processo de produo do conheci-
mento. Por essa razo, nenhum conhe-
cimento neutro, absoluto ou esttico,
podendo vir a ser superado pelo mo-
vimento histrico e contraditrio do
real, que contempla superaes e re-
construes de tais limites.
Chegamos assim ao aspecto cen-
tral da defnio de conhecimento que
tem por base o materialismo histrico-
dialtico, a saber, a relao constituti-
va, necessria, entre as formas concretas de
existncia de uma sociedade e as formas de
conscincia social que essa sociedade produz.
A forma como os homens trabalham e
produzem suas condies de existn-
cia material determina a forma como
eles pensam, sentem e representam o
mundo em que vivem. O conjunto das
relaes de produo constitui a estru-
tura econmica da sociedade, a base
concreta sobre a qual se eleva uma su-
perestrutura jurdica e poltica e qual
correspondem determinadas formas
de conscincia social.
Todo conhecimento traz inscrito
no corpo de suas proposies as mar-
cas da histria a quem ele deve sua
gnese, e essa histria, sabe-se, gira
essencialmente em torno dos diversos
modos que o homem cria para suprir
as suas condies materiais de vida. O
trabalho um aspecto estruturante da
vida humana, sem ele no h vida hu-
mana, e por isso no se pode pensar o
conhecimento, a linguagem, os concei-
tos independentemente dele.
Com isso, torna-se claro que o co-
nhecimento parte constituinte do tra-
balho, ele a dimenso refetida da ex-
perincia que o homem faz da natureza,
autonomizando-se gradativamente,
medida que ganha aspectos de genera-
lizao. Ora, conquanto tenha ter por
base o conjunto das relaes de pro-
duo, a conscincia no mantm com
elas, entretanto, uma relao imediata,
mas pode vir a assumir a forma de di-
versas mediaes. A conscincia
diz Luckcs se torna certamente
sempre mais difusa, sempre mais au-
tnoma, e no entanto continua ineli-
minavelmente, embora atravs de mui-
tas mediaes, em ltima anlise, um
Dicionrio da Educao do Campo
156
instrumento da reproduo do ho-
mem (1972, p. 27).
As mediaes entre o trabalho e o
conhecimento se desdobram na histria
em relaes que vo afetar tanto o sujei-
to quanto o objeto: O olho se tornou
olho humano, da mesma forma como o
seu objeto se tornou um objeto social,
humano, proveniente do homem para o
homem. Por isto, imediatamente em sua
prxis, os sentidos se tornaram teorticos
(Marx, 2008b, p. 110; grifos do origi-
nal). O homem engendra o seu objeto
de conhecimento tanto quanto o ob-
jeto do conhecimento, historicamente
constitudo, engendra o homem.
Destaquemos esse ltimo aspecto:
o conhecimento percorre uma trajet-
ria que vai do homem para o homem.
Sujeito e objeto no existem um para
o outro em si e fora da histria, mas
cada um deles somente existe median-
te o outro, num processo dialtico de
continuidades e rupturas. Se o sujeito
o objeto do conhecimento mediatiza-
do, o objeto , por sua vez, o sujeito do
conhecimento mediatizado.
Devemos, pois, a partir dessa base
mais geral de sua defnio, interrogar
como o conhecimento vem se consti-
tuindo na sociedade moderna e contem-
pornea. Ora, uma vez que o conheci-
mento acha-se condicionado em ltima
instncia pelo trabalho, e na medida
em que este, na sociedade capitalista,
tornou-se alienado em relao ao ho-
mem ao assumir a forma-mercadoria, o
conhecimento produzido pelo homem
contemporneo tambm um conhe-
cimento alienado, ele se volta contra o
homem, acirrando ainda mais as contra-
dies do capital.
Inserido no quadro de interesses
do capital, o conhecimento cientfco
determinado pelos interesses da classe
dominante, no nos permitindo colo-
car outros problemas cujo enfrenta-
mento de interesse da classe domina-
da como prioritrios para a cincia.
A cincia acha-se na origem dessa fora
essencial estranha que a classe dominante
procura criar sobre o outro, na me-
dida em que concorre para transformar
as prticas produtivas que favorecem
a expanso do valor de uso em cone-
xo com a expanso do valor de troca.
Cincia e capital se relacionam pela via da
fruio do artefato tecnolgico disposto
na forma-mercadoria mediante um pro-
cesso no qual as faculdades humanas
vo sendo constrangidas, pela criao
permanente de novas necessidades.
Poderamos aqui multiplicar indef-
nidamente a lista de exemplos em que
a cincia, a servio da reproduo am-
pliada do capital, fabricada contra
os interesses universais humanos. o
caso, por exemplo, das doenas negligen-
ciadas, o conjunto das doenas que, por
afetarem as populaes mais pobres,
no constituem um mercado lucrativo
para a indstria farmacutica e por
isso suas formas de tratamento no so
investigadas pela cincia. o caso tam-
bm da cincia transgnica: prometendo
eliminar a fome por meio do aumento
da produtividade das colheitas, o agro-
negcio nada mais faz do que acentuar
a colonizao pelo capital daqueles se-
tores do campo relativamente infensos
a ele. Por fm, poder-se-ia falar do caso
da energia atmica, uma matriz energ-
tica extremamente interessante para
o capital, mas de efeitos devastadores
para a humanidade.
As consideraes de Marx sobre a
cincia se erigem, pois, em torno dessa
contradio constitutiva entre os dois
modos de exteriorizao do conheci-
mento: entre o que ele , por um lado,
157
C
Conhecimento
como potncia construtiva na sua for-
ma universal o conhecimento uma
fora universalizante e um local de
confrmao das foras essenciais hu-
manas e, por outro, entre o que ele
em ato, isto , uma sequncia dos v-
rios momentos particularizados que ele
assume como resultado das formas de
existncia. A cincia tal como prati-
cada no capitalismo somente um mo-
mento particular do conhecimento, um
momento no qual ele se constitui como
uma fora que se ope ao homem.
possvel ver o movimento dialti-
co que caracteriza as funes sociais da
cincia na histria. De incio, a cincia
desempenhou uma importante fun-
o civilizatria, quando se contraps
realidade socioeconmica do mundo
feudal da o papel revolucionrio que
cumpriram pensadores como Giordano
Bruno, Descartes, Galileu, dentre mui-
tos outros, ao se posicionarem contra
o dogmatismo obscurantista da Igreja
Catlica , mas veio a se tornar, no interior
da dinmica histrica, um dos elemen-
tos centrais de reproduo do sociome-
tabolismo do capital (Mszros, 1981).
Hoje, indubitavelmente, o capital preci-
sa da cincia para a sua reproduo.
A verdade cientfca, do ponto de
vista dialtico, sempre contraditria,
e Marx no se cansa de sublinhar que
precisamente as foras que hoje cons-
trangem a cincia em seu papel huma-
nstico podem vir a ser uma platafor-
ma para a construo de um espao de
conhecimento baseado em trocas ml-
tiplas, multilaterais e solidrias. Da a
assero marxista de que a cincia deve
ser tensionada rumo ao desenvolvi-
mento da sua forma universal a cin-
cia se universalizar na medida mesmo
em que tambm se universalizem o tra-
balho, as foras produtivas, a riqueza,
as relaes de produo (a propriedade
privada, na sua forma universal, ganha
a forma de propriedade coletiva) etc. ,
o que somente acontecer na sociedade
sem classes.
A cincia entra, pois, no projeto
societrio de Marx como uma media-
o fundamental da formao social
capitalista, como uma das instncias
mais relevantes de extrao de mais-
valia, e da advm a cuidadosa explici-
tao analtica empreendida por ele no
decorrer de sua obra, examinando-a,
metodicamente, nas suas relaes con-
cretas e contraditrias com o capital e
o trabalho, com a questo da proprie-
dade privada, da tecnologia, da sensibi-
lidade humana e da formao humana,
ou seja, com todas as instncias consti-
tutivas da totalidade social.
De acordo com a lio de Marx,
para que o homem possa realizar todo
o seu potencial emancipatrio de vida
preciso que ele liberte, antes, todas
as instncias sociais, a cincia entre
elas, da fora destrutiva do capital o
que s poder ser feito pela classe dos que
vivem do trabalho. A suprassuno
da propriedade privada, afrma Marx,
a emancipao completa de todas
as qualidades e sentidos humanos
(2008b, p. 109).
A aceitao irrefetida, por parte
da classe dominada, das relaes so-
ciais que subordinam o conhecimento
cientfco hegemonia ideolgica da
classe dominante resulta de uma forma
de conscincia passiva e impotente.
Desconstruir o movimento histrico
que deu origem a essa forma de cons-
cincia exige a compreenso de que a
realidade humano-social no se reduz
forma reifcada que assumiu na so-
ciedade contempornea, mas que ela
pode ser reinventada segundo uma
Dicionrio da Educao do Campo
158
multiplicidade de possibilidades pela
prxis humana. Afnal, se mesmo
verdade como afrmou Marx que
o homem capta a realidade e dela se
apropria com sentidos que so, eles
prprios, um produto histrico-social,
ento preciso uma necessidade
tico-poltica que ele procure as for-
mas sociais de desenvolver os sentidos
humanos a fm de que os objetos, os
acontecimentos e os valores tenham
um sentido, para ele, real e universal.
Nessa perspectiva, compreendem-
se os papis que os diversos modos
de conhecimento a cincia, a arte e
a flosofa devem desempenhar num
projeto coletivo de libertao do ho-
mem. A cincia, de acordo com Kosik
(1976), um meio pelo qual o homem
chega ao conhecimento de setores par-
ciais da realidade humano-social um
meio necessrio, mas nem de longe o
nico. A ela devem juntar-se tambm a
flosofa e a arte dois outros meios
de que o homem dispe para compre-
ender a realidade humana no seu conjunto
e para descobrir a verdade da realidade
na sua autenticidade.
A prevalncia da arte num proje-
to de reconstruo do conhecimento
explicada pelas prprias caracte-
rsticas que a distinguem das outras
formas de conhecimento. Embora as
interpretaes mecanicistas quisessem
ver nela to somente uma reao dos
homens s condies dadas ou uma
mera expresso histrica da realidade
social reduzindo assim o seu alcan-
ce e a sua funo , a arte , pelo con-
trrio, uma forma de conhecimento
que detm uma positividade prpria:
mais do que apenas uma intuio ou
uma expresso, ela um fazer que en-
frenta os problemas de sua prpria
materialidade. por conta desse m-
bito prprio de jurisdio que a arte,
em meio s relaes que a vinculam
com o ambiente social, se diferencia
por um vis tico, pela criao de va-
lores prprios e autnomos. Por isso,
no sentido prprio da palavra, a arte ,
ao mesmo tempo, desmistificadora e
revolucionria, pois conduz o homem
das suas representaes e preconceitos
sobre a realidade at a prpria realida-
de e sua verdade. Na arte autntica
e na autntica filosofia revela-se a ver-
dade da histria: aqui a humanidade se
defronta com a sua prpria realidade
(Kosik, 1976, p. 117).
O conhecimento do real como to-
talidade constituda por relaes, por-
tanto, no se completa exclusivamente
com a cincia, com a tica ou com a
esttica. Nem se d pela intuio ou
pelo relato objetivo sobre os fatos. Es-
sas dimenses da prxis humana, con-
quanto se confrontam dialeticamente,
constituem as formas histricas de se
apreender e (re)construir o mundo.
Sob a perspectiva abordada, produ-
zir conhecimento em educao implica
buscar compreender a histria da for-
mao e da (de)formao humanas por
meio do desenvolvimento material, da
determinao das condies materiais
da existncia humana; apreender as de-
terminaes dos processos de emanci-
pao e de alienao da classe trabalha-
dora confguradas nas relaes sociais
de produo, tendo o trabalho como a
mediao fundamental em sua relao
com a cincia e com a cultura.
O conhecimento produzido na,
pela e para a educao contribui, nesse
sentido, para que o trabalho educativo
produza, direta e intencionalmente, em
cada indivduo singular, a humanida-
de que produzida histrica e coleti-
vamente pelo conjunto dos homens
(Saviani, 2005). Para isso, a apreenso
dos elementos econmicos, histricos
159
C
Cooperao Agrcola
e culturais das relaes humanas e so-
ciais, assim como dos elementos cien-
tfcos e tecnolgicos da produo e da
vida contempornea, compreendidos
em sua historicidade, so objetos tan-
to para a pesquisa em educao quanto
para o ensino. Como objetos de ensino,
por sua vez, esses conhecimentos pre-
cisam ser assimilados pelos indivduos
a fm de que eles desenvolvam seus
sentidos de apreenso do real. Tais
elementos se renem nos campos das
cincias, da natureza e da sociedade,
da tica e da esttica, como universos
de conhecimento a que nos referimos.
Em confronto com o senso comum,
eles devem ajudar a super-lo dialeti-
camente, isto , incorporando os ele-
mentos virtuosos da experincia e do
cotidiano no processo de elaborao
do pensamento e de elevao cultural,
intelectual e moral das massas. De ou-
tro lado, e concomitantemente, esto
as formas mais adequadas para atingir
esse objetivo, ou seja, os mtodos de
conhecer e de ensinar. O trabalho edu-
cativo fecundo constitui essa unidade
de contedo e mtodo.
Para saber mais
HORKHEIMER, M. Teoria crtica I. So Paulo: Perspectiva, 2006.
KOSIK, K. Dialtica do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
LUKCS, G. Ontologia do ser social. So Paulo: Cincias Humanas, 1972.
______. Per uma ontologia dellessere sociale. Roma: Riuniti, 1981. Cap. 1.
MARX, K. A ideologia alem. 8. ed. So Paulo: Hucitec, 1991.
______. Contribuio crtica da economia poltica. So Paulo: Expresso Popular,
2008a.
______. Manuscritos econmico-flosfcos de 1844. So Paulo: Boitempo, 2008b.
______. O capital. So Paulo: Abril, 1988. Livro 1, v. 1.
______. Para a crtica da economia poltica. So Paulo: Abril Cultural, 1978.
p. 103-132.
MSZROS, I. Marx: a teoria da alienao. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
SAVIANI, D. Pedagogia histrico-crtica. Campinas: Autores Associados, 2005.
C
COOPERAO AGRCOLA
Pedro Ivan Christoffoli
Cooperao a forma de trabalho
em que muitos trabalham planejada-
mente lado a lado, no mesmo processo
de produo ou em processos de pro-
duo diferentes, mas conexos (Marx,
1988, p. 246). A aplicao da coopera-
o ao processo de trabalho permite:
a) um encurtamento do tempo ne-
cessrio produo de determinado
produto, isto , confeccionam-se mais
Dicionrio da Educao do Campo
160
produtos em menos tempo, pois pos-
svel distribuir as diversas operaes
entre diversos trabalhadores e, por con-
seguinte, execut-las simultaneamente,
reduzindo o tempo necessrio para
a produo do produto total; b) uma
extenso do espao em que se pode
realizar o trabalho; c) um aumento da
produo num menor tempo e espao
de ao (no caso da agricultura). Nesse
caso, a brevidade do prazo em que se
executa o trabalho compensada pela
magnitude da massa de trabalho lana-
da, no momento decisivo, ao campo de
produo por exemplo, na colheita
ou numa roada (Marx, 1988).
A cooperao baseia-se no princpio
elementar de que a juno dos esforos
individuais cria uma fora produtiva
superior simples soma das unidades
que a integram. Cria-se a fora coletiva
do trabalho. Segundo Marx,
[...] a soma mecnica das foras
de trabalhadores individuais di-
fere da potncia social de foras
que se desenvolve quando mui-
tas mos agem simultaneamen-
te na mesma operao indivisa.
[...] O efeito do trabalho com-
binado no poderia neste caso
ser produzido ao todo pelo tra-
balho individual ou apenas em
perodos de tempo muito mais
longos ou somente em nfma
escala. No se trata aqui apenas
do aumento da fora produtiva
individual por meio da coope-
rao, mas da criao de uma for-
a produtiva que tem de ser, em
si e para si, uma fora de massas.
(Marx, 1988 p. 246-247)
O ser humano, na cooperao,
como resultado do contato social, su-
pera seus limites pessoais, e o traba-
lho social gerado sempre maior que
a soma de todos os trabalhos indivi-
duais. Quando o trabalhador coopera
sistematicamente com outros, livra-se
dos grilhes de sua individualidade e
desenvolve as possibilidades de sua
espcie (Marx apud Bottomore,
1993, p. 80).
O capitalismo, como modo de
produo, desenvolve a cooperao
em grau amplo e avanado por toda a
sociedade. Para isso necessrio que
o capitalista detenha grande concen-
trao de meios de produo em suas
mos (capital fxo). Nesse contexto, o
capital que mantm e estimula a coo-
perao, posto que os trabalhadores
encontram-se numa posio passiva:
so considerados mercadorias pelo
fato de venderem sua fora de trabalho
ao capitalista.
Embora tambm tenha existido nos
modos de produo anteriores ao capi-
talismo, s nesse modo de produo a
cooperao sistematicamente explo-
rada e transformada em necessidade
objetiva para o capital. A busca por
maximizao da explorao do traba-
lho cooperado que vai dar origem
administrao tipicamente capitalis-
ta de empresas, que visa disciplinar e
extrair conhecimento dos trabalhado-
res em prol da valorizao do capital
(Bottomore, 1993).
A autogesto socialista uma das
formas mais avanadas de cooperao.
Refere-se condio de autogoverno
dos trabalhadores em relao ao seu
trabalho e s suas condies de vida.
A autogesto pode se dar no nvel da
empresa, de empresas de um mesmo
ramo, ou do conjunto das empresas e
da vida (da comunidade, da regio, do
pas, internacional). Os domnios de
deciso numa organizao autogestio-
161
C
Cooperao Agrcola
nria podem envolver: a) o domnio
da organizao do trabalho delimita-
o das tarefas e das funes, ritmo de
trabalho, chefas etc.; b) o domnio do
pessoal carreira profssional, promo-
es, demisses etc.; c) a gesto comer-
cial e fnanceira; d) os meios tecnol-
gicos de produo; e e) a organizao
geral da empresa estrutura, direo
etc. (Chauvey, 1975).
Nos pases do antigo Bloco Socialista
(Cuba, Leste Europeu e parte da sia), as
cooperativas coletivas de trabalhadores
rurais receberam uma srie de condies
favorveis e estmulos para seu estabele-
cimento e desenvolvimento e responde-
ram pela gerao dos principais exceden-
tes agrcolas destinados ao abastecimento
do mercado interno. De maneira geral,
essas cooperativas coletivas apresenta-
vam as seguintes caractersticas:
O agricultor entrava com a terra e 1)
os meios de produo e a coopera-
tiva o reembolsava gradualmente
por esses bens, seja mediante a
compra dos mesmos, seja pela des-
tinao de uma proporo da renda
distribuda para os cooperantes
que ingressaram com a terra (essa
proporo variou entre 40% e 20%
da renda total distribuda entre os
cooperantes). Gradualmente esse
percentual tendeu a ser reduzido e
eliminado.
De forma geral, os agricultores 2)
supostamente tinham livre escolha,
tanto para a entrada nas cooperativas
quanto para a sada. Em alguns pa-
ses, esse preceito foi de fato exercido
livremente, enquanto foi cerceado
em outros.
A distribuio dos resultados era 3)
feita basicamente em funo do
trabalho aportado pelo scio. Havia
algumas diferenas na forma de
aplicar esse princpio. Em alguns
pases, levava-se em considerao,
alm do tempo de trabalho, a quali-
fcao do trabalhador e da funo
e a difculdade do trabalho.
A organizao do trabalho s 4) e dava
por meio de equipes semiautno-
mas de trabalho (nas cooperativas
maiores) ou por setores especializa-
dos de trabalho (nas cooperativas
menores).
As instncias diretivas da cooperativa 5)
em geral eram compostas por uma
assembleia geral, que era a instncia
mxima de deciso, e por diretorias
eleitas pelos associados, com prazo de
mandato varivel e podendo ou no
se reeleger a reeleio era vetada na
Iugoslvia (Flavien e Lajoinie, 1977).
Lenin, ao liderar a experincia de
construo socialista na Rssia, iden-
tificou alguns elementos-chave que
constituiriam os princpios para o es-
tmulo cooperao na agricultura:
respeito absoluto voluntariedade
do campons no permitir ne-
nhum tipo de coao;
necessidade de um paciente e pro-
longado trabalho de persuaso e
convencimento;
desenvolvimento gradual do mo-
vimento cooperativo: das formas
simples s formas superiores e das
pequenas s grandes cooperativas;
elevao constante do nvel cul-
tural do campesinato sem a qual
impossvel o domnio das tcnicas
modernas;
absoluto cumprimento da demo-
cracia cooperativista: elegibilidade
dos rgos de direo, direito dos
cooperativistas crtica etc.;
necessidade de ajuda material, tcni-
ca e fnanceira por parte do Estado;
Dicionrio da Educao do Campo
162
subordinao dos interesses da
produo cooperativa aos interes-
ses gerais da economia nacional
sem que isso implique administra-
o pelo Estado;
necessidade de manter o vnculo
estreito entre a cooperativa e o
campesinato que a rodeia (Barrios,
1987 p. 5-6).
No Brasil h poucos registros his-
tricos com relatos e anlises de expe-
rincias coletivas/comunitrias de pro-
duo. Os povos indgenas brasileiros
tradicionalmente desenvolveram uma
economia organizada com base no
modo de produo comunal primitivo,
pautado principalmente na caa, na co-
leta de frutos e na agricultura rudimen-
tar de subsistncia. Posteriormente,
sem mencionar as experincias desen-
volvidas pelos ndios guaranis (nas re-
dues jesuticas) e, possivelmente, as
experincias comunitrias nos quilom-
bos (Palmares e outros, sendo muitos
remanescentes at os dias atuais), h
poucos registros desse tipo de expe-
rincias produtivas.
Nos sculos XVIII e XIX surgiram
algumas experincias localizadas de
colnias coletivistas infuenciadas pelo
socialismo utpico europeu (Owen,
Fourier, Gide...). Pode-se destacar, no
Paran, a Colnia Tereza Cristina, de
base cooperativa (1847) e, no munic-
pio de Palmeira, a organizao, no ano
de 1889, da Colnia Ceclia, que sub-
sistiu at 1894 (Chacon, 1959).
Tambm digna de nota a existn-
cia de terras comunitrias denominadas
de faxinais, especialmente na regio
Sul do Brasil. Os faxinais compem-se
em geral de reas de mata e pastagens
utilizadas de forma comunitria, forne-
cendo pastagem e madeira para uso dos
moradores. No entanto, as exploraes
agropecurias so realizadas de forma
individual pelas famlias ali residentes.
Em outras regies do pas, os fundos
de past o ou t er ras de sant o so
reas de usufruto coletivo, porm sem
que a explorao do trabalho se efetue
de forma coletiva.
Ainda no meio rural, tradicional o
desenvolvimento de formas mais em-
brionrias de cooperao, tais como os
mutires, as trocas de dias de servio,
as roas comunitrias. Essas formas de
cooperao remontam aos tempos
da colonizao e se perpetuam at os
dias atuais. Elas tm origem nas prti-
cas tradicionais dos primeiros colonos
portugueses e tambm dos povos afri-
canos, que conformaram parte signif-
cativa do campesinato brasileiro. A par-
tir dos anos 1950-1960, essas formas
associativas primrias, como as trocas
de servio, mutires e roas comuni-
trias, passaram a ser estimuladas tan-
to pelo Partido Comunista Brasileiro
(PCB), como pelos setores progressistas
da Igreja Catlica (Martins, 1984). Mais
recentemente, o Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST) e
outros movimentos sociais e sindicais
como o Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA), a Federao Na-
cional dos Trabalhadores e Trabalha-
doras na Agricultura Familiar (Fetraf)
e a Confederao dos Trabalhadores
na Agricultura (Contag) procuraram
organizar distintas formas de coopera-
o no meio rural, criando milhares de
formas organizativas associativas dos
mais variados tipos: associaes, coo-
perativas coletivas, cooperativas mistas
regionais e grupos de trabalho coletivo
e semicoletivo.
A luta pela terra e pela Reforma
Agrria no Brasil resultou em acmu-
los importantes em termos das formas
de organizao e princpios de funcio-
163
C
Cooperao Agrcola
namento das experincias de coope-
rao, sintetizados pela Confederao
das Cooperativas de Reforma Agrria
do Brasil (Concrab) (1997):
fundamental desenvolver a coope-
rao em suas mais diversas formas,
pois o importante no a forma,
mas o ato de cooperar. A cooperativa
apenas uma dessas formas, e no
deve ser a nica a ser impulsionada.
preciso respeitar a voluntariedade
das pessoas, mas lembrar que a ne-
cessidade comanda a vontade. Ou
seja, nem sempre os agricultores
participam porque esto conscientes
da necessidade de cooperao ou
de seu papel estratgico, mas sim
porque esto necessitados. A ideia
partir das necessidades objetivas
para ir construindo uma forma de
cooperao que d conta dos pro-
blemas e necessidades dos scios e
avance em sua conscientizao.
A cooperao deve ser um espao
de gesto democrtica no qual os
scios possam exercer sua sobera-
nia. Cada experincia de cooperao
deve defnir espaos (instncias) e
formas que permitam, organiza-
damente, a participao de todos.
A direo da cooperao deve ser
exercida por um coletivo de mili-
tantes, rompendo com a prtica do
personalismo do poder.
fundamental desenvolver a inter-
cooperao entre as diversas formas
associativas existentes nos assenta-
mentos, ou seja, as formas de coope-
rao tambm devem cooperar entre
si para terem mais fora e maior ca-
pacidade de enfrentamento da con-
corrncia capitalista e de criao de
riqueza sob a forma associativa.
O econmico deve estar ligado aos
objetivos estratgicos das orga-
nizaes. No est acima deles. A
cooperativa deve alinhar sua atua-
o do dia a dia com os princpios
e objetivos estratgicos da luta pela
Reforma Agrria.
O que determina o avano da coope-
rao so as condies objetivas
e no apenas a vontade dos asso-
ciados. A forma de cooperao a
ser adotada, bem como o grau de
desenvolvimento que a mesma
pode al canar dependem tanto
de condies objetivas (mercado,
meios de produo, capacitao e
qualificao da fora de trabalho
etc.) quanto de condies subje-
tivas (vontade das pessoas, seus
sonhos e projetos). A coopera-
o deve estimular o aumento da
produtividade do trabalho de seus
associados, resguardados os as-
pectos de sustentabilidade e equi-
dade social.
A cooperat i va deve ser vi sta
como um i nstr umento de estabi -
l i zao econmi ca, mas tambm
contribuir como instrumento de
transfor mao soci al .
As atividades da cooperativa de-
vem contribuir com a sustentabili-
dade ambiental e fomentar a pro-
teo da agrobiodiversidade e das
sementes, como patrimnio dos
povos a servio da humanidade,
com a agroecologia como estrat-
gia produtiva bsica.
A cooperao deve promover a
organicidade de base, mediante a
constituio de ncleos de associa-
dos, viabilizando e estimulando a
participao poltica das pessoas, a
conscientizao e a superao das
desigualdades sociais e econmicas.
No meio rural brasileiro, e em par-
ticular nos assentamentos, desenvol-
Dicionrio da Educao do Campo
164
veram-se diversas formas de coope-
rao a partir da experincia concreta
dos trabalhadores e suas organizaes.
Vamos elencar as principais delas e
suas caractersticas.
Associaes sem fins lucrativos
Essa a forma organizativa mais
abundante no meio rural brasileiro e
tambm nos assentamentos. Juridica-
mente, a associao no pode desen-
volver atividades econmicas, mas na
prtica acaba exercendo esse papel, ao
menos nos estgios iniciais de organi-
zao do processo de cooperao. Al-
gumas das principais vantagens da as-
sociao sem fns lucrativos so a pouca
exigncia burocrtica para fundao e
funcionamento; o fato de os scios no
responderem com o seu patrimnio
caso a associao enfrente difculdades
fnanceiras; A grande fexibilidade que
permite uma ampla gama de arranjos
sociais e organizativos, alm de, na
prtica, contemplar grande variedade
de atividades, desde as comunitrias e
culturais/recreativas, at a representa-
o poltica e a dinamizao de ativida-
des econmicas. Dentre as atividades
econmicas que essas associaes de-
senvolvem, podemos citar: associaes
para compartilhamento de mquinas
(tratores, caminhes etc.), associaes
para venda da produo, realizao de
feiras livres e comercializao e indus-
trializao de produtos.
Cooperativas de comercializao
e prestao de servios
Dedicam-se basicamente comer-
cializao (compra e venda de insumos
e equipamentos, e venda da produo
dos seus associados), prestao de
assistncia tcnica e prestao de ser-
vios de mquinas (tratores, transporte
etc.) e de organizao da produo (de-
fnio da estratgia de desenvolvimen-
to da regio, linhas de produo etc.).
Podem tambm, observadas as condi-
es objetivas, desenvolver a agroinds-
tria para agregao de valor produo
dos associados. Podem ter abrangncia
de atuao apenas dentro de um assen-
tamento, no mbito de um municpio,
ou at mesmo envolver vrios munic-
pios e milhares de associados.
Cooperativas de produo coletiva
(CPAs) e grupos coletivos
Organizam o trabalho de seus as-
sociados de forma coletiva. Exigem
um grau mais elevado de organizao
interna e de conscincia de seus par-
ticipantes. A CPA uma experincia
na qual os associados exercem a au-
togesto, no nvel da unidade produ-
tiva, de forma plena. O contedo e
o ritmo do trabalho, alm da poltica
de redistribuio dos excedentes eco-
nmicos gerados so regulados pelas
decises coletivas. Algumas das expe-
rincias mais avanadas de coopera-
o existentes nos assentamentos se
organizam na forma de CPAs para a
produo agropecuria. Usualmente
so cooperativas pequenas (as maio-
res chegam a ter pouco mais de 100
trabalhadores, mas, em mdia, no
passam de 30 a 40 associados), de
atuao local e em pequeno nmero
nos assentamentos.
Cooperativas de crdito
As cooperativas de crdito so formas
de cooperao que procuram viabilizar o
acesso ao crdito e a recursos pblicos, e
165
C
Cooperao Agrcola
a mobilizao de recursos locais em vis-
ta do apoio a atividades econmicas que
promovam o desenvolvimento regional e
a melhoria de condies de vida de seus
associados. A cooperativa de crdito fun-
ciona fortemente com base na confana
de seus associados e, portanto, depende,
alm de uma adequada gesto de emprs-
timos e cobranas, de solidez fnanceira
e poltica.
Cooperativas de trabalho
As cooperativas de trabalho re-
nem trabalhadores que organizam
coletivamente sua fora de trabalho,
de forma a prestar servios tcni-
cos, executar obras, produzir bens
etc., com autonomia e autogesto,
a fim de melhorar suas condies
de vida e trabalho, dispensando a
interveno de patres ou empre-
srios. Nos assentamentos, as co-
operativas de trabalho tcnico, que
prestam servios de assistncia tc-
nica s famlias assentadas e s suas
entidades, so as mais comuns. Le-
galmente, as CPAs tambm podem
ser caracterizadas como cooperati-
vas de trabalho.
Para saber mais
BARRIOS, A, M. (org.). Lenin: sobre la cooperacin. Havana: Ministerio de la
Educacin Popular, 1987.
BOTTOMORE, T. Dicionrio do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
CHACON, V. Cooperativismo e comunitarismo. Rio de Janeiro: Revista Brasileira de
Estudos Polticos, 1959.
CHAUVEY, D. O que a autogesto. Lisboa: Edies 70, 1975.
CHRISTOFFOLI, P. I. O desenvolvimento de cooperativas de produo coletiva de trabalhado-
res rurais no capitalismo: limites e possibilidades. 2000. Dissertao (Mestrado em
Administrao) Faculdade de Administrao, Universidade Federal do Paran,
Curitiba, 2000.
CONFEDERAO DAS COOPERATIVAS DE REFORMA AGRRIA DO BRASIL (CONCRAB).
Sistema cooperativista dos assentados. Caderno de cooperao agrcola, So Paulo,
1997.
FLAVIEN, J; LAJOINIE, A. A agricultura nos pases socialistas da Europa. Lisboa: Avante,
1977.
MARTINS, J. S. Prefcio. In: ESTERCI, N. (org.). Cooperativismo e coletivizao no campo:
questes sobre a prtica da igreja popular no Brasil. Rio de Janeiro: Marco Zero/
Iser, 1984.
MARX, K. O capital. So Paulo: Nova Cultural, 1988. V. 1.
Dicionrio da Educao do Campo
166
C
CRDITO FUNDIRIO
Joo Mrcio Mendes Pereira
No incio dos anos 1990, o Banco
Mundial (BM) passou a estimular inte-
lectual e fnanceiramente a adoo de
polticas agrrias neoliberais em par-
ticular na Amrica Latina, em parte da
frica e da sia e na ex-Unio Sovitica
com o objetivo de mercantilizar o aces-
so terra, acelerar a atrao de capital
privado para o campo, aumentar a pro-
dutividade econmica e, assim, reduzir
a pobreza rural. Tais polticas se con-
centraram na promoo de relaes
de arrendamento e de compra e venda de
terras, bem como na privatizao de pro-
priedades coletivas e estatais e na privati-
zao de terras pblicas e comunais.
Em pases marcados por altos ndi-
ces de concentrao fundiria, tenses
sociais no campo e governos afnados
com o programa poltico neoliberal, o
BM impulsionou a chamada Refor-
ma Agrria de mercado (RAM) como
mecanismo de novo tipo para mer-
cantilizar o acesso terra, aumentar a
produtividade econmica na agricultu-
ra e reduzir a pobreza rural. Iniciada
em 1994 na Colmbia, a RAM assu-
miu diferentes formatos e foi adotada
nos anos seguintes em diversos pa-
ses, como frica do Sul, Guatemala,
Honduras, Mxico, Malui, El Salvador
e Filipinas. No Brasil, a experincia
teve incio em 1997.
Para legitimar a RAM, o BM pro-
cedeu a uma crtica radical ao que ele
mesmo denominou de Reforma Agr-
ria tradicional ou conduzida pelo
Estado baseada no instrumento da
desapropriao de propriedades rurais
que no cumprem com a sua funo
social , alegando tratar-se de um mo-
delo confitivo, discricionrio, lento,
centralizado, burocratizado, caro, inef-
ciente e fracassado, visto que no teria
aumentado a efcincia econmica nem
reduzido a pobreza onde foi imple-
mentado. Segundo o BM, a razo do
esgotamento do modelo residiria em
seu carter estatista, que teria substi-
tudo, em vez de dinamizar, os merca-
dos de terra. Por contraste, o futuro da
Reforma Agrria passaria pela adoo
de um novo enfoque, que fosse ami-
gvel com o mercado. Assim, o BM
trabalhou para que a RAM fosse aceita,
poltica e conceitualmente, como uma
modalidade de Reforma Agrria, ao
mesmo tempo em que negava a atua-
lidade da ao desapropriacionista e
redistributiva do Estado.
Esse modelo no uma modali-
dade de Reforma Agrria redistributiva,
pois tem como princpio a compra e a
venda voluntrias de terra entre agen-
tes privados, acrescidas de uma parcela
varivel de subsdio para investimentos
socioprodutivos. J a Reforma Agrria
redistributiva consiste em uma ao do
Estado que, num prazo relativamente
curto, redistribui uma quantidade sig-
nifcativa de terras privadas monopo-
lizadas por grandes proprietrios. Seu
objetivo democratizar a estrutura
agrria, o que pressupe transformar
as relaes de poder econmico e po-
ltico responsveis pela reproduo da
167
C
Crdito Fundirio
concentrao fundiria. Como poltica
redistributiva, implica, antes de tudo, a
desapropriao punitiva (isto , me-
diante indenizao abaixo do preo de
mercado ou sem indenizao) de terras
privadas que no cumprem a sua fun-
o social.
Como mostra a experincia hist-
rica e vem sendo insistentemente rei-
terado pelos movimentos camponeses
contemporneos de todo o mundo,
a Reforma Agrria precisa vir acom-
panhada de um conjunto de polticas
complementares nas reas de infraes-
trutura, educao, sade e transporte,
bem como de uma poltica agrcola
que favorea o campesinato, baseada
na oferta pblica de crdito, assistncia
tcnica e acesso a mercados. Em outras
palavras, seu objetivo central redis-
tribuir terras e garantir as condies
de reproduo social do campesinato,
atacando as relaes de poder na socie-
dade que privilegiam os grandes pro-
prietrios que podem ser, inclusive,
grandes empresas e bancos (nacionais
ou estrangeiros). Por tudo isso, a Re-
forma Agrria exige o fortalecimento
do papel do Estado na proviso de
bens e servios pblicos essenciais
melhoria das condies de vida dos
camponeses assentados e ao desempe-
nho econmico do setor reformado.
A implantao da
Reforma Agrria de
mercado no Brasil
O programa do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB) apresen-
tado na campanha eleitoral de 1994 re-
conhecia a necessidade de mudanas em
favor da desconcentrao da proprieda-
de da terra e do fortalecimento da agri-
cultura familiar. No entanto, a Refor-
ma Agrria era pensada sem qualquer
relao com a transformao da estru-
tura fundiria brasileira, a democratiza-
o do poder poltico, o crescimento da
produo agrcola e a mudana do mo-
delo de desenvolvimento econmico,
entendida como a ampliao e o fortale-
cimento do mercado interno de massas
e a redistribuio substantiva de renda e
riqueza. Tratava-se, to somente, da
realizao pontual e dispersa de assen-
tamentos de trabalhadores sem-terra a
fm de aliviar a pobreza rural. No por
acaso, quando teve incio o primeiro go-
verno de Fernando Henrique Cardoso
(FHC), o programa de Reforma Agrria
foi vinculado ao programa Comunidade
Solidria, de carter assistencialista.
Apesar das orientaes minimalis-
tas do Governo FHC, o tema da Re-
forma Agrria retornou agenda po-
ltica nacional pela confuncia de um
conjunto de presses e acontecimentos
desencadeados no binio 1996-1997.
Desses, foram fundamentais: a) a enor-
me repercusso internacional que tive-
ram os massacres de trabalhadores ru-
rais em Corumbiara (Rondnia, agosto
de 1996) e, sobretudo, em Eldorado
dos Carajs (Par, abril de 1996); b) o
aumento em praticamente todo o pas
das ocupaes de terra organizadas
pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) e, em alguns
estados, por sindicatos e federaes
ligados Confederao Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag);
c) a tenso social crescente no Pontal
do Paranapanema (So Paulo) em vir-
tude do aumento das ocupaes de
terra e da violncia paramilitar pratica-
da por latifundirios; d) a Marcha Na-
cional por Reforma Agrria, Emprego
e Justia, organizada pelo MST, que
chegou a Braslia em abril de 1997
Dicionrio da Educao do Campo
168
um ano aps o massacre de Eldorado
dos Carajs e acabou catalisando a
insatisfao popular contra as polti-
cas neoliberais, transformando-se na
primeira grande manifestao popular
contra o governo FHC e o neolibera-
lismo no Brasil.
Esse conjunto de presses e acon-
tecimentos deu visibilidade nacional e
internacional ao quadro de violncia
e impunidade vigentes no campo bra-
sileiro, bem como luta por Reforma
Agrria no Brasil. Em resposta, o go-
verno federal criou, ainda em 1996, o
Gabinete do Ministro Extraordinrio
de Poltica Fundiria, com o objetivo de
retomar a iniciativa poltica e pautar o
tratamento da questo fundiria.
O Governo FHC iniciou, ento, um
conjunto de aes relacionadas Re-
forma Agrria e aos confitos no cam-
po. Relativamente dispersas no incio,
tais aes foram ganhando coerncia
ao longo do trinio 1997-1999. Foram
elas: a) baratear e acelerar as desapro-
priaes para fns de Reforma Agrria;
b) reprimir as ocupaes de terra, im-
pedindo que propriedades ocupadas
fossem desapropriadas; c) criminalizar
as ocupaes, utilizando os grandes
meios de comunicao para criar uma
imagem negativa dos sem-terra e da
sua forma de luta social; d) implantar o
processo de descentralizao poltico-
administrativa da Reforma Agrria, o
que implicava desfederalizar a exe-
cuo da poltica fundiria; e e) intro-
duzir a Reforma Agrria assistida pelo
mercado do BM no Brasil.
Desde 1995, o BM recomendava ao
governo federal a adoo de medidas
que dinamizassem relaes de compra
e venda como a forma mais efciente
de acesso terra para agricultores po-
bres e trabalhadores rurais sem-terra.
Ao mesmo tempo, o BM prescrevia a
necessidade de polticas governamen-
tais que aliviassem de maneira seletiva
o impacto da implantao do Plano
Real no campo.
Em 1996, na esteira do aumento
das ocupaes de terra e da politiza-
o da questo agrria, o BM oferecera
ao governo brasileiro o seu novo pro-
duto, a RAM, alegando que o modelo
de ao fundiria vigente no Brasil era
lento, caro e confituoso. Para o BM e
o governo federal, a introduo de pro-
gramas de crdito que fnanciassem a
compra de terras negociadas volunt-
ria e diretamente entre trabalhadores e
proprietrios desligaria a conexo entre
ocupaes e desapropriaes, recolo-
cando em novo patamar o tratamento
das questes fundirias. Assim, a ao
governamental no mais estaria a rebo-
que de fatos polticos provocados pela
ao dos movimentos sociais. Ademais,
as projees do BM indicavam que a
RAM teria um custo por famlia fnan-
ciada mais baixo do que o do modelo
convencional, o que favoreceria a sua
difuso pelo pas.
Sem dvida, a rapidez e a escala
com que a RAM foi implantada no
Brasil no tm paralelo no cenrio in-
ternacional. Em agosto de 1996, teve
incio no Cear o projeto So Jos (ou
Reforma Agrria Solidria) e o pri-
meiro fnanciamento para a compra
de terras foi liberado em fevereiro de
1997. As negociaes com o BM para
um projeto maior j estavam em anda-
mento, culminando em abril de 1997
com a criao do projeto-piloto Cdula
da Terra, previsto para fnanciar 15 mil
famlias em cinco estados da federao
(Bahia, Pernambuco, Cear, Maranho
e Minas Gerais).
Paralelamente, em fevereiro de 1997,
foi protocolado no Senado um projeto
de lei para a criao de um fundo nacio-
169
C
Crdito Fundirio
nal de terras, o que se consumaria em fe-
vereiro de 1998, com a criao do Ban-
co da Terra pelo Congresso Nacional.
Note-se que, naquela altura, o Cdula da
Terra mal havia comeado e nem sequer
fora feita a avaliao intermediria pre-
vista no acordo de emprstimo com o
BM. Alm disso, todas as organizaes
nacionais de representao de trabalha-
dores rurais do pas eram contrrias
criao do Banco da Terra. Mesmo as-
sim, o governo federal acionou a sua
base parlamentar para aprov-lo, utili-
zando como argumento o fato de que
o programa contaria com emprstimos
signifcativos do BM.
Em outras palavras, partindo de
uma experincia pontual no estado
do Cear at a mobilizao do rolo
compressor do governo federal no
Congresso Nacional, em apenas um
ano e seis meses o Brasil conheceu trs
projetos direcionados para a mesma f-
nalidade: instituir o fnanciamento p-
blico para a compra privada de terras
como mecanismo alternativo Refor-
ma Agrria, a fm de aliviar as tenses
sociais no campo e reconstituir o pro-
tagonismo poltico do governo na con-
duo da poltica agrria.
Contra essa tentativa de substitui-
o da poltica de Reforma Agrria
posicionaram-se, de 1997 e 1999, a
Contag, o MST e uma enorme gama de
organizaes sociais articuladas no F-
rum Nacional pela Reforma Agrria e
Justia no Campo. Tais programas eram
vistos como extenso da agenda neoli-
beral para o campo brasileiro. Naquela
conjuntura, a crtica a tais programas
serviu como referncia para uma crti-
ca mais geral s aes do governo fede-
ral no meio rural.
Assim, o Frum encaminhou, em
outubro de 1998, uma solicitao ao
Painel de Inspeo do BM,
1
susten-
tando que o projeto Cdula da Terra:
a) no estava sendo implantado como
projeto-piloto, uma vez que no havia
sido sequer avaliado e que o BM j as-
sumira o compromisso com a sua am-
pliao, consumada na criao do Ban-
co da Terra; b) estava sendo executado
como alternativa, e no como comple-
mento desapropriao, revogando, na
prtica, o papel do Estado de garantir
o cumprimento da funo social da
propriedade, previsto na Constituio
Federal de 1988; c) havia sido dirigido
para estados com grande estoque de ter-
ras desapropriveis, possibilitando que
terras mantidas como reserva de valor
durante dcadas fossem remuneradas
vista a preo de mercado; d) aquecia o
mercado fundirio, contribuindo para
a elevao do preo da terra, reverten-
do a tendncia de queda relativa at
ento observada; e) suas condies de
fnanciamento eram proibitivas, o que
geraria inadimplncia e perda da terra;
f) o projeto no atendia, por essa mesma
razo, o objetivo de combate pobre-
za rural preconizado pelo BM; g) no
se tratava de um processo transparente
e participativo, na medida em que no
havia publicizao de informaes aos
muturios ou s suas organizaes de
representao, nem tampouco mecanis-
mos de consulta e participao social;
h) permitia a reproduo de relaes
tradicionais de dominao e patrona-
gem no meio rural, na medida em que a
negociao em torno do preo da terra,
longe de ser uma transao mercantil
entre iguais, era controlada pelos agen-
tes dominantes no plano local (proprie-
trios e polticos).
Em maio de 1999, o Painel de Ins-
peo julgou improcedentes todos os
argumentos do Frum e no recomen-
dou diretoria do Banco Mundial a in-
vestigao solicitada. Imediatamente, o
Dicionrio da Educao do Campo
170
governo brasileiro usou tal recusa como
prova da suposta efcincia do projeto.
Na ocasio, inclusive, o Painel chegou
a desqualifcar a representatividade das
organizaes que compunham o F-
rum, considerando suas reivindicaes
de carter flosfco.
Amparado por farta documentao,
liberada pelo governo brasileiro to
somente porque dois parlamentares
haviam assinado um pedido ofcial de
informaes, o Frum fez nova solici-
tao ao Painel de Inspeo em agosto
de 1999. Em dezembro, novamente o
pedido foi negado, sob a alegao de
que o Frum no havia esgotado todos
os canais de negociao com o BM e
o governo federal antes de solicitar a
inspeo. Naquela altura, o BM exalta-
va a experincia brasileira com a RAM
como um caso de sucesso e um exem-
plo para outros pases.
Todavia, a Contag e o MST, prin-
cipais organizaes nacionais de re-
presentao de trabalhadores rurais,
posicionaram-se em bloco, por inter-
mdio do Frum Nacional pela Refor-
ma Agrria e Justia no Campo, contra
o novo modelo de mercado. Essa re-
sistncia desafiava o discurso do BM
de que o caso brasileiro era bem-su-
cedido e contava com a participao
da sociedade civil. Nesse contexto, o
emprstimo que o BM havia prometi-
do ao governo federal para financiar
a ampliao do Banco da Terra para
o mbito nacional enfrentava um im-
passe: como legitimar uma operao
que enfrentava tanta resistncia polti-
ca? Com a irrupo da crise do Plano
Real no final de 1998 e as dificuldades
do governo brasileiro para garantir a
contrapartida necessria ao emprsti-
mo do BM, esse impasse ganhou in-
grediente adicional.
A situao s foi superada em
2000, quando a Contag incluiu na pau-
ta do Grito da Terra Brasil a sua ma-
nifestao anual mais importante a
demanda por crdito fundirio e deci-
diu negociar com o governo federal e
o BM a criao de um programa para
esse fm. O BM, ento, desviou mo-
mentaneamente o seu apoio ao Banco
da Terra para o novo Crdito Fundi-
rio de Combate Pobreza Rural, um
programa muito semelhante ao Cdu-
la da Terra. Com o apoio da Contag,
a diretoria do BM aprovou, em 2001,
o pedido de emprstimo para implan-
tar o crdito fundirio em 14 estados.
Assim, ampliou-se sensivelmente a ex-
perincia do Cdula da Terra, que nem
sequer havia sido concludo. A partir
desse momento, a Contag passou a
diferenciar o programa de crdito fun-
dirio, apoiando-o como algo distinto
da experincia anterior do Cdula da
Terra. J o BM reconheceu que todos
integravam a mesma matriz.
Continuidades e
descontinuidades no
governo Lula
Durante o governo FHC, foram
implantados quatro programas, sendo
o de So Jos uma experincia peque-
na, l i mi tada ao Cear. Esse proj e-
to financiou em torno de 800 famlias
no ano de 1997. J o Cdula da Ter-
ra, apesar de ser tambm um projeto-
piloto, foi mais abrangente, pois atingiu
quase 16 mil famlias de cinco estados.
O Cdula da Terra acabou ofcialmen-
te em dezembro de 2002. O caso do
Banco da Terra diferente, pois no
se trata apenas de uma linha de cr-
dito transitria, mas de um fundo que
pode captar recursos de diversas fon-
171
C
Crdito Fundirio
tes (inclusive externas) para fnanciar
a compra de terras por trabalhadores
rurais. Constitui, por isso, um instru-
mento de carter permanente.
O primeiro governo de Lula, rede-
fnindo alguns parmetros, incorporou
esse instrumento sua poltica fundi-
ria, fortalecendo-o como fonte da con-
trapartida nacional aos emprstimos
do BM para a implantao da Reforma
Agrria de mercado. Por outro lado,
enquanto linha de crdito, o Banco da
Terra foi renomeado de Consolida-
o da Agricultura Familiar (CAF) em
outubro de 2003. O nome mudou, os
itens fnanciveis foram ampliados e as
condies de fnanciamento foram re-
vistas, mas a lgica permaneceu a mes-
ma. Por sua vez, o Crdito Fundirio de
Combate Pobreza Rural no apenas
teve continuidade, como foi ampliado
no Governo Lula, sendo renomeado de
Combate Pobreza Rural (CPR).
Em novembro de 2003, foi criado o
Programa Nacional de Crdito Fundi-
rio (PNCF), responsvel pela gesto do
CPR e do CAF. A instrumentalidade
do PNCF foi tecnicamente aperfeioa-
da para dar continuidade ao fnancia-
mento pblico compra de terras por
agentes privados potencialmente em
todo territrio nacional.
Se, do ponto de vista tcnico, os
programas no apenas tiveram con-
tinuidade como foram ampliados, do
ponto de vista poltico houve desconti-
nuidades relevantes em relao ao qua-
dro de disputas que marcara o governo
anterior. A primeira que nenhuma en-
tidade de representao rural (patronal
ou de trabalhadores) considerava que o
Governo Lula tinha inteno de subs-
tituir o modelo convencional de Refor-
ma Agrria pela Reforma Agrria de
mercado. A segunda descontinuidade
diz respeito legitimao dada por or-
ganizaes sindicais de representao
de trabalhadores rurais aos programas de
crdito fundirio, como a Contag e a
Federao dos Trabalhadores na Agri-
cultura Familiar da Regio Sul do Brasil
(Fetraf-Sul). Durante o primeiro Go-
verno Lula, a luta contra esse modelo
de ao fundiria deixou de aglutinar o
conjunto das entidades de representa-
o do campesinato pobre. Depois da
diviso poltica do Frum em 2000, os
movimentos contrrios a tal modelo
(como o MST e os demais integrantes
da Via Campesina-Brasil) relegaram
essa questo a um plano secundrio,
para evitar atritos com as entidades
sindicais e por entenderem que a
contradio principal no meio rural
brasileiro durante aquele perodo era
entre o agronegcio exportador e os
trabalhadores rurais sem-terra, e no
entre a desapropriao e o crdito
fundirio.
A expanso dos programas de cr-
dito fundirio entre 2003 e 2010 fez da
experincia brasileira a mais abrangen-
te em mbito internacional, tanto em
nmero de famlias fnanciadas quan-
to em volume de recursos gastos. Ne-
nhum outro pas contratou tal volume
de emprstimos com o BM para fnan-
ciar a compra de terras, negociadas por
trabalhadores e proprietrios.
Nota
1
O Painel de Inspeo foi criado em 1994 para proporcionar um frum independente
aos agentes sociais que se sentissem prejudicados direta ou indiretamente pela realizao de
projetos fnanciados pelo Banco Mundial. A reclamao deveria demonstrar que os efeitos
Dicionrio da Educao do Campo
172
negativos decorriam da no observncia das normas e procedimentos do banco na elabora-
o, execuo e avaliao dos projetos fnanciados.
Para saber mais
BARROS, F.; SAUER, S.; SCHWARTZMAN, S. (org.). Os impactos negativos da poltica
de Reforma Agrria de mercado do Banco Mundial. Braslia: Rede BrasilMSTVia
CampesinaFIANEnvironmental DefenseCPT, 2003.
BORRAS JR., S. M. Questioning the Pro-market Critique of State-led Agrarian
Reforms. European Journal of Development Research, v. 15, n. 2, p. 109-132, Dec.
2003.
BURKI, S. J.; PERRY, G. The Long March: A Reform Agenda for Latin America and
the Caribbean in the Next Decade. Washington (D.C.): The World Bank, 1997.
MEDEIROS, L. S. de. Movimentos sociais, disputas polticas e Reforma Agrria de mercado
no Brasil. Rio de Janeiro: CPDA-UFRRJUNRISD, 2002.
PEREIRA, J. M. M. A poltica de Reforma Agrria de mercado do Banco Mundial: funda-
mentos, objetivos, contradies e perspectivas. So Paulo: Hucitec, 2010.
VAN ZYL, J.; KIRSTEN, J.; BINSWANGER, H. (org.). Agricultural Land Reform
in South Africa: Policies, Markets and Mechanisms. Nova York: Oxford
University Press, 1996.
WORLD BANK. Land Policies for Growth and Poverty Reduction. Washington (D.C.): The
World Bank, 2003.
______. Rural Development: From Vision to Action a Sector Strategy.
Washington (D.C.): The World Bank, 1997.
C
CRDITO RURAL
Sergio Pereira Leite
Em qualquer atividade produtiva,
seja no setor agropecurio, industrial, de
comrcio ou de servios, a existncia
de uma linha de crdito fundamental
para viabilizar as despesas com insumos,
mo de obra, investimentos (em mqui-
nas, equipamentos, edifcaes etc.) e
comercializao dos produtos objeto
dessa atividade. O crdito, nesse senti-
do, pode ser compreendido como uma
antecipao monetria (emprstimo)
entregue ao tomador (produtor) dos re-
cursos, que far uso do fnanciamento.
Assim, na ausncia de recursos prprios
que permitam custear a produo, dis-
por de um programa de crdito para um
setor especfco tem sido uma estratgia
importante para sustentar a produo e,
consequentemente, a oferta de um bem
e/ou servio. Alm do crdito para ati-
173
C
Crdito Rural
vidades produtivas, h tambm linhas
de crdito direcionadas ao consumo,
por exemplo. No nosso caso, vamos nos
deter no crdito orientado produo,
em particular quela existente no meio
rural brasileiro.
Primeiramente devemos lembrar
que estamos tratando de um emprs-
timo que, para tanto, pressupe algu-
mas condies prvias, entre as quais:
instituies devidamente reconhecidas
e/ou credenciadas para operar esses
fnanciamentos (bancos, pblicos ou
privados, por exemplo
1
) e que contem
com fundos disponveis para tanto,
prazos para a devoluo dos recursos
emprestados, cobrana de taxas pela
antecipao dos recursos fnanceiros
(taxas de juros), cobrana de taxas
administrativas para viabilizar a ope-
rao, garantias exigidas do tomador
(que variam de acordo com o tipo de
fnanciamento, a instituio fnanceira
envolvida, o programa governamen-
tal etc.), assinatura de contrato entre
as partes envolvidas, enquadramento
do benefcirio nos critrios previstos
para a linha de fnanciamento, seguro
do valor fnanciado. bom frisar que
a poltica de crdito est, por defnio,
atrelada poltica monetria propria-
mente dita, pois depende das taxas de
juros praticadas pelo sistema fnanceiro
e, em especial, defnidas pelas autorida-
des monetrias (no caso brasileiro, pelo
Banco Central). Ou seja, num contexto
de poltica monetria que vise con-
teno da infao por intermdio de
uma frenagem da capacidade de gasto,
o aumento da taxa de juros geral da
economia certamente infuenciar as
condies de operao de programas
especfcos de crdito, podendo torn-
los mais caros aos interessados em
recorrer a esse tipo de recurso. Assim,
podemos deduzir que, para o tomador
dos emprstimos (o produtor), o uso
do fnanciamento somente ser inte-
ressante quando a expectativa de retor-
no e a rentabilidade da sua produo
compensarem o custo (juros, admi-
nistrao, seguro etc.) de fazer uso do
dinheiro emprestado. Caso contrrio, a
capacidade de pagamento das dvidas
contradas com esses emprstimos f-
car seriamente comprometida.
Uma segunda lembrana que nos
parece importante fazer aqui refere-se
s especifcidades da atividade agrope-
curia e seu rebatimento sobre as mo-
dalidades de emprstimo. Como nos re-
corda Delgado (2000), nem sempre os
gestores da poltica macroeconmica
(que engloba a poltica monetria) so
sensveis ou esto atentos s particu-
laridades dos setores com os quais a
poltica interage. Isso mais evidente
no setor rural, visto o carter majori-
tariamente urbano da sociedade e da
economia brasileiras. Aspectos como
diferenas entre o tempo de produo
e o tempo de trabalho (sendo o primei-
ro maior do que o segundo na agricul-
tura), maior suscetibilidade aos riscos
climticos (secas, geadas, intempries
etc.), forte instabilidade de preos, pe-
recibilidade dos produtos, infexibilida-
de na escala produtiva aps o plantio,
calendrio agrcola (safra, entressafra,
poca de plantio, poca de colheita etc.)
levam o setor agropecurio a demandar
instrumentos de polticas relativamen-
te adequados s suas condies produ-
tivas. No caso dos programas de crdi-
to, isso tem implicado algumas aes,
entre elas: a) taxa de juros mdia prati-
cada no setor em geral inferior quela
praticada no restante da economia (vis-
to que os riscos para a produo so
maiores na agricultura e os retornos
mais baixos); b) adaptao do crono-
grama de disponibilidade de recursos
Dicionrio da Educao do Campo
174
para emprstimos adaptados ao calen-
drio agrcola (liberao de recursos
aps o perodo de plantio compromete
a viabilidade da safra, por exemplo);
c) segmentao do crdito em linhas de
custeio, comercializao e investimen-
to com prazos e taxas diferenciados de
acordo com a modalidade (e, em alguns
casos, diferenciados segundo o tipo de
produto fnanciado lavouras tempo-
rrias, lavouras permanentes, atividade
criatria, extrativismo, silvicultura, be-
nefciamento e agroindustrializao);
d) o tomador deve enquadrar-se na ca-
tegoria de produtor rural, isto , pos-
suir uma rea (terra), no mnimo, desti-
nada atividade agropecuria, mesmo
no sendo proprietrio do local (como
o caso de arrendatrios, meeiros, ex-
trativistas etc.).
Devemos ressaltar ainda que a pol-
tica de crdito, assim como a poltica de
preos agrcolas, atua complementar-
mente como sinalizadora das reas, se-
tores e/ou produtos que o governo quer
estimular ou conter. Ou seja, ao praticar
uma poltica de emprstimos com gran-
de volume de recursos oferecidos a ta-
xas de juros relativamente baixas (ou at
negativas
2
) para fnanciar a produo de
um determinado cultivo, o governo si-
naliza claramente a sua opo por um
aumento da oferta desse produto, seja
visando sua comercializao no mer-
cado domstico, seja visando aumentar
a sua disponibilidade para exportao.
Um breve resgate da
poltica de crdito
rural no Brasil
Em contraposio aos casos ame-
ricano e europeu, a poltica de fnan-
ciamento rural brasileira no se apoiou
nem na sustentao de preos doms-
ticos elevados, nem em pagamentos di-
retos aos produtores rurais. Igualmen-
te no se verifcou aqui a estruturao
de um conjunto de instituies priva-
das fnanciadoras de atividades produ-
tivas de longo prazo, quer mediante a
montagem de um sistema bancrio ef-
ciente ou mesmo pela construo de
um slido mercado de capitais.
Podemos, grosso modo, dividir a pol-
tica de crdito rural no Brasil, a partir
da criao do Sistema Nacional de Cr-
dito Rural (SNCR),
3
em dois grandes
perodos: um primeiro, que abrange
o intervalo de 1965 a 1985; e outro, a
partir de 1986. Os vinte anos iniciais
da poltica caracterizam-se pela relativa
facilidade da expanso creditcia e das
condies de repasse aos benefcirios.
Nota-se ainda a presena signifcativa
do oramento do governo federal como
fonte originria dos recursos e a atua-
o do Banco do Brasil como agente
intermedirio privilegiado. J no fnal
desse primeiro perodo, com a espi-
ral infacionria emergindo no turbu-
lento cenrio econmico nacional, os
emprstimos passam a ser indexados
por indicadores de correo monet-
ria. No segundo perodo, dada a unif-
cao oramentria
4
e o encerramento
da conta movimento
5
no Banco Cen-
tral, essas facilidades se reduzem (e o
sistema se torna um pouco mais trans-
parente, com a criao do Oramento
das Operaes Ofciais de Crdito
OOC), como tambm a participao
do Tesouro Nacional no fnanciamento
do programa. Verifca-se ainda a cria-
o de novos instrumentos de captao
de recursos, como a poupana rural e
a emisso de ttulos privados (Leite,
2009).
6
Com a estabilizao macroe-
conmica em 1994, por intermdio do
Plano Real, e o consequente aumento
175
C
Crdito Rural
do grau de monetizao da economia,
verifcou-se igualmente um acrscimo
dos recursos do crdito lastreados nas
exigibilidades bancrias.
amplamente sabido, conforme
atesta a literatura especializada, que o
crdito rural atuou como mola mestra
do processo brasileiro de moderniza-
o agrcola, especialmente no interva-
lo 1965-1980. Nessa poca, a deman-
da por crdito rural pelos produtores
comportou-se ascendentemente, quer
pelas exigncias de recursos que o au-
mento da produo e a utilizao de
insumos modernos requeriam, quer
ainda pelo estmulo que os vultosos
subsdios implcitos ao sistema causava
nos tomadores (Guedes Pinto, 1981).
Assim, alm de fnanciar a chamada
moderna agricultura, o sistema f-
nanciava, por tabela, as indstrias
produtoras de insumos e equipamen-
tos que integravam o pacote da REVO-
LUO VERDE e que passaram a ser
utilizados pelos agricultores (semen-
tes, agrotxicos, fertilizantes, vacinas,
tratores, colheitadeiras etc.). De forma
muito rpida, poderamos dizer que a
poltica de crdito nesse perodo prio-
rizou os mdios e grandes produtores,
em particular aqueles localizados na re-
gio Centro-Sul do pas que produziam
bens destinados exportao (com-
modities). No entanto, dados os subs-
dios acima referidos, no foram pou-
cos os desvios de recursos oriundos do
crdito, aplicados em outras atividades
(Sayad, 1984).
Na dcada de 1990, uma srie de
reformas na poltica agrcola envolveu
tambm a rea de fnanciamento rural
(Helfand e Rezende, 2001). Podemos
destacar alguns aspectos desse pero-
do: a) o j comentado aumento dos re-
cursos obrigatrios na composio do
crdito; b) uma elevao no montante
de recursos ofertados; c) a criao de
ttulos privados de fnanciamento; d) o
surgimento de linhas diferenciadas de
crdito (praticando taxas de juros mais
baixas ou com prazos mais elsticos
para pagamento) que atendiam seg-
mentos do meio rural historicamente
excludos do programa; e e) o cresci-
mento do processo de endividamento.
Os dois ltimos pontos demandam
alguns comentrios adicionais. Em re-
lao aos mecanismos diferenciados de
crdito, a referncia ao Programa Espe-
cial de Crdito para a Reforma Agrria
(Procera) e ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (Pronaf) parece-nos obrigatria. O
Procera, voltado para o fnanciamen-
to de atividades produtivas (custeio e
investimento), o fomento e a habita-
o nos assentamentos rurais iniciou
suas atividades na segunda metade da
dcada de 1980. Operado a princpio
de forma totalmente descontnua, o
programa se consolidou na dcada de
1990, respondendo pelo acesso dos as-
sentados aos insumos e equipamentos
utilizados na produo agropecuria
em reas reformadas. Atuando com ta-
xas diferenciadas, e mesmo assim ainda
onerosas para o pblico benefcirio ao
qual se dirigia, o volume crescente de
recursos aplicados nessa poltica foi re-
sultado de um persistente processo de
presso poltica exercido pelas organi-
zaes de representao poltica de as-
sentados, alm do aumento no nmero
de projetos de assentamentos existen-
tes no pas. Em 1999, esse instrumento
foi extinto, dando lugar chamada li-
nha A do Pronaf.
7
Em 1996, passou a ser operaciona-
lizado o Pronaf (resoluo n 2.191,
de 24 de agosto de 1995). Essa linha de
fnanciamento dirige-se ao agricultor
Dicionrio da Educao do Campo
176
familiar, no vinculando o crdito ao
produto/criao praticados, mas exi-
gindo, entre outras coisas, que 80%
da renda advenha do trabalho na pro-
priedade rural, a contratao de no
mximo dois empregados e o limite
do tamanho da rea a quatro mdulos
fscais. Os recursos so destinados ao
custeio e investimento. Em 1999, o
programa criou uma srie de grupos
(A, B, C, D, E), enquadrando os toma-
dores segundo critrios, entre outros,
de renda. Mais frente, foram ainda
objeto de criao de algumas linhas
especficas: PronafJovem, Mulher,
Semirido, Agroforestal, Agroinds-
tria etc. Nos ltimos anos da dcada de
2000, criou-se tambm o Pronaf Mais
Alimentos, fortemente orientado para
a mecanizao dos estabelecimentos
familiares. De forma geral, podemos
dizer que houve um aumento signif-
cativo no nmero de contratos e nos
valores praticados pelo Pronaf entre
1996 e 2010, chegando a alcanar qua-
se 2 milhes de contratados em 2006.
O programa, que comeara concen-
trando suas operaes na regio Sul do
pas, espraiou-se para outras regies ao
longo da primeira metade da dcada de
2000, voltando a se concentrar nela a
partir de 2007.
Nossa anlise fcaria comprometida
se levssemos em conta to somente o
lado da oferta de recursos de emprs-
timo. Para um tratamento correto do
tema, preciso compreender as despe-
sas com o custo do carregamento da
dvida do setor agrcola e com as cha-
madas equalizaes de preos e juros,
como alertamos nas medidas tomadas
a partir dos anos 1990, mencionadas
anteriormente.
Especial ateno deve ser dada ao
processo de renegociao da dvida dos
agricultores brasileiros, concentrada,
segundo estudo de Jos Graziano da
Silva (2010), nos produtores que to-
maram emprstimos de R$ 200 mil ou
mais a partir de 1995. Com efeito, nas
negociaes que resultaram no progra-
ma de securitizao de 1995,
8
os con-
tratos de at R$ 50 mil representavam
65% do nmero total de operaes e
8% dos recursos; j os contratos acima
de R$ 200 mil compunham 14% das
operaes e 71% do estoque da dvida.
Alguns anos depois, na renegociao
dos contratos maiores conhecida como
Programa Especial de Saneamento de
Ativos (Pesa), a participao dos peque-
nos contratos (de at R$ 50 mil) soma-
va 19% das operaes e praticamente
nada do estoque do endividamento do
setor; j as grandes operaes (acima de
R$ 200 mil) respondiam por 50% dos
contratos e 98% do total da dvida. Isso
indica que a poltica de fnanciamento
representa, em termos de custo para o
Estado, uma contrapartida importante
nos gastos, quando a situao de endi-
vidamento passa a desempenhar papel
central nas negociaes entre governo
e produtores rurais em torno das pol-
ticas agrcolas, como aquelas que tm
marcado a agenda agrcola nos anos
mais recentes, incluindo a rolagem
assumida em 2009.
Um levantamento realizado pela
Assessoria de Gesto Estratgica do
Ministrio da Agricultura, Pecuria e
Abastecimento (Mapa) mostra que,
de 1997 a 2006, o custo pblico com
a rolagem da dvida atingiu o valor de
R$ 10,433 bilhes, enquanto o subs-
dio ao exerccio das polticas setoriais
chegou a R$ 16,328 bilhes. Ou seja,
praticamente 40% dos recursos gover-
namentais com essas despesas setoriais
indiretas foram direcionados para o
177
C
Crdito Rural
saneamento das dvidas do agroneg-
cio. Dados coletados na Assessoria da
Presidncia da Repblica informavam
que, num universo de 3 milhes de
agricultores, 10 mil se encontravam na
situao de devedores, e que o grosso
do endividamento se concentrava em
no mais de 1.800 contratos.
Todas essas medidas estiveram em
voga a partir dos anos 1990 e permane-
cem vigentes, com variaes, at hoje,
compondo, de certa forma, o arcabou-
o de instrumentos da poltica agrcola
direcionado ao setor rural, em especial
ao segmento identifcado pelas institui-
es fnanceiras como agronegcio,
em contraposio ao crdito direciona-
do agricultura familiar. Alguns as-
pectos adicionais podem ser lembrados.
Os bancos pblicos em especial o
Banco do Brasil, o Banco do Nordeste
e, de forma crescente, o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econmico
e Social (BNDES) ainda se mantm
como os principais responsveis pela
oferta de dinheiro ao setor rural (ten-
do em vista a timidez que caracteriza
o setor financeiro privado nessa rea). O
BNDES adentrou os anos 1990 com
um pesado financiamento, viabilizado
por intermdio do Finame Agrcola, e,
no perodo mais recente (ps-1999),
com nfase no primeiro mandato do
Governo Lula, com a implementao
do Programa de Modernizao da
Frota de Tratores Agrcolas e Imple-
mentos Associados e Colheitadeiras
(Moderfrota), que impactou decisi-
vamente o aumento da venda de tra-
tores e equipamentos agrcolas no
Brasil (Vidotto, 1995; Faveret Filho
et al., 2000).
A distribuio dos recursos entre
as modalidades de fnanciamento (cus-
teio, investimento e comercializao)
permaneceu praticamente inalterada
durante todo o perodo. Contudo,
quando consideramos os produtos agr-
colas fnanciados, podemos observar
o aumento da participao da soja no
total de recursos obtidos. Com base
nos registros do SNCR, os emprstimos
soja, ao milho e ao caf somam cer-
ca de 60% de todo o crdito destinado
s lavouras. Alguns produtos, como a
prpria soja e a cana-de-acar, contam
ainda com fnanciamentos oriundos
do setor privado no regulados pelo
SNCR (como emprstimos internacio-
nais, adiantamentos proporcionados
pelas tradings, cdula do produto rural
etc.). Em estados como o Mato Grosso,
por exemplo, a soja vem representan-
do isoladamente mais de 60% dos re-
cursos do SNCR para as lavouras. Essa
caracterstica, entre outras, mostra que
a poltica permanece ainda concentrada
em termos de produtos e em mdios/
grandes produtores (esses medidos pelo
valor mdio dos contratos).
Notas
1
No setor agropecurio, comum a ocorrncia de antecipaes monetrias realizadas por
empresas do setor agroindustrial para os produtores dos quais a empresa compra a matria-
prima. Nesse caso, no se trata de uma operao formalmente reconhecida como crdito,
embora envolva emprstimos que sero saldados no momento da entrega dos produtos em-
presa, invariavelmente corrigidos por taxas acima daquelas vigentes no mercado fnanceiro.
No setor da produo de oleaginosas, essa modalidade fcou conhecida como contratos de
soja-verde ou, ainda, operando modalidades que foram denominadas de CPRs (cdulas
de produto rural) de gaveta.
Dicionrio da Educao do Campo
178
2
Ao longo da dcada de 1970, por exemplo, a poltica de crdito rural brasileira praticou
taxas de juros reais negativas. Isto , ao corrigir os valores emprestados somente pela taxa
de juros nominal e no imputar a variao infacionria do perodo, o resultado efetivo da
operao representou um repasse lquido de recursos do governo para os tomadores
de crdito, visto que a amortizao da dvida era inferior ao valor original do emprstimo
corrigido pela variao infacionria (Delgado, 1985). Essa prtica induziu muitas empresas
e pessoas no associadas ao setor rural a buscarem terra, especialmente na regio Norte do
pas, para o acesso a essa poltica de crdito facilitada, o que fcou conhecido, num deter-
minado momento, como territorializao da burguesia (Kageyama, 1986). Vale ressaltar
ainda que essa busca por terras foi baseada em boa medida em processos de expropriao
de pequenos agricultores, repasse de terras pblicas ao setor privado e outros mecanismos
menos convencionais (Palmeira e Leite, 1998).
3
O SNCR, criado pela lei n 4.829, de 5 de novembro de 1965, e regulamentado pelo decre-
to n 58.380, de 10 de maio de 1966, era constitudo pelo Banco Central, Banco do Brasil,
bancos regionais de desenvolvimento, bancos estaduais, bancos privados, caixas econmi-
cas, sociedades de crdito, fnanciamento e investimento, cooperativas e rgos de assis-
tncia tcnica e extenso rural. Tinha como propsito compartilhar a tarefa de fnanciar a
agricultura entre instituies fnanceiras pblicas e privadas. No entanto, a participao dos
bancos privados, com base nas exigibilidades sobre os depsitos vista (isto , um percen-
tual fxado pelo governo dos depsitos vista que deveria fnanciar a atividade rural ou,
caso o banco no atuasse nessa rea, ser objeto de repasse ao Banco Central), apresentou-se
constantemente decrescente, impondo uma participao maior dos recursos lastreados pelo
Tesouro Nacional, repassados, sobretudo, pelo Banco do Brasil. Vale acrescentar que, como
lembra Guedes Pinto (1981), entre 1970 e 1979, dois teros das aplicaes dos bancos
privados direcionavam-se ao crdito de comercializao, reforando o argumento de que
a esfera propriamente produtiva (custeio e investimento) era bancada pelo setor pblico.
Os recursos pblicos provinham da administrao de fundos e programas (recursos fscais
e parafscais) feita pelo Banco Central e tambm dada a vigncia das contas em aberto
no oramento monetrio (pea oramentria na qual estavam alocadas rubricas da poltica
de crdito), da categoria recursos no especifcados inscrita no oramento (Oliveira e
Montezano, 1982). Tais recursos contavam, ainda, com o lastro da captao de recursos
externos e com a oferta expansionista do crdito por parte do Banco do Brasil, coberta pela
emisso monetria. Esses instrumentos atuavam no sentido de suprir o diferencial entre as
necessidades do programa e o volume de crdito oriundo das exigibilidades sobre os de-
psitos vista lquidos dos bancos comerciais privados. No perodo recente (ps-1999),
com o aumento do peso dos recursos obrigatrios (exigibilidades) no total do crdito,
aumentou tambm a participao dos bancos privados no repasse do mesmo.
4
Em 1986, com a unifcao dos oramentos monetrio, fscal e das empresas estatais, foi
constitudo o Oramento Geral da Unio (OGU).
5
A conta movimento representava um passivo do Banco do Brasil em relao ao Banco Cen-
tral, esse ltimo concebido na reforma do sistema fnanceiro da dcada de 1960, e foi criada
para atuar como instrumento transitrio. A sua manuteno at a dcada de 1980 facultou
a poltica expansionista do crdito praticada pelo Banco do Brasil (que atuava de fato como
autoridade monetria) sem registro no oramento geral do governo (Delgado, 1985).
6
Dentre esses ltimos, destacamos a CPR, criada pela lei n 8.929, de 22 de agosto de 1994,
que consiste na alocao de recursos privados para o fnanciamento da comercializao de
produtos agropecurios, constituindo-se num ttulo cambirio lquido e certo, representa-
tivo de promessa de entrega da mercadoria, e operacionalizado sobretudo pelo Banco do
Brasil (Nuevo, 1996). Alguns anos depois, criou-se ainda a CPR Financeira, que permitiu
a liquidao fnanceira do ttulo. Em dezembro de 2004, foi objeto da poltica agrcola um
179
C
Crdito Rural
conjunto de novos ttulos privados, dessa vez batizados de ttulos do agronegcio, entre
os quais as Letras de Crdito do Agronegcio (LCA), que chegaram a ter atuao destacada
no perodo recente (Oliveira, 2007 e 2010).
7
Em 1999, com a instituio da poltica conhecida poca como Novo Mundo Rural,
o governo extinguiu o Procera e transformou o Pronaf em diversas linhas de crdito, di-
ferenciadas quanto ao pblico e atividade a ser fnanciada. Nesse sentido, o Pronaf A
destinou-se a fnanciar as atividades produtivas dos assentados em projetos de Reforma
Agrria, substituindo o antigo Procera.
8
O termo securitizao empregado para designar, na prtica, a converso de emprsti-
mos bancrios e outros ativos em ttulos (securities) para a venda a investidores, que passam
a ser os novos credores dessa dvida (Sandroni, 2005, p. 759). Tal converso tem facilitado,
em boa parte dos casos, a negociao de dvidas contradas em programas como aquele
do fnanciamento rural e a sua liquidao em mercados de derivativos envolvendo ou-
tros agentes que passam a adquirir/vender tais ttulos , bem como aumentado os prazos
que envolvem tais operaes.
Para saber mais
DELGADO, G. Capital fnanceiro e agricultura no Brasil. Campinas: cone, 1985.
DELGADO, N. As relaes entre a macroeconomia e a poltica agrcola: provoca-
es para um debate interrompido. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro,
n. 14, abr. 2000.
FAVERET FILHO, P. et al. O papel do BNDES no fnanciamento ao investimento agropecu-
rio. Rio de Janeiro: BNDES, 2000.
GUEDES PINTO, L. C. Notas sobre a poltica de crdito rural. Campinas: Editora da
Unicamp, 1981.
HELFAND, S. M.; REZENDE, G. C. A agricultura brasileira nos anos 1990: o impacto
das reformas de polticas. In: GASQUES, J. G.; CONCEIO, J. C. P. R. (org.). Trans-
formaes da agricultura e polticas pblicas. Braslia: Ipea, 2001.
KAGEYAMA, A. Os maiores proprietrios de terra no Brasil. Reforma Agrria,
Campinas, abr.-jul. 1986.
LEITE, S. Padro de fnanciamento, setor pblico e agricultura no Brasil. In:
______ (org.). Polticas pblicas e agricultura no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Editora
da Universidade, 2009.
NUEVO, P. A. S.. A cdula do produto rural (CPR) como alternativa para fnanciamento
da produo agropecuria. 1996. Dissertao (Mestrado em Economia Agrria)
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 1996.
OLIVEIRA, C. Financiamento agrcola no Brasil: uma anlise dos novos ttulos de cap-
tao de recursos privados. 2007. Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) Programa de Ps-Graduao de
Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropdica, 2007.
Dicionrio da Educao do Campo
180
______. Os ttulos do agronegcio brasileiro: uma anlise comparativa entre a percep-
o existente no seu lanamento e a situao atual. In: CONGRESSO DA SOCIEDA-
DE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAO E SOCIOLOGIA RURAL (SOBER), 48.
Anais... Campo Grande: Sober, 2010.
OLIVEIRA, J. C.; MONTEZANO, R. M. S. Os limites das fontes de fnanciamento
agricultura no Brasil. Estudos Econmicos, So Paulo, v. 12, n. 2, p. 139-160,
ago.-nov. 1982.
PALMEIRA, M.; LEITE, S. Debates econmicos, processos sociais e lutas polticas.
In: COSTA, L. F.; SANTOS, R. N. (org.). Poltica e Reforma Agrria. Rio de Janeiro:
Mauad, 1998.
REZENDE, G. Crdito rural. In: MOTTA, M. M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
SANDRONI, P. (org.). Dicionrio de economia do sculo XXI. So Paulo: Record, 2005.
SAYAD, J. Crdito rural no Brasil: avaliao das crticas e das propostas de reforma.
So Paulo: Pioneira/Fipe, 1984.
SILVA, J. G. da. Os desafios das agriculturas brasileiras. In: GASQUES, J. G. et.
al. (org.). A agricultura brasileira: desempenho, desafios e perspectivas. Braslia:
Ipea, 2010.
VIDOTTO, C. A. Banco do Brasil: crise de uma empresa estatal do setor fnanceiro
(1964-1992). 1995. Dissertao (Mestrado em Economia) Instituto de Econo-
mia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995.
C
CULTURA CAMPONESA
Jos Maria Tardin
Cultura uma palavra de origem la-
tina, colere, que signifca cultivar, criar,
tomar conta, cuidar (Chau, 1997,
p. 292) e expressa ao marcada pelo
cuidado. Tomada abstratamente, para
alcanarmos seu signifcado geral, cul-
tura toda criao humana resultante
das relaes entre os seres humanos e
deles com a natureza que leva ao esta-
belecimento de modos de vida. Trata-se
da criao e da recriao que emergem
daquelas relaes em que os humanos,
ao transformarem o mundo, simulta-
neamente transformam a si prprios.
Essas transformaes se do na ordem
material, quando a criao e a recriao
como ato humano tomam materiais da
natureza, dando a eles formas que no
possuam at ento.
Essa materialidade nova se volta
sobre o seu criador, alterando seu esta-
do material de vida e abrindo um novo
campo de possibilidades e necessida-
des que o impulsiona contnua trans-
formao. Alcana tambm a ordem
imaterial, levando-o a expressar sua
181
C
Cultura Camponesa
subjetividade por meio das artes, teo-
rias, cincias, religies, ideologias etc.
O ser humano vai, assim, impri-
mindo suas marcas na natureza, tendo
essa como mediadora s suas relaes
e comunicaes entre si e com ela pr-
pria (Souza, s. d.). E, com isso, hu-
maniza a natureza, na medida em que
imprime nela seus objetivos e a reso-
luo prtica de situaes em benef-
cio da satisfao das suas necessidades
humanas. Na condio de ser biolgico
e natural, vai histrica e espacialmente
realizando transformaes crescentes
e constituindo assim sua humanizao,
distinguindo-se na natureza como por-
tador de cultura, com um novo modo
de ser radicalmente indito, o ser so-
cial (Netto e Braz, 2010, p. 36).
Em se tratando do campesinato,
ele se constitui a partir de uma diversi-
dade de sujeitos sociais histricos que
se forjaram culturalmente numa ntima
relao familiar, comunitria e com a
natureza, demarcando territorialidades
com as transformaes necessrias
sua reproduo material e espiritual,
gerando uma mirade de expresses
particulares que, ao mesmo tempo,
respaldam-se em elementos societrios
gerais, marcando sua humanizao e
humanizando a natureza, em um intri-
cado complexo de agroecossistemas.
Nesses termos, o campesinato con-
frma e exige tomar o tratamento da
cultura em sua pluralidade; trata-se,
portanto, de culturas do modo de ser
de cada sociedade, nas quais se supe-
ra a pretenso de que haja a cultura
e, fora dela, a no cultura, como, na
particularidade no campo, tem-se as
culturas camponesas.
H que tratar ento das agri-cul-
turas do grego ager e do latim colere,
que signifca cuidar do campo, criar no
campo, cultivar o campo como ex-
presses diferenciadas das relaes das
campnias e dos campnios no campo
e com o campo. Recomenda-se a lei-
tura dos verbetes AGRICULTURA CAM-
PONESA e AGROECOLOGIA, por exemplo,
para uma revitalizao etimolgica da
palavra cultura e, talvez, da prtica re-
lacional que ela prope.
A agricultura traduz, sem equvoco,
uma relao humanonatureza marca-
da pelo sentido de forte conexo, de
pertencimento, de ato transformador
e criador, uma relao fundada no cui-
dado, como assinalado anteriormente.
, portanto, identidade humano/na-
tureza. Assinalamos um conjunto de
aspectos que sero desenvolvidos em
seguida e que podem nos levar a uma
primeira aproximao ao entendimen-
to das culturas camponesas, por meio
da formulao relativa experincia do
campesinato brasileiro: infuncias tni-
cas, relaes cotidianas com a nature-
za, conhecimento emprico amplo,
oralidade e prtica, espiritualidade,
religiosidade, esttica, relaes diver-
sifcadas de cooperao, forte predo-
minncia patriarcal, e relao famlia,
comunidade e territrio.
Ademais desses aspectos, aos quais
certamente se somam outros no de-
senvolvidos aqui, h de se considerar
que o campesinato como sujeito social
histrico se forja em condies sociais,
materiais e polticas acentuadamente
adversas que marcaro suas culturali-
dades. Aqui destacaremos trs elemen-
tos, a saber: sofre violncias e cont-
nuas agresses no percurso da histria;
historicamente ativo em processos
de rebelies; e apresenta elevado grau de
radicalidade na sua ao poltica.
No Brasil, povos originrios, po-
vos africanos negros e povos europeus
Dicionrio da Educao do Campo
182
foram condicionados historicamente a
se encontrar neste vasto territrio, sob
o domnio das nobrezas de alguns pa-
ses europeus, notadamente Portugal e
Espanha, e vo conformando o mis-
cigenado campesinato brasileiro (ver
implicaes desses condicionamentos
em CAMPESINATO). Essa miscigenao
tem continuidade histrica no pas no
s em decorrncia da vinda de outros
povos para o Brasil, mas tambm pelo
intenso processo migratrio existen-
te no campo at os dias atuais. Essa
constituio pluritnica cada vez mais
miscigenada vai gestar tipos humanos
diferenciados e regionalizados territo-
rialmente, os quais, em suas interaes
com os ambientes especfcos de ca-
da lugar, vo confgurar as paisagens
com suas peculiaridades culturais: os
povos originrios, majoritariamente
na Amaznia e dispersos nas demais
regies; o sertanejo, no Agreste nor-
destino; os quilombolas, dispersos em
vrias regies; o ribeirinho, s margens
de rios; o caipira, em partes do Sudes-
te; o caboclo, em partes do Nordeste
e da Amaznia; o gacho, nos pampas
sulinos; o colono imigrante europeu,
no Sul e em partes do Sudeste, entre
outros. Na condio predominante de
trabalhadores sem-terra, esto o peo
de boiadeiro, o pantaneiro, o agregado,
o meeiro, o parceiro e, nas vilas e cida-
des predominantemente, o boia-fria.
O mundo campons formado por
ecossistemas complexos, dos quais
preciso recolher e/ou transformar os
materiais da natureza para assegurar a
satisfao das necessidades vitais e a
reproduo social. A paisagem natural
vai sendo aculturada com os cultivos
agrcolas, a criao de rebanhos e o
extrativismo forestal, que envolvem
o manejo de incomensurvel biodiver-
sidade e agrobiodiversidade. A cada
uma dessas espcies, de uso alimentar,
condimentar, medicinal, ornamental;
fbras e madeira; espcies necessrias
fertilizao e proteo de fontes, rios
e solo; ou que precisam ser mantidas
visando a fns conservacionistas e de
preservao, corresponde uma multi-
plicidade de conhecimentos e saberes
relativos aos seus manejos e usos, e dos
instrumentos de trabalho utilizados em
cada situao.
Em sua generalidade, o ser campons
est imbricado natureza numa relao
cotidiana, e essa interao se d por um
contnuo conhecer, pelas descobertas,
por uma prxis emprica ampla e, pre-
ponderantemente, pela experimentao
durante largo lapso de tempo, efetivando
tentativas que levam a acertos e erros, e,
com isso, orientam as escolhas.
Impe-se ao campons a exigncia
de conhecimentos amplos, entre outros,
sobre as plantas cultivadas e os animais
silvestres criados; saberes sobre repro-
duo, produo, proteo, conser-
vao, transformao e armazenagem;
sobre usos que incluem a gastronomia,
a teraputica e a transformao do-
mstica; sobre os solos e a gua seus
manejos e conservao, que implicam
obras e equipamentos variados; sobre
o clima vento, temperatura, chuva,
seca, geada; sobre as estaes do ano e
o ciclo lunar; sobre fertilizantes, ferra-
mentas e mquinas de trabalho; sobre
construo; e sobre produo artesanal
roupas, calados, adornos...
Nesses conhecimentos est implci-
ta a exigncia de habilidades, destrezas e
competncias do fazer prtico direcio-
nado para o alcance de solues objeti-
vas, o que proporciona constituir sujei-
tos com amplo desenvolvimento de suas
capacidades e possibilidades humanas.
183
C
Cultura Camponesa
A natureza do conhecimento cam-
pons faz dele um efetivo prxico-
emprico, que preponderante e ne-
cessariamente faz ensinando e ensina
fazendo, ao mesmo tempo em que co-
munica oralmente explicaes dos sabe-
res intrnsecos a cada objeto e prtica.
Esto presentes em suas relaes
sociais acentuados valores humanos fun-
damentais, entre os quais a solidarie-
dade e a fraternidade, que se concre-
tizam em mltiplas prticas de ajuda
mtua entre vizinhos, em situaes de
catstrofes, perdas de safra, doenas e
mortes, ou mesmo na organizao de
festividades comunitrias ou casamen-
tos, batizados, entre outras.
Da mesma forma, a ajuda mtua
faz parte no apenas do seu cotidiano
com sementes, animais de trabalho ou
para a reproduo, com ferramentas
e mquinas , mas tambm do seu tra-
balho seja nas trocas de dias ou nos
mutires, sendo que esses ltimos re-
sultam sempre em festividade ao fnal
das tarefas realizadas.
Essa tradio cultural leva-os a pra-
ticarem vrios trabalhos coletivos para
o bem comum da comunidade, reali-
zando obras pblicas voluntariamente
manuteno de estradas, bueiros e
pontes, escolas, postos de sade de
acordo com as suas necessidades, mui-
tas vezes ausncia e por causa do des-
caso do Estado.
Tambm se verifca a formalizao
de sistemas organizativos voltados para
o alcance de resultados econmicos
mais vantajosos, como as associaes
comunitrias ou de produtores espe-
cializados em determinadas mercado-
rias ou as cooperativas de porte comu-
nitrio ou municipal, havendo tambm
iniciativas de alcance regional, estadual
e nacional.
Esses sistemas aparecem ao longo
da histria camponesa, e muitas expe-
rincias alcanam elevado nvel de coo-
perao complexa, nas quais todos os
meios de produo e o trabalho so pos-
sudos e geridos coletivamente e a re-
partio da produo social e de seus
resultados econmicos feita de for-
ma igualitria ou mediante uma base
geral igualitria que estabelece dife-
renciaes segundo a posio que cada
membro associado ocupa no trabalho
periculosidade, jornada de trabalho etc.
Tambm esto frente de sistemas de
cooperativas de crdito ou de servios,
e, tanto na forma de associaes ou
cooperativas quanto nas demais ati-
vidades econmicas, voltam-se ainda
para a realizao de atividades culturais
e sociais.
Sua imbricao e cotidianidade com
a natureza colocam o campons ante a
grandiosidade e a complexidade dos fe-
nmenos naturais, o que vai ser apreen-
dido muito mais na sua aparncia do
que em sua essncia fenomnica, mar-
cando profundamente a subjetividade
camponesa. Emerge da um sentimen-
to de pertencimento, um vnculo umbi-
lical com a me Terra, mito primitivo
que persiste no tempo.
Essa relao com a natureza vai ca-
racterizar uma espiritualidade prpria,
que ser traduzida numa esttica de ex-
presso variada, que se revela em msi-
cas de estilos variados, danas, potica,
teatro, bailes e festividades, instrumen-
tos musicais, causos e contos, histrias
e lendas, artesanato, artes plsticas, ri-
tos, mitos e outros.
Esse contgio com o mistrio na-
tural, seja pela via da contemplao,
seja pela via do medo, do sentir-se pe-
queno, frgil e vulnervel, seja, ainda,
por sentir-se afagado, acolhido e con-
Dicionrio da Educao do Campo
184
templado, vai traduzir-se, tambm, na
constituio do sagrado como estado
superior e exterior, mas tambm iguali-
trio e interior.
O sentimento e a percepo do sa-
grado vo levar demarcao de am-
bientes naturais ou culturais especiais
sua manifestao, com a determinao
de mitos e rituais particulares. Os ri-
tuais se voltam diretamente tanto para
a natureza olhos dgua, cachoeiras,
lagos, montanhas, grutas, bosques e
forestas quanto para processos do
trabalho preparao da terra, se-
meadura e colheita, ou mesmo para a
matana e a preparao de animais, vi-
sando ao consumo ou para fns exclu-
sivamente ritualsticos, momentos em
que se faz uso de simbologias diversas:
entoaes de vozes, cantos, ritmos,
orculos, rezas, vestes e roupas, velas,
incenso, ervas e madeiras de cheiro.
O culto ao sagrado se concretiza na
expresso de cosmovises pantestas,
politestas ou monotestas, alcanando
formas sincrticas de religiosidade po-
pular, em muitos casos refutadas, ou
mesmo proibidas e perseguidas como
inculturadas em determinados perodos
histricos, sob a hegemonia das reli-
gies ofciais, sobretudo a crist catlica.
O sagrado vai marcar tambm festi-
vidades fxadas no calendrio anual, es-
tabelecendo as formas de expresso de
momentos especiais no interior das fa-
mlias e comunidades, em eventos como
o nascimento, o batizado, a crisma e o
casamento ou seja, a iniciao e a maio-
ridade , ou na morte e no funeral.
Outro trao geral das culturas cam-
ponesas advm do patriarcalismo cons-
titutivo do paradigma historicamente
hegemnico nas diferentes sociedades.
notria a supremacia do homem na
hierarquia familiar e nas representaes
no espao pblico. A diviso do trabalho
segue tradicionalmente uma base sexual
que em geral sobrecarrega a mulher; por
isso, ela, ademais de cumprir com toda a
gama de trabalhos de manuteno e cui-
dado da famlia no mbito domiciliar,
tambm executa um conjunto de traba-
lhos na produo agropecuria.
A magnitude e a complexidade
de seu quefazer exigem das mulheres
amplos conhecimentos e habilidades
vistos como obrigaes de uma boa
mulher e como ajuda ao marido. um
contexto secularmente opressor e re-
pressor no qual a relevncia dos seus
afazeres e a dignidade do seu ser em
geral no alcanam o devido reconhe-
cimento, seja no interior da famlia ou
no mbito social.
A essa opresso secular, acrescen-
tam-se muitas outras manifestaes de
violncia, na forma de agresses mo-
rais e fsicas, e de sociabilidade res-
tringida, levando a um sentimento de
obedincia e de inferioridades fsica
e subjetiva e sua menor participao
tanto na gerncia do trabalho e dos
negcios quanto na repartio dos be-
nefcios dos resultados econmicos
do trabalho da famlia.
A dominao patriarcal erguida e
sustentada por milnios se materializa
em cada perodo histrico de diferen-
tes maneiras, expressando-se na di-
viso sexual e social do trabalho, e
reforada diferentemente pelas distintas
formas de conscincia social, nas quais
as concepes do sagrado e as religies
vo exercer destacada infuncia.
O politesmo, que inclui divindades
masculinas e femininas, e que se ex-
pressa em pantesmo, tem uma infun-
cia diferente do monotesmo o qual
185
C
Cultura Camponesa
sempre patriarcal e atribui mulher
culpabilidades como o pecado origi-
nal, responsabilizando-a, por exemplo,
no s pelo sofrimento humano, mas
tambm pelo sofrimento da divindade
encarnada. Toda essa complexidade
est acentuadamente posta nos marcos
culturais do campesinato brasileiro e
vai, por sua vez, imprimir no homem
campons um sentido de superioridade
que o autolegitima como portador de
certa autoridade, um sentido exterio-
rizado na sua esttica fsica e no seu
vesturio, na expresso de bravura e
valentia, na supervalorizao de ser o
macho, num sentir exacerbado da hon-
ra, da austeridade e de ser trabalhador
e na acentuada capacidade para o sacri-
fcio diante das asperezas do ambiente
e do labor.
O horizonte imediato do campe-
sinato a famlia, que, forosamente
consolidou-se aqui sob a forma cultu-
ral europeia crist capitalista, reforan-
do as relaes patriarcais, ao mesmo
tempo em que impediu, seja pela for-
a jurdica e policial, seja pela ordem
social moral, outras formas tpicas dos
povos originrios ou africanos.
Ocupando o epicentro imediato
de sua viso de mundo, os membros do
campesinato brasileiro vo organizar
e direcionar suas aes em geral e seu
trabalho em particular preponderante-
mente para a busca de satisfao das
suas necessidades individuais e familia-
res, ao mesmo tempo em que demar-
cam seus horizontes existenciais pela
incumbncia maior de deixar aos des-
cendentes uma herana material supe-
rior que receberam.
Do imediato familiar, as relaes se
estendem para o plano da comunidade,
como espao da vizinhana, da realiza-
o do trabalho solidrio e cooperado
e da sociabilidade mais intensa, espa-
o que, para muitos, praticamente o
nico local conhecido. De outra parte,
as relaes externas esto limitadas ao
contato apenas para a resoluo de
necessidades pontuais. Esse horizonte
restrito fragiliza a tomada de conscin-
cia poltica, a organizao de classe e a
exponenciao de sua humanizao. A
invaso cultural burguesa, a consolida-
da em suas formas prtica e ideolgica,
tambm turva a sua capacidade de se
autoperceberem como sujeito social
complexo e de conceberem o seu espao
como territrio, aspecto menos acen-
tuado nos povos originrios e nas co-
munidades quilombolas, para as quais
a existncia social, que expressa uma
viso de totalidade histrico-espacial
e populacional com recorte tnico,
est diretamente vinculada a determi-
nado territrio.
A conteno, o impedimento de
acesso terra e a explorao do seu
trabalho constituem expresso da vio-
lncia histrica e estrutural que perdu-
ra sobre os povos camponeses; para
isso, o Estado burgus e os agentes do
capital fzeram uso das mais variadas
formas de agresso. Porm, ainda que
condicionados a situaes materiais
precrias e inferiores, povos originrios,
africanos e o campesinato miscigenado
lanaram mo de sua indignao, capa-
cidade organizativa e conhecimento e
ergueram-se em rebelies com elevado
grau de radicalidade, realizando com-
bates armados com seus inimigos ex-
propriadores e exploradores.
Na sua relao com a natureza, o
campons utiliza meios e instrumentos
de trabalho que em geral exigem muito
esforo fsico. Alm disso, ele est posto
Dicionrio da Educao do Campo
186
diante de realidades que exigem sua ao
direta familiar ou coletiva, essa associada
a seu grupo tnico ou de vizinhana na
comunidade. O mesmo ocorre nas rela-
es de produo e de busca de territ-
rios, na medida em que sempre encontra-
r foras inimigas no seu encalo.
Esses condicionamentos histricos
e portanto persistentes no s cons-
tituem sua experincia prtica, como
tambm vo se imprimir em sua subje-
tividade, sendo comunicados em causos,
repentes, trovas, cordis e msicas,
ocupando o seu imaginrio e seu acervo
cultural. Os povos originrios se de-
frontaram com os invasores europeus;
os povos africanos negros, com os se-
nhores escravistas, europeus e nativos;
e o campesinato se deparou, e ainda se
depara, com latifundirios e oligarcas,
com o agronegcio e o Estado bur-
gus. As rebelies radicalizadas no en-
frentamento armado se efetivaram ora
localizadamente, ora ocupando vastos
territrios, a exemplo de Canudos,
no serto baiano, da comunidade de
Caldeiro de Santa Cruz do Deserto,
no Cear, e da Guerra do Contestado
em Santa Catarina e Paran.
Se nesses processos de rebelio a
desumanidade imposta ao extremo
somou-se s inspiraes messinicas
e colocou o campesinato em guerras,
sua resistncia se atualiza e alcana ou-
tra qualidade poltica inicialmente com
a infuncia do iderio comunista e,
depois, com a teologia da libertao.
Tais infuncias revitalizam a criativi-
dade e a radicalidade do homem do
campo, levando o campesinato a esta-
belecer novas formas de organizao
poltica, como as Ligas Camponesas
e, mais recentemente, entre outros,
o MOVIMENTO DOS TRABALHADORES
RURAIS SEM TERRA (MST), o MOVI-
MENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS
(MAB), o MOVIMENTO DOS PEQUENOS
AGRICULTORES (MPA), o MOVIMENTO
DAS MULHERES CAMPONESAS (MMC
Brasil), os quais, por sua vez, e de
maneira indita, vo integrar a arti-
culao internacional camponesa Via
Campesina (ver SINDICALISMO RURAL).
Ao mesmo tempo, organizada, na
Amaznia, uma ampla coalizo entre os
Povos da Floresta e o Conselho Nacio-
nal dos Seringueiros (CNS), enquanto os
povos originrios e quilombolas se re-
posicionam, com vigor renovado, na
luta poltica.
A ditadura militar instalada no pas
em 1964 imps a REVOLUO VERDE
que implica a utilizao de todo um
aparato industrial, fnanceiro, cientf-
co, tecnolgico, educacional, agroin-
dustrial e comercial por meio de aes
do Estado e do capital privado, con-
fgurando um poderoso sistema e um
bloco de poder burgus que invade am-
plos territrios camponeses, impondo-
lhes a modernizao conservadora e a
condio de subalternidade, seja como
produtores menores de alimentos e
de determinadas matrias-primas, seja
como trabalhadores semiassalariados
ou assalariados em processos produti-
vos agrcolas e agroindustriais.
Na atualidade, esse sistema e bloco
de poder, reconfgurados sob a hegemo-
nia do capital fnanceiro e das empresas
transnacionais os quais ampliam e
aprofundam a dominao e a explorao,
impondo novas tecnologias no campo,
notadamente as biotecnologias, tendo
frente os cultivares transgnicos, os
associados a determinados agrotxicos,
mas tambm as nanotecnologias e uma
srie de outras tecnologias baseadas na
informtica satelitizada passaram a ser
identifcados como agronegcio.
187
C
Cultura Camponesa
Tudo isso se associa s mudanas
gerais nas legislaes impostas por or-
ganismos internacionais multilaterais a
fm de legitimar a permissividade para
a maior dominao, a explorao do
trabalho e a depredao e mercantili-
zao da natureza em escala planetria
pelo agronegcio.
Essa expanso e invaso do capi-
tal no campo so devastadoras para o
campesinato, seja por imporem a mer-
cantilizao um padro de produo
e consumo absolutamente distante da
sua trajetria cultural, tnica, familiar
e comunitria , seja por alterarem in-
tensamente suas bases materiais pro-
dutivas, at ento profundamente vin-
culadas aos processos ecolgicos e s
tecnologias endgenas, seja, ainda, por
elevarem as contradies a ponto de
fazerem irromper novo ciclo de lutas
camponesas no pas.
Nesse novo ciclo, agrega-se o que
h de mais avanado politicamente no
movimento campons brasileiro, com
claro posicionamento de classe de
orientao flosfco-terica e organi-
zativa marxista, que direciona sua for-
mulao estratgica e sua ao poltica,
de carter socialista, para o combate
anticapitalista. Ademais de apreender e
situar-se de forma consciente em rela-
o sua condio de classe explorada
e expropriada dos meios de produo e
da renda do seu trabalho pelo capital,
esse movimento integra a conscincia e
a prtica internacionalistas e a memria
histrica das lutas libertrias e de eman-
cipao humana, elaborando diretrizes
e lutas unifcadas e ampliando enorme-
mente o seu referencial cultural.
O movimento social campons se
situa culturalmente na contemporanei-
dade, forjando respostas aos desafos da
atualidade, tomada em sua totalidade
social. Sua autocrtica e sua crtica or-
dem burguesa no mbito do seu modo
de produo relaes sociais e com a
natureza vai lev-lo a formular diretri-
zes e aes que, sob a orientao cient-
fca da agroecologia como fundadora de
uma prxis comprometida com a re-
construo ecolgica da agricultura,
priorizam a soberania alimentar.
A violncia histrica e estrutural
do capital, agora exponenciada em seu
apogeu imperialista, segue encontran-
do o parapeito campons, que resiste
criando e recriando-se culturalmente.
Seu posicionamento como sujeito so-
cial consciente e organizado se expres-
sa historicamente em signifcativos pro-
cessos de rebelio, com elevado grau
de radicalidade em suas aes. Isso no
apenas se inscreve em seu imaginrio,
expressando-se em sua esttica cultu-
ral, mas continua sendo ativado de for-
ma renovada no tempo.
notrio, no presente, que a maior
parcela do campesinato brasileiro se en-
contra subsumida na alienao e na ma-
nipulao ideolgica, enquanto outra
parte se situa no estado de conscincia
de classe em si e uma frao menor,
mas significativa, toma a frente da sua
organizao e ao em movimentos
sociais com clara conscincia de clas-
se para si, qualificando sua prtica
poltica e produtiva e traduzindo-a na
elaborao autnoma do seu projeto
de campo e de sociedade, em arti-
culao e dilogo com os setores po-
pulares urbanos e outras foras sociais
da classe trabalhadora e em interao
internacionalista. Uma realidade to
clara e reveladora da sua significativi-
dade histrica e cultural, e, ao mesmo
tempo, to oculta e ocultada.
Dicionrio da Educao do Campo
188
Para saber mais
ALENCAR, C. et al. Histria da sociedade brasileira. 18. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro
Tcnico, 1996.
BOGO, A. O MST e a cultura. 3. ed. So Paulo: Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, 2009. (Caderno de formao, 34).
CHAU, M. Convite flosofa. 9. ed. So Paulo: tica, 1997.
DIAMOND, J. Armas, germes e ao: os destinos das sociedades humanas. 3. ed. Rio de
Janeiro: Record, 2002.
FREIRE, P. Educao como prtica da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.
______. Pedagogia do oprimido. 37. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
HEISER JUNIOR., C. B. Sementes para a civilizao: a histria da alimentao humana.
So Paulo: Companhia Editora NacionalEdusp, 1977.
KHATOUNIAN, C. A. A reconstruo ecolgica da agricultura. Botucatu: Agroecolgica,
2001.
MARTINS, J. de S. Os camponeses e a poltica no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1986.
MOONEY, P. R. O sculo 21 eroso, transformao tecnolgica e concentrao do poder
empresarial. So Paulo: Expresso Popular, 2002.
MORISSAWA, M. A histria da luta pela terra e o MST. So Paulo: Expresso
Popular, 2001.
NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia poltica uma introduo crtica. 6. ed. So Paulo:
Cortez, 2010.
RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formao e o sentido do Brasil. So Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
SOUZA, Ana Ins. Material didtico usado em aula na Escola Milton Santos.
Maring (Paran), [s.d.]. (Mimeo.).
189
D
D
DEFESA DE DIREITOS
Marcus Orione Gonalves Correia
O tema que discutiremos bastan-
te amplo e pode ser analisado a partir
de trs aspectos: a relao entre justia
e poltica, a resistncia e a conquista de
direitos, e a justiciabilidade. Para melhor
desenvolver nossa anlise, faremos um
estudo de cada um desses aspectos, e,
por fm, tentaremos uni-los em uma
perspectiva comum. Comecemos com a
relao entre justia e poltica.
De incio, deve-se observar a poltica
como o espao por excelncia de reali-
zao maior do homem. Na sua relao
com o outro, a expresso de uma vida
comunitria melhor somente se faz pelo
exerccio constante de um dilogo entre
iguais. Para que esse dilogo entre iguais
se estabelea, no devem existir sujeitos
com maiores vantagens do que os ou-
tros no sistema de escolhas do destino
da coisa pblica. Assim, para que haja
uma verdadeira participao poltica, a
idia de igualdade indispensvel. Por
outra parte, a noo de igualdade cons-
titui a base da concepo de justia.
Portanto, e de forma sinttica, poltica
e justia se unem a partir do conceito
de igualdade. Somente entre iguais
possvel que homens, realmente livres,
estabeleam parmetros para uma vida
melhor em sociedade.
Por sua vez, deve-se ter o cuidado
para no se fazer qualquer confuso
entre o direito e a justia. A noo de
justia muito maior do que a noo
de direito, que, como construo de
poder, costuma realizar uma limitao,
no raras vezes indevida, do primeiro
conceito. E, aqui, h um problema, pos-
to que o direito, em si, tem verdadeira
difculdade em lidar com a noo de
igualdade, tpica do conceito de justia.
interessante perceber como, em
diversas oportunidades, a liberdade e
a igualdade so vistas como conceitos
antagnicos. A equao, em geral, a
seguinte: liberdade versus igualdade.
Essa observao no se cinge ao direi-
to, mas atinge os mais diversos cam-
pos cientfcos de observao de ambas
(sociologia, flosofa e outros afns).
No direito, a questo se acentua,
visto que a liberdade , como se d em
qualquer fenmeno jurdico, diminuda
na sua real extenso. A explicao
clara: o positivismo jurdico est ha-
bituado a realizar recortes, evitando a
t ot al i dade. Assi m, a l i berdade ou
a igualdade apenas so representadas,
no direito, por traos que mais se pare-
cem com caricaturas de uma realidade
muito mais ampla e densa.
fato, j de incio, que, no ca-
pitalismo, a liberdade , em si mes-
ma, uma fco. Na verdade, estamos
muito mais limitados nos nossos ru-
mos do que pensamos e mais limita-
dos no agir do que imaginamos. Isso,
no obstante, realado e mesmo
acentuado pela dimenso do direito.
Assim, temos, na Consolidao das
Leis do Trabalho (CLT), a jornada li-
mitadora de trabalho, e o que aparece
como uma conquista da civilizao, na
Dicionrio da Educao do Campo
190
medida em que houve a sua diminui-
o; porm, esta mesma jornada imposta
pode ser vista, pelo vis do trabalhador,
como algo que restringe a liberdade. No
direito civil, podemos citar os limites s
nossas aes por clusulas contratuais,
s quais, mais aparentemente do que
qualquer outra coisa, encontramo-nos
livres para aderir. No direito penal, a
imposio da pena fator restritivo de
nossa liberdade.
Logo, o direito apenas mais um
instrumento efcaz de restrio das li-
berdades. claro que alguns utilitaristas
imediatamente iro lembrar que a liber-
dade de um comea onde a liberdade do
outro termina. Portanto, qualquer um
completamente livre, desde que no im-
pinja, em nome de sua liberdade, nus
liberdade de outra pessoa.
No de se estranhar que esse ra-
ciocnio simplista remonte ao sculo
XIX, s observaes de Stuart Mill em
sua clssica obra Sobre a liberdade. No
entanto, no capitalismo, a apurao
da liberdade a ser preservada em face da
liberdade de outro no passa de sim-
ples iluso. A liberdade, nessa lgi-
ca, substituda imediatamente pela
ideia de interesse. O que era liberdade,
no capitalismo, equivale a liberdade/
interesse. A noo de interesse, por sua
vez, est intimamente relacionada com
a de poder. Prevalecem as liberdades,
isto , os interesses dos que detm o
poder. Logo, no capitalismo, liberdade
o mesmo que interesse/poder.
A igualdade, nesse contexto, passa a
ser uma dimenso menor. No se pode
fazer que algum desigual possa, para
receber certo benefcio social, esco-
lher se pretende, ou no, submeter-se
s regras de algum mais poderoso que
escolheu por ele. Dizer que a lei obra de
todos uma falcia, pois o Legislativo,
que impingiu as condies, escolhido
em eleio popular. claro que aqui
no podemos nos sentir confort-
veis com tais frases feitas e de pou-
co contedo no mundo dos fatos. O
mundo real, aquele que palpita l fora,
mostra que os poderes hoje so apenas
arremedo da vontade popular.
Ora, se os prprios interessados
esto alijados do processo de escolhas,
no h como se admitir que sero livres
com a imposio de condies que al-
guns acreditam que lhes faro livres. A
lgica de capacidades para a constru-
o de liberdades, assim, merece cr-
ticas: que capacidades? Decididas por
quem? Para fazer construir que tipo de
mundo? Alis, aqui estamos diante
de qualquer crtica que se possa fazer
meritocracia, e devemos nos lembrar
das palavras de Paulo Freire, para quem
ningum deve ser considerado titular
da autonomia do outro.
Caso no se observem as crticas
anteriores, no estamos jogando um
jogo de iguais. E liberdade sem igual-
dade no signifca coisa alguma.
Por isso, entende-se por que alguns
preferem fazer uma leitura dicotmica
da igualdade em relao liberdade.
Colocadas em lados opostos, fca muito
mais fcil para a lgica capitalista a sua
prpria consolidao. Um capitalismo
em que igualdade e liberdade, e acres-
cento aqui, solidariedade, fossem postas
lado a lado, certamente seria muito dif-
cil se no impossvel de concretizar.
Logo, a relao entre poltica e jus-
tia, observados ainda os limites do di-
reito posto, est na busca da superao
dos limites de igualdade/liberdade im-
postos pela ordem capitalista.
Agora j temos elementos para o
segundo aspecto: o direito de resistn-
cia como espao para a conquista de
novos direitos. Somente a arena polti-
191
D
Defesa de Direitos
ca, na condio de lugar de resistncia,
capaz de fazer gerar maior criao de
justia como lugar da igualdade/liber-
dade. Sem a primeira, a segunda no se
realiza; sem a segunda, a primeira im-
possvel. Portanto, a resistncia a uma
ordem estabelecida conforme certos
padres indicados pela lgica poder/
interesse de certos setores menos com-
prometidos com o bem-estar geral da
coletividade a nica forma de esta-
belecer uma sociedade mais justa. So-
mente mediante o exerccio do direito
de resistncia que podem surgir no-
vos direitos, com o que a justia se far
mais presente.
Diante da violncia existente em
uma sociedade contra determinados
grupos, admite-se o direito de resistn-
cia. H os que falam em direito deso-
bedincia civil, postulado por autores
liberais como Ronaldo Dworkin, em
sua conhecida obra Levando os direitos
a srio. H os que falam em direito
revoluo, alcunhada pelo prestigiado
constitucionalista Friedrich Mller, no
seu Fragmento (sobre) o poder constituinte
do povo, que narra o seguinte episdio:
O ltimo governante da dinastia de
Habsburgo reagiu informao: Majes-
tade, revoluo! com a pergunta Pois
, mas ser que eles podem fazer isso?
(Mller, 2004, p. 14).
Preferimos, em consonncia com a
mais moderna teoria dos direitos huma-
nos, falar em direito de resistncia ou de
legtima defesa social nos casos em que
haja o desrespeito aos direitos fundamen-
tais dos segmentos mais pobres da socie-
dade, direitos ligados ao que h de mais
bsico e rudimentar na existncia huma-
na; coisas como direito terra, moradia,
alimentao e ao trabalho, por exemplo.
Passamos, por fm, para o ltimo
item de nossa anlise, em que tratamos
da noo de justiciabilidade. Ela pode-
ria ser considerada, de forma bastante
simplista, a possibilidade de se levar
aos canais institucionais a luta pelos
direitos, conseguidos por meio da re-
sistncia, que se realiza pela poltica e
se concretiza, tambm institucional-
mente, pelo direito resistncia. Nessa
esfera, a justia busca se realizar por in-
termdio da luta nos canais institudos,
para a construo de uma sociedade
mais justa. Essa justiciabilidade geral-
mente concebida em uma noo mais
restrita, confundindo-se com a busca
pelos direitos no Poder Judicirio. Pre-
ferimos acreditar em uma noo mais
ampla, em que ela aparea como a pr-
pria expresso da resistncia, com base
na noo de justia, em todos os canais
institudos em que se d a construo
do direito (inclusive nos poderes Legis-
lativo e Executivo).
Poltica, justia, resistncia, con-
quista de direitos e justiciabilidade so
expresses que se complementam na
busca de uma sociedade que supere as
limitaes daquela sociedade forma-
tada nos atuais moldes restritivos do
capitalismo. Para tanto, indispensvel
uma leitura sempre crtica do direito
e a percepo de que a superao so-
mente se faz a partir de uma socieda-
de mobilizada, para a qual a noo de
justia como expresso da igualdade
mais importante do que o prprio di-
reito. Somente a participao poltica
forma de concretizao da igualdade.
Conclumos lembrando que o direito
no emancipa ningum. So as prprias
pessoas, livres, iguais e, especialmente,
interagindo dentro de organizaes,
movimentos populares, partidos polti-
cos, sindicatos, associaes, descobrin-
do-se como agentes da sua histria e
da histria do seu pas, aprendendo a
intervir e intervindo coletivamente na
sociedade, que se emancipam.
Dicionrio da Educao do Campo
192
Para saber mais
CANOTILHO, J. J. G.; CORREIA, E. P. B.; CORREIA, M. O. G. Direitos fundamentais
sociais. So Paulo: Saraiva, 2010.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
LYRA FILHO, R. O que direito. So Paulo: Brasiliense, 1982.
MLLER, F. Fragmento (sobre) o poder constituinte do povo. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004.
D
DEMOCRACIA
Virgnia Fontes
O tema da democracia um dos
mais fascinantes e mais difceis de tra-
balhar nas cincias humanas, pois es-
pelha fortes tenses na vida social, que
se refetem no interior da produo
de conhecimento.
Para alguns, o conceito pode ser
politicamente circunscrito ao quadro
jurdico do Estado e ao seu arcabouo
institucional e, sobretudo, eleitoral. A
democracia seria uma forma especfca
de organizao da vida poltica e ad-
mitiria vis descritivo (e prescritivo).
Aproximado noo de cidadania,
expressaria um ponto culminante na
histria humana, em razo da aquisi-
o de direitos civis, polticos e sociais
(Marshall, 1967). Mesmo para esses, a
democracia muitas vezes apresentada
de maneira fuida, como uma ideia,
simples, atrativa, renitente e, por vezes,
assustadora (Dunn, 1995, p. 9-11).
Para outros, dentre os quais me in-
cluo, o conceito no pode ser defnido
de maneira isolada das demais condi-
es socioeconmicas e culturais que
organizam a vida social: a poltica resta
tolhida se no tem acesso s decises
cruciais da vida econmica, se elas per-
manecem blindadas sob a propriedade
do capital. A democracia denota na atua-
lidade ao mesmo tempo um conjunto
de reivindicaes e uma forma institu-
cional, muitas vezes confitantes.
Sob o capitalismo, hoje mundial-
mente dominante e produtor de desi-
gualdades, a conquista de direitos, fruto
de lutas sociais e polticas, quando res-
trita ao mbito jurdico-poltico, per-
manece limitada. Conquistas polticas
reais e signifcativas so coaguladas
pela disparidade do poder econmico,
poltico, social e cultural que emana
da grande propriedade. As lutas pela
democracia, se no enfrentam o con-
junto das determinaes da vida social,
podem alcanar relevantes vitrias par-
ciais, mas tambm podem se converter
em formas de acomodao de alguns
setores populares, como muitas vezes
ocorreu no processo histrico.
Tomaremos o termo em seu senti-
do mais amplo e no circunscrito. Em
lugar de considerar a democracia
193
D
Democracia
como algo fnalizado com a implanta-
o de um regime poltico, como suge-
re a primeira defnio, introduziremos
o vis da reivindicao democrtica
ou da democratizao (Lukcs, 1998,
p. 15-16) como correspondendo a uma
antiqussima aspirao, o que no a im-
pede de ser mais atual do que nunca:
assegurar a igualdade (que diferente
da homogeneidade) de todos os seres
sociais, garantir a liberdade de todos e
de cada um, proceder de maneira que a
direo do destino coletivo emane de
todos, e que os benefcios e prejuzos
das decises, com seus erros e acertos,
revertam a todos.
As reivindicaes democrticas no
se limitam a um anseio genrico, mas
remetem a lutas concretas de classes
exploradas, de subalternos e oprimidos,
em diferentes sociedades e em diversos
perodos histricos. A histria dos ex-
perimentos democrticos complexa:
muitas vezes reivindicaes democrti-
cas obtiveram melhores condies para
alguns setores subalternos, ou a incor-
porao de alguns grupos na dinmica
social dominante, sem necessariamente
colocar em xeque o conjunto da desi-
gualdade e sem assegurar para todos as
liberdades experimentadas por alguns.
A reivindicao democrtica ser trata-
da aqui como a constante atualizao
das lutas dos subalternos pela demo-
cratizao permanente, isto , pela rea-
lizao concreta das aspiraes liber-
dade e igualdade.
As variadas experincias histri-
cas de democratizao revelam-se ao
mesmo tempo originais e limitadas,
demonstrando a intensidade de sua
persistncia. As lutas democratizan-
tes e suas experincias concretas rara-
mente se circunscreveram forma de
governo; ao contrrio, relacionam-se
ao conjunto das relaes sociais das
quais emergem.
A democracia ateniense
difcil datar o momento preciso
em que as lutas pela democracia se ini-
ciam: o relato histrico raramente con-
solida as lutas dos subalternos, e tende
a registr-los apenas quando a subver-
so da ordem dramtica ou quando
conquistam alguma vitria importan-
te, ainda que dbil e frgil. A datao
clssica relaciona o nascimento da de-
mocracia Atenas do sculo V a.C.,
onde se forjou o prprio termo. Essa
uma referncia fundamental, pois ali
se instaurou um regime social com teor
radicalmente distinto dos at ento
conhecidos, com intensa participao
popular e iniciativas igualitrias. Tal
nfase na experincia grega todavia
parcial, pois esquece as lutas anteriores
de muitos outros povos mesmo se os
termos empregados fossem outros
e que, mesmo derrotadas, deixaram
marcas nos seus sucessores; esquece as
infuncias recprocas entre os povos;
e, fnalmente, uma atitude que pode
confortar eurocentrismos, como se as
lutas por democracia comeassem na
Europa, e isso garantisse uma espcie
de qualidade superior e nica expe-
rincia europeia (Dussel, 2005). Mui-
tos autores sublinham a existncia de
diversas infuncias anteriores expe-
rincia ateniense infuncias negras,
oriundas do Egito; infuncias fencias
(Hornblower, 1995) , demonstrando
que o processo histrico no linear,
mas complexo e contraditrio.
Assim, se as lutas sociais no se
iniciam com Atenas, ou, melhor dizen-
do, com a tica o territrio da ci-
dade-Estado no qual se situava Atenas,
Dicionrio da Educao do Campo
194
local da atual capital grega , foi ali que
a democracia encontrou no apenas a
sua primeira realizao mais duradoura,
mas tambm suscitou intensa literatura.
O termo democracia, em grego, embo-
ra signifque governo do povo, repre-
sentou bem mais do que isso, envol-
vendo modificaes expressivas na
vida social. A construo da experincia
democrtica grega muito contradit-
ria, porm riqussima do ponto de vista
da consolidao prtica de uma expe-
rincia original e das tenses que ex-
plicitou precocemente sobre a relao
entre forma de governo e vida social
(Mazzeo, 2009).
A cidade-Estado (plis) de Atenas
era predominantemente agrria, porm
o crescimento das desigualdades e a
constituio de grandes famlias levara
a processos de escravizao por dvi-
das, opondo grandes e pequenos pro-
dutores agrrios. A origem ateniense
da democracia remete, portanto, luta
entre pequenos camponeses e grandes
proprietrios de terras. A escravido
era disseminada no mundo antigo sob
mltiplos formatos. Para Ellen Wood
os gregos no inventaram a escravi-
do, mas, em certo sentido, inventaram
o trabalho livre (2003, p. 157), pois a
luta camponesa contra a sua escravi-
zao tornaria evidente a conexo da
liberdade com a igualdade. Wood en-
fatiza a importncia desse carter cam-
pons da democracia ateniense: No
seria exagero afrmar, por exemplo,
que a verdadeira caracterstica da plis
como forma de organizao de Estado
exatamente essa, a unio de trabalho e
cidadania especfca da cidadania campo-
nesa (ibid., p. 162).
A importncia dessa luta pela liber-
tao camponesa no pode ser diminu-
da, mesmo se resultou numa formid-
vel contradio: ao resistirem contra a
sua prpria escravido, esses campone-
ses admitiram o crescente ingresso de
escravos de outras regies, que, dora-
vante, realizariam as tarefas que ante-
riormente lhes incumbiam nas terras
dos grandes proprietrios, no traba-
lho das minas e nos servios doms-
ti cos. Democraci a e escravi do em
Atenas estiveram unidas de maneira
inseparvel (Wood, 2003, p. 161).
Esses embates no se limitaram,
porm, libertao dos camponeses
atenienses, e desembocaram numa cres-
cente participao dos homens adultos
atenienses mulheres e estrangeiros li-
vres estavam excludos nos processos
de deciso coletiva e na garantia de uma
crescente igualdade entre eles. Por essa
razo, difcil afrmar como o fazem
muitos que a experincia democrtica
grega se limitou ao terreno da poltica,
embora seja considerada o momento da
inveno da poltica (Finley, 1985).
Vejamos algumas das inovaes da de-
mocracia ateniense. Lembremos que
Atenas, durante o auge da experincia
democrtica, contava com uma popu-
lao de algo mais de 200 mil pessoas,
dentre as quais um mximo de 40 mil
homens adultos (livres e cidados), e
seu contingente de escravos situava-se
em torno de 80 mil pessoas.
Atenas, no perodo democrtico
mais signifcativo, era dirigida por um
conselho com quinhentos integrantes,
provenientes de todas as circunscri-
es, urbanas ou rurais (os demoi), que
somente poderiam ser indicados duas
vezes em toda a sua vida, o que garan-
tia uma participao rotativa e ampliada
nas decises da vida social. Seus inte-
grantes tinham direito a uma remune-
rao pblica, assim como os jurados,
permitindo a participao plena dos
195
D
Democracia
camponeses pobres. Tratava-se de uma
democracia direta, e no representati-
va: todos os cidados podiam assistir
assembleia: inexistiam funcionrios e
burocracia. O governo era exercido de
fato pelos homens atenienses adultos,
que conquistaram pleno direito fala.
A assembleia decidia sobre todos os
assuntos, realizando pelo menos qua-
renta reunies por ano e era composta
por milhares de cidados de mais de 20
anos. As decises eram tomadas por
maioria simples. Grande parte dos car-
gos era ocupada por sorteio. Isso favo-
recia a disseminao do conhecimento
prtico das questes sociopolticas e
impedia a formao de um corpo de
profssionais da poltica.
As guerras e a expanso imperial
ateniense trariam ainda mais complexi-
dade a esse quadro. As difceis vitrias
de Atenas contra as tentativas de in-
vaso persa (as guerras mdicas, entre
490 e 479 a.C.) resultaram na expanso
imperial da cidade-Estado, mediante
o seu predomnio na Confederao de
Delos. A riqueza assegurada pelo Imp-
rio permitiria a reduo das tenses e
lutas internas, levando um grande espe-
cialista a asseverar: de fato, o que eu
sustento que o sistema plenamente
democrtico da segunda metade do s-
culo V a.C. no teria sido introduzido
se no houvesse o Imprio ateniense
1
(Finley, 1976, p. 105; nossa traduo).
As profundas contradies que marca-
ram a democracia ateniense seriam rea-
tualizadas em muitos outros perodos
histricos, razo pela qual devem evitar-
se julgamentos apressados dessas ex-
perincias histricas, quer tornando-as
modelares, quer desqualifcando-as.
Tambm em Roma ocorreram
formidveis lutas, com algumas sig-
nifcativas conquistas, embora jamais
tenham atingido o patamar ateniense.
Mencionando o perodo fnal da Re-
pblica Romana, Finley diz que os
oradores e os escritores desse pero-
do mostram uma conscincia de clas-
se to explcita que apenas um histo-
riador moderno muito limitado pode
silenciar sobre as divises de classe
2
(Finley, 1985, p. 24; nossa traduo).
Apesar de importantes conquistas ple-
beias como o direito aos casamentos
mistos, o fm da escravido por dvi-
das, a criao de tribunos da plebe (e
de suas votaes, os plebiscitos) ,
elas permaneceram subordinadas s
cmaras integradas pelos patrcios e,
em muitos casos, foram posteriormente
eliminadas pela aristocracia patrcia.
Democracia e capitalismo
Ser com a consolidao do capi-
talismo, sobretudo a partir do fnal do
sculo XVIII, que as reivindicaes de-
mocratizantes voltaro cena histrica
de maneira mais frequente e com no-
vos desdobramentos, porm tambm
reatualizando antigos impasses. Trata-
se de uma peculiar confgurao hist-
rica e social que revolucionou comple-
tamente as relaes sociais anteriores,
baseadas na vida camponesa e servil das
grandes massas e na existncia de uma
nobreza guerreira. A dinmica capitalis-
ta recolocaria sob outro formato o tema
da liberdade e da igualdade sociais.
Para apreender as complexas deter-
minaes que envolvem o tema da de-
mocracia, permitindo refetir sobre ela
de maneira mais ampla, convm averi-
guar os fundamentos da liberdade e da
igualdade em sociedades regidas pela
lgica capitalista. Como sabemos, o
capitalismo uma forma especfca de
relao social, na qual a grande maioria
Dicionrio da Educao do Campo
196
da populao desprovida de meios de
assegurar a prpria existncia (despro-
vida de meios de produo). Essa mas-
sa urbana e livre originou-se da expro-
priao do povo do campo que, sem
poder assegurar sua sobrevivncia, teve
de vender o que lhe restava: a capacidade
de trabalhar. Esse trgico processo de
expulso camponesa, entretanto, ser
apresentado como a realizao da anti-
ga aspirao de liberdade, uma vez que
agora os trabalhadores livres no esto
mais submetidos ao controle direto de
um proprietrio (como estavam os ser-
vos ou os escravos). Essa nova liberda-
de, a de no mais depender diretamen-
te de um senhor, revela-se incompleta,
pois a condio da sujeio aos capri-
chos do mercado de trabalho.
Vejamos agora o que concerne
igualdade. Os proprietrios de meios
de produo (os detentores da rique-
za econmica) compram essa fora de
trabalho como qualquer outra merca-
doria, pelo seu valor, que corresponde
ao tempo socialmente necessrio para
reproduzir o prprio trabalhador, mas
dispem do uso dessa fora por certo
lapso de tempo, no qual podem faz-lo
trabalhar muito mais do que o corres-
pondente ao valor dessa fora. O ser
humano capaz de produzir muito
mais do que necessita para sobreviver, e
esse excedente de trabalho que cons-
titui o fundamento do lucro capitalista.
A relao que se estabelece entre os
detentores de meios de produo (meios
que permitem produzir bens e assegurar
a reproduo da existncia) e os trabalha-
dores necessitados de vender sua fora
de trabalho considerada uma relao
entre iguais, como a que supostamente
ocorre em qualquer relao mercantil,
qualquer relao de compra e venda.
Como se observa, uma profunda
desigualdade se oculta nesta relao
de tipo contratual: para uns, vender a
fora de trabalho condio necessria
e urgente para garantir a prpria sub-
sistncia; ademais, o crescimento da
populao exacerba a concorrncia
entre eles. Assim, a venda da fora de
trabalho precisa ser assegurada no
apenas eventualmente, mas de manei-
ra permanente. Ora, mesmo quando
o trabalhador consegue vend-la, no
tem nenhuma garantia de conseguir a
sua permanncia: o risco da demisso
sempre iminente. A prpria existncia
est em jogo.
Para os proprietrios, os trabalha-
dores sero admitidos ou demitidos,
segundo a convenincia para a valori-
zao de seu capital, e eles tendem a
fgurar apenas como mais uma pea na
engrenagem do processo produtivo.
Sem trabalhadores, a dinmica capita-
lista no pode existir, mas lhe indi-
ferente e mesmo conveniente que
haja enorme quantidade de trabalha-
dores procurando trabalho, ofertando-
se ao menor preo. Dessa forma, ser
possvel obter maior obedincia dos
trabalhadores, atemorizados com a
concorrncia e com a demisso.
A desigualdade social o contraste
entre a riqueza e a necessidade a
base da suposta igualdade na relao de
compra e venda da fora de trabalho.
Essa relao traduzida juridicamen-
te na forma do contrato forma
que, inclusive, fornece o modelo para
a suposio de que o prprio Estado
resultaria de uma adeso voluntria a
um pacto ou contrato realizado
igualmente por todos e, por essa razo,
tornado legtimo e insupervel. Trata-
se de uma igualdade apenas formal,
cuja essncia preserva e aprofunda a
desigualdade entre os seres sociais.
A liberdade e a igualdade existentes
sob o capitalismo so contraditrias.
197
D
Democracia
Expressam conquistas histricas, mas
reforam e resultam de desigualdades
sociais que tolhem a liberdade da gran-
de maioria. Marx e Engels realizaram a
mais profunda crtica da sociedade ca-
pitalista. Mostraram claramente como
a ordem jurdica burguesa inclusive a
que rege os processos eleitorais resul-
ta de uma profunda ciso social, tradu-
zida na contraposio entre o mbito
privado e o pblico. Essa ciso exaspe-
ra dois nveis de contradio: preserva a
propriedade privada, que condensa
e concentra crescentemente o poder
econmico, ao mesmo tempo em que
idealiza o Estado, como se ele respon-
desse a todos de maneira homognea,
como se fosse uma razo acima da vida
social. A igualdade formal perante a lei
legitima e protege a desigualdade real.
Marx, comentando sobre a separa-
o entre Estado e religio, considera-
va que no h dvida de que a eman-
cipao poltica [do Estado diante das
religies particulares] representa um
grande progresso (Marx, 2005, p. 22).
No obstante, esse progresso perma-
nece insufciente no que diz respeito
emancipao real da humanidade, que
somente pode fundar-se na sua prtica
concreta de produo e reproduo da
existncia. O papel real da propriedade
privada na vida social capitalista ocul-
tado sob a forma cindida da poltica,
na qual predomina a idealizao formal
da igualdade:
O Estado anula, a seu modo, as
diferenas de nascimento, de status
social, de cultura e de ocupao, ao
declarar o nascimento, o status
social, a cultura e a ocupao
do homem como diferenas
no polticas, ao proclamar todo
membro do povo, sem atender
a estas diferenas, coparticipan-
te da soberania popular em base
de igualdade, ao abordar todos os
elementos da vida real do povo
do ponto de vista do Estado.
Contudo, o Estado deixa que a
propriedade privada, a cultura e
a ocupao atuem a seu modo, isto
, como propriedade privada,
como cultura e como ocupao,
e faam valer a sua natureza es-
pecial. Longe de acabar com es-
tas diferenas de fato, o Estado
s existe sobre tais premissas,
s se sente como Estado poltico
e s faz valer sua generalidade em
contraposio a estes elementos
seus. (Marx, 2005, p. 22)
No segundo nvel de contradio,
Marx sublinha como a forma da pro-
duo organizada pelos grandes pro-
prietrios tende a ser socializada, isto ,
realizada de maneira cooperada por to-
dos os trabalhadores, cada vez mais in-
tegrados numa extensa e complexa ca-
deia produtiva e que abrange territrios
cada vez maiores, enquanto a forma da
propriedade e da organizao da vida
social segue regida pela propriedade pri-
vada, cada dia mais concentrada. Rea-
frma a urgncia da superao da ciso
entre a vida efetiva da grande maioria a
socializao do processo produtivo
e a forma pela qual ela se apresenta,
alienada propriedade privada, sob o
Estado capitalista. Antonio Gramsci,
o grande pensador italiano, acrescentaria
que as lutas histricas dos trabalhadores
envolviam tanto a socializao real da
existncia (com o fm da propriedade
privada dos meios de produo) quanto
a socializao da poltica.
A reiterao cotidiana dessas con-
tradies suscita no conjunto das pes-
soas comuns a percepo tanto das
limitaes de sua liberdade quanto da
inexistncia efetiva de igualdade em
Dicionrio da Educao do Campo
198
contratos (formalizados ou no) esta-
belecidos entre desiguais. As reivindi-
caes democratizantes, portanto, se
intensifcam sob o capitalismo, procu-
rando superar as limitaes impostas
por essa forma social de existir que ao
mesmo tempo exalta a importncia da
liberdade e da igualdade e as reduz a
palavras com escasso sentido.
Duas grandes guerras civis marca-
ram o novo poder burgus: as revolu-
es inglesas do sculo XVII e a Revo-
luo Francesa de 1789. As palavras de
ordem desta ltima, Liberdade, Igual-
dade e Fraternidade, demonstram a
marca popular mesclada com as propo-
sies da burguesia ento ascendente,
limitadas a uma reorganizao do Esta-
do. Derrotados os setores populares, a
Revoluo Francesa traduziria a vitria
poltica da burguesia sobre a nobre-
za precedente. Entretanto, o Estado
que se seguiu a tais lutas nada tinha
de democrtico.
Ao longo de todo o sculo XIX,
trabalhadores europeus lutaram ardua-
mente, com objetivos de abrangncias
diversas: reivindicavam sobretudo di-
reito ao trabalho (jamais conseguido),
participao nos processos de sele-
o de dirigentes, educao pblica
e laica; e construram formas prprias
de organizao, enfrentando longussi-
ma e violenta proibio da associao
de trabalhadores etc. Muitas dessas lu-
tas foram derrotadas em verdadeiros
banhos de sangue, como ocorreu na
Comuna de Paris em 1871, quando os
trabalhadores e a populao assumiram
seu autogoverno, em todas as dimen-
ses da vida: econmica, cultural, edu-
cativa, poltica etc.
As lutas sociais expressavam a pos-
sibilidade efetiva de transformar com-
pletamente a forma de ser social, de
revolucionar o conjunto da existncia.
Essa nova organizao concreta e a
cada dia mais slida de trabalhadores
passou a atemorizar os setores domi-
nantes, resultando em modalidades
gradativas (mas segmentadas) de de-
mocratizao, cuja expresso mais
conhecida o direito sindicalizao
e ao sufrgio, implantados a partir
de finais do sculo XIX. Esse ltimo
somente se tornaria universal poste-
riormente, j bem entrado o sculo
XX, quando ocorreu o acesso ao voto
para as mulheres.
Novamente, foram conquistas sig-
nifcativas e contraditrias. Com sua
incorporao poltica, os trabalhado-
res, em maior nmero, poderiam (ao
menos em princpio) alterar a forma da
organizao da vida social. No entan-
to, as conquistas tiveram tambm um
gosto amargo, levando alguns autores
a consider-las uma domesticao
elitista (Hobsbawm, 1988, p. 125-162),
pois a institucionalizao do sufrgio
levou ao desmantelamento da lgica da
organizao nacional dos trabalhado-
res e uma nova retrica velada dos par-
lamentares substitua o debate franco e
aberto. Alm disso, o ingresso no par-
lamento modifcava a atuao de certos
representantes dos trabalhadores que,
afastados de seu meio de origem, se
acostumavam aos ambientes luxuosos
e passavam a atuar conjuntamente com
as classes dominantes. Os custos das
campanhas eleitorais, que demonstra-
vam a importncia crescente do poder
econmico, fzeram pensadores libe-
rais como Schumpeter, em meados do
sculo XX, dizerem abertamente que o
sufrgio universal no signifcava uma
escolha popular, antes expressava a
constituio de um mercado eleitoral.
A Revoluo Russa de 1917 e a
persistncia da Unio Sovitica aps
a Segunda Guerra Mundial introdu-
ziram uma tenso constante entre
199
D
Democracia
um projeto socialista, de democracia
social com forte teor igualitrio, e o
mundo capitalista, que exibia uma de-
mocracia poltica sob a qual se gene-
ralizaram importantes direitos sociais,
sobretudo para as populaes euro-
peias e estadunidenses, no que ficou
conhecido como o Estado de bem-
estar social. A experincia sovitica,
cuja influncia foi relevante para asse-
gurar conquistas sociais em inmeros
pases, apesar de ter resultado de um
formidvel processo revolucionrio,
converteu-se numa ditadura partidria
com reduzida participao das grandes
massas na conduo da vida social, o
que levaria ao crescimento de desigual-
dades internas que minavam o discurso
ofcial e levariam sua derrocada.
As prerrogativas democrticas mo-
dernas, duramente conquistadas em
diversos pases, sobretudo a partir do
sculo XIX, so, entretanto, constan-
temente revertidas no seu contrrio:
pelo seu amesquinhamento, ao serem
reduzidas liberdade da circulao
da propriedade e de mercado, ou pe-
los recursos cada vez mais faranicos
envolvidos nos processos eleitorais,
o que reafrma o poder econmico
(e cultural) na institucionalidade do Es-
tado. Embora o sufrgio universal seja
vitria da imensa maioria da popula-
o, a permanncia das classes sociais
impede a sua evoluo democratizante
(Macpherson, 1978), gerando cinicamen-
te redues da liberdade e da igualdade:
A prpria condio que torna
possvel definir democracia
como se faz nas sociedades li-
berais capitalistas modernas
a separao e o isolamento da
esfera econmica e sua invul-
nerabilidade ao poder demo-
crtico. Proteger essa invul-
nerabilidade passou a ser um
critrio essencial de democra-
cia. Essa definio nos permite
invocar a democracia contra a
oferta de poder ao povo na es-
fera econmica. Torna mesmo
possvel invocar a democracia
em defesa da reduo dos di-
reitos democrticos em outras
partes da sociedade civil ou
no domnio poltico, se isso for
necessrio para proteger a pro-
priedade e o mercado contra
o poder democrtico. (Wood,
2003, p. 202)
Antes mesmo do fnal da Unio
das Repblicas Socialistas Soviticas
(URSS), ao longo de toda a dcada de
1980, tambm nos pases capitalistas, as
conquistas de teor democrtico estive-
ram sob ataque. Crescia o processo de
blindagem do controle econmico (e mi-
ditico) em relao s decises polticas,
acarretando sucessivas perdas de direi-
tos sociais, que prosseguem em nossos
dias. Neste ano de 2011, multiplicam-se
em todo o mundo reivindicaes e lu-
tas democratizantes, seja para superar
ditaduras, como nos pases rabes, seja
para denunciar o carter incompleto de
procedimentos eleitorais que se limitam
a reproduzir as desigualdades do capital
e do mercado, como na Espanha.
A democracia um conceito ina-
cabado e em processo. As reivindica-
es democratizantes incorporam as
lutas por igualdade e por liberdade,
que no podem estar isoladas. Por essa
razo, limitar a defnio de democra-
cia unicamente ao mbito poltico faz
submergir as reivindicaes igualitrias
sob o peso da institucionalizao da
propriedade do capital. Porm, a cons-
truo de uma efetiva socializao da
existncia supe a mais ampla e livre
participao das massas em todos os
processos decisrios.
Dicionrio da Educao do Campo
200
Notas
1
Ce que je soutiens en fait, cest que le sustme pleinement dmocratique de la seconde
moiti du Ve. s. av. J.C naurait pas t introduit sil ny avait eu lEmpire athnien.
2
[...] les orateurs et les crivains de cette priode (ou ceux qui en parlent) montrent une
conscience de classe si explicite que seul un historien moderne trs born peut garder un
silence total sur les divisions de classe.
Para saber mais
DUNN, J. (org.). Democracia: el viaje inacabado (508 a.C.-1993 d.C.). Barcelona:
Tusquets, 1995.
DUSSEL, E. Europa, modernidade e eurocentrismo. In: LANDER, E. A colonialidade
do saber. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 55-70.
FINLEY, M. I. Dmocratie antique et dmocratie moderne. Paris: Payot, 1976.
______. LInvention de la politique. Paris: Flammarion, 1985.
HOBSBAWM, E. J. A Era dos Imprios (1875-1914). Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1988.
HORNBLOWER, S. Creacin y desarrollo de las instituciones democrticas en la anti-
gua Grecia. In: DUNN, J. (org.). Democracia: el viaje inacabado (508 a.C.-1993 d. C.).
Barcelona: Tusquets, 1995. p. 13-29.
LUKCS, G. Socialisme et dmocratisation. Paris: Messidor, 1989.
MACHPERSON, C. B. A democracia liberal. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
MARX, K. A questo judaica. 5. ed. So Paulo: Centauro, 2005.
MAZZEO, A. C. O voo de Minerva. So Paulo: Boitempo/Editora da Unesp, 2009.
WOOD, E. M. Democracia contra capitalismo. So Paulo: Boitempo, 2003.
D
DESAPROPRIAO
Miguel Lanzellotti Baldez
Para bem entender o conceito ju-
rdico de desapropriao constitu-
cionalizado no Brasil como modo de
aquisio da propriedade pelo poder
pblico, ato discriminatrio da autori-
dade administrativa, que pode execut-
lo sem dar satisfao ou pedir licena
a qualquer outro poder institucional,
201
D
Desapropriao
necessria uma rpida considerao
poltica sobre o papel do direito numa
sociedade dividida em classes como a
nossa. Pois bem, o direito imposto no
Brasil, disfarado ou dissimulado em
regras abstratas quer dizer, normas
que consideram todos iguais, sem dis-
tinguir diferenas sociais nem econ-
micas , o direito construdo histori-
camente pela classe dominante, a classe
burguesa, hoje representada de modo
predominante pelo capital internacio-
nal. Essa preliminar fundamental
para bem entender-se que a desapro-
priao instrumento de interveno
administrativa vinculada e submissa
propriedade e, consequentemente, um
direito institudo como salvaguarda de
quem seja proprietrio. Ou seja, embo-
ra tratada como efeito jurdico que ex-
tingue a propriedade individual, consti-
tui, na verdade, o meio que assegura ao
expropriado a substituio do bem por
outro de igual valor, a indenizao (que
etimologicamente signifca deixar sem
danos o patrimnio do proprietrio),
cujo pagamento deve ser prvio, em di-
nheiro e conforme valor de mercado.
E o trabalhador alguma hora pro-
prietrio? s vezes , mas sendo, sem-
pre, ou quase sempre, construir a casa
prpria exige dele grande sacrifcio.
Compra ou ocupa um terreno e vai aos
poucos construindo a casa na medida
em que lhe sobra, no correr do tempo,
do parco salrio ou da noite de sobre-
trabalho, um tanto qualquer para iniciar
e prosseguir na construo, at que, pas-
sados cinco, oito, dez anos, tem a casa
pronta, ou, no mnimo, habitvel...
Mas muito difcil que, no campo
ou na cidade, o trabalhador consiga
tornar-se proprietrio, pois o Cdi-
go Civil, tanto o de 1916-1917 quanto
o atual, de 2002-2003, s admite qua-
tro modos de aquisio da propriedade:
registro imobilirio quando se trate de
ato entre vivos (venda e compra, que
exige disponibilidade de dinheiro, mo-
nopolizado pelo Estado em benefcio do
capital, e a rarssima doao), sucesso
hereditria, que serve para consolidar
patrimnios j formados, usucapio
hoje at certo ponto democratizado,
mas que historicamente serviu para
agregar terra ao latifndio , e acesso,
modos de aquisio claramente limita-
tivos e inacessveis aos trabalhadores.
Resta-lhes a posse ou apossamento
individual, como se d nas favelas, ou
coletivo, como se d principalmente no
campo pelo Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), ou ain-
da, na cidade, quando os trabalhadores,
afrmando coletivamente a necessidade
tica de morar, ocupam a terra. A o
trabalhador, inevitavelmente defnido
no campo do direito ofcial como pos-
suidor, ainda tem de lutar contra a vio-
lncia contida nas entranhas do capital,
para a conservao da posse.
Em suma, quando o poder pblico
exige das classes trabalhadoras, nas ci-
dades, a casa ou o terreno em que mo-
ram para destinar o bem a qualquer fm
pblico defnido na Constituio ou
em leis infraconstitucionais relativas
desapropriao, o mtodo, tratando-se
do trabalhador, a violncia contida na
prpria dialtica da sociedade brasilei-
ra, nas prticas de remoes coletivas
sabidamente admitidas por juzes e tri-
bunais, cuja leitura da realidade sem-
pre contaminada pela ideologia jurdica
prpria de sua formao burguesa.
Vale ressaltar que, no campo, em
face da tradio das lutas camponesas
que confuram para a bem-sucedida e
estratgica ao do MST relativamente
terra, o instituto da desapropriao
foi utilizado, de modo muito sutil e
Dicionrio da Educao do Campo
202
difcil de perceber, para difcultar, re-
tardar ou impedir a Reforma Agrria.
Entenda-se: nas desapropriaes para
Reforma Agrria, a terra expropriada
s ser suscetvel de desapropriao
quando for comprovadamente impro-
dutiva, abrindo-se assim largo lapso de
tempo, em processo administrativo e
judicial para que o latifndio, valendo-
se de meios legais ou ilegais, fabrique
uma duvidosa prova da produtivida-
de da terra. S depois de decorrido
esse lapso de tempo estar defnitiva-
mente concludo o ciclo necessrio
aquisio da terra e consumao do
assentamento. Isso se o processo e o
procedimento forem bem-sucedidos e
diferentes da desapropriao tradicio-
nal, historicamente defnida como ato
de imprio do poder pblico, cujo pro-
cedimento gil e efcaz quando visa
aos interesses, legtimos ou no, das ca-
madas privilegiadas da populao, ten-
do de longe e espreita a especulao
imobiliria, essa paroxstica modalidade
de produo capitalista da cidade.
Com relao ao trabalhador cuja
igualdade se esgota no carter abstra-
to da norma jurdica, a desapropriao
tem uma face dupla, ou no se aplica,
quando poderia, na cidade, favorecer
o possuidor do imvel, assegurando-
lhe o recebimento da indenizao pela
perda do bem, como prev a Consti-
tuio Federal; j no campo, quando
se desapropria para efetuar a Reforma
Agrria, modifca-se a estrutura legal
de seu procedimento com obstculos
e difculdades formais cujo objetivo
retardar ou impedir de vez a concluso
da Reforma Agrria.
No entanto, a desapropriao em
sua tecnicidade, traada pelo direi-
to burgus, o ritual de que mais se
vale o Estado tanto na cidade quanto
no campo quando trata da proteo
propriedade individual ou latifundiria.
Por isso, vale abord-la nos termos e
com as formalidades de seu tratamento
pelos tribunais e juristas do sistema.
Nesses termos, desapropriao
modo de aquisio da propriedade
pelo poder pblico, ato administrati-
vo de carter discricionrio quanto ao
mrito, pois cabe apenas autorida-
de competente reconhecer e declarar
a convenincia e a oportunidade da
desapropriao, desde que obedeci-
dos os parmetros formais defnidos
na Constituio Federal e nas leis in-
fraconstitucionais. Em regra, ato da
competncia privativa da Presidncia
da Repblica, dos governadores dos
estados e dos prefeitos municipais, nos
limites espaciais de cada unidade fede-
rativa. Modo originrio de aquisio
de bens, a desapropriao repercute no
campo do direito privado mediante a
perda da propriedade. Formal e rela-
tivamente ao bem objeto da desapro-
priao, ocorre assim, mas, na essn-
cia, a legislao constitui, no modo de
produo capitalista, a garantia maior
da propriedade individual. Isso por ins-
tituir-se na Constituio (artigo 5,
inciso XXIV) que a desapropriao s
se consumar depois de pago ou depo-
sitado o justo preo, em suma, depois
de substitudo o valor do bem pelo
valor indenizatrio (que etimologica-
mente signifca deixar sem danos); im-
plica, portanto, uma troca de valores
economicamente iguais.
Ainda no campo das relaes jur-
dicas privadas, o Cdigo Civil, como
no poderia deixar de ser, vai pontuar
todas as hipteses de incidncia do ato
expropriatrio nos interesses indivi-
duais, merecendo destaque a tredesti-
nao, ou desvio de fnalidade. Embora
203
D
Desapropriao
se permita ao expropriante variar seus
motivos, desde que obedea ao elenco
dos pressupostos legais autorizativos da
declarao de utilidade ou necessidade
pblica e de interesse social, a tredes-
tinao fora desses limites proibida.
Contudo, apesar de proibida a tredesti-
nao, no se admite, no direito positi-
vo brasileiro, a retrocesso ou retorno
do bem expropriado ao patrimnio
privado, cabendo ao antigo propriet-
rio, em caso de desistncia da desapro-
priao pelo poder pblico, apenas o
direito de preferncia na alienao do
bem, reconhecido subsequentemente
desapropriao, como desnecess-
rio ao fm a que se destinava. o que
dispe o artigo 519 do Cdigo Civil.
Quanto ao preo, desde que no haja
entre expropriante e expropriado acor-
do sobre seu valor, a indenizao ser
fxada em ao de procedimento espe-
cial a chamada ao de desapropria-
o. Nela no se admite, na tradio
do direito processual brasileiro, a even-
tual discutibilidade do mrito do de-
creto declaratrio e constitutivo da
desapropriao, exceo de pontuais
vcios formais, limitando-se o mrito
da demanda realizadas as condies da
ao e os pressupostos do processo ,
restritamente ao valor da indenizao,
ou seja, fxao do preo que o ex-
propriante dever pagar para adquirir
pela desapropriao o bem expropria-
do; nos termos da Constituio, o justo
preo do imvel.
Cabe aqui uma indagao processual
sobre a natureza da sentena de proce-
dncia nas aes de desapropriao ou
de fxao da indenizao expropriat-
ria, a fm de que se entenda a sua sujei-
o regra do artigo 100 da Constitui-
o Federal, que subordina o pagamento
das dvidas da Fazenda federal, estadual
e municipal e suas respectivas autar-
quias, em virtude de sentena, siste-
mtica dos precatrios com obedincia
ordem de apresentao. Anote-se que,
em se tratando de desapropriao, no
se pode falar de dvida em virtude de
sentena, porque ela s existe nos casos
de sentena condenatria, e a sentena
na ao expropriatria, admitindo-se a
contenciosidade da ao, tem natureza
meramente declaratria. Consequente-
mente, pode-se dizer que a aplicabili-
dade do artigo 100 da Constituio s
hipteses de pagamento da indenizao
por desapropriao deve-se a princpios
ticos de convenincia administrativa.
Sob o ngulo dos interesses priva-
dos, pode-se afrmar que a desapro-
priao constitui um dos principais
instrumentos de que dispe a indstria
imobiliria para a produo capitalis-
ta da cidade, admitindo-se inclusive a
cedncia da prtica expropriatria s
concessionrias de servios pblicos.
So vrias as modalidades objetivas
de desapropriao na produo do
urbano. Alm da forma mais usual e
comum a aquisio do bem para des-
tinao individuada prevista no decre-
to , admite-se a desapropriao por
zona e a modalidade, pouco comum
no Brasil, chamada excess condemnation,
algumas vezes confundidas e reduzidas
a uma titulao abrangente das duas
modalidades. Deve-se notar, porm,
que a desapropriao por zona tem por
objetivo evitar que, a partir do ato vin-
cadamente comprometido com o bem
necessrio fnalidade institucional,
outros de seu entorno sejam exagera-
damente valorizados, ao passo que a
excess condemnation meio de captao
de recursos para fnanciamento da
obra pblica ou reposio dos recursos
absorvidos pelo vulto da obra. Como
exemplo histrico, pode-se apontar,
no Rio de Janeiro, a abertura da ave-
Dicionrio da Educao do Campo
204
nida Presidente Vargas. As duas mo-
dalidades esto previstas no artigo 4
do decreto-lei n 3.365, de 1941, sob
o nome desapropriao por zona
(Brasil, 1941).
A Constituio de 1988, ao erigir
a funo social da propriedade como
garantia fundamental, incluiu o uso da
propriedade no elenco das garantias in-
dividuais e coletivas (artigo 5, inciso
XXIII). Em consequncia, previu a de-
sapropriao dos imveis urbanos ou
rurais que no cumprirem, segundo os
critrios que estabelece, sua funo so-
cial (artigo 182, inciso III, e artigos 184
e 186). H um dado que merece desta-
que nestas modalidades de desapropria-
o: seu compromisso com o interes-
se coletivo, uma vez que esse modelo
constitucional no se limita dico do
interesse historicamente defnido como
pblico na diviso maior do direito em
pblico e privado, alcanando em seus
efeitos as necessidades fundamentais de
camadas despossudas da coletividade.
A desapropriao prevista no arti-
go 182, inciso III, relativa aos imveis
urbanos, signifca a etapa derradeira
da sequncia de sanes estabelecidas
como penas pelo no uso ou mau uso da
propriedade. Esse tipo de sano, cujo
preo poder ser pago em ttulos da
dvida pblica com prazo de regaste de
at dez anos uma exceo regra que
exige pagamento prvio e em dinheiro ,
s ser possvel depois de esgotadas,
em ordem sucessiva prevista na Cons-
tituio Federal, as duas anteriores es-
pcies de sano: parcelamento ou edi-
fcao compulsrios e impostos sobre
propriedade predial e territorial urbana
progressivos no tempo, sujeitos ambos
a demorado procedimento.
Quanto desapropriao para fm
de Reforma Agrria mediante paga-
mento em ttulos da dvida pblica res-
gatveis no prazo de vinte anos, s ser
possvel quando se tratar de desapro-
priao de terra improdutiva a nica
susceptvel de desapropriao para Re-
forma Agrria, por no cumprir a sua
funo social, como preveem os arti-
gos 184 e 186 da Constituio.
Nessas duas situaes de desapro-
priao por interesse social para fns
que atendam a interesses coletivos e
modifquem poltica e juridicamente o
tratamento estrutural e estratgico da
terra, como j se anotou sobre o carter
poltico da desapropriao, confgura-
se importante repercusso no processo
expropriatrio em toda a sua extenso
e na chamada ao de desapropriao,
introduzindo-se, no campo amplo do
processo e no campo especfco da
ao, a discutibilidade tanto do mri-
to do ato administrativo, formalizado
no decreto declaratrio do interesse
social, quanto do mrito, em sentido
processual civil, da ao de desapro-
priao. Isso permite processualstica
que, nas aes tpicas para a reforma
urbana ou Reforma Agrria, discuta-se
tambm, em benfco do expropriado,
proprietrio de casas urbanas ou de
latifndios rurais, a legalidade do ato
administrativo, ou seja, se a terra cum-
pre ou no sua funo social, difcul-
tando-se, ou protelando-se no tempo,
a prtica dos atos processuais, sempre
que se trate de desapropriao no inte-
resse dos despossudos.
Algumas ponderaes devem ser
feitas em relao eventual urgncia
da desapropriao. O poder pblico
pode declarar, por meio de decreto,
quando necessrio, o carter urgente
da desapropriao, qualquer que seja
seu fundamento e a fnalidade que se
destina. Com a declarao de urgncia,
205
D
Desapropriao
fca o expropriante autorizado a imitir-
se (entrar) na posse do bem mediante
o depsito do valor que garanta, sem
prejuzo do expropriando, a imisso
definitiva na posse do bem quando,
afnal, for pago o preo pelo qual o ex-
propriante pode adquirir de vez o dito
bem. Na hiptese de imisso provis-
ria, trata-se de cauo, mera garantia.
Cabe, ainda, uma considerao so-
bre a efccia do decreto expropriatrio.
No ato, com ou sem imisso provis-
ria, de efccia meramente declaratria,
apesar do nome jurdico, pois produz,
alm de declarar a fnalidade da desa-
propriao, efeitos constitutivos, como
a permisso autoridade competente
para penetrar no bem e nele praticar
os atos necessrios medio e iden-
tificao da rea exproprianda. Com
a imisso provisria, suspende-se,
nessa rea, a incidncia de impostos
relativos ao bem. Paga ou deposita-
da a indenizao e imitido o expro-
priante na posse definitiva do bem,
encerra-se a expropriao. E por tra-
tar-se de aquisio originria, o re-
gistro do imvel, se houver, simples-
mente servir para dar publicidade
cadeia dominial.
Para saber mais
BRASIL. Decreto-lei n 3.365, de 21 de junho de 1941: dispe sobre desapro-
priaes por utilidade pblica. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, p. 14.427, 18 jul.
1941.
BALDEZ, M. L. A luta pela terra urbana. Revista de Direito da Procuradoria Geral do
Estado do Rio de Janeiro, n. 51, p. 152-170, 1998.
______. A terra no campo: a questo agrria. In: MOLINA, M. C.; SOUSA JR., J.
G.; TOURINHO NETO, F. da C. (org.). Introduo crtica ao direito agrrio. Braslia:
Editora UnB; So Paulo: Imprensa Ofcial do Estado de So Paulo, 2002. V. 3,
p. 95-106.
DREIFUSS, R. O jogo da direita. Petrpolis: Vozes, 1989.
MARTINS, J. de S. O cativeiro da terra. So Paulo: Cincias Humanas, 1979.
______. A Reforma Agrria e os limites na nova Repblica. So Paulo: Hucitec, 1986.
ROCHA, O. de A. O negro e a posse da terra no Brasil: negros e ndios no cativeiro da
terra. Rio de Janeiro: Iajup-Fase, 1989.
SANTOS, B. S. O Estado, o direito e a questo urbana. Revista Crtica de Cincias
Sociais, n. 9, p. 9-86, 1982.
Dicionrio da Educao do Campo
206
D
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
Carlos Eduardo Mazzetto Silva
O termo desenvolvimento susten-
tvel deve ser compreendido no con-
texto da evoluo das discusses relati-
vas s contradies entre crescimento
econmico e conservao da natureza.
Esse debate tem um marco histri-
co e institucional, a Conferncia de
Estocolmo de 1972, que teve como
tema o meio ambiente humano.
Desde a segunda metade da dcada
de 1960, as denncias de degradao e
poluio ambiental se intensifcaram.
Entre os novos movimentos sociais
que ascenderam nesse perodo da con-
tracultura, estava o movimento am-
bientalista. A subordinao sociedade
de consumo, a alienao em relao
natureza e os modos de vida urbano-
industriais que nos distanciam dela so
fenmenos que vo se explicitando
na chamada crise ambiental. O modelo
de produo e consumo ocidental-
capitalista, baseado no crescimento
econmico infnito, agora posto em
cheque do ponto de vista de sua perdu-
rabilidade material. Comea a ser colo-
cada a ideia dos limites do crescimento:
o planeta no infnito e seus recursos
no so infndveis. O esgotamento
dos recursos e a entropia
1
gerada pelo
modo industrial de apropriao da na-
tureza se traduzem em poluio e dete-
riorao da qualidade ambiental.
Um longo percurso conceitual-
ideolgico vai ser trilhado at chegar
ECO-92,
2
a conferncia mundial sobre
meio ambiente e desenvolvimento mais
importante da histria da humanidade.
A partir dela, a noo do desenvolvi-
mento sustentvel vai se consolidar
como caminho do meio, uma aborda-
gem capaz de encontrar, fnalmente, a
equao milagrosa da harmonia entre
crescimento econmico e conserva-
o da natureza. Essa legitimidade tem
como fato antecedente fundamental a
publicao do relatrio da Comisso
Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento Nosso futuro comum
popularmente chamado Relatrio
Brundtland (1988) , que vai disse-
minar defnitivamente o conceito do
desenvolvimento sustentvel.
Um conceito anterior:
o ecodesenvolvimento
importante ressaltar que o de-
senvolvimento sustentvel herdeiro
de um conceito anterior, da dcada de
1980, que j procurava discutir a ques-
to dos estilos de desenvolvimento. Deno-
minado ecodesenvolvimento, esse conceito
tocava em questes cruciais, como a
importao imposta do modelo de de-
senvolvimento dominante em sentido
unilateral, do Primeiro Mundo para o
Terceiro Mundo, como se chamavam
nessa poca o centro e as margens do
sistema-mundo. Questes como a rela-
o NorteSul, a opresso das dvidas
externas dos pases do Terceiro Mun-
do e a transferncia acrtica de tecnolo-
gia aparecem na abordagem de Ignacy
Sachs (1986) como geradoras de pro-
blemas socioambientais e impedidoras
da construo de novos estilos de de-
senvolvimento no Sul. Esses novos es-
207
D
Desenvolvimento Sustentvel
tilos deveriam incorporar noes como
participao local, diversidade cultural
e ecolgica, solues localmente adap-
tadas, pluralismo tecnolgico, solida-
riedade intergeracional, integrao das
diferentes dimenses (social, ecolgica,
cultural, econmica, territorial), mode-
los econmicos mais autossufcientes
e nfase na produo baseada na bio-
massa local (energia renovvel).
Sachs (1986) introduz o conceito
de ecorregio como unidade de plane-
jamento, visando operacionalizao
desses novos estilos de desenvolvi-
mento. O Estado cumpriria aqui papel
fundamental no planejamento e im-
plantao desse processo, mas tambm
se enfatiza a participao social local.
Segundo Sachs, a grande chance para
a realizao de verdadeiros Estados do
bem-estar pertence aos pases do Ter-
ceiro Mundo (ibid., p. 26). Para tanto,
deve-se buscar uma relao NorteSul
mais horizontal, no atribuir um espa-
o excessivo ajuda externa, evitar a
atuao ilimitada do mercado e procu-
rar gratifcao em esferas no mate-
riais da vida, impondo-nos, voluntaria-
mente, um teto de consumo material
e enfatizando a dimenso cultural da
natureza humana.
Relatrio Brundtland
e sua crtica
O conceito bsico de desenvolvi-
mento sustentvel contido no Relat-
rio Brundtland o seguinte:
O desenvolvimento sustentvel
aquele que atende s neces-
sidades do presente sem com-
prometer a possibilidade de as
geraes futuras atenderem a
suas prprias necessidades. Ele
contm dois conceitos-chave:
o conceito de necessidades es-
senciais dos pobres do mundo,
que devem receber a mxima
prioridade; e a noo das limita-
es que o estgio da tecnologia
e da organizao social impe
ao meio ambiente, impedindo-o
de atender s necessidades pre-
sentes e futuras. (Comi sso
Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, 1988, p. 46)
Percebe-se que o relatrio adota
um discurso de combate pobreza
e simultnea conservao ambiental
para as geraes futuras. As contra-
dies, entretanto, so inmeras, pois
acaba afirmando a necessidade do
crescimento econmico e arrefecendo
a crtica sociedade industrial e aos
pases desenvolvidos. Ele menciona cau-
telosamente os interesses nacionais e
mantm sempre um tom diplomti-
co provavelmente, uma das causas
da sua grande aceitao. O Relatrio
Brundtland define, ou pelo menos
descreve, o nvel do consumo mni-
mo partindo das necessidades bsicas,
mas omisso na discusso detalhada
do nvel mximo de consumo nos pa-
ses industrializados. Alm do mais,
propaga que a superao do subdesen-
volvimento no hemisfrio sul depende
do crescimento contnuo nos pases
industrializados (Brseke, 1995).
Durante a dcada de 1990, alguns
autores abordam a passagem do dis-
curso do ecodesenvolvimento para o
do desenvolvimento sustentvel. Na
verdade, essa mudana est relacionada
com a conjuntura dos anos 1980, em
particular da Amrica Latina, quando
esses pases se viram aprisionados pela
dvida externa e pelos consequentes
Dicionrio da Educao do Campo
208
processos i nfl aci onri os e reces-
sivos. A recuperao econmi ca,
subordinada aos pases centrais e ao
Fundo Monetrio Internacional (FMI),
passa a ser a prioridade das polticas
governamentais. Nesse contexto, o
Estado planejador, no qual estavam
ancoradas as estratgias de adoo das
propostas do ecodesenvolvimento, vai
perdendo esse papel. Confguram-se, a
partir da, os programas neoliberais em
diferentes pases, ao mesmo tempo em
que avanam e se tornam mais com-
plexos os problemas ambientais. Nesse
momento, comea a cair em desuso o
discurso do ecodesenvolvimento, que,
no momento de ascenso do neolibera-
lismo e do advento da globalizao eco-
nmica, substitudo pelo de desenvol-
vimento sustentvel. Apesar de alguns
princpios comuns a ambos os discursos
(ecodesenvolvimento e desenvolvimen-
to sustentvel), as estratgias de poder
da ordem econmica dominante modi-
fcaram o conceito ambiental crtico do
discurso do ecodesenvolvimento para
submet-lo racionalidade do cres-
cimento econmico (Leff, 1998). No
lugar do planejamento estatal de estra-
tgias e iniciativas no rumo do ecode-
senvolvimento, agora o mercado global
o agente milagroso capaz de conduzir
ao crescimento sustentado. Como diz Leff,
neste processo, as estratgias de apro-
priao dos recursos naturais nos mar-
cos da globalizao econmica, transfe-
riram seus efeitos de poder ao discurso
da sustentabilidade
3
(1998, p. 7; nossa
traduo). A retrica do desenvolvi-
mento sustentvel vai, assim, diluindo
e pervertendo as abordagens mais cr-
ticas relativas crise ambiental. Se nos
anos 1970 a crise ambiental fez que se
proclamasse o freio ao crescimento,
com o discurso do ecodesenvolvimento
propondo os princpios de novos estilos
de desenvolvimento, nos anos 1990 o
discurso neoliberal afrma o desapareci-
mento da contradio entre ambiente e
crescimento. Nessa perspectiva, os pro-
blemas ecolgicos no surgem como
resultado da acumulao de capital. Ao
contrrio, supe-se que, ao assegurar di-
reitos de propriedade e preos aos bens
comuns, as clarividentes (ainda que ce-
gas) leis de mercado se encarregam de
ajustar os desequilbrios ecolgicos e as
diferenas sociais (Leff, 1998).
O Relatrio Brundtland vem cum-
prir assim, naquele momento histri-
co, a funo de construir, diplomatica-
mente, um terreno comum no qual se
possa propor uma poltica de consenso
capaz de dissolver as diferentes vises
e interesses de pases, povos e classes
sociais. Embora reconhecendo que a
pobreza e as disparidades sociais e eco-
nmicas devem ter tratamento priori-
trio, articulando-se s aes de pro-
teo ambiental, o relatrio adota um
tom diplomtico, evitando tocar tanto
nas questes de fundo das relaes
homemsociedadenatureza quanto
nas relaes de poder que estabele-
cem as ordens nacionais e global.
Na verdade, a concepo do Re-
latrio Brundtland se ajusta arti-
culao dos Estados coordenada pela
Organizao das Naes Unidas
(ONU) e s instituies internacionais
encarregadas de impor a modernizao
e o desenvolvimento com base na iden-
tidade etnoecossistmica europeia-ocidental ao
resto do mundo: o Banco Mundial e o
FMI. Sendo assim, o conceito ofcial
do desenvolvimento sustentvel adota-
do por vrios governos, polticos, em-
presrios e mesmo por algumas orga-
nizaes no governamentais (ONGs)
implica a continuidade do processo de
homogeneizao cultural e ecolgica,
209
D
Desenvolvimento Sustentvel
que hoje mais do que nunca coman-
dado pelo capital transnacional. Para esses
poderosos atores do cenrio mundial, no
h contradio entre o processo de acu-
mulao capitalista (e suas escandalosas
desigualdades sociais e desastres ecolgi-
cos) e a perspectiva de sustentabilidade.
As questes que ficam
O esforo diplomtico e consensual
em torno do desenvolvimento susten-
tvel no conseguiu diluir os diferentes
interesses em jogo, os quais esto rela-
cionados a diferentes vises de mundo,
em especial aquelas que, de uma forma
ou de outra, no sucumbiram inteira-
mente forma ocidental/moderna de
pensar. A, as contradies e os dissen-
sos na discusso da sustentabilidade
vm tona. Afnal, trata-se de defnir o
que e a quem se quer realmente susten-
tar. Esses confitos se manifestam, por
exemplo, quando os Estados Unidos
se recusaram a assinar a Conveno
da Biodiversidade durante a ECO-92.
A esto em jogo estratgias e direitos
relativos ao processo de apropriao
da natureza. Nessas negociaes, os
pases do Norte defendem os interes-
ses das empresas transnacionais de
biotecnologia de se apropriarem, por
meio dos direitos de propriedade in-
telectual, de recursos genticos locali-
zados no Terceiro Mundo. Ao mesmo
tempo, grupos indgenas e camponeses
defendem sua diversidade biolgica e
tnica, ou seja, seu direito de se apro-
priarem de seu patrimnio histrico de
recursos naturais e culturais. A mesma
contradio se coloca no momento em
que a biossegurana se confronta com
a introduo de variedades transgni-
cas, quando o princpio da precauo
sucumbe fome de lucro, introduzindo
produtos e processos que ampliam os
riscos ambientais. Essas contradies
entre a racionalidade capitalista e o
discurso da sustentabilidade vm se
constituindo na verdadeira questo de
fundo do debate, acabando por expli-
car o fracasso das iniciativas globais em
reduzir o aquecimento global e reverter
o processo de deteriorao dos indica-
dores ambientais. Desde a ECO-92,
ao invs de melhorar, esses ndices
vm piorando.
Apesar das crticas, o desenvolvimen-
to sustentvel se tornar uma espcie de
consenso tcito e inconsciente que defne
os limites do problematizvel (Carneiro,
2005). Esse limite exclui no apenas o
questionamento do sistema produtor
de mercadorias o grande responsvel
pela crise ambiental contempornea ,
mas tambm o que se chamou de se-
gunda contradio do capitalismo, que
diz respeito s condies naturais para
o processo de produo de mercadorias,
condies que tm de ser continuamente
produzidas, reproduzidas e fornecidas.
Nesse sentido, o capitalismo destri a
sua prpria base: o prprio funcio-
namento de um sistema de produo de
mercadorias [...], estruturalmente orien-
tado pela busca da maior rentabilidade
na acumulao de riqueza abstrata, que
conduz degradao daquelas condies
naturais das quais depende visceralmen-
te (ibid., p. 29).
Nos limites dados por esse contex-
to, o consenso em torno do desenvol-
vimento sustentvel a sada para os
impasses atuais deste sistema de pro-
duo de mercadorias, mas no para
reformular a relao com a natureza,
nem para construir possveis socie-
dades sustentveis. Esse consenso ,
simultaneamente, condio e produto
dos confitos implicados na questo
ambiental (Carneiro, 2005, p. 42).
Dicionrio da Educao do Campo
210
O desenvolvimento sustentvel vai
se tornar, assim, a concepo pela qual
a questo ambiental se institucionaliza-
r e ganhar normatizao nas socie-
dades capitalistas (Amazonas e Nobre,
2002). O sentido no , naturalmente,
o de transformar nem os estilos de
desenvolvimento, como queria Sachs,
nem o modelo hegemnico de produ-
o e consumo com base no contexto/
problemtica socioambiental, mas de
implantar uma estratgia de adequao
ambiental ao desenvolvimento produ-
tivista. Esse desenvolvimento, e a tec-
nocincia moderna associada a ele, no
questionvel; representa, ainda, a vi-
gncia do dogma moderno do progres-
so inexorvel. O meio ambiente deve
ser, ento, objeto de gesto. Isso implica
o licenciamento ambiental e as medi-
das mitigadoras e compensatrias nele
contidas, e uma educao ambiental
individualista e alienante do tipo cada
um faa a sua parte.
A progressiva institucionalizao
da questo ambiental no se dar sem
perdas para o ambientalismo. O prag-
matismo foi substituindo o radicalis-
mo, e os pensamentos e aes se con-
centraram no ajuste de certo controle
ambiental, dentro do modo de produ-
o e consumo institudo. Na impossi-
bilidade de mudar o modelo de socie-
dade, parte importante do movimento
ambientalista passou a tentar torn-lo
menos predatrio. A isso se chamou de
ambientalismo de resultados.
No contexto da reduo da proble-
mtica sociedadenatureza s estrat-
gias de gesto e adequao ambiental, o
desenvolvimento (ao estilo industrial-
capitalista) vence o ambiente. Esse
deve ser tratado no sentido de no ser
um impedimento inexorabilidade e
necessidade absoluta do primeiro. No
a toa que, na expresso do desenvol-
vimento sustentvel, desenvolvimento
substantivo e sustentvel adjetivo: o
sustentvel serve para tentar renovar
o carter colonial e predatrio do de-
senvolvimento a promessa civilizatria
que o centro do sistema-mundo vende
(e impe) para suas margens. No so
os ecossistemas, suas caractersticas e
especifcidades ecolgicas, sua histria
de ocupao, as relaes que os povos
dos lugares estabelecem com eles, que
vo defnir possveis projetos emanci-
padores e durveis para esses lugares/
ecossistemas. o desenvolvimentismo
modernizador dos de fora (donos do
capital ou, s vezes, o prprio Estado),
guiados pela frmula sagrada da moder-
nidade (prenhe da colonialidade do po-
der), que vai sacramentar o seu destino.
A populao torna-se, portanto, atingida
(como bem ilustra o MOVIMENTO DOS
ATINGIDOS POR BARRAGEM e o caso atual
da Usina Hidreltrica de Belo Monte),
e acaba tendo de se defender e de fazer
parte das medidas mitigadoras/com-
pensatrias, isso quando a expropriao
no explicitamente violenta e escapa
aos controles institucionais.
Notas
1
Entropia um conceito relativo segunda lei da termodinmica (transforma-
o da for ma de energi a). Para nossos propsi tos neste texto, i mporta o que
Georgescu-Roegen (1971) afrmou sobre sua relao com o crescimento econmico: o
processo econmico , do ponto de vista fsico, uma transformao de energia e de recur-
sos naturais disponveis (baixa entropia energia ordenada e til) em lixo e poluio (alta
entropia energia desordenada e intil). Essa transformao, entre outras coisas, gera calor,
da a desordem ambiental e o aquecimento global.
211
D
Desenvolvimento Sustentvel
2
O nome ofcial da ECO-92 ou Rio-92, que se realizou entre 3 e 14 de junho de 1992 no
Rio de Janeiro, Conferncia das Naes Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento (Cnumad).
3
Las estrategias de apropiacin de los recursos naturales en el marco de la globalizacin
econmica han transferido sus efectos de poder al discurso de la sustentabilidad.
Para saber mais
AMAZONAS, M. de C.; NOBRE, M. (org.). Desenvolvimento sustentvel: a institucionali-
zao de um conceito. Braslia: Ibama, 2002.
BOURDIEU, P. Raisons pratiques: sur la thorie de laction. Paris: Seuil, 1994.
BRSEKE, F. J. O problema do desenvolvimento sustentvel. In: CAVALCANTI, C.
(org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade sustentvel. So
Paulo: Cortez; Recife: Fundao Joaquim Nabuco, 1995. p. 27-40.
CARNEIRO, E. J. Poltica ambiental e a ideologia do desenvolvimento sustent-
vel. In: ZHOURI, A.; LASCHEFSKI, K.; PEREIRA, D. (org.). A insustentvel leveza da
poltica ambiental: desenvolvimento e confitos socioambientais. Belo Horizonte:
Autntica, 2005. p. 27-47.
COMISSO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD).
Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundao Getlio Vargas, 1988.
EVASO, A. S. et al. Desenvolvimento sustentvel: mito ou realidade? Geografa,
poltica e cidadania. Terra Livre, So Paulo, n. 11-12, p. 91-100, 1996.
GEORGESCU-ROEGEN, N. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press, 1971.
GUZMN, E. S.; MIELGO, A. M. A. Para una teora etnoecolgica centroperiferia
desde la agroecologa. In: ______; ______. Prcticas ecolgicas para una agricultura de
calidad. Toledo: Consejera de Agricultura, 1994. p. 448-460.
LASCHEFSKI, K.; PEREIRA, D.; ZHOURI, A. Desenvolvimento, sustentabilidade
e confitos socioambientais. In: ______; ______; ______ (org.). A insustentvel
leveza da poltica ambiental: desenvolvimento e confitos socioambientais. Belo
Horizonte: Autntica, 2005. p. 11-24.
LEFF, E. Ignacy Sachs y el ecodesarrollo. In: VIEIRA, Paulo Freire et al (org.). Desen-
volvimento e meio ambiente no Brasil: a contribuio de Ignacy Sachs. Porto Alegre:
Pallotti; Florianpolis: Aped, 1998. p. 165-172.
______. La insoportable levedad de la globalizacin: la capitalizacin de la natu-
raleza y las estrategias fatales de sustentabilidad. Revista Universidad de Guadalajara,
n. 6, ago.-set. 1996.
SACHS, I. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. So Paulo: Vrtice, 1986.
Dicionrio da Educao do Campo
212
D
DESPEJOS
Antonio Escrivo Filho
Os despejos consistem em aes po-
liciais ou privadas (estas sempre ilegais)
de retirada forada de comunidades ou
famlias de fazendas, terrenos ou pr-
dios urbanos, ocupados por movimen-
tos sociais quando essas propriedades
no cumprem a sua funo social (ver
FUNO SOCIAL DA PROPRIEDADE). Eles
em geral so consequncia de um pe-
dido judicial de reintegrao de posse
do imvel ocupado, feito por algum
que se acha no direito de retirar famlias
ou comunidades inteiras do exerccio de
seus direitos humanos fundamentais.
O despejo o resultado, portan-
to, de uma ao judicial iniciada por
um suposto proprietrio do imvel
ocupado pela comunidade ou movi-
mento social; uma ao que chama
o Estado (inicialmente o Poder Judi-
cirio, depois, o aparato policial) a se
movimentar, em prol de um suposto
direito de propriedade (s vezes do
prprio Estado
1
), contra as famlias
que esto ali exercendo seus direitos
sociais de acesso terra, ao trabalho,
sade, educao, ao lazer, cultu-
ra e moradia, dentre outros direitos
humanos fundamentais.
Antes de ocorrer um despejo (tam-
bm chamado no direito de reintegrao
de posse), portanto, o suposto proprie-
trio, arrendatrio ou muitas vezes gri-
leiro, faz saber ao Poder Judicirio, por
meio de um juiz, que houve uma ocu-
pao, mas isso geralmente apenas por
papis e fotos, pois raramente o juiz vai
at o local para conhecer a ocupao,
conversar com as famlias e saber o ou-
tro lado da questo, apesar de o Cdigo
de Processo Civil, no artigo 440, reco-
mendar que ele o faa, pela chamada
inspeo judicial.
Isso signifca que todo despejo
realizado pela polcia, sobretudo em
reas de particulares, foi autorizado por
um juiz, ou seja, pelo Poder Judicirio
alguns mais desavisados diriam, pela
justia. Porm, muitas vezes o Judici-
rio age de modo contrrio justia
social, porque est histrica, mas no
eternamente, ligado aos interesses das
elites do pas. O fato de todo despejo
realizado pela polcia depender de au-
torizao judicial coloca aos movimen-
tos sociais o desafo de compreender
e atuar em prol de um Judicirio mais
democrtico e compromissado com os
direitos humanos.
Outro tipo de despejo o realizado
por milcias privadas, sem autorizao
de ordem judicial, que so despejos
ainda mais violentos do que os realiza-
dos pela polcia, e constituem em si um
crime contra as famlias despejadas e
contra toda a sociedade. Todo despejo
realizado por milcias armadas consti-
tui crime, ainda que os jagunos ajam
sob o nome e a forma de uma empresa
de segurana. De fato, as empresas de
segurana apresentam-se hoje como a
forma histrica da pistolagem no cam-
po e na cidade.
Do ponto de vista dos direitos hu-
manos e da Constituio de 1988 (os
direitos humanos constituem o ncleo
fundamental do Estado democrtico de
direito brasileiro desde a Constituio
213
D
Despejos
de 1988), quando o povo organizado
luta pelos direitos sociais de acesso
terra, ao trabalho e moradia, ocupando
imveis que no cumprem a sua funo
social e reas vazias, ele exerce os seus
direitos humanos de manifestao, pres-
so e reivindicao de polticas pblicas
que constituem dever do Estado.
Este direito de manifestao vem
se realizando no Brasil no campo e na
cidade, desde a tomada de conscincia
do povo acerca de seus direitos. Seja
em ocupaes de imveis rurais impro-
dutivos, que degradam o meio ambien-
te, oprimem os trabalhadores ou que
causam confitos e tenso social em
outras palavras, seja em propriedades
rurais que no cumprem a sua funo
social , seja em prdios e terrenos
urbanos abandonados especulao
imobiliria, a ocupao de movimentos
sociais vem conferir propriedade a le-
gitimidade da funo social.
Despejos urbanos
As ocupaes urbanas tm se desta-
cado hoje pelo carter de reivindicao
poltica do direito moradia, mas tam-
bm ocorreram historicamente de ma-
neira espontnea e difusa, ao longo do
processo de urbanizao brasileira.
O acesso moradia adequada um
direito fundamental de acordo com o
artigo 6 da Constituio. Alm dis-
so, a moradia um direito humano a
ser promovido pelos rgos pblicos
e entidades privadas, como dispem
os tratados internacionais de direitos
humanos assinados pelo Estado bra-
sileiro, especialmente o Pacto Inter-
nacional sobre Direitos Econmicos,
Sociais e Culturais (Pidesc) e os co-
mentrios gerais n 4 e n 7 do Conse-
lho de Direitos Econmicos, Sociais e
Culturais da Organizao das Naes
Unidas (ONU).
Com o avano do capitalismo e da
especulao imobiliria, reas histori-
camente ocupadas por comunidades
marginalizadas do processo urbanstico
do Estado e do capital, e outras antes
abandonadas ao lu e agora ocupadas
por famlias sem teto, so alvo hoje da
ganncia tardia de supostos propriet-
rios, que enxergam apenas a imagem
do lucro e da acumulao fnanceira
em terrenos e prdios que garantem o
direito humano moradia de centenas
de famlias.
Com o recente processo neode-
senvolvimentista realizado nas bases
do Estado, o prprio Poder Pbli-
co que d impulso expanso ter-
ritorial do capital sobre o campo e
a cidade. Tratando-se da cidade, os
chamados megaeventos, como a
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpa-
das de 2016, vm dando a tnica do
processo de reorganizao territorial
do capital sobre reas ocupadas por
trabalhadores e suas famlias.
neste sentido que se observam
diversos processos de remoo de co-
munidades inteiras para a realocao de
empreendimentos revestidos de inte-
resse pblico, mas voltados ao projeto
de acumulao capitalista, agravando,
assim, a marginalizao e a desigual-
dade social no Pas, o que afronta di-
retamente o artigo 3 da Constituio
Federal, quando diz que constitui ob-
jetivo fundamental da Repblica erra-
dicar a pobreza, marginalizao e desi-
gualdades sociais.
Por seu turno, movimentos sociais,
comunidades e famlias sem-teto, alia-
dos a organizaes de direitos humanos,
vm lutando pelo direito cidade
2
para
toda a populao, tanto na efetivao do
Dicionrio da Educao do Campo
214
direito moradia quanto no acesso aos
servios pblicos e equipamentos urba-
nos coletivos necessrios vida digna,
como estruturas de saneamento, trans-
porte, cultura e lazer.
Em oposio ao processo estrutu-
ral de remoo (ou seja, de despejo) de
comunidades dos espaos ocupados,
reivindica-se uma atuao estatal pau-
tada pelo princpio da no remoo,
3
que implica o Estado buscar esgotar
primeiro as vias de regularizao fun-
diria destas comunidades nos locais
onde esto.
Em ltimo caso, quando esgotadas
todas as possibilidades de regularizao
fundiria das famlias nos locais onde
construram a sua histria, o Estado
deve garantir a sua retirada por meio do
dilogo e do respeito ao interesse social,
realizando o deslocamento das famlias
para reas que sejam de seu interesse e
consentimento, de maneira digna e ga-
rantindo-lhes uma justa indenizao.
Despejos rurais
No campo, os despejos apresentam-
se como a forma atual de uma histri-
ca e violenta represso aos indgenas,
quilombolas e camponeses que no se
submetem ao jugo do latifndio e lu-
tam por seus direitos de acesso terra.
De fato, seja na resistncia indgena
ao trabalho para o branco, seja na es-
tratgia de fuga, organizao e comba-
te nos quilombos (Moura, 1981), seja
na posse familiar ou ocupao de mo-
vimentos sociais organizados de cam-
poneses, a histria da questo agrria
demonstra que a luta pela direito
terra do povo brasileiro, desde as suas
diferentes dimenses culturais, sempre
foi reprimida com muita violncia por
foras do latifndio e do Estado.
Apenas como exemplo, basta lem-
brar que a primeira vez que o Exrcito
brasileiro fez uso de canhes foi na Guer-
ra de Canudos, ao passo que o primeiro
uso militar de avies ocorreu na Guerra
do Contestado contra os camponeses.
Com a Constituio de 1988, a
chamada Constituio Cidad, o Esta-
do brasileiro assumiu a forma de Es-
tado democrtico de direito, elegendo
os direitos humanos como direitos
fundamentais a serem garantidos e
promovidos pelo Estado e pela pr-
pria sociedade.
Assim, a represso estatal contra a
luta pela terra ganhou tambm o reves-
timento jurdico deste Estado demo-
crtico de direito, realizando-se na for-
ma (histrica) dos despejos, mediante
procedimentos judiciais e policiais que
visavam conferir legalidade repres-
so, quer dizer, visavam dizer que o
despejo, mesmo quando violento, est
dentro da lei. Mas no est. O despe-
jo forado e violento no est dentro
da lei porque ignora aspectos da legis-
lao, justamente a parte mais impor-
tante dela, que diz respeito aos direitos
humanos. como se o juiz, o promo-
tor de justia e os policiais escolhessem
algumas leis para usar, e fechassem os
olhos para outras no caso, as leis re-
ferentes aos direitos humanos. Porm,
fechar os olhos para determinadas leis
ilegal, e quando isso ocorre, os despejos
forados transformam-se em crimes do
prprio Estado.
Da a importncia dos movimentos
sociais e de suas assessorias jurdicas
populares para transformarem a justia
e fazer que o Estado, os juzes, promo-
tores e policiais respeitem os direitos
humanos do povo brasileiro (Frigo,
2010). Como dizia o poeta Bertold
Brecht em seu Elogio da dialtica:
215
D
Despejos
De quem depende que a explorao
continue? De ns. E de quem depende
que ela se acabe? Tambm de ns!.
Por isso as ocupaes de terra no
Estado democrtico de direito so leg-
timas, porque pelas ocupaes que os
movimentos sociais pressionam o Es-
tado a promover e efetivar os direitos
humanos do povo, desestabilizando o
poder econmico do latifndio crimi-
noso, que degrada o meio ambiente,
que no produz alimentos, que explora
o trabalho escravo, que assassina de-
fensores dos direitos humanos e que
causa confitos e tenso social. Tudo
isso, conforme a Constituio de 1988.
A propsito, vale fazer uma leitura
conjunta dos artigos 1, 3, 5, 170, 184
e 186 da Constituio e, a partir da,
pensar qual deveria ser a postura de
juzes, promotores e policiais dian-
te das ocupaes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
e das retomadas de terras realizadas
por indgenas e quilombolas no chama-
do Estado democrtico de direito.
Segundo o flsofo Enrique Dussel
(2007), os direitos humanos refetem
as conquistas histricas da conscin-
cia poltica de um povo. De fato, assim
como a resistncia indgena, quilombo-
la e camponesa no passado, as ocupa-
es de terras indicam que hoje a cons-
cincia poltica dos movimentos sociais
de sem-terra, indgenas e quilombolas
esto frente do prprio Estado na
verdade, frente da conscincia polti-
ca dos agentes que historicamente ocu-
pam o Estado brasileiro.
Todos os direitos humanos reco-
nhecidos pelos Estados resultaram da
luta, manifestao e presso popula-
res (ver Comparato, 2003; Lyra Filho,
1995). Por este motivo, as ocupaes
de terra so to criticadas e reprimidas
pelo latifndio e pelos poderes que es-
tiveram historicamente sua disposi-
o, como a mdia e o Judicirio. Alm
da violncia, os movimentos sociais
sofrem tambm com a criminalizao
das suas atividades e manifestaes,
que ocorre quando o Estado atribui a
condio de crime s manifestaes so-
ciais e a suas lideranas, com vistas a
intimidar e inviabilizar a luta social.
A represso e a criminalizao ocor-
rem, como sabido, porque, pelos mo-
vimentos sociais e pelas ocupaes, o
povo, organizado, adquire a potncia que
permite desafar o latifndio na correla-
o de foras em disputa pelo Estado.
Como resultado da atuao dos
movimentos sociais, posies mais mo-
dernas dos juzes preocupados com a
efetivao dos direitos humanos ex-
cees que merecem reconhecimento
para que possam tambm ganhar fora
dentro da instituio exigem que o
fazendeiro comprove o cumprimen-
to da funo social da sua posse (ver
Fachin, 1988; Alfonsin, 2003) e pro-
priedade para que a reintegrao de
posse seja deferida judicialmente. Esta
atitude ainda constitui uma exceo
na atuao de juzes, mas tende a se con-
solidar com o aumento da presso social.
Mediante uma ocupao ou reto-
mada de terras, o Estado deve movi-
mentar-se de modo a assentar famlias
sem-terra, titular territrios quilom-
bolas ou demarcar reservas indgenas
e extrativistas conforme o interesse
social, que o interesse mais prxi-
mo do ncleo fundamental dos direi-
tos humanos, em oposio ao interesse
pblico (do Estado ou governo) e ao
interesse privado.
Em ltimo caso, esgotadas todas as vias
e possibilidades de manter as famlias no
local, o Estado deve garantir uma retirada
Dicionrio da Educao do Campo
216
digna, por meio do dilogo e do reassen-
tamento em outro local, mediante prvio
acordo e indenizao da comunidade.
O Estado tem total responsabilidade
sobre todos os atos praticados por seus
agentes nas aes de despejo, tendo a
obrigao de indenizar qualquer vtima
de violncia ou abuso policial. Alm
disso, tem tambm absoluta responsa-
bilidade sobre o destino das famlias,
devendo somente realizar a sua retirada
mediante negociao com o movimen-
to social, aps a defnio de novo local
para o seu assentamento defnitivo.
Consideraes finais
Apresentamos o conceito de despe-
jos, as condies histricas da sua rea-
lizao, e os atores envolvidos: o povo
organizado em luta pelos seus direitos,
em oposio a um Estado que atua me-
diante os interesses do capital.
Os despejos caracterizam-se, por-
tanto, como uma resposta violenta
do capital seja por meio do aparato
pblico (Judicirio e polcia), seja por
meio de milcias privadas luta pe-
los direitos humanos dos movimentos
sociais e comunidades marginalizadas.
Geralmente, os despejos confguram
crimes e violaes de direitos huma-
nos. Quando realizados por milcias,
so sempre criminosos.
Entende-se que, na maioria das
ocasies, os despejos so completa-
mente evitveis. Em muitos casos,
no h que se falar em necessidade
de despejo, mas no direito perma-
nncia das comunidades e das fam-
lias organizadas em torno dos seus
direitos moradia, ao acesso terra,
ao trabalho, alimentao, cultura
e ao lazer, que devem sempre preva-
lecer em relao aos direitos privados
de propriedade.
Notas
1
Atualmente o Poder Pblico, via Ministrio Pblico e municpios, tem tambm requerido
o despejo de famlias em reas urbanas, sob a alegao de risco ou degradao ambiental.
No entanto, e no por acaso, so somente famlias de baixa renda que sofrem tais aes do
Estado, uma vez que no se observa qualquer ao deste tipo sobre os condomnios fecha-
dos nas margens de rios e encostas de morros.
2
Ver Saule Junior (2004) e os stios da Relatoria do Direito Cidade/Plataforma Dhesca
Brasil (http://www.dhescbrasil.org.br), da Terra de Direitos (http://www.terradedireitos.
org.br), do Instituto Plis (http://www.polis.org.br) e do Frum Nacional da Reforma
Urbana (FNRU) (http://www.forumreformaurbana.org.br).
3
Ver o Manifesto da Plataforma Brasileira para Preveno de Despejos (http://www.concidades.pr.gov.
br/arquivos/File/Resumo_das_Propostas_da_Plataforma_Brasileira_para_Prevencao_de_Despejos.
pdf) e as recomendaes do II Encontro Nacional do Frum de Assuntos Fundirios/CNJ (http://
www.cnj.jus.br/images/programas/forumdeassuntosfundiarios/urbano_iiencontro.pdf).
Para saber mais
ALFONSIN, J. T. O acesso terra como contedo de direitos humanos fundamentais alimen-
tao e moradia. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003.
COMPARATO, F. K. A afrmao histrica dos direitos humanos. 3. ed. rev. e ampl. So Paulo:
Saraiva, 2003.
217
D
Direito Educao
DUSSEL, E. Vinte teses de poltica. So Paulo: Expresso Popular, 2007.
FACHIN, L. E. A funo social da posse e a propriedade contempornea: uma perspectiva
da usucapio imobiliria rural. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988.
FRIGO, D. (org.). Justia e direitos humanos: experincias de assessoria jurdica popu-
lar. Curitiba: Terra de Direitos, 2010.
LYRA FILHO, R. O que direito. 17. ed. So Paulo: Brasiliense, 1995.
MOURA, C. Os quilombos e a rebelio negra. So Paulo: Brasiliense, 1981.
SAULE JUNIOR, N. A proteo jurdica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004.
D
DIREITO EDUCAO
Srgio Haddad
*
Educao como direito
humano
Conceber a educao como direi-
to humano signifca inclu-la entre os
direitos necessrios realizao da
dignidade humana plena. Assim, dizer
que algo um direito humano dizer que
ele deve ser garantido a todos os seres
humanos, independentemente de qual-
quer condio pessoal. Esse o caso
da educao, reconhecida como direi-
to de todos aps diversas lutas sociais,
posto que por muito tempo foi tratada
como privilgio de poucos.
Por meio da educao, so acessa-
dos os bens culturais, assim como nor-
mas, comportamentos e habilidades
construdos e consolidados ao longo
da histria da humanidade. Tal direi-
to est ligado a caractersticas muito
caras espcie humana: a vocao de
produzir conhecimentos, de pensar
sobre sua prpria prtica, de utilizar
os bens naturais para seus fins e de se
organizar socialmente.
A educao um elemento funda-
mental para a realizao dessas caracte-
rsticas. No apenas a educao escolar,
mas a educao no seu sentido amplo,
a educao pensada como uma ao
humana geral, o que implica a edu-
cao escolar, mas no se basta nela,
porque o processo educativo comea
com o nascimento e termina apenas no
momento da morte. A educao pode
ocorrer no mbito familiar, na comuni-
dade, no trabalho, junto com amigos,
nas igrejas etc. Os processos educati-
vos permeiam a vida das pessoas.
Os sistemas escolares so parte des-
se processo e, neles, algumas aprendi-
zagens bsicas so desenvolvidas. Nas
sociedades modernas, o conhecimento
*
Com a colaborao de Ester Rizzi e Filomena Siqueira, assessoras da organizao no
governamental Ao Educativa.
Dicionrio da Educao do Campo
218
escolar quase uma condio para a
sobrevivncia e o bem-estar social. Ao
mesmo tempo, pessoas que passam por
processos educativos, em particular pelo
sistema escolar, exercem melhor sua ci-
dadania, pois tm melhores condies
de realizar e defender os outros direitos
humanos (sade, habitao, meio am-
biente, participao poltica etc.).
A educao escolar base consti-
tutiva na formao das pessoas, assim
como as auxilia na defesa e na promo-
o de outros direitos. Por isso, tam-
bm chamada um direito de sntese,
porque, ao mesmo tempo em que um
fm em si mesma, ela possibilita e po-
tencializa a garantia de outros direitos,
tanto no sentido de exigi-los quanto
no de desfrut-los atualmente, uma
pessoa que nunca frequentou a escola
tem maiores difculdades em realizar o
direito ao trabalho, por exemplo.
Pelo menos desde 1948, no artigo
26 da Declarao universal dos direitos hu-
manos, a ordem jurdica internacional
reconhece o direito de todas as pessoas
educao. Ao reconhec-lo como
direito humano, elege sua realizao
universal como objetivo prioritrio de
toda a organizao social. Ao lado
da declarao, muitas outras normas in-
ternacionais reconhecem e avanam na
defnio das caractersticas do direito
educao: o Pacto internacional dos di-
reitos econmicos, sociais e culturais, de 1966
(art. 13 e 14); a Conveno relativa luta
contra as discriminaes no campo do ensino,
de 1960; a Conveno sobre os direitos da crian-
a, de 1989 (art. 28 e 29), entre outros.
Signatrio dos tratados internacio-
nais, o Brasil tem o dever de respeitar,
proteger e promover os direitos humanos,
entre eles o direito educao. O de-
ver de respeitar signifca que o Estado
no pode criar obstculos ou impedir
o exerccio do direito humano edu-
cao. O dever de proteger exige que o
Estado resguarde o direito para evitar
que terceiros (pessoas, grupos ou em-
presas, por exemplo) impeam o seu
exerccio. Por fm, o dever de promover
a principal obrigao ativa do Estado e
refere-se s aes pblicas que devem
ser adotadas para a realizao e o exer-
ccio pleno dos direitos humanos.
Alm disso, o reconhecimento do
direito educao como direito hu-
mano o torna exigvel tanto em mbi-
to nacional quanto internacional. Ser
exigvel signifca recorrer s possibili-
dades oferecidas pelos sistemas de jus-
tia para impedir, evitar a continuidade
da ou reparar a violao do direito
educao, seja por omisso (por exem-
plo, falta de vagas na escola, recusa de
matrculas, no oferecimento de educa-
o de jovens e adultos), seja por ao
(como o nmero excessivo de estudan-
tes por sala de aula, usar o dinheiro da
educao em outra rea).
No caso do Brasil, o direito edu-
cao est estabelecido no artigo 205
da Constituio Federal de 1988:
A educao, direito de todos e
dever do Estado e da famlia,
ser promovida e incentivada
com a colaborao da socie-
dade, visando ao pleno de-
senvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exerccio da ci-
dadania e sua qualificao para
o trabalho.
Ocorre que a garantia do direito
escolarizao antecedeu a sua efetiva-
o, e sua realizao plena no se efe-
tivou at hoje. Ao mesmo tempo, nos
ltimos anos, em virtude da infuncia
das polticas neoliberais e pela fora
219
D
Direito Educao
hegemnica dos valores do merca-
do, poucas vezes a educao tem sido
lembrada como formao para a cida-
dania. O discurso que prevalece o
de reduzir a educao a seu aspecto
funcional em relao ao desenvol-
vimento econmico, ao mercado de
trabalho, formao de mo de obra
qualificada... A educao como direito
humano pressupe o desenvolvimen-
to de todas as habilidades e potencia-
lidades humanas, entre elas o valor
social do trabalho, que no se reduz
dimenso do mercado.
O reconhecimento do direito
educao implica que sua oferta deve
ser garantida para todas as pessoas.
A equidade educativa significa igualar
as oportunidades para que todas as
pessoas possam ter acesso, permane-
cer e concluir a educao bsica e, ao
mesmo tempo, desfrutem de um en-
sino de alta qualidade, independen-
temente de sua origem tnica, racial,
social ou geogrfica.
A educao entre os
direitos humanos
Uma das primeiras caractersticas
dos direitos humanos, em geral, e da
educao, em particular, a universa-
lidade e a no discriminao.
1
A edu-
cao, em todas as formas e em todos
os nveis, deve ter quatro caracters-
ticas: disponibilidade, acessibilidade
material e acessibilidade econmica,
aceitabilidade e adaptabilidade; e, ao
se considerar a correta aplicao des-
tas caractersticas inter-relacionadas e
fundamentais, devero ser levados em
conta os supremos interesses dos alu-
nos.
2
Costumamos defnir tais carac-
tersticas da seguinte forma:
Disponibilidade signifca que a edu-
cao gratuita deve estar disposio
de todas as pessoas. A primeira obri-
gao do Estado brasileiro assegurar
que existam escolas de ensino funda-
mental para todas as pessoas. O Estado
no necessariamente o nico investi-
dor na realizao do direito educa-
o, mas as normas internacionais de
direitos humanos obrigam-no a ser o
investidor de ltima instncia.
Acessibilidade a garantia de aces-
so educao pblica disponvel, sem
qualquer tipo de discriminao. A no
discriminao um dos princpios pri-
mordiais das normas internacionais de
direitos humanos e se aplica a todos os
direitos. A no discriminao deve ser
de aplicao imediata e plena.
Aceitabilidade a garantia da qua-
lidade da educao, relacionada aos
programas de estudos, aos mtodos
pedaggicos e qualifcao dos(as)
professores(as). O Estado est obriga-
do a assegurar que todas as escolas se
ajustem aos critrios mnimos de quali-
dade e a certifcar-se de que a educao
seja aceitvel tanto para os pais quanto
para os estudantes.
Adaptabilidade requer que a escola
se adapte a seus alunos e alunas e que a
educao corresponda realidade ime-
diata das pessoas respeitando sua cul-
tura, costumes, religio e diferenas ,
assim como s realidades mundiais, em
rpida evoluo.
Escolarizao no Brasil um
direito a ser conquistado
Nos ltimos trinta anos, o Brasil
deu um salto importante na garantia do
direito educao para todos. Ampliou
o acesso e as garantias legais e incluiu
Dicionrio da Educao do Campo
220
um enorme contingente de pessoas nas
redes de ensino pblicas. No entanto,
tal movimento foi realizado sem con-
seguir garantir qualidade e universali-
dade na oferta e, principalmente, sem
criar as condies necessrias para fa-
zer da educao um forte instrumento
de justia social.
A rpida ampliao na oferta de
vagas no ensino pblico no acompa-
nhada pela melhora em sua qualida-
de colaborou para o fortalecimento do
setor educacional privado, acentuan-
do a separao entre os estudantes
economicamente mais favorecidos e
aqueles da grande maioria da popula-
o de baixa renda. As precrias con-
dies de trabalho e de formao do
professorado, aliadas aos insufcientes
e desqualifcados apoios materiais e
pedaggicos, produziram a seguinte
equao inversa: mais vagas com me-
nos qualidade. Alm do mais, a falta
de integrao entre a multiplicidade de
sistemas de ensinos redes munici-
pais, estaduais e federal prejudica a
qualidade da oferta, visto no haver
um sistema nacional de educao que
universalize a mesma escolarizao para
todos, relegando s redes mais pobres
o desafo de fazer mais com menos. E
a escola pblica, por causa do fraco de-
sempenho no ensino e na aprendizagem
de um grande contingente de estudantes,
acabou tornando-se uma escola pobre
para os pobres.
O ltimo relatrio do Observa-
trio da Equidade do Conselho de
Desenvolvimento Econmico e Social
da Presidncia da Repblica, produzi-
do em 2011, afrma que o macropro-
blema da educao brasileira continua
sendo o baixo e desigual nvel de es-
colaridade da populao. Apesar dos
avanos recentes no panorama da edu-
cao brasileira, em seus diversos n-
veis e modalidades, a pouca qualidade
da educao se mantm como aspecto
central do problema. So 7,5 anos em
mdia de escolarizao para pessoas
com 15 anos ou mais, variando entre
regies e segmentos sociais. Essa m-
dia est abaixo dos nove anos defni-
dos como obrigatrios por lei para o
ensino fundamental. Esses nmeros
se agravam entre pessoas que vivem
na zona rural (4,8 anos), negros (6,7
anos) e aqueles que vivem no Norte e
no Nordeste, as regies mais pobres do
pas (7,1 e 6,3 anos, respectivamente).
As regies mais ricas do pas, por sua
vez, apresentam os maiores ndices: o
Sul e o Sudeste tm uma mdia de 7,9 e
8,2 anos respectivamente. Entre a po-
pulao branca, a mdia de estudo de
8,4 anos.
2
Os principais fatores identifcados
pelo Observatrio da Equidade so a
persistncia de elevado contingente
de jovens e adultos analfabetos 14,1
milhes de pessoas, 9,7% da popula-
o acima de 14 anos; o acesso restrito
educao infantil de qualidade, so-
bretudo para crianas de 0 a 3 anos
apenas 18,4% das crianas nessa faixa
etria frequentam creches; os nveis
insufcientes e desiguais de desempe-
nho e concluso do ensino fundamen-
tal; o acesso limitado para alunos com
defcincia; os nveis insufcientes de
acesso, permanncia, desempenho e
concluso do ensino mdio; o acesso
restrito e desigual ao ensino superior
(Brasil, 2011).
A desigualdade na frequncia e na
qualidade da educao logo nos pri-
meiros anos de vida da criana cola-
bora para uma formao distinta ao
longo dos anos de ensino seguintes.
A escolarizao infantil fundamental
221
D
Direito Educao
para desenvolver nas crianas as bases
cognitivas para futuras aprendizagens.
Mesmo com um aumento tmido nos
ltimos anos, a taxa de frequncia es-
colar de crianas entre 0 e 3 anos conti-
nua baixa. As que menos tm acesso ao
atendimento de creches so as do meio
rural e as mais pobres: apenas 8,9%
das crianas com 0 a 3 anos de idade
da rea rural tm acesso educao in-
fantil; na rea urbana esse ndice sobe
para 20,5%. As taxas de frequncia na
pr-escola so ainda mais alarmantes:
cerca de 1,5 milhes de crianas nessa
faixa etria (4 a 5 anos) esto fora da
escola (25,2%).
O acesso ao ensino fundamental
considerado universalizado para a faixa
dos 6 aos 14 anos, embora ainda exis-
tam cerca de 740 mil crianas e ado-
lescentes no atendidos e um enorme
contingente de pessoas com mais de
14 anos que no conseguiu completar
esse nvel de ensino. No ano de 2008, esse
nmero atingiu quase 60 milhes entre
jovens e adultos que no tm o ensino
considerado fundamental. Dentre eles,
14,1 milhes so analfabetos, e o mes-
mo nmero de pessoas tm menos de
3 anos de escolarizao, e so conside-
radas analfabetas funcionais: pessoas
que passaram pela escola mas no
conseguiram adquirir o conhecimento
mnimo necessrio para serem consi-
deradas letradas.
Outro dado alarmante a distoro
idadesrie, com dois ou mais anos de
atraso na escolarizao em relao
faixa etria adequada. Entre as razes
para esse fenmeno, esto ingresso tar-
dio, repetncias, evases e reingressos.
Os dados do relatrio As desigualda-
des na escolarizao no Brasil (Brasil, 2011)
mostram que um dos principais grupos
populacionais no favorecidos pelo di-
reito educao est no campo. Alm
dos fatores mencionados anteriormente,
a anlise das matrculas mostra que nas
escolas rurais, para cada duas vagas
nos anos iniciais do ensino fundamen-
tal, existe apenas uma nos anos fnais
(50%). E essa proporo se acentua
ainda mais quando se comparam as s-
ries fnais do ensino fundamental com
as vagas dos anos iniciais do ensino m-
dio: seis vagas para uma (17%). J nas
regies urbanas, a taxa de quatro vagas
nas sries iniciais, trs nas fnais (75%) e
duas no ensino mdio (50%). A ausncia
de polticas efetivas e especfcas para o
campo colabora na perpetuao dos n-
veis desiguais de quantidade e qualidade
de instituies escolares quando com-
parados ao meio urbano.
Portanto, no se atingiu a universa-
lizao da oferta pblica dos servios
educacionais, visto haver limites na sua
acessibilidade para setores da sociedade,
em virtude das suas condies de ren-
da, raa e local de moradia, indicando
que h pouca aceitabilidade e adaptabili-
dade nos servios ofertados. Estamos,
portanto, muito longe de cumprir com
o direito humano educao. A situa-
o revela um quadro de desafos para
a educao pblica no que se refere
universalizao do acesso ao ensino
de qualidade. As causas dessa situao
esto relacionadas a fatores internos e
externos ao sistema educativo.
Entre os fatores externos, um dos
problemas centrais so as desigualda-
des socioeconmicas e tnico-raciais
que estruturam a sociedade brasileira.
Embora a educao seja vista, tanto
pelo senso comum quanto por espe-
cialistas, como um fator essencial para
a melhoria das condies de vida, a
verdade que no Brasil a expanso
do ensino ocorreu num quadro de
Dicionrio da Educao do Campo
222
permanente e profunda concentrao
de renda. Os indicadores educacio-
nai s, i nterpretados conj untamente
com os dados socioeconmicos, tnico-
raciais e territoriais, demonstram que
o padro brasileiro de excluso cau-
sa impacto na apropriao da oferta
educacional.
As polticas educacionais permane-
cem absolutamente insufcientes para
reverter as consequncias perversas
das condies de desigualdades em que
vive a populao brasileira, dada a bai-
xa qualidade da educao e a distribui-
o desigual dos insumos educacionais
previstos nas polticas pblicas. Essa
dinmica perversa se reproduz regio-
nalmente, nos municpios, nos bairros
e at dentro de uma mesma escola.
uma lgica recorrente o fato de quem
mais necessita, menos recebe. O resul-
tado dessa articulao de fatores, como
demonstra Mnica Peregrino (2005),
a predeterminao das trajetrias es-
colares: assim, numa mesma escola, a
organizao das variveis administrati-
vas e pedaggicas estabelece quem ser
bem ou malsucedido nos estudos.
Para haver avanos nas polticas
educacionais, necessria a institucio-
nalizao da educao como poltica de
Estado, aliada a uma integralidade nos
perodos escolares infantil, bsico, pro-
fssional e universitrio e ao critrio de
equidade na distribuio de recursos na
urgente luta pela reduo das desigualda-
des de toda a natureza. Somado a isso,
preciso ampliar a receita auferida para a
rea; e regulamentar os nveis municipal,
estadual e federal, buscando a formao
de um sistema coeso e integrado de edu-
cao. Alm disso, tambm necessrio
priorizar as aes voltadas para a reduo
do analfabetismo absoluto ou funcional
e investir na conscientizao sobre a im-
portncia da educao escolar nos pri-
meiros anos de vida.
Hoje, no Brasil, o reconhecimento
normativo do direito humano educa-
o est consolidado. Contudo, a sua
realizao plena est longe de aconte-
cer. Muito ainda h por ser feito.
Notas
1
A Conveno relativa luta contra as discriminaes no campo do ensino, da Unesco, entende por
discriminao: 1) [...] toda distino, excluso, limitao ou preferncia fundada na raa,
na cor, no gnero, no idioma, na religio, nas convices polticas ou de qualquer outra n-
dole, na origem nacional ou social, na posio econmica ou no nascimento que tenha por
fnalidade destruir ou alterar a igualdade de tratamento na esfera de ensino, e em especial:
a) Excluir uma pessoa ou um grupo do acesso aos diversos graus e tipos de ensino. b) Limi-
tar a um nvel inferior a educao de uma pessoa ou de um grupo. c) [...] instituir ou manter
sistemas ou estabelecimentos de ensino separados para pessoas ou grupos. d) Colocar uma
pessoa ou um grupo em uma situao incompatvel com a dignidade da pessoa humana
(Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura, 1960).
2
Para obter mais informaes e compreenso sobre o tema, ver Organizacin de las
Naciones Unidas, 1999.
3
Sobre o Observatrio da Equidade e seus relatrios, ver o site do Conselho de Desenvolvi-
mento Econmico e Social da Presidncia da Repblica do Brasil http://www.cdes.gov.br.
223
D
Direito Educao
Para saber mais
BENEVIDES, M. V. Cidadania e direitos humanos. In: CARVALHO, J. S. (org.).
Educao, cidadania e direitos humanos. Petrpolis: Vozes, 2004. p. 43-65.
BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
BRASIL. PRESIDNCIA DA REPBLICA; CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO
E SOCIAL (CDES). As desigualdades na escolarizao no Brasil: relatrio de observa-
o n 4. 2. ed. Braslia: Presidncia da RepblicaCDES, 2011. Disponvel em:
http://www.cdes.gov.br/exec/documento/baixa_documento.php?p=f01200e46
c4658da5fc5f23be04aed652ad501edb9f102b8f299a2f0251f638505c4da4db502c9
cb379fb3a7ff38d30a9607. Acesso em: 15 set. 2011.
CLAUDE, R. P. Direito educao e educao para os direitos humanos. Revista
Internacional de Direitos Humanos, Rede Universitria de Direitos Humanos SUR,
v. 2, n. 2, p. 37-63, 2005.
COMPARATO, F. K. O princpio da igualdade e a escola. In: CARVALHO, J. S. (org.).
Educao, cidadania e direitos humanos. Petrpolis: Vozes, 2004. p. 66-84.
______. A afrmao histrica dos direitos humanos. So Paulo: Saraiva, 2003.
COOMANS, F. In Search of the Core Elements of the Right to Education. In:
CHAPMAN, A.; RUSSELL, S. (org.). Core Obligations: Building a Framework for
Economic, Social and Cultural Rights. Anturpia: Intersentia, 2003. Disponvel
em: http://www.right-to-education.org. Acesso em: mar. 2003.
DALLARI, D. de A. Um breve histrico dos direitos humanos. In: CARVALHO, J. S.
(org.). Educao, cidadania e direitos humanos. Petrpolis: Vozes, 2004. p. 19-42.
DONNELLY, J.; HOWARD, R. E. Assessing National Human Rights Performance:
A Theoretical Framework. Human Rights Quartely, v. 10, p. 214-288, May 1998.
GRACIANO, M. (org.). Educao tambm direito humano. So Paulo: Ao Educativa
PIDHDD, 2005.
HADDAD, S. Education for Youth and Adults, for the Promotion of an Active
Citizenship, and for the Development of a Culture and a Conscience of Peace
and Human Rights. In: INTERNATIONAL COUNCIL FOR ADULTS EDUCATION (ICAE).
Agenda for the Future Six Years Later ICAE Report. Montevidu: ICAE, 2003a.
______. O direito educao no Brasil. In: LIMA JUNIOR, J. B. et al. (org.). Relatrio
brasileiro sobre direitos humanos econmicos, sociais e culturais: meio ambiente, sade,
moradia adequada e terra urbana, educao, trabalho, alimentao, gua e terra
rural. So Paulo: Plataforma DhESC, 2003b. p. 201-252.
______; GRACIANO, M. (org.). A educao entre os direitos humanos. Campinas:
Autores Associados, 2006. V. 1.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU). Conveno sobre os direitos da crian-
a. Genebra: ONU, 1989. Disponvel em: http://www.unicef.org/brazil/pt/
resources_10120.htm. Acesso em: 15 set. 2011.
Dicionrio da Educao do Campo
224
______. Pacto internacional dos direitos civis e polticos. Nova York: Assembleia Geral
da ONU, 1966a. Disponvel em: http://www.rolim.com.br/2002/_pdfs/067.pdf.
Acesso em: 15 set. 2011.
______. Pacto internacional dos direitos econmicos, sociais e culturais. Nova York:
Assembleia Geral da ONU, 1966b.
______. Regras mnimas para o tratamento de prisioneiros. Genebra: ONU, 1955.
______. Declarao universal dos direitos humanos. Genebra: ONU, 1948. Disponvel
em: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.
pdf. Acesso em: 15 set. 2011.
ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). COMIT DE DERECHOS ECONMI-
COS, SOCIALES Y CULTURALES. Aplicacin del pacto internacional de los derechos econmicos,
sociales y culturales, observacin general n 13: el derecho a la educacin. Genebra: ONU,
1999. Disponvel em: http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_
show.htm?doc_id=428712&parent_id=425976. Acesso em: 15 set. 2011.
PEREGRINO, Mnica. Desigualdade numa escola em mudana: trajetrias e embates na
escolarizao pblica de jovens pobres. 2005. Tese (Doutorado em Educao)
Programa de Ps-graduao e Pesquisa em Educao, Universidade Federal
Fluminense, Niteri, 2005.
PIOVESAN, Flvia. Temas de direitos humanos. 2. ed. So Paulo: Max Limonad, 2002.
PLATAFORMA DHESCA BRASIL; AO EDUCATIVA. Cartilha direito educao.
Curitiba: Plataforma Dhesca Brasil; So Paulo: Ao Educativa, 2009. (Cartilhas de
Direitos Humanos, 4). Disponvel em: http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/
123456789/2381/1/cartilhaeducacaoacaojustica.pdf. Acesso em: 15 set. 2011.
TOMASEVSKI, K. Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessi-
ble, Acceptable and Adaptable. Estocolmo: Swedish International Development
Cooperation Agency, 2001. (Right to education primers, 3). Disponvel em:
http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/rte_03.pdf. Acesso
em: 15 set. 2011.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS PARA A EDUCAO, A CINCIA E A CULTURA
(UNESCO). Declarao de Hamburgo: agenda para o futuro. Braslia: Sesi/Unesco, 1999.
Disponvel em: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129773porb.
pdf. Acesso em: 15 set. 2011.
______.Conveno relativa luta contra as discriminaes no campo do ensino.
Paris: Unesco, 1960. Disponvel em: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001325/132598por.pdf. Acesso em: 15 set. 2011.
225
D
Direitos Humanos
D
DIREITOS HUMANOS
Jacques Tvora Alfonsin
Onde podem ser encontradas as
razes pelas quais alguns direitos so
denominados direitos humanos? Os
outros direitos no se referem, igual-
mente, a pessoas?
Este verbete pretende questionar as
razes dessa denominao e das dife-
renas que os direitos humanos guar-
dam em relao a outros direitos.
Os direitos humanos so direitos
inerentes a cada pessoa, quando conside-
rada individualmente, e a todas as pes-
soas, nesse caso, consideradas social-
mente. A se encontra o motivo pelo
qual se distinguem direitos humanos
individuais e direitos humanos sociais,
tambm chamados de coletivos. Trata-
se de uma separao mais didtica, de
ordem terica, pois, em verdade, os
direitos humanos formam uma unidade
orgnica que refete a prpria unidade
individual das pessoas. Isso sufciente
para demonstrar como a ameaa ou a
leso a um direito humano, mesmo in-
dividual, lesa a humanidade inteira.
Assim, o que mais convm salientar
aqui o fato de que os direitos huma-
nos esto incorporados em cada ser
humano e pretendem garantir de fato,
e no s na previso da lei, a vida, a
liberdade, a igualdade entre todas as
pessoas, independentemente de sexo,
idade, etnia, riqueza ou pobreza, nacio-
nalidade, estado civil etc.
na satisfao das necessidades vi-
tais de cada pessoa, ento, que se pode
avaliar se os direitos humanos esto
sendo efetivamente respeitados. Ine-
rentes a todo o ser humano, eles no
dependem de previso legal. a lei que
est subordinada a eles, obrigada a res-
peit-los, reconhecendo sua existncia,
sua validade e sua efccia concretas.
Quando isso no acontece, qual-
quer Estado com poder poltico de
editar leis que demonstre incapacida-
de de garantir esses direitos, pode ter
questionada a sua condio de Estado
democrtico e de direito. As ditaduras,
ento, como aquela que o Brasil so-
freu com o golpe militar de 1964, so
formas injustas, ilegais e inaceitveis
de governo.
Muito resumidamente, podemos
identificar alguns sentidos relacio-
nados aos direitos humanos: alm de
serem inerentes ao prprio corpo das
pessoas, eles se referem satisfao de
necessidades vitais. Por tudo isso, con-
vm examinar as razes pelas quais a
sua defesa sempre inadivel, e precisa
de cuidados diferentes daqueles refe-
rentes aos outros direitos. H que se
lutar no s contra quem responsvel
pelas ameaas e violaes desses direi-
tos, mas tambm porque h toda uma
cultura ideolgica que a eles se ope,
exemplifcada em frases como coisa
que defende bandido, meio de pro-
teger vagabundo, e assim por diante.
Para uma melhor compreenso des-
te tema, portanto, os direitos humanos
vo ser analisados sob trs enfoques
principais, nos quais se busca demons-
trar, muito resumidamente, as diferen-
as existentes entre eles, e entre eles e
outros direitos que, no raro, provo-
cam graves confitos sociais.
Dicionrio da Educao do Campo
226
O primeiro dos enfoques o da
realidade econmica, social e poltica na
qual esses direitos esto presentes,
para avaliar se os direitos humanos
so, efetivamente, respeitados. O se-
gundo o da responsabilidade que cada
pessoa, cada povo e o prprio Estado
tm quando ocorre ameaa ou viola-
o desses direitos. O terceiro o dos
encargos exigveis de cada ser huma-
no, da sociedade e do Poder Pblico,
identifcando-se a responsabilidade do
segundo enfoque, e se deve impedir
ou reparar os efeitos da ameaa ou da
violao desses direitos.
Uma realidade que
desafia o respeito aos
direitos humanos
A misria e a pobreza de multides
brasileiras, como se verifca entre as/
os ndias/os, as/os quilombolas, as/os
sem-terra, as/os sem-teto, as/os cata-
doras/es de material e outros grupos,
no so consideradas violaes de di-
reitos humanos. Essa , talvez, a causa
principal de os direitos humanos ainda
no terem alcanado plena efetividade,
ou, ao menos, efetividade igual dos
direitos patrimoniais, como o direito
de propriedade, por exemplo. Embora
nossa realidade ateste uma profunda e
inaceitvel injustia social, a maior par-
te das pessoas vtimas dessa situao
no sabem que tm direito (!) de satisfa-
zer as suas necessidades vitais, sem as
quais suas vidas e liberdades passam a
estar sob permanente risco.
A fome, a doena, a ignorncia, a
insegurana, entre outros males que
afetam multides de brasileiros e bra-
sileiras, continuam sendo consideradas
fatalidades ou, pior, so atribudas res-
ponsabilidade das prprias pessoas que
delas padecem. Pela redao das leis que
reconhecem os direitos humanos, de-
vem elas merecer um cuidado preferen-
cial, justamente por fora dos precon-
ceitos que pesam sobre elas. Constituir
os direitos humanos nos atos da admi-
nistrao pblica e do Judicirio como
uma exceo e no como regra cria um
crculo vicioso. Relegados desconside-
rao e at indiferena, os seus efeitos
jurdico-sociais se frustram, impondo, a
cada perodo histrico, novas formula-
es e novas afrmaes da urgncia de
serem respeitados.
No Brasil, a sucesso histrica de
democracias, quando menos formais,
interrompidas por ditaduras comprova
esses fatos. Se os direitos humanos so
universais, indivisveis, interdependen-
tes e inalienveis, basta a ausncia de
uma dessas caractersticas, na realidade
da convivncia humana, para se ter cer-
teza de que esto sendo violados.
Convm, ento, lembrar a classi-
fcao desses direitos, pelo menos a
mais geral, com o objetivo de empode-
rar a sua defesa, evitando-se acentuar
o desvio ideolgico que os coloca em
nvel inferior aos patrimoniais ou que
simplesmente, os ignora.
So reconhecidas trs espcies
tradicionais de direitos humanos,
alm de uma quarta espcie, o direi-
to de solidariedade humana, que est
em fase de debate h bastante tempo,
embora sobre ele no exista consenso.
Os trs primeiros so: os direitos civis
e polticos; os direitos sociais, tam-
bm chamados de coletivos; e os di-
reitos culturais e ambientais. Depen-
dendo do perodo histrico em que
foram reconhecidos, so identifica-
dos tambm por geraes, em cada
uma das quais se reconhecem os direi-
tos econmicos.
227
D
Direitos Humanos
Atualmente, por causa da explo-
rao predatria da terra e da agres-
so progressiva fauna e fora, os
nveis de poluio do ar e das guas
acentuaram-se nos ltimos anos de
modo particular com o uso de se-
mentes transgnicas e agrotxicos ,
est-se estudando uma subclasse dos
direitos ambientais, a dos direitos de
geraes futuras.
Os direitos humanos civis e pol-
ticos impem limitaes ao prprio
poder de interveno do Estado sobre
o gozo e o exerccio deles. So as li-
berdades prprias desses direitos que
obrigam as naes a respeit-los. Nesse
caso pelo menos segundo as leis que
preveem esses direitos , as aes do
Poder Pblico que afetem essas liber-
dades somente se justifcam no caso de
elas se encontrarem sob ameaa ou te-
rem sido violadas. Servem de exemplo,
entre outras, as liberdades de ir e vir, de
opinio, de associao, de crena e de
escolha de representantes do povo nos
governos, por meio do voto.
Tanto a Declarao Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, quanto a
nossa Constituio Federal reconhe-
cem tais direitos. Diz a ltima, por
exemplo: ningum ser obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coi-
sa seno em virtude de lei (artigo 5,
inciso III).
J os direitos humanos sociais,
tambm chamados de coletivos, so
aqueles que, para serem efetivamente
garantidos, exigem o posicionamento
ativo do Estado, uma movimentao
concreta da sua administrao a seu
favor. Servem de exemplo, entre ou-
tros, os direitos lembrados pelo artigo
6 da nossa Constituio: So direitos
sociais a educao, a sade, a alimen-
tao, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurana, a previdncia social, a pro-
teo maternidade e infncia, a as-
sistncia aos desamparados, na forma
desta Constituio.
Esses so direitos a uma vida digna.
De nada adianta reconhecer o direito vida
sem garantir-se o direito aos meios de vida,
realidade essa que, por si s, questiona o po-
sicionamento de quantas/os no consideram
pobreza ou misria como violao de direito.
A maior diferena, portanto, entre
os direitos humanos civis e polticos e
os sociais se encontra na efetividade das
garantias que uns e outros tm. Ns no
precisamos do Poder Pblico para emi-
tir opinio sobre determinado assunto
que afete um interesse ou um direito
nosso, por exemplo. Ns mesmos nos
garantimos o exerccio de tal direito,
desde que essa opinio no ameace
ou viole o direito alheio, como ocorre
quando algum fala em favor da prtica
de um crime.
Se estamos sofrendo de uma doen-
a grave, porm, e no temos dinheiro
para pagar um mdico ou a internao
em hospital, do Estado a obrigao
de nos proporcionar os meios para que
essa assistncia seja garantida. Por se tra-
tar de um direito social, a obrigao de
garanti-lo principalmente do Estado.
Em relao aos direitos humanos
culturais e ambientais, considerados de
terceira gerao, vale muito do que se
disse anteriormente sobre os sociais,
inclusive pelo fato de, neles, verifcar-
se a possibilidade permanente de con-
fito com os patrimoniais. Basta que se
lembre, a respeito, presso que sofrem
os povos indgenas e os quilombo-
las pelo avano do agronegcio sobre
suas terras. A histria tem demonstra-
do como a explorao predatria da
terra e as agresses ao meio ambiente
ocorrem a.
Dicionrio da Educao do Campo
228
Caberia examinar ainda neste ver-
bete os crimes praticados contra a in-
tegridade fsica e moral das pessoas
(como os hediondos, de abuso de
poder, de crcere privado, de assdio
sexual, de racismo, de tortura, de ho-
mofobia, de explorao do trabalho
escravo, de negao do direito de defe-
sa para pessoas processadas ou presas,
e tantos outros), mas os limites deste
texto no permitem que isso seja feito.
sufciente a lembrana de que, para
os direitos humanos, a dignidade da
pessoa que est ameaada ou agredi-
da de modo particular em tais casos,
no se permitindo em nenhum deles a
condescendncia com a impunidade.
J hora, ento, de relembrar,
mesmo resumidamente, as responsa-
bilidades prprias de cada pessoa, da
sociedade e do Poder Pblico, no con-
cernente s garantias devidas aos direi-
tos humanos.
Desafios relacionados a
responsabilidades inerentes
aos direitos humanos
Os direitos humanos ainda esto
longe de alcanar a efetividade na ga-
rantia de uma convivncia solidria en-
tre as pessoas e na eliminao de injus-
tias sociais, como preveem as leis que
os instituem.
Por isso, a interpretao e a aplica-
o dessas leis carece de um envolvi-
mento maior, capaz de comprometer
a administrao pblica e o Judicirio
com uma postura sufciente para ga-
rantir esses direitos de forma concreta.
A racionalidade que preside a apli-
cao das leis no que diz respeito a
outros direitos precisa ser substituda
pela razoabilidade quando esto em
causa os direitos humanos. Na razoabi-
lidade, est mais presente a qualidade
de vida, a tica, o respeito aos valores,
a justia distributiva, ao passo que na
racionalidade importa mais a quan-
tidade, a tcnica, a justia retributiva.
Assim, para dar soluo a um confito
envolvendo multido pobre, quando se
invoca a necessidade de se obedecer ao
devido processo legal, muito raramen-
te se questiona se essa legalidade no
est inviabilizando o devido processo
social, inerente aos direitos humanos.
A nossa Constituio Federal pre-
viu, no seu artigo primeiro, a dignidade
humana e a cidadania como dois dos
fundamentos da Repblica, e colocou
os direitos civis e polticos juntamen-
te com os coletivos num mesmo
captulo, justamente o dos direitos e
garantias fundamentais, dando-lhes
abrigo em clusulas ptreas no seu
artigo 60.
A Constituio visou garantir pelo
menos duas coisas: que nenhum con-
fito entre brasileiras/os possa ser de-
cidido sem consulta e respeito ao dis-
posto sobre tais condies de vida e de
liberdade, e que, estando em lide com
outros direitos, exige a superior hierar-
quia dos direitos humanos que no se-
jam eles os sacrifcados.
Trata-se da difcil garantia de tornar
compatveis os direitos de liberdade e
de segurana com os de igualdade e de
emancipao. H muito debate terico
e prtico sobre a igualdade, entre quem e
sobre o que ela deve ser referida. Em
matria de direitos, por paradoxal que
parea, pretender a igualdade signifca
respeitar diferenas.
Em realidade, os direitos humanos
que garantem a igualdade visam, princi-
palmente, eliminar desigualdades que no se
justifcam, nem econmica, nem poltica, nem
socialmente, como as de um tratamento
229
D
Direitos Humanos
pblico que discrimine as pessoas pelo
seu poder econmico. Vale lembrar, por
isso, que as leis sobre responsabilidade
jurdica preveem quatro elementos, de
regra, para a responsabilidade poder ser
reconhecida como imputvel a algum:
a capacidade (coisa que sufciente para
eximir de responsabilidade uma crian-
a ou um dbil mental), o fator causal
(nexo provado entre a ocorrncia de um
fato e o sujeito que o provocou), o papel
social (situao do indigitado respons-
vel dentro do convvio, do poder que ele
exerce sobre os demais) e a sancionabi-
lidade (previso legal dos efeitos que a
imputabilidade acarreta).
Ora, por tudo isso que os direitos
humanos, particularmente os sociais,
sofrem muito da ameaa e da violao,
que so consequncias do movimen-
to do chamado livre mercado, porque
esse dotado de um poder tal que aca-
ba por garantir irresponsabilidades.
No por acaso, a injustia social, to
presente em nosso pas, conserva suas
causas e seus perversos efeitos, justa-
mente pela fraqueza com que a inter-
pretao e a aplicao das leis relacio-
nadas aos direitos humanos alcanam
efetividade. Assim, importa analisar
os encargos prprios dessas respon-
sabilidades, objetivando, tambm re-
sumidamente, esclarecer como podem
ser identificados.
Desafios pblicos e privados
e direitos humanos
Pelo exposto at aqui, impossvel
negar que os direitos humanos sofrem
de uma histrica anemia e vivem sob
crise permanente. Se ela menos vis-
vel nos direitos civis e polticos, pela
sua prpria condio de autonomia,
pode ser identifcada como consti-
tuinte dos direitos sociais, culturais e
ambientais, que esto em permanente
processo de construo e reconheci-
mento. Se at os j constitudos de-
mocraticamente (reconhecidos em lei),
permanecem, pelo menos em parte, sem
efetividade, os que ainda so devidos
tm a sua vigncia prorrogada sempre
para um remoto e pouco provvel futu-
ro. Os direitos humanos que dependem
das reformas agrria, urbana, tributria
e poltica do exemplo desse fato.
por essa razo que os direitos so-
ciais, culturais e ambientais dependem
muito mais da democracia econmica e
participativa do que, somente, de uma
democracia representativa. Esta no
tem conseguido caracterizar, de forma
plena, um Estado como efetivamente
democrtico, social e de direito, como
comprova a simples preferncia verifca-
da no destino dado s verbas oramen-
trias pelas administraes pblicas.
Que o Estado no deve descurar da
proteo aos direitos civis e polticos,
bem como aos patrimoniais, isso nin-
gum discute. Aos sociais, ambientais
e culturais, ento, como aqui j se de-
monstrou, o apoio do Estado, inclusive
fnanceiro, indispensvel.
fato notrio, por outra parte,
que o direito de propriedade ocupa (se
no na lei) na realidade econmico-
social do Brasil uma posio prefe-
rencial, com poder suficiente para
pr em risco garantias e liberdades
prprias de outros direitos. Em razo
da chamada liberdade de iniciativa,
prevista no artigo 170 da Constituio
Federal, qualquer interveno pbli-
ca ou privada que afete o direito de
propriedade pode ser julgada como
infrao da lei que o sustenta, passvel
de responsabilizao civil ou penal de
quem a pratique.
Dicionrio da Educao do Campo
230
o livre mercado que dita a conve-
nincia, ento, de os contratos criarem
a circulao das coisas, das mercado-
rias, mediante compra e venda, mesmo
que essa liberdade ponha em risco ou,
excees parte, comprometa a liber-
dade alheia. O poder econmico das
empresas transnacionais sobre o nosso
territrio, na era da nova globalizao,
d exemplo desse fato. A se encontra,
talvez, a principal razo de a funo
social da propriedade, aquela parte das
obrigaes que esse direito comporta,
refetir-se to pouco em nossa realida-
de, e o Poder Pblico carecer da capa-
cidade efetiva de fscaliz-la. A defesa
da funo social da propriedade deveria
traduzir-se, concretamente, no exerccio
de um poder sobre as coisas, garantido
como legal e justo, somente sob a con-
dio de no acarretar prejuzo para ou-
tras pessoas, para o povo em geral. No
o que acontece, por exemplo, com
um proprietrio de empresa ou de uma
frao de terra que mantenha trabalho
escravo, no pague o devido aos seus
empregados, desmate de forma indiscri-
minada, polua o solo e o ar, e assoreie os
rios, dando propriedade, portanto, um
tipo de uso incompatvel com a vida das
outras pessoas e da natureza.
Quem compra e vende terra, um
bem essencial vida de toda a huma-
nidade, est muito mais preocupado
com o resultado econmico e poltico
(lucro, poder) do que com o possvel
dano alheio. E o Estado, sabidamente,
se no tem tido, historicamente, poder
para corrigir o mal da decorrente, mui-
to menos tem para preveni-lo. Assim,
no h exagero nenhum em afrmar
que o exerccio de um direito, como o
de propriedade, dependendo da forma
como feito, gerador de risco para
outros direitos humanos, como os so-
ciais, os ambientais e os culturais.
Sempre que os encargos prprios
do direito de propriedade so desobe-
decidos, os encargos de quem inter-
preta e aplica as leis que o disciplinam
so os de conferir no s se a aquisio
da propriedade se deu de forma lcita,
mas tambm se o direito de proprie-
dade ainda se conserva como capaz de
ser reconhecido e garantido como tal.
Um direito de propriedade que infrin-
ge outros direitos no pode ser tratado
e respeitado, sem mais, como direito
adquirido. Esse direito somente pode
ser considerado conservado (!) uma vez
que tenham sido cumpridas as obri-
gaes que lhe incumbem. Portanto,
se a funo social faz parte do ncleo
essencial do direito de propriedade,
para que esse direito seja respeitado,
necessrio que os requisitos da funo
social da propriedade sejam observa-
dos e cumpridos.
Note-se a diferena que existe a
em relao aos direitos humanos. No
caso de um bem pertencente a algum
ser desapropriado, justamente porque
ali se verifcou uma utilizao antisso-
cial, o seu proprietrio indenizado,
mesmo que seja com ttulos da dvida
pblica (ver, a propsito, o artigo 184
da Constituio Federal). Comprova-
se, ento, a superioridade atribuda a tal
direito em relao aos direitos huma-
nos. Se uma atitude ilcita desse tipo,
capaz de causar dano a toda a socie-
dade, acaba tendo de ser paga por essa
mesma sociedade a verdadeira vtima
desse mau uso , impossvel deixar de
concluir que o direito de propriedade,
mesmo aquele mal exercido, violando
direitos humanos, at remunerado
pelo mal que provoca...
Esse talvez seja o nico caso em
que se garante que algum seja pago
pela prtica continuada de um ato il-
231
D
Diversidade
cito. Da pode-se concluir que um dos
principais encargos da administrao
pblica, do Poder Judicirio, do povo
e da prpria vtima de violao dos di-
reitos humanos o de rebelar-se contra
uma contradio de efeitos to preju-
diciais ao bem-estar social. Em casos
extremos, fca sempre aberta a possibi-
lidade, at, do direito resistncia e
desobedincia civil.
O chamado respeito lei, por-
tanto, to lembrado em sentido opos-
to ao exerccio dos direitos humanos,
especialmente os de gente pobre, tam-
bm tem o seu encargo: o de no ser
invocado sem a lei do respeito.
Para saber mais
ALFONSIN, J. T. A terra como objeto de coliso entre o direito patrimonial e os
direitos humanos fundamentais. Estudo crtico de um acrdo paradigmtico. In:
STROZAKE, J. (org.). A questo agrria e a justia. So Paulo: RT, 2000. p. 202-222.
______. O acesso terra como contedo de direitos humanos fundamentais alimentao e
moradia. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003.
BICUDO, H. Direitos humanos e sua proteo. So Paulo: FTD, 1997.
CARVALHO, J. S. (org.). Educao, cidadania e direitos humanos. Petrpolis: Vozes, 2004.
HERKENHOFF, J. B. Gnese dos direitos humanos. So Paulo: Aparecida, 1994.
D
DIVERSIDADE
Miguel G. Arroyo
Por que dar ateno e centralidade
diversidade na construo de um pro-
jeto de Educao do Campo? Porque
as lutas pela construo da Educao
do Campo carregam as marcas histri-
cas da diversidade de sujeitos coletivos,
de movimentos sociais que se encon-
tram nas lutas por outra educao em
outro projeto de campo e de sociedade.
Reconhecer essa diversidade enriquece
o projeto de Educao do Campo.
O reconhecimento da diversidade de
coletivos em lutas por terra, territrio,
trabalho, educao, escola est presente
na histria da defesa de outra educao
do campo nas conferncias, no frum
e na presso por polticas pblicas, na
proximidade dos cursos de Formao de
Educadores, Pedagogia da Terra e For-
mao de Professores para o campo, in-
dgenas, quilombolas etc. A diversidade
est exposta e exige reconhecimento.
Neste verbete, discute-se a construo
da diversidade no prprio movimento de
conformao da educao do campo.
A diversidade e os princpios
da Educao do Campo
Podemos levantar a hiptese de que
o reconhecimento da diversidade no
Dicionrio da Educao do Campo
232
enfraquece, e sim fortalece, os princ-
pios em que se assenta a construo te-
rica da Educao do Campo, do pro-
jeto de campo e de sociedade. Esses
conceitos, matrizes da concepo de
educao, so construes histricas
em tensa relao com a diversidade de
sujeitos e de coletivos sociais, tnicos,
raciais, de gnero. Pesquisar a fundo
essa construo uma exigncia na
conformao da Educao do Campo.
Diversos no fazer-se na histria
Um dos princpios que orienta a
Educao do Campo que os seres hu-
manos se fazem, se formam e se huma-
nizam no fazer a histria. Consequente-
mente, a diversidade de formas de fazer
a histria e o fato de os seres humanos
serem reconhecidos como sujeitos
de histria ou serem segregados da nossa
histria imprime determinadas marcas
no fazer-se, no formar-se, no humani-
zar-se que exigem reconhecimento na
teoria e nos projetos de formao.
Um dos traos marcantes na nossa
histria social, poltica e cultural tem
sido a produo de coletivos diversos
em desiguais; tem sido, ainda, a pro-
duo dos diferentes em gnero, em
raa, em etnia, e tambm dos traba-
lhadores do campo como inexisten-
tes, segregados e inferiorizados como
sujeitos de histria. As tentativas de
mant-los margem da histria hege-
mnica e margem da histria social,
econmica, poltica e cultural tm sido
uma constante.
Levar em conta essa diversidade
de reconhecimentos na construo de
nossa histria enriquece e torna mais
complexo o projeto de educao em
um de seus princpios bsicos: o de que
nos fazemos fazendo a histria.
Diversos no padro de trabalho
Por sua vez, o reconhecimento do
trabalho como princpio educativo exi-
ge o reconhecimento do carter sexista
e racista do padro de trabalho, espe-
cifcamente em nossa formao social.
Esse carter condiciona as formas de
explorao para alm do pressuposto
da igualdade formal da explorao que
se d por sua condio de trabalhado-
res. A identidade trabalhadores est
transpassada pela diversidade de con-
textos culturais e histricos de relaes
de classe em que essa identidade se
produz, porm isso no anula as dife-
renas de gnero, raa, etnia... Elas so
antes incorporadas e reforadas nas re-
laes de explorao do trabalho.
O trabalho reduzido mercadoria
tem preos diferentes, dependendo
da diversidade dos sujeitos coletivos.
Consequentemente, passa a ser uma
exigncia reconhecer e se aprofundar
nas diversas formas de insero no tra-
balho, na produo dos meios de vida e
de conhecimento, na criao cultural e
identitria e na sociabilidade, e nos di-
ferentes modos de segregao e explo-
rao do trabalho por uma diversidade
de coletivos.
Reconhecer o trabalho como fon-
te de toda a produtividade e expresso
da humanidade do ser humano, de sua
formao-humanizao, exige dirigir o
foco para os padres de trabalho, to
marcados por segregaes de gnero,
orientao sexual, raa, etnia, campo...
A formao da diversidade em desigual-
dades se expressa nas desigualdades no
trabalho. Uma histria que os coletivos
inferiorizados, porque diferentes, ex-
pem em suas lutas e movimentos.
Esses coletivos resistem a que as
formas de controle do trabalho, de sua
233
D
Diversidade
explorao, continuem associadas di-
versidade de sua condio. Resistem a
que o controle de hierarquias de traba-
lho continue operando como controle,
segregao e inferiorizao de coleti-
vos especfcos. Os coletivos feitos to
desiguais porque diversos explicitam
as estreitas relaes entre padres de
dominao, de poder e de trabalho. Ao
vivenciar e reagir a essas relaes, mos-
tram a complexidade de vincular traba-
lho e formao humana. Enriquecem a
concretude histrica do trabalho como
princpio educativo e como expresso
da humanizao.
A teoria pedaggica obrigada a
entender a diversidade das formas de
controle, de explorao do trabalho e
de apropriao dos produtos do traba-
lho e da terra, associadas produo
histrica dos diversos como desiguais.
obrigada a aprofundar questes his-
tricas nucleares: como foi associada
a explorao do trabalho constru-
o hierrquica dessas identidades em
nossa histria do trabalho? Como essa
cosntruo persiste? Como continua
legitimando a alocao desses coleti-
vos nas formas mais precarizadas de
trabalho, ou sua alocao na hierarqui-
zao racista e sexista do trabalho e
dos salrios, e nas hierarquias de ges-
to, no interior do capitalismo colo-
nial e moderno?
Assumir o trabalho como prin-
cpio educativo exige aprofundar no
papel deformador dessas hierarquias
e compreender qual o papel formador
das resistncias a essas hierarquias por
parte dos coletivos segregados. Essas
questes enriquecem as propostas
educativas que assumem o trabalho
como princpio educativo e que pre-
tendem conformar a escola do traba-
lho no campo.
Diversos no padro de poder
Outro ponto que as lutas dos co-
letivos diversos nos trazem a con-
formao histrica do padro racista
e sexista de poder, com as relaes
de dominao-subordinao. Anbal
Quijano (2005) nos lembra que os
padres de poder, de controle do tra-
balho, de seus recursos e de seus pro-
dutos, da apropriao-expropriao
da terra, de dominao-subordinao
esto marcados e legitimados na ideia
de raa ou na suposta inferioridade dos
povos indgenas e negros. Essa suposta
inferioridade traspassa as relaes so-
ciais, polticas, econmicas e culturais
em nossa formao histrica:
Na medida em que as relaes
sociais que se estavam confgu-
rando eram relaes de domi-
nao, tais identidades sociais
foram associadas s hierarquias,
lugares e papis sociais corres-
pondentes, como constitutivas
delas e, consequentemente, ao
padro de dominao que se
impunha. Em outras palavras,
raa e identidade racial foram
estabelecidas como instrumen-
tos de classifcao social bsica
da populao. (Quijano, 2005,
p. 228-229)
Se essas inferiorizaes raciais
tm operado em nossa formao po-
ltica como legitimadoras das estrutu-
ras de poder, as reaes polticas dos
movimentos sociais indgenas, ne-
gros e quilombolas tm sentido espe-
cial, por afrmarem identidades positivas
e desconstrurem hierarquias e lugares
e papis sociais inferiorizantes e se-
gregadores. Essas reaes conferem
Dicionrio da Educao do Campo
234
dimenses polticas especficas, en-
riquecedoras das lutas contra os
padres histricos de dominao-
subordinao e de libertao. Que
peso formador pode-se reconhecer
nessa especificidade das resistncias
vindas da diversidade em um projeto
de educao libertadora? Como reco-
nhecer a politizao das diversidades
nas lutas coletivas no campo? Em que
aspectos essa politizao da diversi-
dade repolitiza as lutas por projetos
de campo e de educao do campo?
Diversos nas inseres e
relaes territoriais
No verbete QUILOMBOS, Renato
Emerson dos Santos mostra como as
resistncias escravido e as lutas pela
liberdade apontam para um modelo
alternativo de sociedade e de insero
territorial, de atividades produtivas,
de ocupao das terras. No presente,
travam-se lutas por direito ao territ-
rio, vida, memria e s identidades
coladas terra-territrio, e elas so
processos que resultam na formao
de sujeitos coletivos, identitrios, de
territorialidades e de patrimnio cul-
tural, e que expressam a persistente
relao histrica entre raa, etnia e ter-
ra, territorialidades. So processos so-
ciais que engendram formas espaciais
e de produo em comunidades negras
de produo camponesa; que repro-
duzem hierarquias sociorraciais na
insero-segregao do trabalho livre,
no direito terra-territrio, cultura
e identidade e ao conhecimento, na
insero inferiorizante de populaes
negras, indgenas e quilombolas nos
espaos urbanos e dos campos, proces-
sos esses que persistem na segregao-
inferiorizao na sociedade de classes,
na multiplicidade de hierarquias de base
racial e tnica uma realidade to marcan-
te na identidade dos povos do campo.
A conscincia dessa diversidade, de
condicionantes do direito terra-terri-
trio, confere uma rica complexidade s
lutas do campo e, consequentemente, s
lutas por outro projeto de educao do
campo num outro projeto de campo e
de sociedade. Essas identidades nas lu-
tas por terra-territrio, pela agricultura
camponesa, tm levado a identidades de
lutas por projetos de campo, de educa-
o, de formao de educadores...
Diversos nas formas de
opresso-libertao
No verbete PEDAGOGIA DO OPRIMI-
DO, lembramos que Paulo Freire ressal-
ta a experincia da opresso-libertao
como matriz pedaggica. As lutas dos
coletivos oprimidos pela libertao
revelam que a diversidade das formas
de opresso tem estreita relao hist-
rica com os processos de transformar
em desiguais os coletivos diversos em
gnero, etnia, raa, classe, campo. Os
mecanismos de dominao-opresso
tm produzido essa inferiorizao his-
trica que os seres humanos desses
coletivos sofrem incorporando-as
e reforando-as. Contudo, ainda nos
falta pesquisar mais a fundo a forma
como as relaes polticas de domina-
o-opresso so racistas e sexistas.
H padres histricos especfcos
de opresso vinculados produo das
diversidades em desigualdades. Resulta
ingnuo supor que h uma forma nica
de opresso e um movimento poltico
legtimo de libertao que secundarize
e dilua, ou deslegitime como polticas,
a diversidade de lutas por libertao da
diversidade de experincias histricas
235
D
Diversidade
de opresso. Paulo Freire no se refere
a uma opresso genrica, mas de cole-
tivos e de trabalhadores concretos, dos
campos e das periferias.
As reaes especfcas de cada cole-
tivo segregao-opresso, a diversida-
de de estratgias, de aes coletivas e de
movimentos pela libertao, expem esse
dado histrico da diversidade de proces-
sos de opresso ou as formas diferen-
ciadas, em intensidade e desumanidade,
de opresso dos diferentes, por serem di-
ferentes, pensados como inferiores.
Por sua vez, as resistncias opres-
so e as lutas pela libertao so mlti-
plas e se reforam, porque h conscin-
cia de que os processos histricos de
opresso so mltiplos e se reforam.
Eles so inseparveis dos processos
brutais de segregao dos diferentes
to persistente em nossa histria. Igno-
rar essas especifcidades reduz a fora
poltico-pedaggica da experincia da
opresso-libertao em todo projeto
de educao.
O padro segregador de
conhecimento
Em nossa formao social e poltica,
no apenas o padro de poder, de traba-
lho, racista e segregador dos coletivos
diversos, mas tambm o padro de co-
nhecimento e de racionalidade carrega
uma funo segregadora e de produo
das diversidades como inferioridades.
A defesa da Educao do Campo
se justifca como uma ao afrmativa
para correo da histrica desigualda-
de sofrida pelas populaes do campo
em relao ao seu acesso educao
bsica e superior. Porm essa desi-
gualdade tem determinantes histricos
mais radicais e mais profundos: no
apenas desigualdade de acesso, mas da
classifcao dessas populaes como
diversas pelo padro segregador do
conhecimento, que estruturante em
nossa histria poltica. A luta pelo co-
nhecimento pressupe a luta contra o
padro segregador de conhecimento.
Boaventura de Sousa Santos (2010)
nos lembra que o padro de conheci-
mento opera dividindo os coletivos so-
ciais em existentes e inexistentes para
o conhecimento. Esse padro conce-
de cincia moderna o monoplio da
distino entre o verdadeiro e o falso.
A visibilidade da cincia, da raciona-
lidade e do conhecimento legtimos,
hegemnicos, verdadeiros, assenta-se
na declarao de invisibilidade e inexis-
tncia de outras formas alternativas de
conhecimento, de cincia e de raciona-
lidade. Igualmente a invisibilidade das
formas alternativas de conhecimento ou
sua classifcao como ilegtimas se as-
senta na segregao dos outros coletivos
humanos como irracionais, incapazes de
produzir conhecimentos legtimos.
A segregao histrica mais radical
nesse campo a declarao de incapa-
zes de produzir conhecimento reco-
nhecvel dirigida aos povos do campo,
indgenas, negros, quilombolas e tra-
balhadores. Consequentemente, seus
conhecimentos no sero reconhecidos
como conhecimentos porque produ-
zidos por coletivos segregados como
incultos e primitivos, como irracionais
atolados no misticismo. Desse lado do
falso pensar, no h conhecimento
aceitvel, real, apenas existem crenas,
opinies, magia, idolatria, entendimen-
tos intuitivos ou subjetivos (Santos,
2010, p. 33-34).
Essa suposta inexistncia dos diversos
para o conhecimento tem operado em
nossa histria de maneira mais segregado-
ra dos trabalhadores e dos povos do campo
Dicionrio da Educao do Campo
236
do que a desigualdade de acesso esco-
la. Essa desigualdade se legitima na sua
suposta inexistncia para o conhecimen-
to. Para que dar acesso ao conhecimento
a coletivos pensados como irracionais e
inexistentes para o conhecimento?
Anbal Quijano (2005) introduz a
categoria poder-saber e mostra como
os diversos povos constituintes de nos-
sa formao latino-americana tinham e
tm sua prpria histria, sua lingua-
gem, seus descobrimentos e produtos
culturais, sua memria e suas identida-
des. O padro de poder-saber racista os
declara inexistentes. O resultado dessa
histria de poder-saber racista teve
duas implicaes decisivas. A primeira
obvia: todos esses povos foram des-
pojados de suas prprias e singulares
identidades histricas... A segunda ,
talvez, menos bvia, mas no menos
decisiva: sua nova identidade racial, co-
lonial e negativa, implicava o despojo
de seu lugar na histria da produo
cultural da humanidade. Da em diante
no seriam nada mais do que raas in-
feriores, capazes somente de produzir
culturas inferiores.
O padro de poder baseado na co-
lonialidade implica tambm um padro
cognitivo (Quijano, 2005, p. 249), um
padro racista, segregador de poder-
saber que persiste e contra o qual resiste
a diversidade de coletivos que se afr-
mam sujeitos na histria da produo
intelectual e cultural da humanidade
despojados de suas prprias identidades
histricas porque vistos como inferiores.
Nessa histria, esses povos conferem s
suas lutas pelo direito escola, uni-
versidade e ao conhecimento uma den-
sa radicalidade. uma luta para serem
reconhecidos e para se afrmarem como
sujeitos de conhecimentos, de formas
de pensar, de culturas e identidades;
uma luta contra o padro segregador de
poder-saber. Assim, os trabalhadores, o
movimento operrio, tm estado nessa
fronteira, lutando pelos saberes do tra-
balho e pelo seu reconhecimento como
produtores de outros conhecimentos.
Esto em disputa contra o conhecimen-
to hegemnico e tambm por outro pa-
dro de poder-saber.
Reconhecimento da
diversidade no projeto de
Educao do Campo
O projeto de campo e de Educao
do Campo traz a marca histrica da
participao da diversidade de coleti-
vos e de movimentos, diversidade que
o enriquece e lhe confere maior radica-
lidade poltico-pedaggica. Como ex-
plorar essa riqueza poltico-pedaggica
no projeto educativo do campo, nos
currculos de formao e de educao
bsica, na pedagogia dos movimentos?
Um dos caminhos aprofundar a
contribuio dos coletivos diversos na
conformao dos princpios-matrizes
formadores da Educao do Campo
destacados nas anlises. Esse pode ser
um campo de pesquisas, anlises e in-
teraes entre os diversos movimentos,
sobretudo nos cursos de Pedagogia da
Terra e de Formao de Professores, as-
sim como nos projetos e encontros de
pesquisa sobre Educao do Campo.
Outro caminho ser introduzir, nos
currculos de formao de educadores,
dirigentes e militantes, a histria da
construo dos diferentes em desiguais
ou a histria da construo racista ou
sexista dos padres de poder, de co-
nhecimento, de dominao e opres-
so, de trabalho e de apropriao-ex-
propriao da terra e da produo to
determinantes e persistentes em nossa
histria. A especifcidade de nossa for-
237
D
Diversidade
mao social e poltica na histria da
dominao e da opresso do trabalho e
da terra merece destaque nos currcu-
los de formao e de educao bsica.
H que se pesquisar e teorizar tam-
bm com maior profundidade sobre os
determinantes histricos da persistente
precarizao da escola do campo, so-
bretudo os determinantes histricos da
conformao dos outros como inexis-
tentes na histria intelectual e cultural.
Se no analisarmos a fundo a histria
da produo dessas inexistncias dos
povos diversos do campo, ser difcil
entender a negao da escola do cam-
po e a construo de outra escola.
Uma das funes dos currculos de
educao do campo ser a de dar cen-
tralidade poltica e pedaggica ao direito
da infncia e da adolescncia, dos jovens
e dos adultos do campo a se conhece-
rem nessa especifcidade histrica e de
garantir o seu direito a se reconhecerem
nesses processos de segregao e infe-
riorizao. A histrica inferiorizao dos
povos do campo se traduz nas represen-
taes sociais, polticas e culturais, que
carregam essas marcas inferiorizantes
dos coletivos diversos. Desconstruir es-
sas representaes ser uma funo da
escola do campo.
O direito a saber-se
nessa histria de
inferiorizao-emancipao
Os processos de inferiorizao
do trabalho no campo, da agricultura
e da cultura camponesas tm sido re-
forados nos mesmos processos de
inferiorizao e segregao de outras
diferenas. Que peso dar a essa histria
no direito a saber-se desde a infncia
na escola do campo, indgena, quilom-
bola? Lembremos que esses coletivos e
o movimento negro conseguiram que
conste na Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) e nos currculos de educao
bsica a garantia do direito a sua me-
mria e cultura como confgurante do
direito histria e como mecanismo de
reconstruo da histria hegemnica.
H, porm, uma histria de emanci-
pao. E necessrio garantir o conhe-
cimento a essa histria de resistncias
e de emancipao, dando centralidade
nos currculos de formao e de educa-
o bsica sobretudo diversidade de
resistncias, de aes e movimentos da
diversidade de coletivos e de povos
do campo; reconhecendo os saberes
acumulados sobre esses processos
de resistncia e de libertao em sua
rica diversidade como direito ao co-
nhecimento; e incorporando-os nas
escolas e nos currculos de formao
(Arroyo, 2011).
Mereceria destaque especial no
projeto de Educao do Campo pes-
quisar e teorizar sobre a diversidade de
processos de desumanizao que tm
acompanhado os processos de produ-
zir os outros, os diferentes em desi-
guais, em oprimidos, e que persistem
neles. Com que perversas pedagogias
foram produzidos e tratados como
desiguais porque diferentes. Por exem-
plo, pesquisar mais sobre qual o preo
desumanizante da expropriao do ter-
ritrio, da terra e dos seus processos
de produo. Tambm pesquisar mais
sobre os processos de humanizao
de que so sujeitos, ao produzirem-se
como coletivos culturais, identitrios,
humanos. Dar maior destaque nas teo-
rias pedaggicas e nos cursos de for-
mao a pesquisar e teorizar com que
pedagogias esses coletivos reagem,
se afrmam, humanizam? Qual o peso
formador e humanizador especfco
Dicionrio da Educao do Campo
238
das diversas lutas por terra, territrio,
vida, produo e trabalho? Como nessa
diversidade de resistncias se formam,
educam, humanizam-se, afrmam-se
como sujeitos de histria poltica, inte-
lectual, cultural e tica?
Conhecer essa histria de inferio-
rizao-emancipao ser uma contri-
buio histria do pensamento peda-
ggico. Segregar os coletivos diversos
porque diferentes como inferiores at
em humanidade tem representado um
empobrecimento do humano. Nas suas
lutas pelo reconhecimento da diversi-
dade eles enriquecem a compreenso
do humano, enriquecendo as teorias e
os projetos de formao humana.
A incorporao dessa comple-
xidade de processos formadores na
conformao histrica e poltica da
diversidade de coletivos e de povos
do campo confere uma radicalidade
poltica conformao da Educao
do Campo.
Para saber mais
ARROYO, M. G. Currculo, territrio em disputa. Petrpolis: Vozes, 2011.
MANANO, B. et al. A terra e os desterrados: o negro em movimento. In: SANTOS,
R. E. (org.). Diversidade, espao e relaes tnico-raciais. Belo Horizonte: Autntica,
2007. p. 137-164.
QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e Amrica Latina. In:
LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: etnocentrismo e cincias sociais.
Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 227-278.
______. O que essa tal de raa. In: SANTOS, R. E. (org.). Diversidade, espao e rela-
es etnico-raciais. Belo Horizonte: Autntica, 2007. p. 43-52.
SANTOS, B. de S. Para alm do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecolo-
gia de saberes. In: ______; MENEZES, M. P. (org.). Epistemologias do Sul. So Paulo:
Cortez, 2010. p. 31-83.
239
E
E
EDUCAO BSICA DO CAMPO
Lia Maria Teixeira de Oliveira
Marlia Campos
Para se compreender o cenrio da
educao bsica do campo em meio
luta poltica pelos direitos humanos nas
reas rurais do Brasil (sertes, interior,
campo, rinces), diante da diversidade
de projetos, h que se buscar elemen-
tos, eventos, processos e movimentos
que contribuam para a constituio
dessa realidade. Xavier (2006) provoca
a refexo propondo algumas pergun-
tas essenciais para este tema: existem
especifcidades na educao do cam-
po? Qual a relao da educao do
campo com os movimentos sociais?
Quais os desafos a serem enfrentados
na implantao da educao do campo?
Qual a relao entre a educao do
campo e a educao popular? As per-
guntas que Xavier elabora, ao lado
dos estudos de outros autores como
Arroyo e Molina (1999) e Arroyo et al.
(2004) , compem uma refexo que
vem sendo produzida desde o fnal dos
anos 1990 sobre a prxis dos sujeitos e
atores do campo.
O contexto educacional recente
do mundo rural vem sendo transfor-
mado por movimentos instituintes
que comearam a se articular no fnal
dos anos 1980, quando a sociedade ci-
vil brasileira vivenciava o processo de
sada do regime militar, participando
da organizao de espaos pblicos e
de lutas democrticas em prol de v-
rios direitos, dentre eles, a educao
do campo. A educao, como direito de
todos ao acesso e permanncia na es-
cola, est consagrada na Constituio
brasileira (art. 206), que indica a neces-
sidade de elaborao, fnanciamento,
implementao e avaliao de polticas
mantidas pela Unio, estados e munic-
pios. Tais prticas de natureza cultural,
educacional e cientfca devem primar
pela busca da universalidade na sua
implementao e pelo respeito s di-
ferenas como princpio de combate
excluso, principalmente quando se trata
dos povos do campo. Cury (2008)
nos apresenta a importncia do con-
ceito de educao bsica, embrion-
rio na Constituio de 1988, nutrindo-
se da legitimidade de vrios movimen-
tos sociais, tais como os dos sindicatos
de docentes, os movimentos estudantis,
ambientalistas, enfim, diversos seg-
mentos que, organizados, lutaram pela
universalizao da educao escolar.
Neste sentido, a dcada de 1990 foi im-
portante para consolidar outros movi-
mentos pela universalizao do direito
educao bsica e s diversas modali-
dades de educao (educao de jovens
e adultos EJA, educao especial,
educao do campo) que reconfgura-
ram os espaos pblicos e privados no
quadro das lutas populares, ampliando
o campo de conquista de direitos.
As elaboraes referentes s mo-
dalidades incluem uma ateno, sin-
tonizada com as diretrizes de fruns
internacionais, a grupos sociais his-
toricamente excludos e que represen-
tam dvida social. Para Cury (2008), a
Dicionrio da Educao do Campo
240
educao bsica um conceito avana-
do e inovador para o Brasil, na medida
em que se instituiu em meio eferves-
cncia de propostas reivindicadas pelos
movimentos, ao mesmo tempo em que
se tornava um bem pblico e ampliava
o campo dos direitos. Compreendida
assim, a educao bsica necessita de
polticas de universalizao para se tor-
nar efetivamente um direito de todos,
inclusive dos povos do campo, para que
os profssionais da educao e os usu-
rios das instituies escolares se for-
mem assegurando suas territorialidades
e identidades sociais. O I Encontro de
Educadores e Educadoras da Reforma
Agrria (Enera), realizado em 1997,
foi um marco da luta poltica que de-
monstrou a insatisfao do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), bem como de outros atores po-
lticos e de instituies universitrias
e cientfcas, com a educao bsica e
superior nacional, naquela poca des-
tinada s crianas, aos jovens e adultos
dos sertes/campo brasileiros (Kolling
e Molina, 1999; Caldart, 2000).
A rebeldia como sentimento/luta
pela emancipao um trao pedag-
gico de diversas populaes campesi-
nas, indgenas, caiaras, quilombolas,
atingidas por barragens, de agricul-
tores urbanos, que esto buscando a
educao a partir de uma perspectiva
contra-hegemnica, conforme Gramsci
nos ensina. Foi exatamente isso que
produziu a diferenciao da Educao do
Campo da histrica educao rural: o pro-
tagonismo dos movimentos sociais
do campo na negociao de polticas
educacionais, postulando nova con-
cepo de educao que inclusse suas
cosmologias, lutas, territorialidades,
concepes de natureza e famlia, arte,
prticas de produo, bem como a or-
ganizao social, o trabalho, dentre
outros aspectos locais e regionais que
compreendem as especifcidades de um
mundo rural (Kolling e Molina, 1999;
Caldart, 2000).
Ao contrrio da Educao do Cam-
po, a educao rural sempre foi insti-
tuda pelos organismos ofciais e teve
como propsito a escolarizao como
instrumento de adaptao do homem
ao produtivismo e idealizao de um
mundo do trabalho urbano, tendo sido
um elemento que contribuiu ideolo-
gicamente para provocar a sada dos
sujeitos do campo para se tornarem
operrios na cidade. A educao rural
desempenhou o papel de inserir os su-
jeitos do campo na cultura capitalista
urbana, tendo um carter marcada-
mente colonizador, tal como critica
Freire (1982).
As conferncias assim como os
fruns por uma Educao Bsica
do Campo se sucederam da dcada de
1990 at a dcada atual, tornando-se es-
paos de produo de conhecimento e
de articulao de saberes, cuja essencia-
lidade denota a participao campesina
na construo de um iderio poltico-
pedaggico e de diretrizes operacionais
que orientem as polticas pblicas para
a educao do campo. Visando respon-
der s demandas dos movimentos so-
ciais do campo que, desde o fnal da
dcada de 1990, se arrastavam no Con-
selho Nacional de Educao (CNE),
surgem, no contexto educacional da d-
cada seguinte, o parecer n 36, de 2001,
e a resoluo n 1 (3 de abril de 2002
Diretrizes operacionais da educao
do campo), bem como o Grupo Per-
manente de Trabalho de Educao do
Campo (GPT) (2003). Diante da mo-
rosidade de implantao das diretrizes,
o Governo Lula, por fora da presso
dos movimentos sociais e instituies
diversas, criou, em 2004, a Secretaria
241
E
Educao Bsica do Campo
de Educao Continuada, Alfabetiza-
o e Diversidade no mbito do Minis-
trio da Educao (MEC). Segundo o
MEC, a secretaria teria como meta pr
em prtica uma poltica que respeitasse
a diversidade cultural e as experincias
de educao e de desenvolvimento das
regies, a fm de ampliar a oferta de
educao bsica e de EJA nas escolas
rurais e assentamentos do Instituto
Nacional de Colonizao e Reforma
Agrria (Incra). Para dar conta das po-
lticas reguladoras, do fnanciamento da
educao infantil, da educao bsica,
do ensino superior e das modalidades,
assegurando as especifcidades de sa-
beres e territorialidades foi institucio-
nalizada, na secretaria, a Coordenao
Geral da Educao do Campo.
Dessa forma, as polticas pblicas
da educao do campo se instalaram no
bojo de dois ministrios: do Ministrio
do Desenvolvimento Agrrio (MDA),
por meio do Programa Nacional de Edu-
cao na Reforma Agrria (Pronera),
e do MEC, por meio da Secretaria de
Educao Continuada, Alfabetizao,
Diversidade e Incluso (Secadi), fato
que contribuiu, quando da implemen-
tao das aes para a convergncia,
em alguns momentos e, em outros,
para um choque. Ainda assim, h de
se ressaltar que, pela primeira vez no
Brasil, se reconhece a diversidade
sociocultural e o direito igualdade e
diferena (Brasil, 2001) na educa-
o bsica do campo. Os movimentos
sociais se confguram como sujeitos
produtores de direitos, contribuindo
para o estabelecimento de novas leis e
polticas educacionais, bem como para
a abertura de polticas de trabalho e
renda para a agricultura familiar. Al-
guns fatos mais recentes ilustram estas
conquistas dos atores: um exemplo foi
a incluso da educao do campo nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educao Bsica, por meio da reso-
luo n 4, de 13 de julho de 2010, da
Cmara de Educao Bsica, do Con-
selho Nacional de Educao, (CNE/
CEB) (Brasil, 2010) e do decreto presi-
dencial n 7.326/2010, que institucio-
nalizou o Pronera como ferramenta de
implantao de polticas de educao
do campo. Outro fato importante foi
a lei n 11.947, de junho de 2009, que
determinou a compra, por parte dos
poderes pblicos, de no mnimo 30%
da merenda escolar diretamente dos
agricultores familiares, fato que pode
potencializar mudanas para esse setor
de produo.
De acordo com o ltimo censo
agropecurio, realizado em 2006 pelo
Instituto Brasileiro de Geografa e Es-
tatstica (IBGE), o Brasil tem 4.551.967
estabelecimentos em 106.761.753 hec-
tares ocupados pela agricultura fami-
liar. A efervescncia de experincias
e de exerccio da cidadania que a edu-
cao do campo vem promovendo
responsvel pela sua repercusso em
todo o territrio nacional, na medida
em que se pode atestar a ampliao de
cursos no Pronera, assegurando dig-
nidade de trabalho e educao aos su-
jeitos do campo. Entretanto, sabemos
que no basta a aprovao dos textos
legais, se no for possvel romper com
a estrutura agrria e a superestrutura
que alimentam a excluso e a desigual-
dade social na relao campocidade.
Os dados e os ndices que constituem
o cenrio educacional das reas rurais
e campesinas so preocupantes, mas
essencial divulg-los e analis-los para
que se possa compreender o porqu da
opo por uma pedagogia radical dos
movimentos em luta contra a pedago-
gia bancria (Freire, 1982), naturalizada
no cotidiano escolar. A promoo e a
Dicionrio da Educao do Campo
242
implementao de polticas pblicas
vm sendo a pauta dos movimentos so-
ciais do campo para reverter os srios
problemas de acesso e de permanncia
dos sujeitos do campo na educao b-
sica e superior.
Apesar de os dados da educao do
campo serem reconfgurados em fun-
o das lutas, ainda permanecem def-
cincias grandes, tais como a falta de
atendimento no mbito da educao in-
fantil, do segundo segmento do ensino
fundamental, do ensino mdio e do en-
sino superior, alm das modalidades de
EJA e educao especial. Os dados do
Censo de 2010 (IBGE) apontam que a
populao rural brasileira corresponde
a 15% da populao total do pas. Em
2000, a populao rural correspondia
a 19%; j os dados do censo de 1980
mostravam 32% da populao vivendo
em meio rural. Podemos constatar a
triste realidade do xodo rural tomando
a insuficiente poltica de educao
do campo como exemplo do descaso
com que, durante sculos, os povos
do campo foram tratados pelo poder
pblico, mesmo que nos ltimos dez
anos tenham se obtido conquistas. A
precariedade da infraestrutura das es-
colas do campo e a longa permanncia
de escolas unidocentes (multisseriadas)
so a expresso mais imediata da situa-
o. Segundo dados da revista Educao
(Fernandes, 2010), citando entrevista
com os pesquisadores do Observat-
rio da Equidade, vinculado ao Conse-
lho de Desenvolvimento Econmico e
Social, ainda so muito acentuadas a
desigualdade social e a difculdade de
acesso aos direitos humanos, em es-
pecial a educao, por parte dos sujei-
tos do campo. Os dados revelam que
o cumprimento da obrigatoriedade da
educao bsica para a populao de
4 a 17 anos denota a urgncia da
promulgao e da implementao de
polticas pelos poderes municipais,
estaduais e federal para atender as re-
as rurais. Embora com certa estabili-
dade de matrculas, encontramo-nos
longe da universalizao do acesso
educao bsica.
Segundo o Observatrio da Equi-
dade, embora as matrculas no campo
representem apenas 13% do total do
pas, esse percentual representa mais
de 6,6 milhes de crianas e jovens
espalhados em 83 mil escolas rurais.
Esse contingente de alunos maior
do que toda a populao do Paraguai
(Fernandes, 2010, p. 1). Di Pierro, no
que diz respeito realidade das esco-
las do campo, ressalta que a extensa
demanda potencial no atendida e as
oportunidades existentes so insuf-
cientes, marcadas pela precariedade das
instalaes fsicas e do preparo de do-
centes para a etapa ou nvel de ensino
em que atuam (2006, p. 11). oferta
insufciente de atendimento, soma-se
a inadequao dos currculos, da orga-
nizao escolar e da prtica pedaggi-
ca, bem como a ausncia de materiais
didticos contextualizados. No campo
dos sistemas de ensino, falta ainda, em
muitos deles, a constituio de coorde-
naes de Educao do Campo dentro
das secretarias de Educao, para en-
caminhamento das polticas e coorde-
nao das escolas do campo, inclusive
atendendo oferta de formao con-
tinuada (obrigao dos responsveis
pelos sistemas de ensino). Em vrios
estados, por exemplo, existem fruns
compostos por movimentos sociais e
organizaes da sociedade civil para
lutar pela implantao de polticas de
Educao do Campo, tornando-se for-
as importantes na cobrana ao Esta-
243
E
Educao Bsica do Campo
do. H que se avanar ainda no mbito
da institucionalizao das polticas e
diretrizes para a educao do campo
nos planos municipais e estaduais de
Educao, bem como na proposi-
o de concursos especficos para os
profissionais da Educao do Cam-
po, garantindo o perfl necessrio ao
trabalho escolar.
A implementao da pedagogia da
alternncia outro tema polmico, es-
tando instituda e respaldada em alguns
planos estaduais de educao. Entre-
tanto, de todos os aspectos caracters-
ticos da educao do campo, o mais
contraditrio o do fechamento das es-
colas. Por parte dos sistemas estaduais
e municipais de ensino, permanece a
poltica de fechamento das escolas do
campo, por meio da nucleao e da
oferta de transporte dos educandos
para escolas urbanas. Essa poltica j
foi reiteradamente criticada e condena-
da pelo MEC, pelo Conselho Nacional
dos Secretrios de Educao (Consed),
pela Unio Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educao (Undime) e
pelo CNE, visto que contribui para a
evaso, a repetncia e a distoro srie
idade, na medida em que as viagens re-
alizadas pelos estudantes de casa at a
escola so cansativas, constituindo-se
em fator de desistncia. O MST reali-
zou uma campanha nacional em 2011
contra o fechamento das escolas do
campo, denunciando que mais de 24
mil escolas foram fechadas no meio
rural desde 2002 (Albuquerque, 2011).
Vrios estudiosos vm denunciando a
nucleao de escolas como responsvel
pela difculdade de acesso, de incluso
e de permanncia dos jovens e crianas
do campo nas escolas.
As autoras Cavalcante e Silva (2010)
reforam a anlise de Hage (2010) so-
bre as contradies por ele apontadas
entre os discursos legais e a prtica.
Logo em seguida, fazendo refern-
cia aos dados de pesquisa e do Censo
Escolar de 2010, citados por Hage, as
autoras descortinam o palco da medio-
cridade, quando ressaltam
[...] o fato de as escolas do cam-
po somente serem de 1 a 4
sries, no s porque esto dis-
tante, no h dinheiro, porque os
polticos no tm vontade... Mas
porque, na realidade, o nico
tempo mais ou menos reconhe-
cido como tempo de direitos de
7 a 10 anos. A infncia tem uma
vida muito curta no campo, por
isso, a educao da infncia tem
uma vida muito curta no campo.
A adolescncia no reconhe-
cida, porque se insere precoce-
mente no trabalho, e a juventude
se identifca com a vida adulta
precocemente. O no reconheci-
mento da adolescncia e juven-
tude no/do campo resultado
de um processo histrico de no
reconhecimento destes povos
como sujeitos de direitos. Nes-
te sentido, o deslocamento no
sentido campo-cidade pela nu-
cleao de escolas que apresen-
ta como um de seus princpios
a igualdade de oportunidades
nega a estes jovens do campo
[...] o direito de pensar o mun-
do a partir de onde vivem e de
sua realidade, alm de subtrair-
lhes um tempo que poderia ser o
tempo de ser jovem. (Cavalcante
e Silva, 2010, p. 3-4)
Outro tema que merece tambm
ser tratado o da formao inicial e
Dicionrio da Educao do Campo
244
continuada de professores. Mesmo
considerando os inmeros cursos de
licenciatura e de educao continua-
da que vm sendo criados para am-
pliar a formao e a profssionalizao
de professores do campo, pelo Pronera
ou mesmo pelo Programa de Apoio ao
Plano de Reestruturao e Expanso das
Universidades Federais (Reuni), ainda as-
sim, essa medida s resolver o problema
da educao bsica e profssionalizante a
longo prazo. No portal do MEC de 4 de
outubro de 2010, matria sobre o Pronera
destacava haver ento 31 instituies
pblicas de ensino superior oferecendo a
licenciatura em Educao no Campo. [...]
Segundo o Censo Escolar de 2009, traba-
lham em escolas rurais 338 mil educado-
res. Destes, 138 mil tm nvel superior
(Decreto assinado por Lula aprimora
educao do campo, 2010). Hoje h um
desafo a ser encarado pela Unio e pelos
estados e municpios: o de habilitar, em
nvel de graduao, 196 mil professores
que j lecionam no campo a ttulo pre-
crio (s possuindo nvel mdio). Alm
disso, o trabalho docente no atende
diversidade de realidades sociais encon-
tradas no campo; tampouco existem
materiais didticos voltados para essas
mltiplas realidades.
Os estudos do Observatrio da
Equidade demonstram ainda que, em
2007, havia 311 mil professores no
ensino fundamental e mdio regula-
res no campo. Esse nmero representa
17% dos docentes em exerccio no pas.
Deles, 61% no tm formao superior,
o que signifca um contingente de apro-
ximadamente 178 mil professores. [...]
Outra caracterstica das escolas rurais
que mais de 70% so multisseriadas
(Fernandes, 2010, p. 4). Ou seja, mesmo
considerando os vultosos investimentos
do Governo Lula no Pronera e nas aes
da Secadi, precisa-se investir recursos em
escala crescente de modo a qualifcar os
professores para que possam trabalhar
com a complexa demanda de diversidade
do campo brasileiro. Acrescente-se a este
tema o da formao dos gestores das esco-
las do campo. Notadamente, as experin-
cias em Educao do Campo tm se dado
pedagogicamente pela experincia da
alternncia entre escola/universidade e
comunidades a que os estudantes perten-
cem. Os instrumentos formativos, quan-
do aplicados aos processos provenientes
da relao entre academia e saberes po-
pulares, crescem ao incorporar a pedago-
gia da terra vida dos sujeitos, transfor-
mando processos educativos submetidos
lgica do capital em prxis que incor-
pora as territorialidades e identidades so-
ciais campesinas em emancipao.
Agricultores familiares, quilombolas,
sem-terra, indgenas, mestios, agriculto-
res urbanos, juventude rural e outras for-
mas identitrias, sujeitos que buscam afr-
mar seus pertencimentos sociais como
povos do campo encontram como
principais desafos para a consolidao
da educao bsica do campo: a amplia-
o da educao infantil, do segundo
segmento do ensino fundamental e do
ensino mdio para os sujeitos do campo;
a luta contra o fechamento das escolas
do campo; o investimento na formao
inicial e continuada de educadores do
campo; a construo de materiais didti-
cos contextualizados e a implementao
de metodologias ativas e participativas;
o investimento na formao dos ges-
tores das escolas do campo; a imple-
mentao da pedagogia da alternncia
nas escolas do campo, referenciando-a
em documentos ofciais (planos muni-
cipais e estaduais de educao); a cons-
tituio de coordenaes de Educao
do Campo no mbito das secretarias
245
E
Educao Bsica do Campo
municipais e estaduais de Educao;
a institucionalizao de diretrizes de
Educao do Campo no mbito dos
planos municipais e estaduais de Edu-
cao; e a abertura de concursos pbli-
cos especfcos.
Para saber mais
ALBUQUERQUE, L. F. Fechamento de 24 mil escolas do campo retrocesso,
afrma dirigente do MST. In: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA.
Seo Incio, 28 jun. 2011. Disponvel em: http://www.mst.org.br/Fechamentos-
de-escolas-do-campo-e-umretrocesso-afrma-erivan-hilario-mst. Acesso em: 30
jun. 2011.
ARROYO, M. G.; FERNANDES, B. M. A educao bsica e o movimento social do campo.
Braslia: Articulao Nacional por uma Educao Bsica do Campo, 1999.
______; MOLINA, M. C.; JESUS, S. M. S. A. (org.). Contribuies para a construo de
um projeto de educao do campo. Braslia: Articulao Nacional por uma Educao
Bsica do Campo, 2004.
BEISIEGEL, C. R. Estado e educao popular. So Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1974.
BENJAMIN, C.; CALDART, R. S. Projeto popular e escolas do campo. Braslia: Articulao
Nacional por uma Educao Bsica do Campo, 2000.
BOURDIEU, P. Razes prticas sobre a teoria da ao. So Paulo: Papirus, 1997.
BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAO (CNE); CMARA DE EDUCAO BSICA
(CEB). Parecer CNE/CEB n 36/2001: Diretrizes Operacionais para a Educao
Bsica das Escolas do Campo. Braslia: CNE/CEB, 2001.
______; ______; ______. Resoluo n 4, de 13 de julho de 2010: Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educao Bsica. Braslia: CNE/CEB, 2010.
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola mais do que escola.
Petrpolis: Vozes, 2000.
______. A escola do campo em movimento. Revista Eletrnica Currculo sem
Fronteiras, v. 3, n. 1, p. 60-81, jan.-jun. 2003.
______; ARROYO, M. G.; MOLINA, M. C. (org.). Por uma educao do campo.
Petrpolis: Vozes, 2004.
CAVALCANTE, G. C.; SILVA, M. DA G. O campo vai cidade: escola nucleada urbana
e o (des)encontro de saberes e prticas educativas In: SEMINRIO DE EDUCAO DE
ADULTOS DA PUC-RIO, 1. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: PUC/Nead, 2010.
CURY, C. R. J. A educao bsica como direito. Cadernos de Pesquisa, So Paulo,
v. 38, n. 134, maio-ago. 2008.
DECRETO assinado por Lula aprimora educao do campo. In: Ministrio
da Educao (MEC). Portal do Mec. Braslia: MEC, 2010. Disponvel em:
Dicionrio da Educao do Campo
246
h t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v . b r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=16003. Acesso em: 24 out. 2011.
DI PIERRO, M. C. Diagnstico da situao educacional dos jovens e adultos as-
sentados no Brasil: uma anlise de dados da Pesquisa Nacional de Educao na
Reforma Agrria. In: REUNIO ANUAL DA ANPED, 29. Anais... Caxambu: Anped,
2006. Disponvel em: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/
trabalho/GT18-2215--Int.pdf. Acesso em: 31 ago. 2011.
ELIAS, N. Sociedade dos indivduos. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.
ESTERCI, N.; VALLE, R. S. T. (org.). Reforma agrria e meio ambiente. So Paulo: ISA, 2003.
FVERO, O. (org.). A educao nas constituintes brasileiras, 1823-1988. 2. ed.
Campinas: Autores Associados, 2001.
FERNANDES, E. Desigualdades em campo. Educao, n. 163, nov. 2010. Disponvel
em: http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/163/artigo234867-1.asp. Acesso
em: 29 nov. 2011.
FREIRE, P. Extenso ou comunicao? 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
HAGE, S. M. Concepes, prticas e dilemas das escolas do campo: contrastes, desi-
gualdades e afrmao em debate. In: DALBEN, A. et al. (org.). Convergncias e tenses no
campo da formao e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autntica, 2010. p. 281-291.
IANNI, O. A luta pela terra. Petrpolis: Vozes, 1981
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo 2010. Braslia:
IBGE/Pnad, 2010.
______. Censo agropecurio 2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.
______. Censo demogrfco 1980. Rio de Janeiro: IBGE, 1980.
______. Censo demogrfco 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
KOLLING, E. J.; NERY, I.; MOLINA, M. C. Por uma educao bsica do campo (memria).
Braslia: Articulao Nacional por uma Educao do Campo, 1999.
______; CERIOLI, P. R.; CALDART, R. S. (org.). Educao do campo: identidade e polti-
cas pblicas. Braslia: Articulao Nacional por uma Educao do Campo, 2002.
MARTINS, J. DE S. Os camponeses e a poltica no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1981
ROMANELLI, O. DE O. Histria da educao no Brasil. 13. ed. Petrpolis: Vozes, 1991.
SILVA, J. G. da. O desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro e a Refor-
ma Agrria. In: STDILE, J. P. (org.). A questo agrria hoje. Porto Alegre: Editora
UFRGS, 2002. p. 137-143.
XAVIER, M. S. Os movimentos sociais cultivando uma educao popular do campo.
In: REUNIO ANUAL DA ANPED, 29. Anais... Caxambu: Anped, 2006. Disponvel em:
http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT06-1780--Int.
pdf. Acesso em: 31 ago. 2011.
247
E
Educao Corporativa
E
EDUCAO CORPORATIVA
Aparecida Tiradentes
A educao corporativa um mo-
delo de formao no qual a empresa
ocupa o lugar da escola, desenvolven-
do programas de educao formal, in-
formal e no formal de trabalhadores,
de fornecedores e da comunidade, para
aumento de produtividade, valorizao
do capital de marca e como estratgia
hegemnica de difuso da concepo
de mundo da classe dominante.
Ela surgiu na dcada de 1950, nos
Estados Unidos, com o objetivo de
treinar os trabalhadores de algumas in-
dstrias, mas adquiriu maior expresso
no contexto neoliberal. Por um lado, a
ideologia de desqualifcao do Estado
social enseja que o capital se declare
mais competente para formar os tra-
balhadores. Por outro lado, as mudan-
as nas bases tcnicas e de gesto do
trabalho implicam a exigncia de adeso
subjetiva do trabalhador aos valores da
empresa. A educao corporativa passa
a ter, ento, a funo de promover essa
adeso. Sob a justifcativa de oferecer a
formao intelectual e tcnica suposta-
mente exigida pelo mercado, de modo,
segundo o capital, mais efciente do
que o Estado, a educao corporativa
avana sobre a dimenso tico-poltica,
impondo os modos de ser, pensar, agir
e sentir convenientes ao capital.
Denomina-se educao corporati-
va o projeto em seu sentido amplo, e
universidade corporativa ou unidade
de educao corporativa, as instncias
formais especialmente criadas pelas em-
presas para este fm. Uma empresa pode
desenvolver aes de educao corpo-
rativa por meio de programas dispersos,
mesmo sem ostentar uma universidade
corporativa ou um setor especfco para
este fm. Igualmente, uma universidade
corporativa pode desenvolver programas
em todos os nveis de ensino, no neces-
sariamente na educao superior, poden-
do, ainda, desenvolver cursos livres ou
atividades formativas informais.
Quando atua no mbito da educao
formal, a universidade corporativa, no
tendo credenciamento para certifcar e
emitir diplomas, institui parcerias com
escolas e universidades acadmicas.
Nestes casos, a instituio credenciada
fornece sua chancela a um projeto que
nasce exatamente da desqualifcao da
formao acadmica ofcial. Uma das
demandas do movimento de educao
corporativa, representado pela Associa-
o Brasileira de Educao Corporativa
(Abec), o poder de certifcao pelo
mercado. At o momento, no Brasil,
essa demanda no foi aceita. Caso seja
aprovada, constituir um fator de agra-
vamento da subordinao do trabalho
ao capital, visto que, ao ser certificado,
por exemplo, em um curso de gradua-
o em Nutrio de determinada in-
dstria de alimentos, esse trabalhador
tem sua capacidade de venda da fora
de trabalho limitada quela empresa e
sua tecnologia. Assim, caso a Uni-
versidade do Hambrguer, como
denominada a universidade corporati-
va da rede McDonalds, obtivesse no
Brasil a autorizao para certificar em
seu prprio nome, isso implicaria o
cerceamento da liberdade formal de
Dicionrio da Educao do Campo
248
venda da fora de trabalho de seus
egressos s redes concorrentes.
Seu pblico-alvo toda a cadeia
de valor, incluindo, alm dos trabalha-
dores, os fornecedores, a comunidade
e os consumidores reais e potenciais,
o que resulta numa ameaa ainda mais
abrangente quanto aos danos polticos
de um projeto de formao diretamen-
te controlado pelo mercado. Alegando
responsabilidade social, muitas vezes
com fnanciamento pblico direto ou
indireto (quando obtm iseno fscal
como contrapartida), o capital estende
suas aes pedaggicas e alcana um
triplo objetivo: controlar a formao
de trabalhadores, elevar seu capital de
marca (a valorizao de sua imagem na
sociedade majora o valor das aes no
mercado fnanceiro e constitui exign-
cia dos investidores para adquirir tais
papis) e obter vantagem na disputa de
hegemonia, pela difuso de sua viso
de mundo para a empresa e alm de
seus muros.
Segundo boli (2004), so sete os
princpios da educao corporativa:
competitividade, conectividade, parce-
ria, perpetuidade, cidadania, sustenta-
bilidade e disponibilidade. No poden-
do ter outra funo, dada sua fliao
direta ao capital, so princpios con-
venientes ao capital e reproduo de
seu modo de produo da existncia.
So, portanto, incongruentes com um
modelo de educao que se coloque
em perspectiva emancipatria. Os sen-
tidos atribudos a tais princpios pela
literatura que fundamenta o modelo
denotam a perspectiva ideolgica da
classe dominante.
Competiti vidade : o princpio da
competitividade, a priori, j seria ina-
dequado a um projeto de formao
humana, por ser oposto ideia de
universalidade. Agrava-se ao se de-
fnir pelo alinhamento de estrat-
gias, diretrizes e prticas de gesto
de pessoas s estratgias de neg-
cio. A ao educativa consiste, por
este princpio, em criar o confor-
mismo tico-psquico para a adeso
a um modelo de gesto pautado
em competio e individualizao
das responsabilidades, fragmenta-
o das redes de solidariedade de
classe e obstruo da construo
da conscincia coletiva. boli reco-
menda, neste princpio, favorecer
a implantao do modelo de ges-
to por competncias. Aconselha,
ainda, conceber programas edu-
cacionais a partir do mapeamento
e alinhamento de competncias
empresariais e humanas.
Conectividade : a integrao entre
educao corporativa e gesto do co-
nhecimento. O sistema de gesto do
conhecimento implica as atividades
de pesquisa e difuso de competn-
cias e tecnologias adequadas pro-
duo. Envolve a captura do conhe-
cimento tcito e do conhecimento
explcito do trabalhador e sua en-
trega organizao, o que, segundo
Ricardo (2005), signifca agregar
valor, quando o conceito de pesqui-
sa refere-se pesquisa informal nas
situaes cotidianas de trabalho e
participao em crculos de qualida-
de ou em projetos de solues para
melhorias contnuas, nos moldes
toyotistas de participao intensif-
cadora. Quando, no ciclo de gesto
do conhecimento, o termo pesqui-
sa refere-se s atividades formais
de produo de conhecimento, este
princpio da educao corporativa
representa o controle pelo mercado
da produo e controle do conheci-
mento cientfco a seu favor.
249
E
Educao Corporativa
Parceria : o princpio segundo o
qual a empresa frma contratos de
colaborao com instituies edu-
cacionais formais para certifcao.
Neste caso, a escola ou universida-
de formata uma proposta curricular
com base nas estratgias de neg-
cios da empresa. Este princpio diz
respeito ainda cultura de colabora-
o interna, que pode ser lida cri-
ticamente como uma estratgia de
hegemonia que consiste na produ-
o de uma conscincia pactualista
e desmobilizadora das lutas sociais.
Perpetuidade : a transmisso da heran-
a cultural da empresa para alm de
seus muros e do seu tempo, segundo
boli (2004). Trata-se da perenizao
de seus valores e sua extenso s ou-
tras dimenses da vida social.
Cidadania : aqui, afrma-se o con-
ceito de cidadania corporativa ou
cidadania empresarial. a exten-
so do ethos do capital para toda a
cadeia de valor e a sociedade, con-
sagrando o mercado e seus valores
como os norteadores da vida social.
Envolve, alm da assimilao stricto
sensu da cultura da empresa, o com-
prometimento do trabalhador com
aes de responsabilidade social
da empresa, com vistas aos ganhos
de capital.
Sustentabilidade : este princpio as-
segura, na infindvel criatividade
acumuladora do capital, que, alm
de representar os ganhos financei-
ros e ideolgicos j mencionados,
o setor de educao corporativa
torne-se um dos ramos de negcios
lucrativos ou autossustentveis
da empresa, pela capacidade de ge-
rar receita direta, seja por meio de
cobrana de matrculas e mensali-
dades, seja pela obteno de fnan-
ciamentos e bolsas.
Disponibilidade : a capacidade de
aprender e ensinar em qualquer
tempo e qualquer lugar (boli,
2004, p. 181). Representa o devassa-
mento do tempo livre do trabalhador
na busca de conhecimentos e com-
petncias referentes valorizao do
capital. A literatura recomenda que
as atividades de educao corpora-
tiva sejam realizadas na modalidade
de ensino a distncia (EAD).
Segundo Meister:
A universidade corporativa (UC)
um guarda-chuva estratgico
para desenvolver e educar fun-
cionrios, clientes, fornecedores
e comunidade, a fm de cumprir
as estratgias empresariais da
organizao. O modelo de UC
baseado em competncias
e interliga aprendizagem s ne-
cessidades estratgicas de neg-
cios. O conceito de educao
corporativa surge diretamente
relacionado estratgia de ne-
gcios. (1999, p. 29)
E segundo boli:
Educao corporativa um
sistema de formao de pes-
soas pautado por uma gesto
de pessoas com base em com-
petncias, devendo instalar e
desenvolver nos colaboradores
(internos e externos) as com-
petncias consideradas crticas
para a viabilizao das estrat-
gias de negcio, promovendo
um processo de aprendizagem
ativo vinculado aos propsitos,
valores, objetivos e metas em-
presariais. (2004, p. 181)
Dicionrio da Educao do Campo
250
Para melhor assegurar a sintonia
entre a estratgia de negcios e a edu-
cao corporativa, incluindo os aspec-
tos atitudinais desejados no novo tra-
balhador, a literatura recomenda que
os docentes no sejam professores
profssionais, mas homens de neg-
cios e funcionrios bem-sucedidos da
prpria empresa.
Particularmente na esfera do agro-
negcio, observam-se muitos progra-
mas fundamentados na concepo
ambiental e de produo congruente
com os interesses do capital. Muitos
so os conglomerados vinculados
produo agropecuria e seus de-
rivados, em atividade no Brasil, que
desenvolvem atividades de educao
corporativa. A descaracterizao dos
movimentos sociais, a ideologia pac-
tualista que desqualifica a ao das
lutas no campo e na cidade, so tra-
os deste projeto que vem penetran-
do no territrio da formao huma-
na, representando antagonismo sua
perspectiva contra-hegemnica.
A lgica utilitarista e a funo hege-
mnica da educao corporativa, claras
em seus princpios e em toda a litera-
tura que os sustenta, representam um
modelo incompatvel com a perspecti-
va emancipatria.
A Vale um dos grupos econ-
micos de maior expresso no Brasil e
com signifcativa insero no campo,
seja diretamente, por meio das ativi-
dades de extrao ou de transporte
ferrovirio de carga e passageiros, seja
indiretamente, por meio de empresas
de diversos ramos sobre as quais tem
infuncia e controle acionrio, seja por
parcerias desenvolve, por meio de
sua universidade corporativa (a Valer,
que tem forte atuao no campo, espe-
cialmente no Par, justamente onde as
lutas sociais so expressivas), diversas
aes de funo hegemnica.
A consolidao da hegemonia re-
quer a atenuao dos confitos sociais
e a imposio de uma concepo de
mundo que atenda aos interesses
do capital. As universidades corpora-
tivas desempenham este papel, como
j foi mencionado. No caso da Valer,
podemos citar alguns exemplos de sua
ofensiva poltica, cultural e ideolgica
nas comunidades em que atua, tanto na
cidade quanto no campo: Vale Ambien-
te; Vale Capacitao; Vale Educao
Inclusiva (em Itabira, Santa Maria de
Itabira e So Gonalo do Rio Abaixo,
em Minas Gerais); Vale Educao Pro-
fssional (no sul do Par); Escola que
Vale; Educao nos Trilhos; Canal Fu-
tura (parceria com a Rede Globo de Te-
leviso); Voluntrios Vale; Olha o Trem,
L Vem o Trem; Educao Ambiental;
Tecendo o Saber; Estao da Cidadania;
Programa de Educao Afetivo-Sexual
(Peas Vale); Educao de Jovens e Adul-
tos (no Par, em parceria com o Servio
Social da Indstria Sesi).
Pela Vale Ambiente, a empresa
atinge professores da rede pblica em
regies nas quais tem interesses por
meio de parcerias com prefeituras, es-
pecialmente no interior da Bahia e de
Minas Gerais.
No vale do Itacainas, no Par
(Paraupebas, Cana, Carajs), a Valer
forma tcnicos em minerao, agrope-
curia, gesto empresarial e outras ativi-
dades referentes ao trabalho no campo.
A Escola que Vale, com a funo de
capacitao de professores das redes p-
blicas, atua no interior do Par, Esprito
Santo, Maranho e Minas Gerais.
O Vale Alfabetizar dirige-se aos tra-
balhadores do interior dos estados cita-
dos anteriormente, alm de Sergipe.
251
E
Educao Corporativa
O projeto Educao nos Trilhos
tem como objetivo declarado construir
ambientes promotores da cidadania nas
comunidades no entorno das estradas
de ferro VitriaMinas e Carajs. En-
tre as aes deste programa, constam
os Projetos Especiais de Mobilizao
Comunitria, voltados para as comuni-
dades afetadas pela ao da Vale. Desta
forma, a empresa busca o controle so-
bre as formas de mobilizao.
O programa Estao da Cidadania
inclui uma sala de projeo em que so
veiculados flmes sobre minerao.
Olha o Trem, L Vem o Trem um
projeto que consiste em aes educati-
vas voltadas reduo ou extino de
aes denominadas pela empresa como
vandalismo nas estaes ferrovirias
e ao longo dos trilhos. Como se esten-
de comunidade em geral e tem parce-
rias com as secretarias de Educao, a
Valer j prepara coraes e mentes
para uma convivncia pacfca e dcil
com as ferrovias do Grupo Vale e com
os danos sociais e ambientais provoca-
dos pela ao da corporao.
Registre-se que, com a privatiza-
o da rede ferroviria federal, grande
parte da malha ferroviria brasileira foi
adquirida pelo grupo Vale, sob nomes
diferentes, como a Ferrovia Centro
Atlntica (FCA). Como acontece no
processo capitalista de fuses, aquisi-
es e concentrao do capital, inicial-
mente a marca controladora omitida
do grande pblico e vai sendo exposta
gradativamente. Sendo assim, a Vale
a organizao ofcial por trs de marcas
como a FCA.
A Valer, apresentada aqui a ttulo de
exemplo, cumpre, em termos de abran-
gncia, todo o escopo das universidades
corporativas. Atua tanto na formao
de seus trabalhadores quanto em toda a
cadeia de valor: clientes, fornecedores,
comunidade do entorno das regies
afetadas e sociedade em geral. Atua
na educao tanto formal quanto no
formal e informal. Desenvolve ativida-
des presenciais e distncia. Envolve,
como preconizam os mentores do mo-
delo de educao corporativa, sua pr-
pria fora de trabalho em muitos dos
projetos e programas, transformando
os seus funcionrios em educadores
da sociedade e disseminadores de uma
viso positiva da empresa. Isto con-
fgura uma forma adicional de extrao
de mais-valia, pois, na medida em que
contribuem para gerar capital de mar-
ca, os trabalhadores, que j geravam
valor por meio de sua produo direta,
so coagidos a mais esta forma de ex-
plorao. O capital de marca uma
das dimenses do capital intelectual
que infui diretamente no valor dos pa-
pis no mercado fnanceiro: consiste
em reconhecimento pblico da mar-
ca como tendo valor positivo e tendo
tambm bom relacionamento com a
comunidade, sem confitos sociais.
Para saber mais
BOLI, M. Educao corporativa no Brasil: mitos e verdades. So Paulo: Gente, 2004.
MEISTER, J. Educao corporativa: a gesto do capital intelectual atravs das univer-
sidades corporativas. So Paulo: Pearson Makron Books, 1999.
RAMOS, G. S. Um novo espao de conformao profssional: a Universidade Corporativa
da Vale do Rio Doce Valer e a legitimao da apropriao da subjetividade
Dicionrio da Educao do Campo
252
do trabalhador. 2007. Dissertao (Mestrado em Ensino de Biocincias e Sa-
de) Programa de Ps-graduao em Ensino de Biocincias e Sade, Fundao
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2007.
______; SANTOS, A. T. Valer (v ler?): formao de trabalhadores sob a ideologia
do mercado na universidade corporativa da Vale. Revista Trabalho, Educao e Sade,
v. 6, n. 2, p. 283-302, jul.-out. 2006.
RICARDO, E. Educao corporativa e educao a distncia. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.
SANTOS, A. T. et al. Formao de trabalhadores no modelo de educao corporati-
va. In: PEREIRA, I. B.; RIBEIRO, C. (org.). Estudos de politecnia e sade. Rio de Janeiro:
Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio, 2007. V. 2, p. 67-89.
______; RIBEIRO, N. Formao de trabalhadores no modelo de educao corpo-
rativa: homens ou mquinas? Revista Educao Profssional: Cincia e Tecnologia, v. 3,
n. 1, p. 109-118, jul.-dez. 2008.
______; ______. Educao corporativa. In: PEREIRA, I. B.; LIMA, J. C. F. (org.). Di-
cionrio de educao profssional em sade. Rio de Janeiro: Escola Politcnica de Sade
Joaquim Venncio, 2009. p. 151-155.
E
EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Maria Nalva Rodrigues de Arajo
A educao de jovens e adultos
(EJA) uma modalidade
1
especfca
da educao bsica, destinada aos su-
jeitos do campo e da cidade aos quais
foi negado ao longo de suas vidas o
direito de acesso e de permanncia
na educao escolar, seja na infncia, na
adolescncia, ou na juventude. As ra-
zes para esta negao esto ligadas
a vrios fatores, como condies so-
cioeconmicas, falta de vagas, siste-
ma de ensino inadequado e outros. A
Lei de Diretrizes e Bases da Educao
Nacional (LDB), lei n 9.393/1996,
em seu artigo 37, deixa claro que A
educao de jovens e adultos ser des-
tinada queles que no tiveram acesso
ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e mdio na idade prpria
(Brasil, 1996). Conforme legislao em
vigor atualmente, a EJA compreende
o processo de alfabetizao, cursos ou
exames supletivos nas suas etapas fun-
damental e mdia. A EJA constitui um
direito assegurado pela Constituio
em seu artigo 208, quando afrma que:
O dever do Estado com a educao
ser efetivado mediante a garantia de:
I ensino fundamental obrigatrio e
gratuito, assegurada, inclusive sua oferta
gratuita para todos os que a ele no tiverem
acesso na idade prpria. Os direitos ga-
rantidos por lei no Brasil no so suf-
cientes para que os adultos brasileiros
tenham de fato acesso educao es-
colar, e os movimentos sociais do cam-
po e da cidade tm lutado ao longo da
histria para mudar essa situao.
253
E
Educao de Jovens e Adultos (EJA)
Este texto trata singularmente da
EJA na perspectiva da Educao
do Campo, como fruto das lutas cam-
ponesas para assegurar aos trabalhado-
res do campo o acesso educao.
No campo brasileiro, caracteriza-
se como educao de jovens e adultos
as prticas educativas escolares e no
escolares desenvolvidas com e para os
trabalhadores jovens e adultos que ha-
bitam no campo brasileiro e que, nas
suas trajetrias de vida, no tiveram a
oportunidade de entrar na escola, ou,
ainda, os que entraram e no puderam
nela permanecer na idade regular. A
EJA ainda uma resposta s demandas
por escolarizao colocadas pelos su-
jeitos sociais do campo, demandas estas
fruto de um longo perodo histrico de
excluso dos trabalhadores do acesso
educao escolar. A EJA mais do que
alfabetizao apenas (embora esta seja
a condio fundamental).
As prticas desenvolvidas pelos
movimentos sociais camponeses apon-
tam uma perspectiva de EJA para alm
da escolarizao, considerando os apren-
dizados que os trabalhadores vo adqui-
rindo por meio de suas experincias de
lutas e de trabalho, sem negar a impor-
tncia fundamental da educao esco-
lar como espao privilegiado de acesso
aos conhecimentos socialmente produ-
zidos pela humanidade.
A educao de jovens e adultos no
contexto das lutas sociais do campo
surge como necessidade de prosse-
guimento das lutas sociais em vrias
dimenses desenvolvidas pelas organi-
zaes e movimentos sociais do cam-
po. Observando a situao do acesso
educao de jovens e adultos no campo
e nas cidades do Brasil, constata-se um
quadro de excluso e marginalizao,
evidenciando uma realidade marcada-
mente desfavorvel populao cam-
ponesa. Dados do censo do ano de
2010 (Instituto Brasileiro de Geografa
e Estatstica, 2010) indicam que, no
meio rural brasileiro, de forma global,
a taxa de analfabetismo entre os adul-
tos de 23,2 %, enquanto nas regies
urbanas chega a 7,3%; ou seja, no cam-
po, a taxa de analfabetismo trs vezes
maior. A escolaridade mdia das pes-
soas com mais de 15 anos no meio ru-
ral de 4,5 anos; no meio urbano, che-
ga aos 7,8 anos. As maiores taxas de
analfabetismo esto em municpios
do Norte e do Nordeste brasileiros.
Tal situao demonstra que a ga-
rantia do ensino fundamental, obriga-
trio e gratuito, inclusive para os que
no tiveram acesso na idade prpria
conforme fxado no inciso I, artigo 4,
da LDB , no vem sendo cumprida
no campo.
O alto ndice de analfabetismo no
Brasil no por acaso. Ele tem razes
histricas nas contradies econmicas
e sociais profundas que remontam ao
perodo colonial, perpassam a Primeira
Repblica e continuam na atualidade.
O Brasil vive uma situao social que
exclui 18 milhes de pessoas do direi-
to de conhecer as letras, de ter acesso
ao conhecimento. H uma vinculao
direta da condio de pobreza, do la-
tifndio e da desigualdade social com
a existncia de pessoas que no sabem
ler e nem escrever. Portanto, o anal-
fabetismo e o semianalfabetismo so
expresso da pobreza que resulta de
uma estrutura social altamente injusta.
Combat-los sem entender suas causas
seria um ato superfcial, ingnuo.
Pinto (1989) adverte que o adulto
analfabeto ou precariamente escolari-
zado no culpado pela sua ignorncia,
no voluntariamente analfabeto, mas
Dicionrio da Educao do Campo
254
feito analfabeto pela sociedade, nas
condies de sua existncia, posto que o
tipo de homem que cada sociedade de-
seja formar aquele que serve para
desenvolver ao mximo as potencia-
lidades econmicas e culturais de uma
dada forma social vigente.
Numa breve retrospectiva sobre
as polticas pblicas de educao para as
pessoas adultas no Brasil, pode-se
constatar que o perodo colonial, o
Imprio e a Primeira Repblica (1500
a 1930) caracterizaram-se praticamente
pela inexistncia de aes direciona-
das educao de jovens e adultos.
importante ressaltar que a populao
brasileira, na sua grande maioria, era
analfabeta (cerca de 67%, em 1890, e,
at 1920, cerca de 60%). Em um con-
texto formado essencialmente por es-
cravos que trabalhavam na extrao de
minrios, na monocultura canavieira e,
posteriormente, na cafeeira, e por uma
elite agrria, alm dos quadros da admi-
nistrao pblica, essas elites pouco se
esforavam em implantar uma educa-
o para as populaes trabalhadoras.
A preocupao com o ensino de
adultos aparece com a Constituio de
1934 e, posteriormente, com o Plano
Nacional de Educao (PNE). O fm
da Segunda Guerra Mundial em 1945 e
a presso de organismos internacionais,
como a Organizao das Naes Unidas
para a Educao, a Cincia e a Cultura
(Unesco), desencadearam um processo
de recomendaes aos pases com alto
ndice de analfabetismo para que dessem
respostas efetivas a esses indicadores por
meio de campanhas de massa.
No Brasil esses fatores, somados
ao processo de redemocratizao do
pas, s necessidades de participao
e integrao das massas urbanas (in-
cluindo os imigrantes), impulsionaram
a primeira Campanha Nacional de Al-
fabetizao de Jovens e Adultos, que se
deu a partir de 1947, por iniciativa do
Ministrio da Educao e Sade. Mar-
cam tambm este perodo as experin-
cias de Paulo Freire e a emergncia da
educao popular, as quais vinculavam
a alfabetizao conscientizao e
transformao das condies objetivas
dos trabalhadores.
O perodo que vai de 1964 a 1985
marcado pelo regime autoritrio fruto
do Golpe Militar de 1964. Paulo Freire
cassado e exilado. Princpios como
conscientizao, participao, transfor-
mao social, deixaram de fazer parte
da educao de adultos. Os programas
e grupos que teimavam em continuar
com a pedagogia de Freire passaram a
ser reprimidos, sendo permitida apenas
a realizao de programas de alfabeti-
zao de adultos com carter assisten-
cialista e conservador.
Em resposta grave situao do
analfabetismo no Brasil, o governo
militar lana em 1967 o Movimento
Brasileiro de Alfabetizao (Mobral).
Esse programa pretendia tambm qua-
lifcar a mo de obra com um mnimo
de escolaridade para atender s deman-
das do novo ciclo de desenvolvimento
que se iniciava no Brasil, no fnal dos
anos 1960 e incio dos anos 1970.
O fnal da dcada de 1970 e o incio
da dcada de 1980 so marcados pela
emergncia dos movimentos sociais e
populares em todo o Pas, no campo e
na cidade. Esses movimentos traziam
consigo novas demandas sociais e a
luta contra a ditadura.
Com a promulgao da nova LDB
em 1996, a EJA passa a ser uma moda-
lidade da educao bsica, porm, no
que diz respeito ao seu fnanciamento,
ele no considerado. Assim, os recur-
255
E
Educao de Jovens e Adultos (EJA)
sos destinados educao municipal
por meio do Fundo de Manuteno e
Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorizao do Magistrio
(Fundef) deixam de fora a EJA.
No Governo Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002) surge, em 1995, o
programa Comunidade Solidria, com
polticas sociais de combate pobreza
que envolveram estados, municpios e
atores da sociedade civil como uni-
versidades, empresas e organizaes
no governamentais (ONGs). Entre
essas polticas, est o combate ao anal-
fabetismo de jovens e adultos, median-
te o programa Alfabetizao Solidria
(Alfasol). Esse programa caracterizou-
se por uma perspectiva assistencialista,
sem continuidade e inefciente, princi-
palmente em razo dos poucos recur-
sos destinados pela Unio e por uma
metodologia que exigia altos gastos
na formao dos educadores do pro-
grama. Foi tambm no Governo FHC
que, sob presso dos movimentos
sociais do campo, entre eles o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), foi criado o Programa
Nacional de Educao na Refor-
ma Agrria (Pronera), para atender
educao de adultos nas reas de
Reforma Agrria.
O Governo Lula (2003-2010) deu
continuidade aos programas iniciados
no Governo FHC e, no campo da al-
fabetizao, trocou o Alfasol pelo pro-
grama Brasil Alfabetizado (BA). Tal
programa no difere em sua essncia
dos demais desenvolvidos em governos
anteriores: prope um processo de
alfabetizao em poucos meses sem
propsitos de continuidade dos es-
tudos, com verbas restritas, falta de
investimentos nos educadores e falta
de materiais.
Assim, as polticas que nortearam a
educao de jovens e adultos no Brasil
pouco se preocuparam com os homens
e as mulheres trabalhadores do campo.
Desse modo, no tivemos, at hoje, um
sistema de ensino adequado s especif-
cidades no que diz respeito aos modos
de vida dos adultos trabalhadores do
campo com a qualidade necessria para
que tenham possibilidades de acesso
aos conhecimentos mais avanados e
plenos que a humanidade produziu. O
que tem ocorrido, na maioria das vezes,
so campanhas, programas e projetos
descontnuos, no existindo uma pol-
tica de aes efetivas para a educao
de jovens e adultos.
A ausncia do Estado brasileiro na
implantao de polticas pblicas para
a educao de jovens e adultos res-
pondida pela sociedade civil organiza-
da (a exemplo do Movimento de Edu-
cao de Base da Conferncia Nacional
dos Bispos do Brasil CNBB) ainda
no incio da dcada de 1960, com aes
de alfabetizao e capacitao em as-
sociativismo e cooperativismo para
as comunidades rurais. Mais recente-
mente, os movimentos sociais, ao seu
modo, vm buscando possibilidades de
alfabetizao e de escolarizao para os
trabalhadores do campo. Pode-se dizer
que, na atualidade, a EJA no meio rural
constitui resposta s demandas por es-
colarizao dos trabalhadores organi-
zados em seus movimentos e organiza-
es sociais. Assim, a EJA, como parte
do movimento de lutas sociais, tem ori-
gem nas experincias isoladas de luta e
permanncia na terra em vrias partes
do pas. Primeiro, tratava-se apenas de
iniciativas no campo da alfabetizao,
que foram inauguradas pelas foras
populares; posteriormente, os pr-
prios movimentos de lutas sociais se
Dicionrio da Educao do Campo
256
organizaram e ampliaram o seu proces-
so de educao de adultos, numa pers-
pectiva mais ampla, que envolve ou-
tros nveis de escolarizao e que visa
s necessidades que surgem da prpria
luta social.
Desse modo, pode-se perceber que
a EJA no meio rural comea quando as
pessoas se conscientizam da necessida-
de de educao. Relatos de experincias
dos movimentos sociais do campo mos-
tram que as experincias de EJA tm
incio na prpria comunidade que se
organiza, cobra dos poderes pblicos e,
ao cobrar, faz isso como forma de luta.
Assim, as comunidades organizam as
turmas, escolhem os seus educadores,
os educadores tambm se propem a
participar e, nesta sintonia, em lugares
onde a educao no fazia parte do co-
tidiano, comea-se a viver uma riqueza
no outorgada, e sim, conquistada.
Na atualidade, as experincias de
EJA desenvolvidas pelos movimentos
de lutas sociais e sindicais envolvem
desde os nveis da alfabetizao at o
nvel mdio. So inmeras experin-
cias desenvolvidas pelo Brasil afora,
por meio de convnios e parcerias com
vrias organizaes populares (movi-
mentos e sindicatos) e governamentais,
como prefeituras, secretarias estaduais
de Educao, ministrios e universida-
des. Algumas marcas destas experin-
cias podem ser enumeradas:
Utilizao de vrias alternativas 1)
metodolgicas de alfabetizao e
organizao das turmas: como en-
fatizado anteriormente, no intuito
de superar o problema do analfa-
betismo, os movimentos sociais do
campo tm desenvolvido uma mul-
tiplicidade de experincias metodo-
lgicas de alfabetizao de adultos.
As referncias terico-metodol-
gicas buscaram de alguma forma
apoiar-se na vertente pedaggica da
educao popular, mas importan-
te enfatizar que em cada lugar, as
comunidades rurais e/ou o profes-
sor/alfabetizador, no processo de
organizao das turmas, desenvol-
veram experincias de alfabetiza-
o utilizando-se de diversos meios
para propiciar aos jovens e adultos
o acesso s primeiras letras. Assim,
desde o processo organizativo das
turmas at a organizao do traba-
lho pedaggico nas salas de aula ou
crculos de cultura, constata-se que
a alfabetizao tem sido desenvolvi-
da nas casas dos prprios estudan-
tes, nos barracos de lona, com pou-
ca estrutura. Quando no possuem
giz, nem quadro-negro, improvisam
escrevendo com carvo em tbuas
de madeira; no lugar de cadernos,
usam canhotos recolhidos nos es-
tabelecimentos bancrios; quando
no possuem carteiras e assentos,
usam cepos (toras de madeira cor-
tadas em pedaos); quando no h
salrio para o professor, trabalha-se
voluntariamente. Esses gestos cons-
tituem uma luta, ou seja, quando
cada comunidade leva as suas rei-
vindicaes aos poderes pblicos, j
mostram uma organizao possvel.
Assim, percebe-se que, ao lado do
improviso, brota a criatividade na
difcil tarefa de organizar a EJA para
os trabalhadores do campo.
Formao por alternncia sem a 2)
precarizao do conhecimento: a
formao por alternncia no cam-
po brasileiro foi inaugurada pela
Escola Famlia Agrcola (EFA) para
atender especialmente aos flhos
dos agricultores. Os movimentos
sociais do campo, ao constatar as
257
E
Educao de Jovens e Adultos (EJA)
demandas dos jovens e adultos para
continuarem seus processos forma-
tivos por meio da educao escolar,
buscam, nesta forma de organiza-
o pedaggica, uma possibilidade
de elevao da escolaridade dos jo-
vens e adultos do campo brasileiro,
especialmente com a conquista do
Pronera, em 1998. A partir des-
ta data, contabilizam-se inmeros
camponeses que puderam com-
pletar sua trajetria na educao
escolar por meio da EJA/Pronera.
Cabe salientar que muitos desses
jovens e adultos chegaram a con-
cluir a educao superior e encon-
tram-se atualmente em programas
de ps-graduao.
Combinao entre a EJA e a for- 3)
mao profssional: no campo bra-
sileiro, a dimenso do trabalho pas-
sa a fazer parte desde muito cedo
da vida das pessoas. Com isso, os
camponeses tm experincias no
que diz respeito aos saberes da ex-
perincia, porm esses saberes por
si s so insufcientes para dar con-
ta, na atualidade, da complexidade
a que esto submetidos nas rela-
es socioeconmicas no campo.
Nesse contexto, percebe-se que os
mesmos trabalhadores que foram
alijados do acesso escola tambm
foram alijados de uma formao
profssional consistente e coerente
com as suas demandas. Assim, a
EJA desenvolvida pelos movimen-
tos sociais do campo buscou com-
binar formao geral com formao
profssional. Cabe salientar que os
cursos desenvolvidos nessa moda-
lidade no tiveram relaes com as
perspectivas impostas pelo merca-
do capitalista. Ao contrrio, foram
demandados pelas necessidades das
lutas sociais. Cursos como os de
tcnico em Agroecologia, tcnico
em Administrao Cooperativista,
tcnico em Enfermagem, tcnico
em Sade Comunitria, Curso Nor-
mal Mdio, foram desenvolvidos,
combinando-se formao geral e
formao profssional.
Tais atividades educativas, embora
encharcadas de contradies, tm pro-
duzido algumas possibilidades no m-
bito dos movimentos sociais do cam-
po: colocaram na agenda da poltica
pblica as demandas para a educao
dos jovens e adultos do meio rural; in-
seriram nos currculos das temticas
pertinentes vida e luta social cam-
ponesa; vincularam a EJA s demandas
da luta social e profssionalizao
dos trabalhadores do campo; avana-
ram nos processos de alfabetizao,
chegando mesmo a reduzir signifca-
tivamente os ndices de analfabetismo,
como indica a Pesquisa Nacional de
Educao na Reforma Agrria (Pnera),
realizada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Ansio Teixeira (Inep) em 2004, acer-
ca da situao educacional nos assen-
tamentos e acampamentos. A pesquisa
revela que a taxa de analfabetismo no
campo de forma geral era de 28,7%
e, nos assentamentos, de 23% (Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Ansio Teixeira, 2007).
Esses dados nos levam a considerar que
o trabalho realizado pelos movimentos
sociais mesmo sob condies adversas
tem contribudo para a diminuio dos
ndices de analfabetismo no campo.
A EJA, no campo brasileiro, tem
como desafo instrumentalizar/armar
os trabalhadores para que eles pos-
sam estabelecer ligaes entre as vrias
reas do conhecimento e sua relao
Dicionrio da Educao do Campo
258
com a luta de classes. No contexto
atual da questo agrria e dos emba-
tes com as transnacionais, a apropria-
o do conhecimento imprescindvel
para compreender os nexos da luta de
classes no campo.
Ao ousar alfabetizar os adultos e ele-
var a sua escolaridade tendo como ho-
rizonte no apenas a qualifcao para
a fora de trabalho, os movimentos de
lutas sociais no campo demonstram que
a emancipao no se dar apenas por
meio da conquista econmica, mas, ao
lado das conquistas econmicas, ne-
cessrio tambm haver elevao cultural
e qualifcao de conscincia, demons-
trando, assim, a funo da educao e
da escola para o movimento.
Nota
1
O termo modalidade diminutivo do latim modus (modo, maneira), e expressa uma medida
dentro de uma forma prpria de ser. Ela , assim, um perfl prprio, uma feio especial
diante de um processo considerado padro. Essa feio especial se liga ao princpio da pro-
porcionalidade para que este modo seja respeitado (Brasil, 2000).
Para saber mais
ARAUJO, M. N. R. Apontamentos acerca da trajetria histrica da EJA no MST:
desafos e possibilidades. In: SEMINRIO NACIONAL DE EDUCAO DE JOVENS E
ADULTOS, 6. Anais... Teixeira de Freitas, Bahia: MST/Universidade Federal de
Santa Catarina, novembro de 2008.
BRASIL. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as diretrizes e bases
da educao nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 23 dez. 1996.
______. Conselho Nacional de Educao (CNE). Parecer n 11/2000: Diretrizes
Curriculares para a Educao de Jovens e Adultos. Braslia: Cmara de Educao
Bsica/Conselho Nacional de Educao, maio 2000.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo 2010. Rio de
Janeiro: IBGE, 2010. Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/censo2010. Acesso em: 14 set. 2011.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANSIO TEIXEIRA
(INEP). Pesquisa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pnera 2004). Sinopse
estatstica. Braslia: Inep, 2007. Disponvel em: http://www.publicacoes.inep.gov.br/
arquivos/%7BEA5C4F7B-87C7-4973-B3E9-CE224E2B2060%7D_MIOLO_
PNERA_2004.pdf. Acesso em: 1 set. 2011.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Educao de Jovens
e Adultos: sempre tempo de aprender. So Paulo: MST, 2004. (Caderno de
Educao, 11).
______. Campanha Nacional de Alfabetizao no MST. So Paulo: MST, 2007.
(Mimeo.).
259
E
Educao do Campo
PINTO, A. V. Sete lies sobre educao de adultos. 6. ed. So Paulo: Cortez; Campinas:
Autores Associados, 1989. (Educao Contempornea).
STEDILE, J. P. A Reforma Agrria e a luta do MST. Petrpolis: Vozes, 1997.
VARGAS, M. C. Uma histria em construo: EJA no campo. In: TV ESCOLA,
SALTO PARA O FUTURO. Educao de Jovens e Adultos: continuar... e aprender por
toda a vida. Boletim, 20-29 set. 2004. Disponvel em: http://www.cereja.org.br/
arquivos_upload/saltofuturo_eja_set2004_progr4.pdf. Acesso em: 23 ago. 2011.
E
EDUCAO DO CAMPO
Roseli Salete Caldart
A Educao do Campo nomeia um
fenmeno da realidade brasileira atual, prota-
gonizado pelos trabalhadores do cam-
po e suas organizaes, que visa incidir
sobre a poltica de educao desde os
interesses sociais das comunidades cam-
ponesas. Objetivo e sujeitos a remetem
s questes do trabalho, da cultura, do
conhecimento e das lutas sociais dos
camponeses e ao embate (de classe) en-
tre projetos de campo e entre lgicas de
agricultura que tm implicaes no pro-
jeto de pas e de sociedade e nas con-
cepes de poltica pblica, de educao
e de formao humana.
Como conceito em construo, a
Educao do Campo, sem se descolar
do movimento especfco da realidade
que a produziu, j pode confgurar-se
como uma categoria de anlise da situao
ou de prticas e polticas de educao
dos trabalhadores do campo, mesmo
as que se desenvolvem em outros lu-
gares e com outras denominaes. E,
como anlise, tambm compreenso
da realidade por vir, a partir de possibili-
dades ainda no desenvolvidas histori-
camente, mas indicadas por seus sujei-
tos ou pelas transformaes em curso
em algumas prticas educativas con-
cretas e na forma de construir polticas
de educao.
Segundo Williams, sempre dif-
cil datar uma experincia datando um
conceito, porm, quando aparece uma
palavra seja uma nova ou um novo
sentido de uma palavra j existente ,
alcana-se uma etapa especfca, a mais
prxima possvel de uma conscincia
de mudana (2003, p. 80). Este texto
pretende tratar das principais caracte-
rsticas da prtica social que vem produ-
zindo o conceito de Educao do Cam-
po, do tipo de conscincia de mudan-
a que ele materializa ou projeta, e de
que relaes fundamentais constituem
seu breve percurso histrico.
1
O protagonismo dos movimentos
sociais camponeses no batismo origin-
rio da Educao do Campo nos ajuda
a puxar o fo de alguns nexos estrutu-
rantes desta experincia, e, portanto,
nos ajuda na compreenso do que es-
sencialmente ela e na conscincia de
mudana que assinala e projeta para
alm dela mesma.
O surgimento da expresso Edu-
cao do Campo pode ser datado.
Nasceu primeiro como Educao Bsica
Dicionrio da Educao do Campo
260
do Campo no contexto de preparao da
I Conferncia Nacional por uma Edu-
cao Bsica do Campo, realizada em
Luzinia, Gois, de 27 a 30 de julho
1998. Passou a ser chamada Educao
do Campo a partir das discusses do Se-
minrio Nacional realizado em Braslia
de 26 a 29 de novembro 2002, deciso
posteriormente reafrmada nos debates
da II Conferncia Nacional, realizada
em julho de 2004.
As discusses de preparao da I
Conferncia iniciaram-se em agosto de
1997, logo aps o I Encontro Nacional
dos Educadores e Educadoras da Re-
forma Agrria (Enera), realizado pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) em julho daquele
ano, evento em que algumas entidades
2
desafaram o MST a levantar uma dis-
cusso mais ampla sobre a educao no
meio rural brasileiro.
No mesmo bojo de desafos, surgiu
o Programa Nacional de Educao na
Reforma Agrria (Pronera), institudo
pelo governo federal em 16 de abril de
1998 e que ainda hoje est em vigncia,
mesmo que sob fortes tenses.
3
Nas discusses de preparao do
documento base da I Conferncia,
concludo em maio de 1998 e debati-
do nos encontros estaduais que ante-
cederam o evento nacional, esto os
argumentos do batismo do que repre-
sentaria um contraponto de forma e
contedo ao que no Brasil se denomina
EDUCAO RURAL:
Utilizar-se- a expresso campo, e
no a mais usual, meio rural, com o
objetivo de incluir no processo da
conferncia uma refexo sobre o
sentido atual do trabalho campons
e das lutas sociais e culturais dos
grupos que hoje tentam garantir
a sobrevivncia desse trabalho.
Mas, quando se discutir a edu-
cao do campo, se estar tra-
tando da educao que se volta
ao conjunto dos trabalhadores
e das trabalhadoras do campo,
sejam os camponeses, incluindo
os quilombolas, sejam as naes
indgenas, sejam os diversos tipos
de assalariados vinculados vida
e ao trabalho no meio rural. Em-
bora com essa preocupao mais
ampla, h uma preocupao es-
pecial com o resgate do conceito
de campons. Um conceito hist-
rico e poltico... (Kolling, Nery e
Molina, 1999, p. 26)
O argumento para mudar o termo
Educao Bsica do Campo para Edu-
cao do Campo aparece nos debates
de 2002, realizados no contexto da
aprovao do parecer do Conselho Na-
cional de Educao (CNE) n 36/2001,
relativo s Diretrizes Operacionais
para a Educao Bsica nas Escolas do
Campo (Brasil, 2001) e com a marca de
ampliao dos movimentos campone-
ses e sindicais envolvidos nessa luta:
Temos uma preocupao prio-
ritria com a escolarizao da
populao do campo. Mas, para
ns, a educao compreende
todos os processos sociais de
formao das pessoas como
sujeitos de seu prprio destino.
Nesse sentido, educao tem
relao com cultura, com valo-
res, com jeito de produzir, com
formao para o trabalho e para
a participao social. (Kolling,
Cerioli e Caldart, 2002, p. 19)
E, no plano da luta por escolas,
afrmou-se ali que o direito educao
261
E
Educao do Campo
compreende da educao infantil uni-
versidade (ibid., p. 34).
O esforo feito no momento de
constituio da Educao do Campo, e
que se estende at hoje, foi de partir das
lutas pela transformao da realidade
educacional especfca das reas de Re-
forma Agrria, protagonizadas naquele
perodo especialmente pelo MST, para
lutas mais amplas pela educao do
conjunto dos trabalhadores do campo.
Para isso, era preciso articular experin-
cias histricas de luta e resistncia,
como as das escolas famlia agrcola,
do Movimento de Educao de Base
(MEB), das organizaes indgenas e
quilombolas, do Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB), de organi-
zaes sindicais, de diferentes comuni-
dades e escolas rurais, fortalecendo-se
a compreenso de que a questo da
educao no se resolve por si mesma
e nem apenas no mbito local: no
por acaso que so os mesmos traba-
lhadores que esto lutando por terra,
trabalho e territrio os que organizam
esta luta por educao. Tambm no
por acaso que se entra no debate sobre
poltica pblica.
A realidade que produz a Educao
do Campo no nova, mas ela inau-
gura uma forma de fazer seu enfrenta-
mento. Ao afrmar a luta por polticas
pblicas que garantam aos trabalha-
dores do campo o direito educao,
especialmente escola, e a uma educa-
o que seja no e do campo,
4
os movi-
mentos sociais interrogam a sociedade
brasileira: por que em nossa formao
social os camponeses no precisam ter
acesso escola e a propalada univer-
salizao da educao bsica no in-
clui os trabalhadores do campo?
5
Uma
interrogao que remete outra: por
que em nosso pas foi possvel, afnal,
constituir diferentes mecanismos para
impedir a universalizao da educao
escolar bsica, mesmo pensada dentro
dos parmetros das relaes sociais ca-
pitalistas (Frigotto, 2010, p. 29)?
O que no perodo inicial destes
debates no estava to evidente como
hoje que o quadro em que esta nova/
velha luta se inseria era o de transio
de modelos econmicos que implicava
um rearranjo do papel da agricultura
na economia brasileira. Durante a I
Conferncia Nacional, houve um de-
bate acalorado pela reentrada do cam-
po na agenda nacional, o que acabou
acontecendo na dcada seguinte, mas
no pelo polo do trabalho, e sim, pelo
polo do capital, materializado no que
se passou a denominar AGRONEGCIO,
promovendo uma marginalizao ainda
maior da agricultura camponesa e da
Reforma Agrria, ou seja, das questes
e dos sujeitos originrios do movimen-
to por uma Educao do Campo.
A II Conferncia Nacional por uma
Educao do Campo, realizada em julho
de 2004, com mais de mil participantes
representando diferentes organizaes
sociais e tambm escolas de comunida-
des camponesas, demarcou a amplia-
o dos sujeitos dessa luta. Foram 39
entidades, incluindo representantes de
rgos de governo, organizaes no
governamentais, organizaes sindi-
cais de trabalhadores rurais e de pro-
fessores, alm dos movimentos sociais
camponeses, que assinaram a declara-
o fnal da conferncia. Foi tambm
nesse momento que aconteceu uma
explicitao mais forte do contrapon-
to de projetos de campo, distinguindo
posies entre as entidades de apoio e
entre as prprias organizaes de tra-
balhadores que passaram a integrar a
Articulao Nacional por uma Educa-
o do Campo.
Dicionrio da Educao do Campo
262
O lema formulado na II Conferncia
Nacional, Educao do Campo: direito
nosso, dever do Estado!, expressou o
entendimento comum possvel naquele
momento: a luta pelo acesso dos traba-
lhadores do campo educao espe-
cfca, necessria e justa, deve se dar no
mbito do espao pblico, e o Estado
deve ser pressionado para formular
polticas que a garantam massivamen-
te, levando universalizao real e no
apenas princpio abstrato. Em meio aos
debates, s vezes acirrados, fcou rea-
frmada a posio originria de vnculo
da Educao do Campo com o polo do
trabalho, o que signifca assumir o con-
fronto de projetos, e desde os interesses
da agricultura camponesa.
De 2004 at hoje, as prticas de edu-
cao do campo tm se movido pelas
contradies do quadro atual, s vezes
mais, s vezes menos confituoso, das
relaes imbricadas entre campo, edu-
cao e polticas pblicas. Houve avan-
os e recuos na disputa do espao p-
blico e da direo poltico-pedaggica
de prticas e programas, assim como na
atuao das diferentes organizaes de
trabalhadores, conforme o cenrio
das lutas mais amplas e da correlao
de foras de cada momento. O enfren-
tamento das polticas neoliberais para a
educao e para a agricultura continua
como desafo de sobrevivncia.
Em 2010, foi criado o Frum Na-
cional de Educao do Campo (Fonec),
no esforo de retomar a atuao articu-
lada de diferentes movimentos sociais,
organizaes sindicais e outras insti-
tuies, com destaque agora para uma
participao mais ampliada de univer-
sidades e institutos federais de educa-
o. Em seu documento de criao, o
Fonec toma posio contra o fechamen-
to e pela construo de novas escolas
no campo, assumindo o compromisso
coletivo de contraponto ao agroneg-
cio e de combate criminalizao dos
movimentos sociais (Frum Nacional
de Educao do Campo, 2010, p. 3).
Integra esse momento poltico a con-
quista de um decreto da Presidncia da
Repblica que disps sobre a poltica
de educao do campo e o Programa
Nacional de Educao na Reforma
Agrria (Brasil, 2010), entendido pe-
las organizaes do frum como mais
uma ferramenta na presso para que a
situao educacional dos trabalhadores
do campo efetivamente se altere.
As tenses sobre confgurar a Edu-
cao do Campo na agenda da ordem
ou da contraordem aumentam na pro-
poro em que as contradies sociais
envolvidas na sua origem e no seu des-
tino se explicitam com maior fora na
realidade brasileira. Lutar por polticas
pblicas parece ser agenda da or-
dem, mas, em uma sociedade de clas-
ses como a nossa, quando so polticas
pressionadas pelo polo do trabalho,
acabam confrontando a lgica de mer-
cado, que precisa ser hegemonizada
em todas as esferas da vida social para
garantir o livre desenvolvimento do ca-
pital. O Estado no pode negar o prin-
cpio (republicano) da universalizao
do direito educao, mas, na prtica,
no consegue operar a sua realizao
sem que se disputem, por exemplo, os
fundos pblicos canalizados para a re-
produo do capital, o que, no caso do
campo, signifca, hoje especialmente,
fundos para o avano do agronegcio,
inclusive em suas prticas de EDUCA-
O CORPORATIVA.
Pela lgica do modelo dominante,
a educao rural e no a Educao do
Campo, que deve retornar agenda
do Estado, reciclada pelas novas de-
263
E
Educao do Campo
mandas de preparao de mo de obra
para os processos de modernizao e
expanso das relaes capitalistas na
agricultura, demandas que no necessi-
tam de um sistema pblico de educao
no campo. Porm, isso confrontado
pela presso articulada que movimen-
tos de trabalhadores camponeses conti-
nuam a fazer a partir de outras deman-
das e na direo de outro projeto.
Entretanto, como defender a edu-
cao dos camponeses sem confrontar
a lgica da agricultura capitalista que
prev sua eliminao social e mesmo
fsica? Como pensar em polticas de
educao no campo ao mesmo tem-
po em que se projeta um campo com
cada vez menos gente? E ainda, como
admitir como sujeitos propositores de
polticas pblicas movimentos sociais
criminalizados pelo mesmo Estado que
deve instituir essas polticas?
Ainda que a Educao do Campo se
mantenha no estrito espao da luta por
polticas pblicas, suas relaes consti-
tutivas a vinculam estruturalmente ao
movimento das contradies do mbi-
to da QUESTO AGRRIA, de projetos de
agricultura ou de produo no campo,
de matriz tecnolgica, de organizao do
trabalho no campo e na cidade... E as
disputas se acirram ou se expem ain-
da mais quando se adentra o debate de
contedo da poltica, chegando ao ter-
reno dos objetivos e da concepo de
educao, de campo, de sociedade,
de humanidade.
A explicitao do confronto principal
em que se move a educao do campo
fortalece aos poucos a compreenso de
que, embora sejam muitos e diversos os
seus sujeitos, o campons o sujeito
coletivo que hoje identifca, na sua es-
pecifcidade, o polo da contradio as-
sumida. Vivendo sob o capitalismo, os
camponeses confrontam sua lgica fun-
damental com a da explorao do traba-
lho pelo capital, resistindo em um modo
distinto de produzir, de organizar a vida
social e de se relacionar com a natureza
(ver AGRICULTURA CAMPONESA).
A Educao do Campo, como pr-
tica social ainda em processo de cons-
tituio histrica, tem algumas caracte-
rsticas que podem ser destacadas para
identifcar, em sntese, sua novidade ou
a conscincia de mudana que seu
nome expressa:
Constitui-se como luta social pelo
acesso dos trabalhadores do campo
educao (e no a qualquer edu-
cao) feita por eles mesmos e no
apenas em seu nome. A Educao
do Campo no para nem apenas
com, mas sim, dos camponeses, ex-
presso legtima de uma pedagogia
do oprimido.
Assume a dimenso de presso co-
letiva por polticas pblicas mais
abrangentes ou mesmo de embate
entre diferentes lgicas de formu-
lao e de implementao da pol-
tica educacional brasileira. Faz isso
sem deixar de ser luta pelo acesso
educao em cada local ou situ-
ao particular dos grupos sociais
que a compem, materialidade que
permite a conscincia coletiva do
direito e a compreenso das razes
sociais que o impedem.
Combina luta pela educao com
luta pela terra, pela Reforma Agr-
ria, pelo direito ao trabalho,
cultura, soberania alimentar, ao
territrio. Por isso, sua relao de
origem com os movimentos sociais
de trabalhadores. Na lgica de seus
sujeitos e suas relaes, uma poltica
de Educao do Campo nunca ser
somente de educao em si mesma
Dicionrio da Educao do Campo
264
e nem de educao escolar, embora
se organize em torno dela.
Defende a especifcidade dessa luta
e das prticas que ela gera, mas no
em carter particularista, porque as
questes que coloca sociedade a
propsito das necessidades parti-
culares de seus sujeitos no se re-
solvem fora do terreno das contra-
dies sociais mais amplas que as
produzem, contradies que, por
sua vez, a anlise e a atuao espec-
fcas ajudam a melhor compreender
e enfrentar. E isso se refere tanto
ao debate da educao quanto ao
contraponto de lgicas de produ-
o da vida, de modo de vida.
Suas prticas reconhecem e bus-
cam trabalhar com a riqueza social
e humana da diversidade de seus
sujeitos: formas de trabalho, ra-
zes e produes culturais, formas
de luta, de resistncia, de organi-
zao, de compreenso poltica,
de modo de vida. Mas seu percur-
so assume a tenso de reafirmar,
no diverso que patrimnio da
humanidade que se almeja a uni-
dade no confronto principal e na
identidade de classe que objetiva
superar, no campo e na cidade, as
relaes sociais capitalistas.
A Educao do Campo no nas-
ceu como teoria educacional. Suas
primeiras questes foram prticas.
Seus desafios atuais continuam
sendo prticos, no se resolven-
do no plano apenas da disputa te-
rica. Contudo, exatamente porque
trata de prticas e de lutas contra-
hegemnicas, ela exige teoria, e exi-
ge cada vez maior rigor de anlise da
realidade concreta, perspectiva de
prxis. Nos combates que lhe tm
constitudo, a Educao do Campo
reafrma e revigora uma concepo
de educao de perspectiva emanci-
patria, vinculada a um projeto his-
trico, s lutas e construo so-
cial e humana de longo prazo. Faz
isso ao se mover pelas necessidades
formativas de uma classe portadora
de futuro.
Seus sujeitos tm exercitado o direi-
to de pensar a pedagogia desde a sua
realidade especfca, mas no visan-
do somente a si mesmos: a totalidade
lhes importa, e mais ampla do que
a pedagogia.
A escola tem sido objeto central
das lutas e refexes pedaggicas
da Educao do Campo pelo que
representa no desafo de formao
dos trabalhadores, como mediao
fundamental, hoje, na apropriao
e produo do conhecimento que
lhes necessrio, mas tambm pe-
las relaes sociais perversas que
sua ausncia no campo refete e sua
conquista confronta.
A Educao do Campo, principal-
mente como prtica dos movimen-
tos sociais camponeses, busca con-
jugar a luta pelo acesso educao
pblica com a luta contra a tutela
poltica e pedaggica do Estado
(reafrma em nosso tempo que no
deve ser o Estado o educador do povo).
Os educadores so considerados
sujeitos fundamentais da formu-
lao pedaggica e das transfor-
maes da escola. Lutas e prticas
da Educao do Campo tm de-
fendido a valorizao do seu tra-
balho e uma formao especfca
nessa perspectiva.
Estas caractersticas defnem o que
/pode ser a Educao do Campo, uma
prtica social que no se compreende
265
E
Educao do Campo
em si mesma e nem apenas a partir das
questes da educao, expondo e con-
frontando as contradies sociais que
a produzem. E so estas mesmas ca-
ractersticas que tambm podem con-
fgur-la como categoria de anlise das
prticas por ela inspiradas ou de outras
prticas que no atendem por esse nome
nem dialogam com essa experincia
concreta. A trade campoeducao
poltica pblica pode orientar pergun-
tas importantes sobre a realidade edu-
cacional da populao trabalhadora do
campo onde quer que ela esteja.
Como referncia de futuro educa-
o dos trabalhadores, a Educao do
Campo recoloca desde sua luta espec-
fica a questo sempre adiada na hist-
ria brasileira da efetiva universalizao
do direito educao, tensionando na
esfera da poltica formas e contedos
de aes do Estado nessa direo. E
se buscar confrontar a lgica que im-
pede os trabalhadores de ter acesso
pleno educao bsica no ainda
a revoluo brasileira, na prtica, a
superao do capitalismo no se reali-
zar sem passar por este confronto e
sua soluo.
No plano da prxis pedaggica, a
Educao do Campo projeta futuro
quando recupera o vnculo essencial
entre formao humana e produo
material da existncia, quando concebe
a intencionalidade educativa na direo
de novos padres de relaes sociais,
pelos vnculos com novas formas de
produo, com o trabalho associado
livre, com outros valores e compro-
missos polticos, com lutas sociais que
enfrentam as contradies envolvidas
nesses processos.
E sua contribuio original pode
vir exatamente de ter de pensar estes
vnculos a partir de uma realidade es-
pecfca: a relao com a produo na
especifcidade da agricultura campone-
sa, da agroecologia; o trabalho coleti-
vo, na forma de cooperao agrcola,
em reas de Reforma Agrria, na luta
pela desconcentrao das terras e con-
tra o valor absoluto da propriedade
privada e a desigualdade social que lhe
corresponde. Vida humana misturada
com terra, com soberana produo
de alimentos saudveis, com relaes de
respeito natureza, de no explorao
entre geraes, entre homens e mulhe-
res, entre etnias. Cincia, tecnologia,
cultura, arte potencializadas como fer-
ramentas de superao da alienao do
trabalho e na perspectiva de um desen-
volvimento humano omnilateral. Algo
disso j vem sendo experimentado em
determinados espaos de resistncia e
relativa autonomia de movimentos so-
ciais ou de comunidades camponesas,
mas talvez possa vir a ser universaliza-
do em uma repblica do trabalho.
E o modo de fazer a luta pela escola
tem desafado os camponeses a ocup-
la tambm nessa perspectiva, como
sujeitos, humanos, sociais, coletivos,
com a vida real e por inteiro, trazendo
as contradies sociais, as potencia-
lidades e os conflitos humanos para
dentro do processo pedaggico, re-
querendo uma concepo de conheci-
mento e de estudo que trabalhe com
essa vida concreta. Isso tem exigido
e permitido transformaes na forma
da escola, cuja funo social originria
prev apartar os educandos da vida,
muito mais do que fazer da vida seu
princpio educativo. Acontecem hoje
no mbito da Educao do Campo ex-
perimentos pedaggicos importantes
na direo de uma escola mais prxi-
ma dos desafios de construo da so-
ciedade dos trabalhadores.
Dicionrio da Educao do Campo
266
Notas
1
Note-se que este texto integra um dicionrio que leva o mesmo nome, ou tem o mesmo
objeto deste verbete, e cuja forma de organizao procura nos mostrar a quantidade e a
complexidade dos nexos que permitem compreender a Educao do Campo como um
fenmeno concreto (sntese de muitas determinaes).
2
As entidades que apoiaram o I Enera foram tambm depois, junto com o MST, as pro-
motoras da I Conferncia Nacional por uma Educao Bsica do Campo: Conferncia
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Fundo das Naes Unidas para a Infncia (Unicef),
Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura (Unesco) e Univer-
sidade de Braslia (UnB), por meio do Grupo de Trabalho em Apoio Reforma Agrria.
3
O Pronera comeou a ser gestado no I Enera, mediante o desafo colocado pelo MST
aos docentes de universidades pblicas convidados ao encontro para pensar um desenho
de articulao nacional que pudesse ajudar a acelerar o acesso dos trabalhadores das reas de
Reforma Agrria educao escolar. A ideia foi levada pela Universidade de Braslia ao III
Frum das Instituies de Ensino Superior em Apoio Reforma Agrria, em novembro
de 1997, e o desenho do programa foi formatado entre janeiro e fevereiro de 1998 (ver
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAO NA REFORMA AGRRIA).
4
No campo: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive (Kolling, Cerioli
e Caldart, 2002, p. 26), e do campo: o povo tem direito a uma educao pensada desde
o seu lugar e com sua participao, vinculada sua cultura e s suas necessidades humanas e
sociais (ibid.), assumida na perspectiva de continuao da luta histrica pela constituio
da educao como um direito universal (ibid.), que no deve ser tratada nem como servio
nem como poltica compensatria e muito menos como mercadoria.
5
Segundo o censo agropecurio de 2006 (Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica,
2009), no Brasil, 30% dos trabalhadores rurais so analfabetos e 80% no chegaram a con-
cluir o ensino fundamental.
Para saber mais
ARROYO, M. G.; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. (org.). Por uma educao do campo.
4. ed. Petrpolis: Vozes, 2009.
BRASIL. PRESIDNCIA DA REPBLICA. Decreto n 7.352, de 4 de novembro de 2010:
dispe sobre a poltica de educao do campo e o Programa Nacional de Educa-
o na Reforma Agrria Pronera. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 5 nov. 2010.
______. Conselho Nacional de Educao (CNE). Cmara de Educao Bsica
(CEB). Parecer CNB/CEB n 36/2001: Diretrizes Operacionais para a Educao
Bsica nas Escolas do Campo. Braslia: CNE, 4 de dezembro de 2001.
CALDART, R. S. Sobre educao do campo. In: SANTOS, C. A. (org.). Educao do cam-
po: campo polticas pblicas educao. Braslia: Incra/MDA, 2008. p. 67-86.
______. Educao do campo: notas para uma anlise de percurso. Trabalho,
Educao e Sade, Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio, v. 7, n. 1,
p. 35-64, mar.-jun. 2009.
FRUM NACIONAL DE EDUCAO DO CAMPO (Fonec). Carta de criao do Frum
Nacional de Educao do Campo. Braslia: Fonec, agosto de 2010.
267
E
Educao Omnilateral
FRIGOTTO, G. Projeto societrio contra-hegemnico e educao do campo: desa-
fos de contedo, mtodo e forma. In: MUNARIM, A. et al. (org.). Educao do campo:
refexes e perspectivas. Florianpolis: Insular, 2010. p. 19-46.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo agropecurio
2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
KOLLING, E. J.; NERY, I.; MOLINA, M. C. Por uma educao bsica do campo (memria).
Braslia: Articulao Nacional por uma Educao do Campo, 1999.
______; CERIOLI, P. R.; CALDART, R. S. (org.). Educao do campo: identidade e polti-
cas pblicas. Braslia: Articulao Nacional por uma Educao do Campo, 2002.
MOLINA, M. C. (org.). Educao do campo e pesquisa: questes para refexo. Braslia:
MDA, 2006.
MUNARIM, A. et al. (org.). Educao do campo: refexes e perspectivas. Florianpolis:
Insular, 2010.
WILLIAMS, R. La larga revolucin. Buenos Aires: Nueva Visin, 2003.
E
EDUCAO OMNILATERAL
Gaudncio Frigotto
Omnilateral um termo que vem
do latim e cuja traduo literal signi-
fca todos os lados ou dimenses.
Educao omnilateral signifca, assim,
a concepo de educao ou de forma-
o humana que busca levar em conta
todas as dimenses que constituem a
especifcidade do ser humano e as con-
dies objetivas e subjetivas reais para
seu pleno desenvolvimento histrico.
Essas dimenses envolvem sua vida
corprea material e seu desenvolvi-
mento intelectual, cultural, educacio-
nal, psicossocial, afetivo, esttico e l-
dico. Em sntese, educao omnilateral
abrange a educao e a emancipao
de todos os sentidos humanos, pois os
mesmos no so simplesmente dados pela
natureza. O que especifcamente humano,
neles, a criao deles pelo prprio homem
(Mszros, 1981, p. 181).
O desenvolvimento que se expres-
sa em cada ser humano no advm de
uma essncia humana abstrata, mas
um processo no qual o ser se consti-
tui socialmente, por meio do trabalho;
uma individualidade e, consequen-
temente, uma subjetividade que se
constri, portanto, dentro de determi-
nadas condies histrico-sociais. Por
isso, Marx defne a essncia humana,
na sexta tese sobre Feuerbach, como
sendo o conjunto das relaes sociais (Marx,
1988). E, com base nesta compreenso,
Gramsci (1978) sublinha que a humani-
dade que se refete em cada individua-
lidade expresso das mltiplas rela-
es do indivduo com os outros seres
humanos e com a natureza. Assim, a
lngua que falamos, os valores, os sen-
timentos, os hbitos, o gosto, a religio
ou as crenas e os conhecimentos que
Dicionrio da Educao do Campo
268
incorporamos no so realidades natu-
rais, mas uma produo histrica. So
os seres humanos em sociedade que
produzem as condies que se expres-
sam no seu modo de pensar, sentir e
de ser.
Tal compreenso de ser humano
o oposto da concepo burguesa cen-
trada numa suposta natureza humana
sem histria, individualista e competi-
tiva, na qual cada um busca o mximo
interesse prprio. Pelo contrrio, pres-
supe o desenvolvimento solidrio das
condies materiais e sociais e o cui-
dado coletivo na preservao das bases
da vida, ampliando o conhecimento, a
cincia e a tecnologia, no como for-
as destrutivas e formas de dominao
e expropriao, mas como patrimnio
de todos na dilatao dos sentidos e
membros humanos.
Sendo o trabalho a atividade vital
e criadora mediante a qual o ser hu-
mano produz e reproduz a si mesmo,
a educao omnilateral o tem como
parte constituinte. Por isso, Marx, ao
se referir aos processos formativos na
perspectiva de superao da sociedade
capitalista, enfatiza o trabalho, na sua
dimenso de valor de uso, como princ-
pio educativo, e a importncia da edu-
cao politcnica ou tecnolgica.
1
Outro aspecto a sublinhar que,
como evidenciam vrias anlises de
educadores marxistas, nem Marx e nem
Engels se dedicaram especifcamente a
elaborar uma teoria da educao. Nem
mesmo Grasmci, cujas preocupaes
com a educao escolar so mais ex-
plcitas e reiteradas, teve esse objetivo.
A questo da educao aparece, por
um lado, na crtica sua perspectiva
unilateral e restrita vinculada ao plano
material objetivo nas relaes sociais
capitalistas fundadas na propriedade
privada dos meios e instrumentos de
produo,
2
na diviso social do traba-
lho, e nos processos de expropriao
e alienao que tais relaes impem,
limitando o livre e solidrio desenvol-
vimento humano.
Por out ra par t e, essas anl i ses
apontam, ao mesmo tempo, para a ne-
cessidade de luta pela superao deste
modo de produo e, no plano das suas
contradies, para que se v construin-
do o carter e a personalidade do ho-
mem novo, mediante processos educa-
tivos que afrmem os valores de justia,
de solidariedade, de cooperao e de
igualdade efetiva, e o desenvolvimento
de conhecimentos que concorram para
qualifcar a vida de cada ser humano.
Um conhecimento que concorra para
abreviar o tempo dedicado ao trabalho
como resposta ao reino imperativo das
necessidades materiais e amplie o tem-
po livre, tempo de escolha, de possibili-
dade de criao e de humanizao. Por
isso, uma das lutas centrais no interior
da sociedade capitalista a da diminui-
o da jornada de trabalho.
Os fundamentos flosfcos e his-
tricos do desenvolvimento omnilate-
ral do ser humano e da educao ou da
formao humana que a ele se vincula,
na sua forma mais profunda e radical
(que vai raiz), so encontrados nas
anlises de Marx, Engels e de outros
marxistas, especialmente Gramsci e
Lukcs. Nestas anlises, fca explcito
que at o presente momento os seres
humanos viveram a sua pr-histria
porque o desenvolvimento dos sen-
tidos e das potencialidades humanas
esteve obstrudo pela ciso em classes
sociais antagnicas e pela explorao
de uma classe sobre as demais.
A sociedade capitalista, sob a qual
vivemos, constituiu-se mediante a su-
269
E
Educao Omnilateral
perao das formas explcitas de ex-
plorao materializadas pela escravi-
do ou pelo servilismo das sociedades
precedentes, mas estatuiu uma forma
mais sutil de expropriao do trabalho
alheio, mediante uma igualdade aparen-
te e formal, entre os donos do capital e
os trabalhadores que vendem sua fora
de trabalho. Trata-se de uma sociedade
que explora dentro de uma legalida-
de construda pela classe dominante e
que se expressa no direito positivo por
ela produzido.
O balano de dois sculos de capi-
talismo mostra-nos toda a sua irracio-
nalidade, com a apropriao privada do
avano cientfco e tecnolgico como
forma de gerar mais capital. A terra e
o desenvolvimento do conhecimento,
da cincia e da tecnologia, apropriados
privadamente e colocados a servio da
expanso do capital, voltam-se contra
a classe trabalhadora e seus flhos e se
afrmam dentro de uma lgica destruti-
va. Alm disso, ocorre a aniquilao de
direitos e das bases da vida, mediante
a agresso ao meio ambiente.
1
Disso
resulta uma contradio insanvel que
se evidencia pelo aumento da misria e
da fome, pela volta das epidemias, pela
indigncia e pelo aumento da violncia
e do extermnio dos pobres.
As possibilidades do desenvolvimento
humano omnilateral e da educao omni-
lateral inscrevem-se, por isso, na disputa
de um novo projeto societrio um pro-
jeto socialista que liberte o trabalho, o
conhecimento, a cincia, a tecnologia, a
cultura e as relaes humanas em seu con-
junto dos grilhes da sociedade capitalista;
um sistema que submete o conjunto das
relaes de produo e relaes sociais,
educao, sade, cultura, lazer, amor, afe-
to e, at mesmo, grande parte das crenas
religiosas lgica mercantil.
A base objetiva da anlise da evo-
luo social e econmica e do homem
como um animal social que se cria e
recria pelo trabalho a encontramos em
Marx, tanto em suas obras de juventude,
especialmente nos Manuscritos econmico-
flosfcos (2004),
4
quanto nas de sua ma-
turidade intelectual, em O capital (2006)
e no Grundrisse (1986). Na anlise da
evoluo histrica, que levou ao surgi-
mento da propriedade privada e su-
bordinao do trabalho ao capital, este
autor explicita-nos por que o desenvol-
vimento humano e a educao omni-
lalateral esto limitados, constrangidos
e mutilados.
Com efeito, mediante a proprieda-
de privada dos meios e instrumentos de
produo, estabelece-se o impedimen-
to da maioria dos seres humanos de
produzir dignamente a sua existncia
pelo seu trabalho em relao solid-
ria com os demais seres humanos. O
contingente de milhares de famlias
dos trabalhadores sem-terra experi-
menta, h anos, este impedimento, e
sente em suas vidas os seus efeitos.
Da mesma forma, os demais trabalha-
dores do campo, que vivem da pou-
ca terra ou so arrendatrios, e os da
cidade, que vendem sua fora de tra-
balho ou que esto desempregados ou
subempregados, produzem suas vidas
de forma precria porque parte de sua
produo ou de seu tempo de trabalho
so expropriados.
A propriedade privada se constitui
no fundamento de todas as formas de
alienao. Separa e aliena o ser humano
da natureza e do produto de seu traba-
lho; aliena-o de si mesmo, pois o que
produz no lhe pertence, mas pertence
a quem comprou sua fora e seu tempo
de trabalho; aliena-o como membro da
humanidade ou lhe exclui da condio
Dicionrio da Educao do Campo
270
humana e, fnalmente, aliena-o em rela-
o aos outros seres humanos.
5
Ao separar, pela propriedade priva-
da, o trabalhador dos seus meios e ins-
trumentos para a produo de sua vida,
tornando-o uma mercadoria fora de
trabalho , o capital administrar essa
fora de acordo com os seus interes-
ses, destinando a cada trabalhador uma
parcela, de sorte que possa extrair de
cada trabalhador o mximo de produ-
tividade. O advento de novas tecnolo-
gias, em vez de ser algo que benefcia
o trabalhador, volta-se contra ele por
causa da intensifcao do trabalho
e da explorao, e pela ampliao do
exrcito de reserva de desempregados
e subempregados. Para a grande maio-
ria dos trabalhadores do campo, em
vez de signifcarem novas possibilida-
des na melhoria da produo, as novas
tecnologias resultam em sua expulso
para periferias urbanas e na amplia-
o do latifndio. Por isso, torna-se,
para a classe trabalhadora, uma ques-
to vital abolir a propriedade privada
e substituir o indivduo parcial, mero
fragmento humano que repete sempre
uma operao parcial, pelo indivduo
integralmente desenvolvido (Marx,
2006, p. 552).
Neste contexto, as questes cen-
trais no campo educativo, seguindo
as contribuies de Marx, Engels,
Gramsci e Lukcs, e apropriando-as
para nossos dias, so:
Quais os elementos educativos a
serem combatidos, e quais devem
ser reforados e incorporados, no
conjunto das prticas sociais e nas
instituies, por corroborarem a
construo da travessia para rela-
es sociais que permitam o reencon-
tro com a humanidade perdida sob as
relaes sociais capitalistas e possi-
bilitarem o pleno desenvolvimento
no s dos cincos sentidos, mas
tambm os assim chamados sen-
tidos espirituais, os sentidos pr-
ticos (vontade, amor etc.), numa
palavra, o sentido humano, a hu-
manidade dos sentidos (Marx,
2004, p. 210)?
Qual o papel e a funo especfcos,
no plano contraditrio do velho e
do novo, da instituio escola nesta
travessia cujo objetivo no se reduz
emancipao da religio e da po-
ltica dentro da ordem capitalista,
mas da emancipao humana, cuja
condio a sua superao?
6
Tanto no plano das prticas educa-
tivas difusas que se efetivam em todos
os espaos da vida em sociedade no
trabalho, no esporte, nas atividades
culturais, no plano das relaes fami-
liares e nas prprias relaes afetivas
quanto na instituio escolar, a tarefa
daqueles que querem o reencontro dos
seres humanos com a sua humanidade
cindida e perdida implica um comba-
te sem trguas aos valores mercantis
da competio, do individualismo, do
consumismo, da violncia e da explo-
rao sob todas as suas formas.
Em contrapartida, cabe reforar a
ideia da propriedade social e coletiva
da terra e da cincia e tecnologia como
valores de uso na compreenso de que
uma individualizao rica somente se
efetivar quando cada ser humano te-
nha uma mesma base material objetiva
e subjetiva para o seu desenvolvimento.
Disto decorre o sentido da solidarieda-
de e a cooperao em todas as esferas da
produo da vida, assim como o senti-
do de justia. Ele nos ensina que, por
sermos todos animais sociais que no
podem prescindir de produzir os meios
de vida pelo trabalho de cada um de
271
E
Educao Omnilateral
acordo com as suas possibilidades e res-
peitando as particularidades da infncia,
juventude, vida adulta e velhice, temos o
dever de colaborar nesta tarefa.
No mbito da educao escolar,
cabe combater, inicialmente, a forma-
o tanto bsica quanto profssional
subordinados fragmentao do pro-
cesso capitalista de produo ou vi-
so unidimensional das necessidades
do mercado. Ao longo do sculo XX,
assumem papel central os herdeiros
dos economistas flantropos a que se refe-
re Marx, para os quais o signifcado da
educao adaptar a formao dos tra-
balhadores s mudanas na diviso do
trabalho: uma formao fragmentada e
plurifuncional ou polivalente, fundada
numa concepo de conhecimento que
analisa a realidade humana de forma
atomizada e que a reduz ao aparente
mascarado como a mesma se produz.
Os organi smos i nternaci onai s,
como o Banco Mundial, o Banco
Interamericano de Desenvolvimen-
to (Bird), a Organizao Mundial do
Comrcio (OMC), e a Organizao
Internacional do Trabalho (OIT),
acolhem hoje os sucedneos dos eco-
nomistas filantropos, que ditam para
o mundo as reformas educacionais
para formar trabalhadores funcionais
ao capital.
Uma multiplicidade de noes
explicitam, a comear pela de capital
humano, a concepo unidimensional
dominante de educao que, de direito
social e subjetivo, passa cada vez mais a
ser um servio mercantil. Desde 1994,
uma comisso de professores da Uni-
versidade de Frankfurt elege, anual-
mente, uma Unwort (no palavra)
para designar termos que no expres-
sam a realidade e degradam a dignidade
humana. Capital humano, defnida
como uma antipalavra, um fantasma
que vaga pela teoria econmica, foi es-
colhida em 2004 com a seguinte justif-
cativa da comisso: degrada pessoas a
grandezas de interesse meramente eco-
nmico (Altvater, 2010, p. 75).
No bojo do iderio neoliberal, que
tira da referncia a sociedade e os di-
reitos coletivos e universais e centra-se
no superindividualismo, novas noes
derivam de capital humano. As no pa-
lavras que degradam a dignidade huma-
na e a reduzem grandeza econmica,
entre outras, so: sociedade do conhe-
cimento, qualidade total, pedagogia das
competncias, empregabilidade, em-
preendedorismo e capital social.
Na educao e instruo do ser hu-
mano novo, cuja tarefa a de elevar a
classe operria acima dos nveis de conheci-
mento e dos valores da burguesia na constru-
o de novas relaes sociais despidas
da violncia de classe, as trs dimen-
ses apontadas por Marx e Engels
em 1868, enriquecidas historicamente
pela produo de novos conhecimen-
tos, permanecem integralmente vli-
das: educao intelectual, corporal e educa-
o tecnolgica. Esta ltima, recolhe os
princpios gerais de carter cientfco
de todo o processo de produo e,
ao mesmo tempo, inicia as crianas e
os adolescentes no manejo de ferra-
mentas elementares dos diversos ramos
de produo. diviso das crianas
e adolescentes em trs categorias, de
9 a 18 anos, deve corresponder um
curso progressivo para a sua educa-
o intelectual, corporal e politcnica
(Marx e Engels, 1983, p. 60). Nesta
concepo, esto dados os fundamen-
tos do que deve ser a funo e o direito
da educao bsica universal, pblica,
laica, gratuita e unitria, e do trabalho
como princpio educativo.
Dicionrio da Educao do Campo
272
Um aspecto central para os movi-
mentos sociais e organizaes dos tra-
balhadores do campo e da cidade a
apreenso da especifcidade da escola
no domnio dos fundamentos cient-
fcos que permitem compreender, ao
mesmo tempo, na expresso sinttica de
Gramsci, como funcionam a sociedade das
coisas (cincias da natureza) e a sociedade
dos homens (cincias sociais e humanas).
O carter revolucionrio da escola,
no ventre das atuais adversas e contra-
ditrias relaes sociais, constitui-se
na medida pela qual o processo pe-
daggico, no contedo, no mtodo e
na forma, permite s crianas, jovens
e adultos irem se apropriando daquilo
que Marx entende por cientifcidade do
saber.
7
Trata-se do saber que implica
um mtodo materialista histrico dia-
ltico que supere as formas fragmen-
trias, funcionalistas, pragmticas e uti-
litaristas da cincia burguesa, a qual
separa os objetos de conhecimento das
mediaes e conexes que os consti-
tuem, uma cincia que pode revelar
as disfunes da realidade, mas no
consegue explicar o que as produz.
Torna-se, assim, um conhecimento
que naturaliza, mascara e reproduz as
relaes sociais de explorao e as exime
dos efeitos de sua violncia, expressa na
desigualdade social e em todas as ma-
zelas humanas que da advm. Exime-
as, do mesmo modo, do carter preda-
trio da natureza e da degradao do
meio ambiente, e seus efeitos reais e
crescentes, que ameaam vida do pla-
neta Terra.
Quando se produzem conhecimen-
tos que apreendem a historicidade do
real, vale dizer, como ele se produz
em todas as dimenses do mundo hu-
mano e da natureza, tal conhecimento
ou teoria constitui, como indica Marx,
uma fora material revolucionria. Dis-
to decorre a crtica de Marx a todas as
formas de doutrinao e de reducio-
nismos na construo da cientifcidade
do conhecimento.
A escola, assim, ter um papel revo-
lucionrio na medida em que construa
por um mtodo materialista histrico
dialtico, partindo dos sujeitos concre-
tos, com sua cultura, saberes e senso
comum, e dialogando criticamente
com o patrimnio de conhecimentos
existente as bases cientfcas que
permitem compreender como se pro-
duzem os fenmenos da natureza e as
relaes sociais.
8
Estas sero bases para
uma prxis revolucionria em todas as
esferas da vida, no horizonte de abolir
para sempre a ciso da humanidade em
classes sociais. nesta prxis e na luta
poltica concreta que se forjam a iden-
tidade e conscincia de classe.
Neste horizonte de compreenso do
papel da instituio escola, cabe com-
bater, em seu interior, todas as formas
de competio que estimulam o indivi-
dualismo, cone da educao burguesa.
Do mesmo modo, se pautados pelo
rigor cientfco que nos mostra uma
realidade social e humana produzidas,
em todas as esferas da vida, de forma
desigual, no faz sentido a ideologia
dos dons e nem estimular no processo
educativo as avaliaes comparativas,
ou premiar os melhores alunos ou
professores, um expediente cada vez
mais utilizado pelo iderio neoliberal
em nossa realidade.
A tarefa do desenvolvimento
humano omnilateral e dos processos
educativos que a ele se articulam di-
reciona-se num sentido antagnico ao
iderio neoliberal. O desafo , pois, a
partir das desigualdades que so dadas
pela realidade social, desenvolver pro-
273
E
Educao Omnilateral
cessos pedaggicos que garantam, ao
fnal do processo educativo, o acesso
efetivamente democrtico ao conheci-
mento na sua mais elevada universali-
dade. No se trata de tarefa fcil e nem
que se realize plenamente no interior
das relaes sociais capitalistas. Esta,
todavia, a tarefa para aqueles que
buscam abolir estas relaes sociais.
No por acaso, o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e
outros movimentos sociais e organizaes
dos trabalhadores do campo perceberam
que, sem luta, esta realidade no muda. E
dentro de suas lutas que, de forma mais
explcita e no sem difculdades, se cons-
troem os processos pedaggicos escolares
centrados no projeto da Educao do Cam-
po, projeto que se traduz na ao prtica
da relao entre cincia, cultura e trabalho
como princpio educativo, dimenses b-
sicas da educao omnilateral.
Notas
1
Com efeito, na literatura que analisa as concepes de educao e instruo na obra de
Marx e outros autores marxistas, de forma recorrente, especialmente o trabalho como prin-
cpio educativo e a educao politcnica ou tecnolgica so tratados como dimenses da
educao omnilateral. Ver, a esse respeito, Frigotto, 1984 e Souza Jnior, 2010.
2
Cabe no confundir propriedade como valor de uso com a propriedade privada dos meios
e instrumentos de produo com o fm de gerar lucro e acumular capital mediante a explo-
rao do trabalho alheio. Como sublinha Marx, originariamente propriedade signifca nada
mais que a atitude do homem ao encarar suas condies naturais de produo como lhe
pertencendo, como pr-requisitos da sua prpria existncia (1977, p. 85; grifos do autor).
3
Ver, a esse respeito, Mszros, 2002 e Altvater, 2010.
4
Uma anlise profunda, a partir dos Manuscritos econmico-filosficos, sobre o carter fun-
dante do trabalho na constituio do homem como ser social efetivada por Lukcs,
2010.
5
Essa sntese de Istvn Mszros (1981, p. 16) desenvolvida de forma detalhada e did-
tica ao longo de toda essa obra, que trata da teoria da alienao em Marx, destacando seus
aspectos econmicos, polticos, ontolgicos e morais e educacionais.
6
Sobre a necessidade de ir alm da emancipao religiosa e poltica e buscar construir a
emancipao humana, ver Marx, 2007 e Marx e Engels, 2003.
7
Ver Barata-Moura, 1998, p. 69-145.
8
Para aprofundar esta questo, ver Saviani, 2008, p. 65-73.
Para saber mais
ALTVATER, E. O fm do capitalismo como o conhecemos. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2010.
BARATA-MOURA, J. Materialismo e subjetividade. Estudos em torno de Marx. Lisboa:
Avante, 1998.
FRIGOTTO, G. A produtividade da escola improdutiva. So Paulo: Cortez, 1984.
Dicionrio da Educao do Campo
274
GRAMSCI, A. Concepo dialtica da histria. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1978.
LUKCS, G. Prolegmenos para uma ontologia do ser social. Campinas: Boitempo, 2010.
MARX, K. Elementos fundamentales para la crtica de la economa poltica (Grundrisse)
1857-1858. 14. ed. Mxico, D. F.: Siglo XXI, 1986.
______. O capital. 24. ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2006.
______. A questo judaica. 6. ed. So Paulo: Centauro, 2007.
______. Formaes econmicas pr-capitalistas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
______. Manuscritos econmico-flosfcos. So Paulo: Boitempo, 2004.
______. Teses sobre Feuerbach. In: ______; ENGELS, F. Obras escolhidas. So
Paulo: Alfa-mega, 1988. V. 3, p. 208-210.
______; ENGELS, F. A sagrada famlia. So Paulo: Boitempo, 2003.
______; ______. Instrues aos delegados do Conselho Central Provisrio, AIT,
1868. In: ______; ______. Textos sobre educao e ensino. So Paulo: Morais, 1983.
MSZROS, I. Marx: a teoria da alienao. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
______. Para alm do capital: rumo a uma teoria da transio. So Paulo:
Boitempo, 2002.
SAVIANI, D. Onze teses sobre educao e poltica. In: ______. Escola e democracia.
Campinas: Autores Associados, 2008. p. 81-91.
SOUZA JR., J. Marx e a crtica da educao. Aparecida: Ideias & Letras, 2010.
E
EDUCAO POLITCNICA
Gaudncio Frigotto
A compreenso adequada do sen-
tido de educao politcnica implica
situ-la como resultado de um embate
dentro de um processo histrico que
padece, at o presente, da dominao
de uns seres humanos sobre os outros,
e, consequentemente, situ-la na cons-
tituio das sociedades de classes e de
grupos sociais com interesses inconci-
liveis e antagnicos.
Os interesses do agronegcio, por
exemplo, representados por fraes da
burguesia nacional e internacional de-
tentoras do capital, so incompatveis
e antagnicos em relao aos interesses
dos trabalhadores do campo e da cida-
de e relao aos processos produtivos
que garantam a soberania alimentar
e, ao mesmo tempo, que no degradem e
destruam o meio ambiente.
Em contrapartida, a agricultura
camponesa de base agroecolgica est
vinculada soberania alimentar dos po-
vos e a processos educativos e de pro-
275
E
Educao Politcnica
duo de conhecimento e tecnologias
que aumentem a produtividade e que
preservam a vida da natureza e do pla-
neta, e a sade coletiva. Por isso, neste
verbete, buscamos situar, inicialmente,
as bases histrico-materiais em que essa
concepo de educao se constri e,
em seguida, explicitar seu sentido e suas
perspectivas na nossa realidade.
Um olhar atento sobre a hist-
ria desde o momento que o ser hu-
mano se reconhece como tal, revela
que duas prticas sociais, ainda que
diversas, coexistem em todas as for-
mas de sociedade: o trabalho e os pro-
cessos educativos.
O ser humano, como um ser da
natureza, para sobreviver necessita
apropriar-se desta mesma natureza ou
produzir bens que satisfaam suas ne-
cessidades vitais. Desde os povos co-
letores e caadores at o presente, e
enquanto o ser humano existir, o traba-
lho constitui-se, assim, na atividade vital
imprescindvel, pelo simples fato de que
por meio dele que o ser humano se
produz ou se recria permanentemente.
com esta compreenso que Marx
(1983a, p. 149) vai dizer que o traba-
lho um processo entre o homem e
a natureza no qual, por sua ao, os
seres humanos regulam e controlam o
seu metabolismo com a natureza. Para
isso, pem em movimento seus corpos,
braos, pernas, cabeas, mos, para se
apropriarem daquilo que necessitam
para a prpria vida. Pelo trabalho, en-
to, o ser humano modifca a natureza
que lhe externa e, ao mesmo tempo,
modifca a sua prpria natureza. A his-
tria humana, nesta perspectiva, , para
Marx, a expresso da produo do ser
humano pelo trabalho.
Do mesmo modo, ainda que no
com o mesmo carter, em todas as so-
ciedades, cada gerao se preocupa em
repassar seus valores, conhecimentos
e experincias s geraes seguintes,
com o propsito de garantir a repro-
duo social. Isso se efetiva por pro-
cessos educativos difusos em todas as
aes humanas ou por processos for-
mais especfcos, como a escola tal
qual a conhecemos hoje.
Tanto o trabalho quanto os proces-
sos educativos explicitam sua forma
especfca dentro dos diferentes mo-
dos de produo social da vida huma-
na. neste particular que, uma vez
mais, Marx (1983b, p. 24) nos permite
entender que, no processo de produ-
o da vida social, os seres humanos
estabelecem determinadas relaes de
produo que correspondem a deter-
minado grau de desenvolvimento de
suas foras produtivas, essas constitu-
das pelos meios de produo terra,
ferramentas, tecnologias, instrumentos
e instalaes e fora de trabalho. O
conjunto dessas relaes sociais de
produo forma a estrutura econmica
da sociedade, a qual condiciona a for-
ma que assume a vida social, poltica
e intelectual.
1
Atente-se, porm, como sublinha
Karel Kosik, que o carter bsico e
imprescindvel da atividade econmica
no decorre de um superior grau de
realidade de alguns produtos humanos,
mas do signifcado central da prxis e
do trabalho na criao da realidade hu-
mana (1986, p. 109). Neste sentido, a
economia no apenas a produo de
bens materiais: a totalidade do pro-
cesso de produo e reproduo do ho-
mem como ser humano-social. [...] ao
mesmo tempo produo das relaes
sociais dentro da qual esta produo se
realiza (ibid., p. 173). Assim, na pro-
duo de si mesmos na sua reproduo
Dicionrio da Educao do Campo
276
social, os seres humanos produzem,
ao mesmo tempo, os bens materiais,
o mundo materialmente sensvel, cujo
fundamento o trabalho; as relaes e
as instituies sociais, o complexo das
condies sociais; e, sobre a base disso,
as ideias, as concepes, as qualidades
humanas e os sentidos humanos cor-
respondentes (ibid. p. 113).
na apreenso da especificida-
de das relaes sociais do modo de
produo capitalista e de suas contradi-
es insanveis que Marx, ainda que de
forma breve no conjunto de sua obra,
trata de processos amplos de formao
humana, da instruo escolar e da na-
tureza do conhecimento e da cincia,
que interessa serem desenvolvidos na
perspectiva da superao do capita-
lismo e de todas as formas de ciso
em classes.
A maneira pela qual Marx explicita
o processo de produo da vida social
nos permite compreender por que o
trabalho uma atividade imperativa
e imprescindvel, diretamente ligada
produo e reproduo da vida hu-
mana e educao, uma prtica social
mediadora, constituda e constituinte
deste processo.
Do mesmo modo, permite enten-
der que a especifcidade que assumem
o processo produtivo, o trabalho e os
processos educativos depende da natu-
reza do modo social de produo. At o
presente, a histria humana, como alude
Marx, desenvolve-se sob a dominao
de uma classe social sobre outras, cin-
dindo o gnero humano e violentando
a maioria dos seres humanos mediante
diferentes formas de explorao e alie-
nao escravismo na Antiguidade,
escravismo e servilismo no modo de
produo feudal, e compra e venda
da fora de trabalho sob o capitalismo.
A burguesia, para afrmar seu pro-
jeto societrio, teve de revolucionar e
superar as formas precedentes de re-
laes sociais de produo e as ideias,
valores e processos educativos que
lhes eram inerentes. Todavia, como
lembram Marx e Engels, a burguesia
no aboliu as classes, apenas estabele-
ceu novas classes, novas condies de
opresso, novas formas de luta em lu-
gar das velhas (Marx e Engels, 1982,
p. 94). A tarefa histrica que se impe
, pois, abolir o conjunto das relaes
sociais burguesas, seus valores, sua cul-
tura e seus processos formativos a fm
de liberar os seres humanos de todas as
formas de opresso e explorao. Essa
superao no resulta de uma abstrao,
mas da prxis humana (relao dialti-
ca entre teoria e prtica, pensamento e
ao) em todas as esferas da vida social.
Essa prxis revolucionria no se
efetiva no terreno ou no plano ideal,
mas no plano concreto da realidade
adversa das relaes socais de expro-
priao e de alienao, atualmente sob
o capitalismo. E dentro destas rela-
es sociais adversas e no plano de suas
contradies insanveis e cada vez mais
profundas que se instaura o embate por
processos formativos que desenvolvam
valores, conhecimentos, sentimentos e
sentidos humanos que sedimentem
a travessia para novas relaes so-
ciais libertas da dominao e violncia
de classe.
Na perspectiva da superao das re-
laes sociais capitalistas e no seio de
suas contradies, Marx sinaliza trs
conceitos relativos formao que es-
to intrinsecamente ligados, mas que,
por suas particularidades, so trata-
dos em verbetes especfcos neste di-
cionrio: o TRABALHO COMO PRINCPIO
EDUCATIVO, ligado ao processo de so-
277
E
Educao Politcnica
cializao e de construo do carter
e da personalidade do homem novo, que
internaliza, desde a infncia, a sua con-
dio de ser da natureza e que, portan-
to, implica produzir, com os outros se-
res humanos, seus meios de vida e no
viver da expropriao do trabalho de
seus semelhantes; a formao humana om-
nilateral (ver EDUCAO OMNILATERAL),
ligada ao desenvolvimento de todas as
dimenses e faculdades humanas, em
contraposio viso unidimensional
de educar e formar para os valores e
conhecimentos teis ao mercado capi-
talista; e, fnalmente, o de EDUCAO
POLITCNICA ou tecnolgica, ligada ao
desenvolvimento das bases de conhe-
cimentos que se vinculam ao proces-
so de produo e reproduo da vida
humana pelo trabalho, na perspectiva
de abreviar o tempo gasto para respon-
der s necessidades (essas sempre his-
tricas) inerentes ao fato de o homem
fazer parte da natureza e de ampliar o
tempo livre (tempo de escolha, de frui-
o, de ldico e de atividade humana
criativa), no qual a omnilateralidade
pode efetivamente se desenvolver.
Porm, vale insistir, esses conceitos
em Marx no resultam de elucubra-
es abstratas e ideais, mas da anlise
rigorosa do processo histrico. neste
sentido que ele percebe na revoluo
burguesa a qual, para se constituir e
afrmar, necessitou abolir o trabalho
escravo, combater o poder absolutista
e a concepo metafsica (no histri-
ca) da realidade humana elementos
civilizatrios. Por isso, tambm, no
encontraremos na sua anlise a defesa
da volta formao e instruo hu-
mana pela Bblia, e nem a defesa do
trabalho do homem da caverna ou a
formao artesanal, posto que, por sua
capacidade de criar, mesmo sob con-
dies adversas de sociedades cindidas
em classes, o ser humano foi produzin-
do novos conhecimentos e capacidades
para prover suas necessidades.
A educao politcnica resulta, as-
sim, no plano contraditrio da neces-
sidade do desenvolvimento das foras
produtivas das relaes capitalistas de
produo e da luta consciente da ne-
cessidade de romper com os limites
intrnsecos e insanveis destas mesmas
relaes. Esta compreenso Marx j a
desenvolve nos Manuscritos econmico-
filosficos (1989), quando salienta que
o novo no brota do nada ou de
uma ideia, e nem sem atribulaes,
mas arrancado do sei o das vel has
relaes sociais.
O terreno prprio do desenvolvi-
mento humano omnilateral (em todas
as suas dimenses) do carter radical-
mente educativo do trabalho, dos co-
nhecimentos, da cincia e da tecnologia
somente tero a sua efetiva positividade
e a capacidade de dilatar as qualidades e
potencialidades humanas quando as re-
laes sociais classistas sob o capitalis-
mo forem superadas.
Esta compreenso de travessia na
contradio claramente posta por
Marx na mensagem do Conselho Geral
da Associao Internacional dos Tra-
balhadores em 1871, no contexto dos
acontecimentos da Comuna de Paris:
S a classe operria pode converter a
cincia de dominao numa fora po-
pular [...]. A cincia s pode desempe-
nhar o seu genuno papel na repblica
do trabalho (Marx apud Barata-Moura
1997, p. 71).
Ao longo de sua obra e de ou-
tros textos produzidos com Engels,
Marx utiliza diferentes termos para
caracterizar a concepo de educa-
o ou instruo que interessa
Dicionrio da Educao do Campo
278
classe trabalhadora e que, ao mes-
mo tempo, se ope e transcende a
forma fragmentria, unidimensional,
adestradora de educao e instruo
burguesa, a qual procura eterni-
zar a diviso entre trabalho manual
e intelectual ou entre a concepo e a
execuo do trabalho e, portanto,
a ciso entre classes sociais.
Os termos de educao ou instru-
o politcnica ou tecnolgica so os
dois mais abrangentes que Marx utili-
zou buscando afrmar uma concepo
de educao que, no contedo, no m-
todo e na forma de organizar-se, inte-
ressa classe trabalhadora e no separa
educao geral e especfca e trabalho
manual e intelectual.
Embora o termo politcnica, na
sua traduo literal, signifque muitas
tcnicas, no se pode depreender que
Marx, em algum momento ou em pas-
sagem de sua obra, o tenha utilizado
no sentido de soma de tcnicas frag-
mentadas ou de instruo pragmtica e
fragmentada. Ao contrrio, politecnia
diz respeito ao domnio dos fundamen-
tos cientfcos
2
das diferentes tcnicas
que caracterizam o processo de traba-
lho moderno (Saviani, 2003, p. 140).
Expressa, assim, o mesmo sentido de
tecnologia, termo tambm utilizado
por Marx, e que literalmente signifca a
cincia da tcnica.
Cabe registrar que, no campo edu-
cacional crtico, h um debate sobre
qual o termo que, do ponto de vista de
Marx, seria mais adequado. Com base,
sobretudo, nas detalhadas anlises f-
lolgicas de Mrio Manacorda (1964 e
1991), Paolo Nosella polemiza a abor-
dagem de Dermeval Saviani e outros
educadores, sustentando que somente
a expresso tecnologia evidencia o
germe do futuro, enquanto politec-
nia refete a tradio cultural ante-
rior a Marx, que o socialismo real de
Lenin imps terminologia pedaggica
de sua poltica educacional (Nosella,
2007, p. 145).
3
Por certo, o debate ajuda a qualifcar
as anlises, mas, por diferentes razes,
entendemos como Saviani que, indepen-
dentemente da questo terminolgica,
[...] do ponto de vista concei-
tual, o que est em causa um
mesmo contedo. Trata-se da
unio entre formao intelec-
tual e trabalho produtivo que,
no texto do Manifesto, aparece
como unifcao da instruo
com a produo material, nas
Instrues, como instruo poli-
tcnica que transmita os funda-
mentos cientfcos gerais de to-
dos os processos de produo
e, em O capital, enuncia-se como
instruo tecnolgica, terica e
prtica. (Saviani, 2003, p. 145)
O que parece claro que as diferen-
tes denominaes dadas por Marx, para
qualifcar a educao ou instruo que
interessa classe trabalhadora e que se
contrape educao burguesa, se for-
jam no plano histrico real e contradi-
trio das relaes sociais capitalistas.
Assim, o carter mais ou menos verda-
deiro ou o que anuncia o germe do novo se
manifesta na expresso de educao po-
litcnica ou tecnolgica. Por outra parte,
como aprendemos com Marx (1988) na
crtica s teses de Feuerbach (especifca-
mente na tese dois), a questo do que
certo ou verdadeiro em relao reali-
dade humana no uma questo terica
e menos ainda terminolgica. Somente
no terreno da prxis os fatos assumem
sentido histrico e no se reduzem a
uma discusso escolstica.
279
E
Educao Politcnica
No Brasil, a introduo do conceito
de educao politcnica se d na dca-
da de 1980, com o desenvolvimento,
em alguns cursos de ps-graduao,
dos est udos das obras de Marx,
Engels, Gramsci e Lenin, e constitui
claro contraponto s concepes de
educao e de formao profssional
protagonizadas, ao longo da ditadura
civil-militar das dcadas de 1960 e 1970
e nos embates quando da elaborao
da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
o Nacional (LDB) e do Plano Nacio-
nal de Educao, nas dcadas de 1980
e 1990, pela noo ideolgica econo-
micista de capital humano. Uma con-
traposio, pois, viso adestradora e
fragmentria de educao e formao
profssional sob a tica da polivalncia
e da multifuncionalidade do trabalha-
dor, hoje reafrmada pela pedagogia
das competncias. Nesta viso, a escola
deve ensinar e educar de acordo com o
que serve ao mercado.
Assim, como sublinha Saviani
(2003), em nossa realidade histrica,
a educao politcnica traduz os inte-
resses da classe trabalhadora na crtica
fragmentao dos conhecimentos,
separao entre educao geral e espe-
cfca, entre tcnica e poltica, e divi-
so entre trabalho manual e intelectual;
alm disso, afrma o domnio dos funda-
mentos cientfcos das diferentes tcnicas que
caracterizam o processo de trabalho moderno
na relao entre educao, instruo e
trabalho, da perspectiva desenvolvida
por Marx e Engels e apropriada pelas
experincias socialistas, mormente pe-
los educadores russos dos primeiros
anos da Revoluo de 1917, entre as
quais se destacam as abordagens de
Pistrak (1981 e 2009).
A concepo de educao politc-
nica relaciona-se de forma direta com
os processos educativos e de cons-
truo de conhecimentos articulados
ao trabalho produtivo, e que afrmam
os interesses dos movimentos sociais
dos trabalhadores do campo. Trata-se da
luta pela superao das perspectivas
da educao centradas em modelos abs-
tratos com contedos e mtodos peda-
ggicos os quais ignoram que as crianas,
os jovens e os adultos do campo so su-
jeitos de cultura, experincias e saberes.
Esses modelos postulam uma formao
e educao escolar com conhecimentos
elementares para o campo e/ou um
ensino restrito, localista e particularista de
educao para fx-los no campo.
A denominao EDUCAO DO CAMPO,
construda a partir do processo de
luta do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), engendra
um sentido que busca confrontar, h um
tempo, a perspectiva restrita, coloniza-
dora, extensionista, localista e particu-
larista de educao e as concepes e
mtodos pedaggicos de natureza
fragmentria e positivista de conheci-
mento. Por centrar-se na leitura histri-
ca e no linear da realidade, o processo
educativo escolar vincula-se luta por
uma nova sociedade e, por isso, vincula-
se tambm aos processos formativos
mais amplos que articulam cincia, cul-
tura, experincia e trabalho.
Essa relao, na perspectiva da edu-
cao que desenvolva o ser humano
omnilateral, nos limites possveis den-
tro das relaes sociais capitalistas, im-
plica a educao intelectual, corprea e
politcnica ou tecnolgica, dimenses
destacadas por Marx em 1866, no I
Congresso da Associao Internacio-
nal dos Trabalhadores (Marx, 1983c).
A formao politcnica ou tecnolgi-
ca demanda uma implacvel crtica
explorao do trabalho infantil pelo
Dicionrio da Educao do Campo
280
capital, mas isto no elide a dimenso
fundamental do trabalho como princ-
pio educativo no processo de sociali-
zao e constituio da personalidade
da criana e do jovem. Por isso, per-
manece vlido e necessrio ainda hoje
que, no processo educativo, se d a
conhecer os princpios gerais de todos
os processos de produo e se inicie,
ao mesmo tempo, a criana e o jovem
no manejo dos instrumentos elemen-
tais de todas as indstrias (Marx,
1983c, p. 60).
Em termos prticos, isso signifca
que crucial que toda a criana e jo-
vem dediquem, em seu processo for-
mativo, algum tempo a qualquer forma
de trabalho social produtivo, na famlia
e na instituio escola. E isto nada tem
a ver com explorao do trabalho in-
fantil. Pelo contrrio, trata-se de socia-
lizar, desde a infncia, o princpio de
que a tarefa de prover a subsistncia
comum a todos os seres humanos.
Trata-se de no criar indivduos que
achem natural a explorao do traba-
lho alheio. Na expresso de Antonio
Gramsci, para no criar mamferos de luxo.
A Educao do Campo, nos acam-
pamentos, na escola itinerante, nas es-
colas dos assentamentos, ao desenvol-
ver a educao intelectual e corprea e
os princpios gerais dos processos de
produo, e a organizao de peque-
nos trabalhos com sentido educativo,
explicitam, de forma concreta, a con-
cepo de educao politcnica. Do
mesmo modo, partindo dos sujeitos do
campo crianas, jovens e adultos
na sua singularidade e particularida-
de dadas pela realidade, o horizonte
o do acesso ao conhecimento em
sua universalidade histrica possvel,
o da construo de processos edu-
cativos, de conhecimento e processos
produtivos que apontam para uma
sociedade sem classes, fundamento
da superao da dominao e aliena-
o econmica, cultural, educacional,
poltica e intelectual.
Notas
1
Uma leitura interessante e didtica para aqueles que buscam entender, na perspectiva
de Marx, a especifcidade das relaes sociais de produo na sociedade capitalista, o livro de
Jos Paulo Netto e Marcelo Braz, 2008.
2
Tal domnio no se refere simplesmente a apreender os fundamentos da cincia burguesa
marcada por seus limites de classe e dentro de uma concepo fragmentria, atomizada,
funcionalista e pragmtica da realidade. Trata-se de se apropriar, pelo mtodo materialista
histrico, das determinaes e mediaes que permitem compreender como se produz a
realidade em todos os seus domnios. Nos termos de Marx, como assinala Barata-Moura
(1997), trata-se da busca da cientifcidade do saber.
3
Vrios estudos, com diferentes recortes, foram desenvolvidos no Brasil sobre educao
politcnica. Destacamos, alm das anlises j referidas de Saviani e Nosella, trs outros: o
de Luclia Regina Machado (1989), que aborda a concepo de politecnia dentro da herana
do marxismo e da experincia socialista; o de Jos Rodrigues (1998), que contextualiza a
gnese e o panorama geral das diferentes nfases na abordagem da educao politcnica no
Brasil; e o de Justino de Souza Jnior (2010), que traz esse debate dentro de uma retomada
ampla da obra de Marx e da crtica da educao.
281
E
Educao Politcnica
Para saber mais
BARATA-MOURA, J. Materialismo e subjetividade: estudos em torno de Marx. Lisboa:
Avante, 1997.
KOSIK, K. Dialtica do concreto. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
MACHADO, L. R. DE S. Politecnia, escola unitria e trabalho. So Paulo: Cortez, 1989.
MANACORDA, M. A. Il marxismo e leducazione: Marx, Engels, Lenin. Roma:
Armando, 1964
______. Marx e a pedagogia moderna. So Paulo: Cortez, 1991.
MARX, K. O capital. So Paulo: Abril Cultural, 1983a. V. 1.
______. Manuscritos econmico-flosfcos de 1844. Lisboa: Edies 70, 1989.
______. Prefcio. In: ______. Contribuio crtica da economia poltica. So Paulo:
Martins Fontes, 1983b.
______. Teses sobre Feuerbach. In:______. ENGELS, F. Obras escolhidas. So
Paulo: Alfa-mega, 1988. V. 3.
______. Instr ues aos del egados do Consel ho Central Provi sri o, AIT,
1966. In: ______. ENGELS, F. Textos sobr e educao e ensi no. So Paul o:
Moraes, 1983c.
______; ______. O manifesto comunista. In: LASKI, H. J. O manifesto comunista de Marx
e Engels. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
NETTO, J. P; BRAZ, M. Economia poltica: uma introduo crtica. 4. ed. So Paulo:
Cortez, 2008.
NOSELLA, P. Trabalho e perspectiva de formao dos trabalhadores: para alm
da formao politcnica. Revista Brasileira de Educao, Campinas, v. 12, n. 34,
p. 137-151, jan.-abr. 2007.
PISTRAK, M. M. Fundamentos da escola do trabalho. So Paulo: Brasiliense, 1981.
______ (org.). A escola-comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
RODRIGUES, J. A educao politcnica no Brasil. Rio de Janeiro: Eduff, 1998.
SAVIANI, D. O choque terico da politecnia. Trabalho, Educao e Sade, v. 1, n. 1,
p. 131-152, 2003.
SOUZA JNIOR, J. Marx e a crtica da educao. Aparecida: Ideias & Letras, 2010.
Dicionrio da Educao do Campo
282
E
EDUCAO POPULAR
Conceio Paludo
A concepo de educao popular
tem uma gnese, uma trajetria e uma
atualidade. nesse movimento de es-
crita que procuramos apresentar a edu-
cao popular.
Na modernidade, o ser humano
considerado livre e igual; antes, ele era
tido como escravo e, depois, servo, o
que era compreendido como sendo
natural. Essa liberdade e igualdade, en-
tretanto, no se concretizaram. A bru-
talizao do trabalho pelo capital, no
processo de constituio do modo de
produo capitalista, desde cedo foi o
que impulsionou as crticas radicais ao
novo modo de produo, viso social
de mundo e ao poder poltico que iam
se frmando. Tambm desencadeou a
luta pelos direitos, por condies dig-
nas de vida, e pela possibilidade de
afrmao das identidades, enfm, as
lutas dos movimentos reivindicatrios,
de contestao e de busca pelo poder
poltico do sculo XX.
Nesse processo que vo deli-
neando-se concepes diferenciadas
de educao. Embora de modo sim-
plifcado, possvel dizer que, de um
lado, temos as teorias da educao,
e suas diversas vertentes, nomeadas
de liberais, cujo centro transmisso de
conhecimentos, atitudes, valores e
comportamentos para a socializao
submissa, para o mercado de trabalho
e para a naturalizao, a aceitao e a
reproduo da sociedade dividida em
classes. De outro lado, temos as teorias
socialistas (crticas), tambm em suas
diversas vertentes, que propem uma
educao crtica, desnaturalizadora da
ordem social, que eduque homens e
mulheres para que atuem na direo da
construo de outro projeto para a so-
ciedade (Freitas, 2003).
No que diz respeito ao Brasil e
Amrica Latina, Capitalismo dependente
e classes sociais na Amrica Latina, obra
de Florestan Fernandes (2009), permite
compreender o bloqueamento histrico
para um desenvolvimento autnomo
e autossustentado. Ao analisar o de-
senvolvimento dos pases, Fernandes
explicita como o desenvolvimento so-
ciocultural, poltico e econmico foi
sendo feito de modo dependente e
subordinado. De acordo com o au-
tor, nossas sociedades passaram do
colonialismo para o neocolonialismo
e para o capitalismo dependente sem
que se alterassem as condies que as
tornam dependentes.
Essa dependncia e subordinao
decorrem da articulao, que ainda se
mantm, dos agentes econmicos in-
ternos e externos na superexplorao
e na superexpropriao das riquezas/
fora de trabalho, condenando os tra-
balhadores do campo e da cidade s
condies de dependncia necessrias
reproduo desses mesmos agentes
econmicos e de seus vnculos de domi-
nao. por isso que, para Fernandes
(1981), em nossas sociedades, h uma
convivncia orgnica entre o arcaico e
o moderno, no interior do desenvol-
vimento desigual e combinado.
Fernandes (1981), entretanto, ad-
verte que a questo da dominao deve
283
E
Educao Popular
ser pensada amplamente. Os nveis so,
de acordo com o autor, o ideolgico,
o societrio e o poltico. Quer dizer, a
produo e a reproduo da socieda-
de capitalista se do na sociedade e em
suas instituies como um todo. na
esteira dessa forma de entendimento
que deve ser analisada a importncia
e o papel da educao. Na sociedade
capitalista, como j se disse, o seu pa-
pel a formao de uma viso social
de mundo que aceite a ordem, natura-
lizando o modo de vida produzido pela
sociedade (Frigotto, 1995)
Em conexo com o contexto mais
amplo, na Amrica Latina, as classes
populares ou os trabalhadores empo-
brecidos, sem condies de reproduzir
dignamente a sua vida material e espi-
ritual, tambm desenvolveram articu-
laes, movimentos e lutas em defesa
dos seus direitos. Especialmente entre
os anos 1960 e 1990 foi se gestando
uma concepo diferenciada de edu-
cao, a da educao popul ar, que
se tornou mundi al mente conheci da
(Brando, 1994).
Assim, importante diferenciar
a educao dos populares ou dos tra-
balhadores empobrecidos que se faz
com base nas das concepes liberais
de educao, em qualquer uma de suas
vertentes, e a educao desses sujeitos
que se faz a partir da concepo de
educao popular, cujo direcionamen-
to central do processo educativo o
de estar a servio dos interesses e das
necessidades das classes populares, dos
trabalhadores (Paludo, 2001).
A origem da concepo de educa-
o popular, dessa forma, decorre do
modo de produo da vida em socieda-
de no capitalismo, na Amrica Latina
e tambm no Brasil, e emerge a partir
da luta das classes populares ou dos
trabalhadores mais empobrecidos na
defesa de seus direitos; dependendo da
organizao na qual se congregam, os
trabalhadores chegam inclusive a de-
fender e a lutar pela construo de uma
nova ordem social.
As razes da educao popular so
as experincias histricas de enfrenta-
mento do capital pelos trabalhadores
na Europa, as experincias socialistas
do Leste Europeu, o pensamento pe-
daggico socialista, as lutas pela inde-
pendncia na Amrica Latina, a teoria
de Paulo Freire, a teologia da libertao
e as elaboraes do novo sindicalismo e
dos Centros de Educao e Promoo
Popular. Enfm, so as mltiplas expe-
rincias concretas ocorridas no con-
tinente latino-americano e o avano
obtido pelas cincias humanas e sociais
na formulao terica para o entendi-
mento da sociedade latino-americana.
A educao popular vai se frmando
como teoria e prtica educativas alter-
nativas s pedagogias e s prticas tra-
dicionais e liberais, que estavam a ser-
vio da manuteno das estruturas de
poder poltico, de explorao da fora
de trabalho e de domnio cultural. Por
isso mesmo, nasce e constitui-se como
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO, vinculada
ao processo de organizao e prota-
gonismo dos trabalhadores do campo
e da cidade, visando transformao
social.
No Brasil, possvel identificar
trs momentos fortes de constituio
da educao popular anteriores aos
anos 1990. Esses momentos acompa-
nham o processo de desenvolvimen-
to brasileiro.
O primeiro pode ser identifcado
em meados da Proclamao da Rep-
blica (1889), estendendo-se at 1930.
Ele acontece no bojo das disputas pelo
Dicionrio da Educao do Campo
284
controle do direcionamento do desen-
volvimento, e representa o processo de
transio da passagem de um mode-
lo agrrio-exportador para um modelo
urbano-industrial. Naquele tempo, as
primeiras teorizaes e prticas educa-
tivas alternativas foram as dos socialis-
tas, anarquistas e comunistas,
1
e reme-
tiam a processos formais e no formais
de educao, a partir de uma concep-
o educativa que tinha elementos de
diferenciao tanto da pedagogia tradi-
cional quanto da pedagogia da Escola
Nova que ia emergindo.
Com a Revoluo de 1930, o Brasil
passa pela ditadura do Estado Novo
(1937-1945) e pelo chamado breve pe-
rodo democrtico (1945-1964). nes-
se ltimo perodo, no confronto entre
projetos para o Brasil, que mais uma vez
emerge a concepo de educao popu-
lar, com a criao dos movimentos de
educao popular.
2
Trs orientaes pe-
daggicas, estreitamente ligadas s for-
as polticas e s disputas pela direo
do desenvolvimento, confrontavam-se:
a pedagogia tradicional, a pedagogia da
Escola Nova e a concepo de educao
popular, com forte infuncia da teoria
de Paulo Freire. Nesse momento do
processo histrico brasileiro, a educao
popular toma a forma do que fcou sen-
do conhecido como a cultura popular
dos anos 1960 (Fvero, 1983).
O Golpe de 1964 representa a op-
o por um projeto de desenvolvimento
cada vez mais associado e subordinado
ao capital internacional. No contexto
da ditadura, sob a infuncia das teo-
rias crtico-reprodutivistas e de deses-
colarizao, ampliam-se as anlises do
Estado e da escola como aparelhos de
reproduo da ordem do capital.
A partir de 1978, h a (re)emergn-
cia das lutas populares.
3
Nesse perodo,
que se estende at meados de 1990, a
educao popular frma-se como uma
das concepes de educao do povo e
avana na elaborao pedaggica e nas
prticas educativas, principalmente nos
espaos no formais (Singer e Brant,
1981). Nesse processo, h o reconhe-
cimento de que a educao formal
um direito, e a escola deixa de ser in-
terpretada somente como reprodutora.
Ela passa a ser considerada um espao
importante de disputa de hegemonia
e de resistncia. Diversas concepes
educativas esto presentes nas suas
prticas: concepo de educao po-
pular, teorias no diretivas, pedagogia
da Escola Nova, pedagogia tradicional,
pedagogia tecnicista (Saviani, 2007).
A educao popular que se frma
nesse perodo acumula praticamente e
teoricamente uma concepo de edu-
cao. Esse projeto educativo simbo-
lizado pela educao dos e por meio
dos movimentos sociais populares. As
expresses povo sujeito de sua hist-
ria (marco ontolgico); conscientiza-
o,
4
organizao, protagonismo
popular e transformao (marco
poltico e da finalidade da educao);
e os mtodos prtica-teoria-prtica,
ver-julgar-agir e ao-reflexo-ao
(marco epistemolgico e pedaggico),
representam a orientao das prticas
educativas desde a concepo de edu-
cao popular. Estabelece-se, desse
modo, o vnculo entre educao e pol-
tica, educao e classe social, educao
e conhecimento, educao e cultura,
educao e tica, e entre educao e
projeto de sociedade. A educao def-
nitivamente deixa de ser prtica neutra
e ganha o signifcado de ato poltico
(Freire, 1985), realizando a formao
poltica e a conscientizao para a ao
e relacionando a formao com os
285
E
Educao Popular
processos de luta e de organizao das
classes populares.
Na atualidade, na Amrica Latina
e tambm no Brasil, no h mais uma
identidade forte, de origem, na forma
de compreender a educao popular
(Holliday, 2005). A crise que se aba-
teu sobre a esquerda mundial, dadas
as novas formas de hegemonia do ca-
pitalismo no mundo, no possibilita,
igualmente, que as respostas hegemo-
nia do capital sejam tratadas de forma
homognea pelos diferentes pases.
As sim, as estratgias adotadas so di-
ferenciadas (Sader, 2009).
No Brasil, entre muitos outros as-
pectos, possvel dizer que h uma
fraca meno classe social como ca-
tegoria importante para a anlise da
realidade; a incluso social, como ho-
rizonte utpico, toma o lugar do so-
cialismo, e muito pouco se discute um
projeto civilizatrio. Movimento social
passa a ser um grande guarda-chuva,
sob o qual se abrigam diferentes con-
cepes cujas discusses no explicitam
seus pressupostos; deixa-se de realizar
a formao poltica: a importncia da
conscientizao poltica praticamen-
te negada. A via eleitoral e o terceiro
setor so assumidos como estratgia:
espao das lutas e da possibilidade de
incluso social. Tudo se faz em nome
dos e para os pobres, que j no so
sujeitos de seu processo de libertao.
O pensamento crtico parece ter cedi-
do lugar naturalizao de tudo o que
existe e acontece (Leher, 2007).
No mbito da educao, que no
pode ser analisada de modo descolado
do contexto mais amplo, h a retoma-
da da concepo de educao popular,
na ideia de sua construo como pol-
tica pblica, sem maiores discusses da
implicao disso por exemplo, a pa-
dronizao educacional que ocorre em
nvel mundial. Se a educao funda-
mental para que uma sociedade perdu-
re, igualmente importante a reprodu-
o de valores, de forma bem-sucedida,
em cada pessoa (Mszros, 2002). Essa
colocao possibilita compreender as
difculdades de se instituir a concep-
o de educao popular na escola e
como poltica pblica no Brasil e na
Amrica Latina.
Na atualidade brasileira, a Educa-
o do Campo pode ser identifcada
como uma das propostas educativas
que resgata elementos importantes da
concepo de educao popular e, ao
mesmo tempo, os ressignifca, atuali-
za e avana nas formulaes e prticas
direcionadas a um pblico especfco.
Essa uma importante experincia
existente no Brasil, protagonizada pe-
los prprios sujeitos populares, apesar
de alguns transformismos, realizados
pelo prprio Estado e por outras insti-
tuies. Seus impulsionadores so os
movimentos populares do campo. Me-
rece destaque o protagonismo do
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST). No atual momento
histrico brasileiro, esse movimento,
sem dvida, o que mais tem contribu-
do na discusso e efetivao de expe-
rincias de processos no formais, a
chamada formao poltica, e de uma
nova educao e uma nova escola,
que resgatam os lineamentos centrais
da educao popular (Caldart, 2010;
Munarim et al., 2010).
A educao popular na escola p-
blica continuar a ser um projeto em
construo. O que se pode e se deve
fazer retomar o seu sentido de ori-
gem e construir projetos e propostas
de resistncia, com esperana, mas sem
iluses, porque, sob o capital, a esco-
Dicionrio da Educao do Campo
286
la pblica e popular sempre ser algo
pelo qual vale lutar, dada a importncia
da educao dos trabalhadores, e para
os processos transformadores (Vale,
2001). Como resistncia e, portanto,
como contra-hegemonia, ela demanda
que, alm da atuao no interior das
escolas, a insero dos educadores seja
tambm ativa nas lutas dos trabalhado-
res, ou seja, h uma opo poltica de
fazer com. A resistncia exige um
p na escola e um p na sociedade,
nos espaos de organizao dos tra-
balhadores. a resistncia lgica do
capital que amplia as possibilidades de
repensar a nova sociedade, a nova edu-
cao e a nova escola.
A educao popular, em sua origem,
indica a necessidade de reconhecer o
movimento do povo em busca de direi-
tos como formador, e tambm de voltar
a reconhecer que a vivncia organizativa
e de luta formadora. Para a educao
popular, o trabalho educativo, tanto na
escola quanto nos espaos no formais,
visa formar sujeitos que interfram para
transformar a realidade. Ela se consti-
tuiu, ao mesmo tempo, como uma ao
cultural, um movimento de educao
popular e uma teoria da educao.
Notas
1
Os libertrios, no incio do sculo XX, no lutavam pelo ensino pblico e gratuito. Inspira-
dos em Ferrer, desenvolveram a chamada educao racionalista e fundaram a Universidade
Popular e dezenas de escolas modernas, que eram autossustentadas (ver Ghiraldelli, 1987).
2
Por exemplo, o Movimento de Cultura Popular (MCP), criado em 1960, no Recife, por
Paulo Freire; o Movimento de Educao de Base (MEB), criado em maro de 1961 pela
Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); o Centro de Popular de Cultura (CPC),
criado em 1961 pela Unio Nacional dos Estudantes (UNE); e o Plano Nacional de Alfabe-
tizao (PNA), criado em 1963 por Paulo Freire, no Governo Joo Goulart.
3
Nesse perodo, surgem ou ressurgem, entre outros, as comunidades eclesiais de base
(CEBs), o Conselho Indigenista Missionrio (Cimi), a Comisso Pastoral da Terra (CPT) e
diversas outras pastorais populares e movimentos de bairros, alm da Articulao dos Mo-
vimentos Populares ou Sindicais (Anampos). Houve tambm a rearticulao do movimento
sindical Com a criao da Central nica dos Trabalhadores (CUT), da Central Geral dos
Trabalhadores (CGT) e da Unio Sindical Independente (USI); a organizao do Movi-
mento Negro Unifcado (MNU), do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua
(MNMMR), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento
das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) hoje Movimento de Mulheres Camponesas
(MMC Brasil) , do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), do Movimento de
Luta pela Moradia (MLM) e do Movimento de Justia e Direitos Humanos (MJDH).
4
Vale pontuar que a conscientizao, hoje, no pode mais ser compreendida somente como
conscientizao poltica, que se traduz na capacidade de leitura da estrutura e dinmica da so-
ciedade capitalista, na tomada de posio e insero efetiva nos processos de luta. preciso que
se trabalhe (e se pratique), nos processos educativos e nos espaos organizativos, com a ideia de
formao de uma conscincia ampliada e da formao omnilateral, formao humana.
Para saber mais
BRANDO, C. R. Os caminhos cruzados: formas de pensar e realizar a educao
na Amrica Latina. In: GADOTTI, M.; TORRES, C. A. (org.). Educao popular: utopia
latino-americana. So Paulo: Cortez, 1994. p. 23-49.
287
E
Educao Popular
CALDART, R. (org.). Caminhos para a transformao da escola. So Paulo: Expresso
Popular, 2010.
FVERO, O. (org.). Cultura popular, educao popular, memria dos anos 60. Rio de
Janeiro: Graal, 1983.
FERNANDES, F. A revoluo burguesa no Brasil: ensaio de interpretao sociolgica.
Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
______. Capitalismo dependente e classes sociais na Amrica Latina. 4. ed. So Paulo:
Global, 2009.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
FREITAS, L. C. de. Crtica da organizao do trabalho pedaggico e da didtica. 6. ed. So
Paulo: Papirus, 2003.
FRIGOTTO, G. Educao e crise do capitalismo real. So Paulo: Cortez, 1995.
GHIRALDELLI, P. Educao e movimento operrio. So Paulo: Cortez, 1987.
HOLLIDAY, O. J. Ressignifquemos as propostas e prticas de educao popular
perante os desafos histricos contemporneos. In: ORGANIZAO DAS NAES
UNIDAS PARA A EDUCAO, A CINCIA E A CULTURA (UNESCO). Educao popular na
Amrica Latina: dilogos e perspectivas. Braslia: Unesco/MEC/CEAAL, 2005.
p. 233-239.
LEHER, R. Educao popular como estratgia poltica. In: JEZINE, E.; ALMEIDA,
M. L. P. de (org). Educao e movimentos sociais: novos olhares. So Paulo: Alnea,
2007. p. 20-32.
MSZROS, I. Para alm do capital. So Paulo: Boitempo; Campinas: Editora da
Unicamp, 2002.
MUNARIM, A. et al. Educao do campo: refexes e perspectivas. Florianpolis:
Insular, 2010.
PALUDO, C. Educao popular em busca de alternativas: uma leitura desde o campo
democrtico e popular. Porto Alegre: Tomo, 2001.
SADER, E. Quando novos personagens entram em cena: experincias e lutas dos trabalha-
dores na Grande So Paulo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
______. A nova toupeira: os caminhos da esquerda latino-americana. So Paulo:
Boitempo, 2009.
SAVIANI, D. Histria das ideias pedaggicas no Brasil. So Paulo: Autores Associados, 2007.
SINGER, P.; BRANT, V. C. (org.). O povo em movimento. Rio de Janeiro: Vozes, 1981.
VALE, A. M. Educao popular na escola pblica. 4. ed. So Paulo: Cortez, 2001.
Dicionrio da Educao do Campo
288
E
EDUCAO PROFISSIONAL
Isabel Brasil Pereira
Comecemos pela compreenso da
educao profssional como um campo
em disputa entre projetos hegemni-
cos voltados ao capital e projetos ou-
tros de educao do trabalhador como
resistncia (reao e criao) ao modo
de produo de vida existente.
Com olhar histrico, observemos
que, na gnese dos patronatos e dos
aprendizados que vigoraram at mea-
dos do sculo XX, est presente o
iderio dos rfos e desvalidos a serem
redimidos e salvos pelo saber trabalhar
para o capital. Em 1909, so criadas es-
colas de aprendizes artfces que seriam
mantidas pelo Ministrio da Agricul-
tura, Indstria e Comrcio. Nos anos
1930, Fernando de Azevedo, expoente
da Escola Nova no Brasil, dedica um
captulo de Novos caminhos, novos fns
(1931) chamada educao profssio-
nal (Pereira e Lima, 2009).
Na ditadura do Estado Novo, so
promulgadas leis orgnicas de ensino:
a Lei Orgnica do Ensino Secundrio,
ou decreto-lei n
o
4.244 (Brasil, 1942b);
o decreto-lei n
o
4.073 (Brasil, 1942a),
que organizava o ensino industrial; e,
em dezembro de 1943, a Lei Orgni-
ca do Ensino Comercial (Brasil, 1943).
Essas leis passam a infuir, a disciplinar
e a defnir pontos importantes no mun-
do do trabalho comercial e industrial,
mostrando a clara inteno de ocupar
espao poltico pela via pblica e bu-
rocrtica, diminuindo, assim, a infun-
cia dos opositores organizados na vida
civil da sociedade, no tutelados pelo
Estado e no integrados a seu projeto
de representao orgnica da sociedade.
Orientado pela dualidade pautada pelo
lugar a ocupar no modo de produo
capitalista, o ensino secundrio, com
formao humanstica e cientfca (cls-
sico e cientfco), continua a preparar
para a universidade e o ensino tcnico-
profssionalizante est voltado para a
formao para o trabalho. Defne-se,
com isso, uma hierarquia do acesso a
oportunidades e postos de mando na
sociedade, com uma clivagem de classe
que no escapa anlise crtica, tendo
ao fundo uma bem ntida diviso entre
trabalho intelectual e trabalho manual.
Como ajuda a entender Romanelli
(1989), a Reforma Capanema (como
fcaram conhecidas as Leis Orgnicas
do Ensino), referente ao ensino pro-
fssionalizante, no vislumbra poder
atender, de imediato, s demandas e
ao modelo de trabalhador para o pro-
cesso de industrializao. Este foi um
dos motivos da criao do Servio Na-
cional da Indstria (Senai), em 1942,
e do Servio Nacional do Comrcio
(Senac), em 1946, em convnio com a
Confederao Nacional de Indstrias
(CNI) e a Confederao Nacional do
Comrcio (CNC). A criao do Senai e
do Senac ps em evidncia mudanas
e permanncias da passagem da socie-
dade escravista para a republicana, da
economia exportadora de matrias-
primas para o processo de substituio
de importaes, industrializando o pas
e buscando criar um mercado interno
brasileiro. Porm, para tanto, era ne-
cessria uma formao profssional
289
E
Educao Profissional
que a imensa maioria dos trabalhado-
res brasileiros no tinha; tanto naquela
poca quanto hoje em dia, a formao
importante para esta ou aquela eta-
pa de desenvolvimento do capitalismo.
No , portanto, uma necessidade hu-
manista, mas uma necessidade prtica
para a acumulao privada da riqueza
social gerada pela modernizao.
Em 1946, aps a queda do Esta-
do Novo, foi promulgada uma nova
Constituio no pas. A Constituio
de 1946 instituiu a obrigatoriedade da
aplicao de um percentual mnimo de
recursos por parte da Unio e dos es-
tados, e estabeleceu que a Unio deve
legislar sobre as diretrizes e bases da
educao nacional. Assim, foram cria-
das as leis do ensino primrio e o ensi-
no normal. O ensino primrio apresen-
tava duas modalidades: o fundamental,
em quatro anos, e o supletivo, em dois.
Merece destaque o decreto-lei de 1946
para regular o ensino tcnico agrcola,
o ensino de iniciao agrcola, e os cur-
sos ps-tcnicos agrcolas.
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
n
o
4.024, de 1961 (Brasil, 1961), con-
servou a estrutura da educao profs-
sional e os marcos da dcada de 1940
relativos reproduo da dualidade
estrutural social por meio da dualida-
de educacional. A educao huma-
nstica se mutilava pela ausncia da
materialidade de sentido e pelo vezo
acadmico-generalista, com propostas
de forte perfl classista. Na ditadura
civil-militar, posta a servio do modelo
de desenvolvimento econmico-social
do perodo, a LDB de 1961 favoreceu
o sistema educacional dos setores em-
presariais, o Sistema S,
1
composto por
entidades dedicadas educao profs-
sional pautada pela intensifcao da in-
dustrializao, da urbanizao e da con-
sequente alterao da estrutura social
brasileira, baseada tanto no aporte de
capital estrangeiro quanto nos subsdios
e incentivos fscais ao capital nacional.
Em 1971, criada uma nova LDB,
a de n
o
5.692 (Brasil, 1971). Agora, a
universalizao da profssionalizao
se pretende de modo compulsrio no
ensino de segundo grau. No bojo do
nacional-desenvolvimentismo, ganham
protagonismo a tecnicizao da edu-
cao e a adequao das geraes ao
domnio da tcnica e da tecnocracia na
organizao e na produo das relaes
sociais. A dcada de 1970 , para mui-
tos, o perodo mais representativo de
uma modernizao conservadora, pe-
los altssimos ndices de crescimento
econmico convivendo com a enorme
taxa de concentrao de renda e a ex-
cluso de grande parte da populao
da cobertura dos servios pblicos
bsicos. Nesse contexto, a educao
receber incumbncia de fator de
produo, um capital essencial para a
sociedade do conhecimento e da com-
petitividade tecnolgica a competiti-
vidade como atualizao constante do
recurso humano-produtivo.
Por outro lado, projetos educacio-
nais significativos construdos como
resistncia ordem capitalista podem
ser exemplificados. Na dcada de
1980, os movimentos sociais do cam-
po, com destaque para o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), reivindicam polticas pblicas
para a educao do campo como par-
te da sua luta pela Reforma Agrria e
contra a desigualdade.
Tambm na contracorrente, a no-
o de politecnia ganha materialidade,
com a criao da Escola Politcnica
de Sade Joaquim Venncio (EPSJV),
uma das precursoras do ensino tcnico
Dicionrio da Educao do Campo
290
integrado na educao profssional e
da iniciao cientfca no ensino mdio
e na educao profssional.
A dcada de 1990 foi a de imple-
mentao de ajustes neoliberais no
ordenamento jurdico, poltico e ins-
titucional da educao nacional. A
sociedade do conhecimento, dese-
nho edulcorante de nova organizao
valorativo-cultural para o novo modelo
de acumulao do capital, e o mode-
lo fexvel ps-fordista chegam com o
Governo Fernando Henrique Cardoso
e sua agenda de reforma do Estado, ou
seja, retrao e cesso dos domnios
pblicos para a iniciativa privada. Palco
de embates, a LDB n
o
9.394, de 1996
(Brasil, 1996), eleva a educao profs-
sional modalidade de ensino. O de-
semprego estrutural pauta a formao
do ensino mdio para a empregabilida-
de, ou seja, fnaliza a mediao do tra-
balhador instrumental e fexivelmente
adaptado nova proposta de sociabi-
lidade capitalista. O trabalhador ser
um cidado competente, preparado
para a incerteza e o imprevisto da vida,
capaz de resolver problemas no pos-
to de trabalho. Competncias, eis o
nome que consagra a concepo peda-
ggica que sustenta esse novo homem,
a nova sociedade do conhecimento. Tal
reforma foi formalizada pelo decreto
n 2.208/1997 (Brasil, 1997) para a
educao profssional, regulamentan-
do sua dissociao da educao bsica
e matriciando as diretrizes curriculares
tambm pelas competncias tcnicas
e genricas.
Contudo, somente na dcada se-
guinte, o decreto n
o
5.154/2004 (Brasil,
2004) cria a base jurdica para a reali-
zao de uma educao profssional
integrada educao bsica, e no
meramente justaposta. A modalidade
educao profssional organizada em
trs nveis: formao inicial e continua-
da ou qualifcao profssional; tcni-
co de nvel mdio (forma integrada,
concomitante e subsequente); e tec-
nlogo (superior). H que se registrar
a poltica de integrao da educao
profssional com a educao de jovens
e adultos materializada no Programa
Nacional de Integrao da Educao
Profssional com a Educao Bsica na
Modalidade de Educao de Jovens e
Adultos (Proeja).
No debate atual da educao profs-
sional, traduzido no Plano Nacional de
Educao (PNE) 2011-2020, notamos
que sob o mote da universalizao do
ensino mdio que aparecem as primei-
ras referncias educao profssional,
tais como: fomentar a expanso das
matrculas do ensino mdio integrado
educao profssional, observando-se
as peculiaridades das populaes do
campo, dos povos indgenas e das co-
munidades quilombolas; fomentar a
expanso da oferta de matrculas gra-
tuitas de educao profssional tcnica
de nvel mdio por parte das entidades
privadas de educao profssional vin-
culadas ao sistema sindical, de forma
concomitante ao ensino mdio pbli-
co; e fomentar programas de educao
de jovens e adultos para a populao
urbana e do campo na faixa de 15 a 17
anos, com qualifcao social e profs-
sional para jovens que estejam fora da
escola e com defasagem srie-idade.
Cabe ressaltar o Programa Na-
cional de Acesso Escola Tcnica
(Pronatec), implantado em 2011. Tra-
ta-se de um conjunto de aes voltadas
para estudantes e trabalhadores. Para
tanto, o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (Fies)
passa a se incorporar ao Pronatec,
291
E
Educao Profissional
pois, agora, a direo do fnanciamen-
to se alarga para possveis instituies
de educao profssional privada. Da,
duas linhas de ao se estruturam. A
primeira objetiva dar acesso aos cursos
subsequentes e concomitantes das insti-
tuies privadas por fnanciamento. Na
segunda, uma bolsa ser concedida para
os benefcirios do seguro-desemprego.
A Secretaria de Educao Profs-
sional e Tecnolgica do Ministrio da
Educao (Setec/MEC), responsvel
pela gesto da educao profssional na
estrutura do MEC, est organizada de
modo a tornar explcitas as suas aes
e prioridades. Ela se compe de trs di-
retorias: a primeira, de gesto e desen-
volvimento da rede federal; a segunda,
dedicada ao fortalecimento da educa-
o profssional no sistema estadual,
por meio do Brasil Profssionalizado,
2
ao controle e superviso do acordo de
gratuidade com o Sistema S, ao desen-
volvimento dos projetos especiais na
rede federal (programas de extenso e
qualifcao profssional), ao sistema
Escola Tcnica Aberta do Brasil (e-Tec
Brasil)
3
(dentro do Brasil Profssionali-
zado), e gesto do Pronatec; e a tercei-
ra, de polticas de articulao institucio-
nal com a rede federal e de defnio e
orientao curricular, formao docen-
te, gesto para a educao profssional,
pesquisa e inovao tecnolgica etc.
Uma questo que infexiona o en-
sino mdio integrado educao pro-
fssional a possibilidade de o Exame
Nacional do Ensino Mdio (Enem)
certifcar por meio das secretarias esta-
duais e institutos tecnolgicos, e, por-
tanto, h consideraes que devem ser
feitas pois, com isso, possvel conferir
mais agilmente certifcado a quem est
fora da escola, e estimular esses gru-
pos a voltarem a estudar pelo acesso
ao nvel superior. O problema, entre-
tanto, no , decerto, a certifcao e
a incorporao ao sistema educacional
de segmentos injustamente excludos,
mas a melhor definio dos critrios
de uso desse expediente; pois o que
ocorre que, atingida a idade de 18
anos, estudantes da educao bsica
podem abandonar a trajetria con-
clusiva de suas escolas e ganhar apro-
vao/certificao e acesso ao ensino
superior, caso aprovados no Enem. A
educao profissional integrada, com
isso, pode ser interrompida, ficando
seriamente ameaada.
Educao profissional para
o campo
No cenrio atual, cabe ainda ressal-
tar experincias educativas na educao
profssional pautadas por outros ru-
mos e fns que no sejam os da repro-
duo de desigualdades sociais. Como
exemplo, a educao profssional rei-
vindicada pelos campesinos, que une
trade campo, polticas pblicas e
educao princpios como: o trabalho
como princpio pedaggico inspira-
do em Makarenko e Pistrak; o encontro
com a educao politcnica; a tcnica
e a cincia como produtoras de tec-
nologias sociais; a cultura como prin-
cpio pedaggico; e a relao campo
cidade de modo crtico, ao pensar
a totalidade da formao da classe
trabalhadora brasileira.
H que se ressaltar que a educao
profssional reivindicada pela educao
do campo no a mesma coisa que es-
cola agrcola. Inclui a preparao para
diferentes profsses que so necess-
rias ao desenvolvimento do territrio
campons, cuja base de desenvolvimen-
to est na agricultura agroindstria,
Dicionrio da Educao do Campo
292
gesto, educao, sade, comunica-
o etc. e se relaciona ao acesso dos
camponeses educao e particular-
mente educao escolar, includa nela
os cursos de educao profssional.
O censo agropecurio de 2006 traz o
dado de que, em nosso pas, 30% dos
trabalhadores rurais so analfabetos, e
80% no chegaram a concluir o ensino
fundamental. Ou seja, a moral lm-
pida: o debate srio sobre a educao
profssional est atrelado necessidade
urgente de polticas de universalizao
da educao bsica e de democrati-
zao do acesso educao superior
(Caldart, 2010, p. 229-241).
O ensino agrcola pautado, ao lon-
go da Repblica, nos projetos governa-
mentais de educao rural, pela viso do
desenvolvimento a qualquer preo, por
promessas que o capitalismo no pode
cumprir, apontando para uma pretensa
fxao dos trabalhadores no campo,
sem qualquer horizonte de mudana
na posse e distribuio da terra, ou no
modo de produo da existncia.
Ao se fazer um resumo da forma-
o histrica do Brasil, vale lembrar
que o pas se desenvolve, como colnia
de Portugal, tendo como referncia na
produo o latifndio, a escravido e
a exportao de matrias-primas. Mes-
mo com a Repblica, no fnal do sculo
XIX, o sistema da grande propriedade
rural continua dominante. Ao longo
do sculo XX, a modernizao con-
servadora do Brasil reproduz o atraso
dos sculos coloniais, tentando sempre
manter a estrutura do privilgio e da
dominao. No difcil perceber nas
polticas de formao dos trabalhado-
res modos de regulao social que per-
mitem manter vivo o latifndio.
A poltica de formao tcnica
agrcola, chamada a responder REVO-
LUO VERDE ocorrida a partir da dca-
da de 1950, limitava-se a repetir as fr-
mulas tradicionais de dominao, e a
educao no fez resistncia ao proces-
so expropriador do homem do campo.
Como contraponto educativo e peda-
ggico educao do capital, nas es-
colas com participao do MST h ex-
perincias do ensino tcnico integrado
ao ensino mdio, articulado luta pela
Reforma Agrria, em que orientaes
curriculares comuns merecem desta-
que: a defesa da forma integrada para
o ensino tcnico de nvel mdio; o tra-
bal ho como pri nc pi o educativo; o
trabalho como princpio pedaggico,
produzindo o cuidado das pessoas e do
ambiente; a iniciao cientfca no ensi-
no tcnico; a pedagogia da alternncia
(tempo escola e tempo comunidade);
a leitura como ato ativo e produtivo;
o trabalho no campo como ato peda-
ggico; e a formao poltica e cultural
como contraponto semicultura.
Uma das inmeras experincias que
constituem o sentido do termo educa-
o profssional construdo pelos mo-
vimentos sociais do campo a Escola
Agrcola 25 de Maio, e, mais especif-
camente, seu curso tcnico de Agrope-
curia, com nfase em Agroecologia.
Localizada em rea de assentamento de
Reforma Agrria, na regio meio-oeste
de Santa Catarina, construda em 1988
e fundada em 1989 no Assentamento
Vitria da Conquista, no municpio
de Fraiburgo, foi criada em convnio
com o governo federal e a Secretaria
Estadual de Educao, em conjunto
com a comunidade. Seu nome faz re-
ferncia ao 25 de maio de 1985, dia em
que ocorreu uma grande ocupao de
terras no municpio de Abelardo Luz
(SC). O referido curso prioriza a cole-
tividade, a autonomia e a emancipao
293
E
Educao Profissional
camponesa diante do modelo agroin-
dustrial instalado no campo brasilei-
ro. E aponta, alm da agroecologia, o
sistema de cooperativas de produo,
pois se constituem na forma adota-
da pelo MST, como via de fortaleci-
mento e coeso dos assentados, em ter-
mos produtivos, econmicos, sociais e
polticos, visando manter o sentido do
trabalho coletivo e solidrio na produ-
o agrcola (Blanc, 2009, p. 109).
Outra experincia de educao
profssional so os cursos desenvol-
vidos no Instituto de Educao Josu
de Castro, localizado em Veranpolis
(RS). Algumas linhas crticas de tra-
balho desenvolvidas, por exemplo, no
curso de Agente Comunitrio de Sa-
de so as seguintes: integrao entre o
ensino tcnico e o mdio, tendo como
meta enfrentar a fragmentao da for-
mao tcnica agrcola; estratgias
curriculares, como a integrao entre
conceitos, buscando o conhecimento
interdisciplinar; insero de conte-
dos ausentes do currculo por exem-
plo, a histria das lutas em territrio
campesino; abordagem de conte-
dos de cincia e tecnologia social,
assim como de prticas de sade afna-
das com as caractersticas do campo e
da cultura campesina.
Dentre as inmeras parcerias en-
tre instituies pblicas e movimentos
do campo, que se traduzem em ricas
experincias, ressaltamos, na educa-
o profssional, a realizao do Curso
de Especializao Tcnica em Sade
Ambiental, parceria entre o MST e a
EPSJV/Fiocruz. Nesse curso, politecnia
e educao do campo se combinam.
Por fm, a educao profssional,
como aquela reivindicada e construda
como resistncia reao e criao
pelos movimentos de trabalhadores
campesinos no contexto das lutas pela
Reforma Agrria, pela terra e pelos di-
reitos sociais, polticos e culturais, nesta
formao histrica chamada capitalis-
mo, criao coletiva e resposta crtica
s polticas governamentais hegemni-
cas destinadas formao dos trabalha-
dores. Tem como norte uma educao
profssional campesina crtica de um
projeto de educao rural que vislumbra
a formao profssional dos trabalhado-
res do campo em funo da dinmica
do capital, que aparta a relao entre
campo e cidade, colocando em posio
subalterna os valores ticos, polticos,
culturais e econmicos do campo em
relao aos valores e a produo de vida
na cidade. Por essa linha, equivocada, a
inteno romper a relao que liga os
trabalhadores do campo e da cidade, em
seus contextos prprios e especfcos,
no conjunto da produo e da reprodu-
o do sistema capitalista, perdendo de
vista, justamente, a dialtica que relacio-
na o campo e a cidade.
Notas
1
O chamado Sistema S composto pela seguintes entidades: Servio Social da Indstria
(Sesi), Servio Nacional da Indstria (Senai), Servio Social do Comrcio (Sesc), Servio
Nacional de Aprendizagem do Comrcio (Senac), Servio Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), Servio Social do Transporte (Sest), Servio Nacional de Aprendizagem em Trans-
porte (Senat) e Servio Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).
2
Criado em 2007 e constituindo uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educao
(PDE), o programa Brasil Profssionalizado visa fortalecer as redes estaduais de educao
Dicionrio da Educao do Campo
294
profssional e tecnolgica mediante repasse de recursos do governo federal para os estados
investirem em suas redes de escolas tcnicas.
3
Tambm lanado em 2007, o sistema Escola Tcnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil) visa
oferta de educao profssional e tecnolgica a distncia e tem o propsito de ampliar
e democratizar o acesso a cursos tcnicos de nvel mdio, pblicos e gratuitos, em regi-
me de colaborao entre Unio com a assistncia fnanceira , estados, Distrito Federal
e municpios com estrutura, equipamentos, recursos humanos, manuteno das atividades
e demais necessidades para os cursos, sempre ministrados por instituies pblicas.
Para saber mais
AZEVEDO, F. Novos caminhos, novos fns. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1931.
BLANC, F. W. O espao agrrio, a educao do campo e a formao tcnica em agroecologia
no MST. 2009. Dissertao (Mestrado em Educao, Cultura e Comunicao em
Periferias Urbanas) Faculdade de Educao da Baixada Fluminense, Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
BRASIL. Decreto n 2.208, de 17 de abril de 1997: regulamenta o 2 do art. 36
e os arts. 39 a 42 da lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo
1, p. 7.760, 18 abr. 1997.
______. Decreto n 5.154, de 23 de julho de 2004: regulamenta o 2 do art. 36
e os arts. 39 a 41 da lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educao Nacional, e d outras providncias. Dirio Ofcial
da Unio, Braslia, 26 jul. 2004.
______. Decreto-lei no 4.073, de 30 de janeiro de 1942: Lei Orgnica do Ensino
Industrial. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1, p. 1.007, 9 fev. 1942a.
______. Decreto-lei n 4.244, de 9 de abril de 1942: Lei Orgnica do Ensino
Secundrio. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1, p. 5.798, 10 abr. 1942b.
______. Decreto-lei n 6.141, de 28 de dezembro de 1943: Lei Orgnica do
Ensino Comercial. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1, p. 19.217, 31 dez. 1943.
______. Lei n 4.024, de 20 de dezembro de 1961: fxa as Diretrizes e Bases da Educa-
o Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1, p. 11.429, 27 dez. 1961.
______. Lei n 5.692, de 11 de agosto de 1971: fxa diretrizes e bases para o ensi-
no de 1 e 2 graus, e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo
1, p. 6.377, 12 ago. 1971.
______. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as Diretrizes e Bases
da Educao Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1, p. 27.833, 23 dez.
1996.
CALDART, R. S. Educao profssional na perspectiva da educao do campo.
In: ______ (org.). Caminhos para a transformao da escola. So Paulo: Expresso
Popular, 2010. p. 229-241.
295
E
Educao Rural
CAMPELLO, A. M. DE M. B.; LIMA FILHO, D. L. Educao profssional. In: PEREIRA,
I. B.; LIMA, J. C. F. Dicionrio de educao profssional em sade. 2. ed. ampl. Rio de
Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2009. p. 175-181.
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. A formao do cidado produtivo: a cultura do mercado
no ensino mdio tcnico. Braslia: Inep, 2006.
______; ______; RAMOS, M. (org.). O ensino mdio integrado: concepo e contradi-
es. So Paulo: Cortez, 2005.
LUEDEMANN, C. DA S. Anton Makarenko: vida e obra a pedagogia na revoluo.
So Paulo: Expresso Popular, 2002.
PEREIRA, I. B.; LIMA, J. C. F. Educao profssional em sade. In: ______; ______.
Dicionrio de educao profssional em sade. 2. ed. ampl. Rio de Janeiro: EPSJV/
Fiocruz, 2009. p. 182-189.
PISTRAK, M. M. (org.). A escola-comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
ROMANELLI, O. Histria da educao no Brasil. 11. ed. Petrpolis: Vozes, 1989.
E
EDUCAO RURAL
Marlene Ribeiro
Para defnir educao rural preciso
comear pela identifcao do sujeito a
que ela se destina. De modo geral, o
destinatrio da educao rural a po-
pulao agrcola constituda por todas
aquelas pessoas para as quais a agri-
cultura representa o principal meio de
sustento (Petty, Tombim e Vera, 1981,
p. 33). Trata-se dos camponeses, ou
seja, daqueles que residem e trabalham
nas zonas rurais e recebem os menores
rendimentos por seu trabalho. Para es-
tes sujeitos, quando existe uma escola
na rea onde vivem, oferecida uma
educao na mesma modalidade da que
oferecida s populaes que residem e
trabalham nas reas urbanas, no haven-
do, de acordo com os autores, nenhuma
tentativa de adequar a escola rural s
caractersticas dos camponeses ou dos
seus flhos, quando estes a frequentam.
Destinada a oferecer conhecimen-
tos elementares de leitura, escrita e
operaes matemticas simples, mes-
mo a escola rural multisseriada no tem
cumprido esta funo, o que explica as
altas taxas de analfabetismo e os baixos
ndices de escolarizao nas reas ru-
rais. A escola procurou formar grupos
sociais semelhantes aos que vivem nas
cidades, distanciados de valores cultu-
rais prprios (Petty, Tombim e Vera,
1981, p. 38). Assim se explica a razo
pela qual, na Amrica Latina, observa-
se uma multiplicidade de culturas po-
pulares que poderiam ser consideradas
pela escola rural, mas no o so.
Os flhos dos camponeses expe-
rimentam uma necessidade maior de
aproximao entre o trabalho e o estu-
do, visto que a maior parte deles ingres-
sa cedo nas lidas da roa para ajudar a
Dicionrio da Educao do Campo
296
famlia, de onde se retira a expresso
agricultura familiar. Mas na escola ape-
nas se estuda, e este estudo nada tem
a ver com o trabalho que o campons
desenvolve com a terra. Assim, o tra-
balho produtivo articulado unidade
familiar que se envolve com este traba-
lho assume papel essencial no proces-
so educativo de ingresso e participao
ativa do campons no corpo social.
Portanto, no da escola a tarefa pri-
mordial de formar as crianas campo-
nesas, tanto porque estas quase sempre
ingressam mais tarde no processo de
escolarizao e permanecem pouco
tempo nele envolvidas quanto pelas
defcincias peculiares instituio
escolar. A permanncia das crianas
na escola depende do que esta pode
oferecer em relao s atividades prti-
cas relativas ao trabalho material como
base da aprendizagem, ou seja, da pro-
duo de conhecimentos.
Todavia, um dos maiores proble-
mas da modalidade de formao que
relaciona o estudo, feito na escola, ao
trabalho produtivo, feito na terra, o
que Petty, Tombim e Vera (1981) iden-
tifcam como a capacitao dos docen-
tes para que eles possam corresponder
s necessidades da educao no meio
rural, em particular a que relaciona
trabalho e escola. Entre as alternativas
para a formao de professores, en-
contradas na poca em que esses au-
tores escreveram seu artigo, estavam as
escolas normais rurais.
Chamando a ateno para esta pro-
blemtica, Joo Bosco Pinto (1981)
refere-se aos professores justifcando
que eles no recebem uma formao
adequada para lidar com a realidade do
campesinato, por isso seu desinteresse
em estabelecer relaes com as comu-
nidades, quando encaminhados a traba-
lhar nas reas rurais. Ele registra que os
programas de alfabetizao as espor-
dicas campanhas nacionais de que temos
conhecimento pouca relao tm com
a escola rural (ibid., p. 99). Outra carac-
terstica identifcada na educao rural
pelo mesmo autor a sua desvinculao
da comunidade dos trabalhadores rurais
que enviam seus flhos escola.
Compreendida no interior das rela-
es sociais de produo capitalista, a
escola, tanto urbana quanto rural, tem
suas fnalidades, programas, contedos
e mtodos defnidos pelo setor indus-
trial, pelas demandas de formao para
o trabalho neste setor, bem como pe-
las linguagens e costumes a ele ligados.
Sendo assim, a escola no incorpora
questes relacionadas ao trabalho pro-
dutivo, seja porque, no caso, o trabalho
agrcola excludo de suas preocupa-
es, seja porque sua natureza no a
de formar para um trabalho concreto,
uma vez que a existncia do desempre-
go no garante este ou aquele trabalho
para quem estuda. E, ainda, como a es-
cola poderia valorizar a agricultura, to
desvalorizada nas concepes que sus-
tentam ser o campons um produtor
arcaico e um ignorante em relao aos
conhecimentos bsicos de matemtica,
leitura e escrita?
Nos pases latino-americanos, a edu-
cao rural voltada para o desenvolvi-
mento econmico esteve, em determi-
nado perodo histrico (que se iniciou
nos anos 1930, se intensificou nos
anos 1950-1960, e se estendeu at
os anos 1970), associada Reforma
Agrria. Para o modo de produo ca-
pitalista vigente nestes pases, a exis-
tncia do latifndio nem estimulava a
penetrao do capital no campo, sob
forma de investimentos em maquina-
rias e uso de tecnologias de produo,
297
E
Educao Rural
nem contribua para a proletarizao
dos camponeses. Sobre isso, Ashby
et al. (1981) chamam a ateno para a
barreira da estrutura de ocupao da
terra pelo latifndio, que utiliza pe-
quena parcela de fora de trabalho, e
pelos minifndios, cuja produo se
baseia na fora de trabalho familiar.
Assim, as propostas de aplicao de
tecnologias visando dar maior produ-
tividade agricultura esbarram nesta
relao latifndiominifndio, asso-
ciada estratgia das elites capitalistas
de controlar os problemas trabalhistas
pela formao de um exrcito de reser-
va de trabalhadores subempregados
ou desempregados.
Gajardo (1981) trata da educa-
o rural na tica da educao popu-
lar, passando a situ-la nas condies
histricas em que ela se desenvolve
nos pases latino-americanos. Nestes
pases, ocorrem mudanas signifcati-
vas que evidenciam a necessidade da
educao, em particular, da formao
de profssionais qualifcados para o
modelo de desenvolvimento proposto
na poca. Isso ocorre nos anos 1960,
quando se intensifcam os processos de
industrializao, em alguns casos asso-
ciados a processos de Reforma Agrria
que incorporam amplos contingentes
de trabalhadores vida social e poltica
desses pases, do que decorre a impor-
tncia da educao rural.
A autora aponta a estrutura tra-
dicional agrria, baseada no binmio
latifndiominifndio, como fator de
atraso industrial que provoca os bai-
xos ndices de escolarizao que se iro
refetir nas difculdades enfrentadas
para a aplicao de inovaes tecnol-
gicas. o que mobiliza os Estados a
formularem polticas de superao do
analfabetismo e da carncia de forma-
o tcnico-profssional em resposta
demanda de uma fora de trabalho
qualifcada tanto na indstria quan-
to na agricultura. Nesse contexto de
modernizao associada ao desenvol-
vimento do capitalismo no campo, se
coloca a questo da Reforma Agrria,
at porque processos revolucionrios
j a haviam promovido no Mxico,
Bolvia e Cuba.
Assim se compreende que o sistema
capitalista tenha incorporado, desde os
anos 1960 at o incio dos anos 1970, a
Reforma Agrria, porm, associada aos
interesses de classe, visando moder-
nizao do campo, pela introduo de
mquinas, insumos agrcolas, mtodos
de administrao rural etc.; e isso re-
queria alguma forma de escolarizao,
o que explica a relao entre a educa-
o rural, o desenvolvimento econmi-
co e a Reforma Agrria. A Reforma
Agrria ento estimulada na Reunio
de Punta del Este como estratgia para
promover o desenvolvimento capitalis-
ta e a modernizao do campo (Pinto,
1981, p. 69), sob a presso dos Estados
Unidos para conter possveis guerri-
lhas rurais.
As reformas agrrias que foram efe-
tuadas depois da assinatura da Carta de
Punta del Este,
1
no Uruguai, em 1961,
no produziram mudanas drsticas
no sistema capitalista vigente, e sim,
oportunizaram uma poltica de con-
trole das reformas necessrias mo-
dernizao do campo. Porm, mesmo
com suas limitaes, nos pases onde
foram efetuadas, produziu-se um nvel
maior de conscincia dos camponeses
em relao sua condio de explora-
dos, decorrendo da um processo de
organizao e de luta pela terra. Como
afrma Freire, desde sua experincia em
Santiago do Chile, em 1968: Tal o
Dicionrio da Educao do Campo
298
caso da Reforma Agrria. Transforma-
da a estrutura do latifndio, de que re-
sultou a do asentamiento, no seria pos-
svel deixar de esperar novas formas de
expresso e de pensamento-linguagem
(Freire, 1979, p. 24).
No Brasil, porm, a educao rural,
como mostra Silvana Gritti (2003), per-
manece relacionada a uma concepo
preconceituosa a respeito do campo-
ns, porque no considera os saberes
decorrentes do trabalho dos agriculto-
res. Ensinar o manejo de instrumen-
tos, tcnicas e insumos agrcolas era
o objetivo das escolas rurais de nvel
tcnico, alm do relacionamento com
o mercado no qual o campons teria de
vender a sua produo para adquirir os
novos produtos destinados a dina-
miz-la, conforme registra a histria da
educao rural. Desta forma, a perda
da autonomia dos agricultores, associa-
da imposio de um conhecimento
estranho quele que transmitido e
aperfeioado de pai para flho, resul-
tante da observao e da experimenta-
o cotidiana, foi facilitada pela escola
rural com a mediao da instituio
denominada clube agrcola (Gritti,
2003, p. 121). Tendo em vista as cons-
tantes mudanas introduzidas nos pro-
cessos produtivos e acompanhando-as,
alguns cursos, ou at mesmo toda a
escola rural, fcavam encarregados de
capacitar estudantes, tornando-os
mais produtivos para o trabalho que
iriam desempenhar; assim, fcava a es-
cola responsvel por treinar, em vez
de educar. Os programas de extenso
rural e de capacitao para o trabalho
se enquadram nesta proposta, embora
no valorizem o trabalho agrcola.
No mbito da educao rural, tam-
bm vingou uma corrente de pensamen-
to, o chamado ruralismo pedaggico,
sob a infuncia dos debates ocorridos
nos anos 1930-1940, geradores do Ma-
nifesto dos pioneiros da educao nova, de
1932 (Calazans, 1993). O fracasso da
educao rural era comprovado pela
existncia de um grande contingente de
analfabetos. Assim, o ruralismo peda-
ggico contrapunha-se escola liter-
ria, de orientao urbana, que parecia
contribuir para o desenraizamento do
campons. E, com isso, acompanhava
as crticas do escolanovismo dirigidas
transmisso e memorizao de conhe-
cimentos dissociados da realidade brasi-
leira. Aqueles que propunham uma pe-
dagogia diferenciada para as populaes
rurais, identifcados com o ruralismo
pedaggico, defendiam a existncia de
uma escola que preparasse os flhos dos
agricultores para se manterem na terra e
que, por isso mesmo, estivesse associa-
da ao trabalho agrcola e adaptada s de-
mandas das populaes rurais. Porm,
essa concepo, como outras carregadas
de boas intenes, permaneceu ape-
nas no discurso.
Os escassos registros histricos
existentes indicam que diferentes mo-
dalidades de educao rural, como cen-
tros de treinamentos, cursos e semanas
pedaggicas efetuadas at os anos de
1970, estiveram sob infuncia norte-
americana, por meio de agncias de
fomento que contavam com o apoio
do Ministrio de Educao (MEC)
(Werthein e Bordenave, 1981). Partiam
de uma viso externa realidade bra-
sileira, na suposio de que as popula-
es rurais estariam sendo marginaliza-
das do desenvolvimento capitalista. A
poltica adotada para a educao rural
justifcava-se, ento, como resposta
necessidade de integrar aquelas popu-
laes ao progresso que poderia advir
desse desenvolvimento.
299
E
Educao Rural
Entretanto, como objetos e no
como sujeitos de tais polticas, as po-
pulaes rurais no foram consulta-
das acerca de suas demandas, nem
informadas sobre os programas a elas
destinados e, nem ao menos, sobre a
aplicao e avaliao destes programas.
No discurso que justifcava os progra-
mas, defnindo as mudanas previstas
na educao e na produo agrcolas,
estas viriam de fora, sob a orientao
do pas onde elas se encontravam em
estado mais avanado, os Estados Uni-
dos e que, por isso mesmo, enviava
agncias de fomento para orientar a
aplicao daqueles programas. Todavia,
como afrma Julieta Calazans, o pres-
suposto de um homem rural vazio cul-
turalmente esbarra, em cada momento
especfco, ante as provas tangveis de
uma resistncia cultural a valores con-
siderados impertinentes pelas popula-
es-alvo (1993, p. 28).
Outras crticas efetuadas pela mes-
ma autora ressaltam que as instituies
encarregadas de implantar aquelas po-
lticas recebiam os pacotes fechados,
de modo a no interferirem nos obje-
tivos, metodologias e contedos conti-
dos nos programas. Desta maneira, os
mesmos eram repassados aos centros
comunitrios, escolas e sindicatos to-
mados como parceiros, sem que tives-
sem participado da elaborao dos re-
feridos pacotes e sem ao menos ter
conhecimento de suas origens.
Deduz-se da que a poltica educa-
cional destinada s populaes cam-
ponesas teve maior apoio e volume
de recursos quando contemplava inte-
resses relacionados expropriao da
terra e consequente proletarizao
dos agricultores. Associado a esses
interesses, identificava-se o projeto de
implantao, por parte das agncias de
fomento norte-americanas, de um mo-
delo produtivo agrcola gerador da de-
pendncia cientfica e tecnolgica dos
trabalhadores do campo. Deste modo,
a educao rural funcionou como um
instrumento formador tanto de uma
mo de obra disciplinada para o traba-
lho assalariado rural quanto de consu-
midores dos produtos agropecurios
gerados pelo modelo agrcola impor-
tado. Para isso, havia a necessidade
de anular os saberes acumulados pela
experincia sobre o trabalho com a
terra, como o conhecimento dos so-
los, das sementes, dos adubos orgni-
cos e dos defensivos agrcolas.
Analisando-se a constituio da
sociedade brasileira nos primeiros
quatro sculos, h necessidade de le-
var em considerao o processo de
colonizao e, relacionado a ele, o
regime de escravido, o latifndio e
a predominncia da produo extrati-
vista e agrcola voltada para a expor-
tao. Esta formao social no exige
a qualificao da fora de trabalho,
ocasionando at certo desprezo, por
parte das elites, em relao ao apren-
dizado escolar das camadas popula-
res, principalmente dos camponeses.
Por isso, mesmo encontrando-se re-
gistros de educao rural no sculo
XIX, somente a partir da dcada de
1930 que comea a tomar forma um
modelo de educao rural associa-
do a projetos de modernizao do
campo, patrocinados por organis-
mos de cooperao norte-ameri-
cana e disseminados pelo sistema de
assistncia tcnica e extenso rural.
Polticas destinadas escolarizao
das populaes rurais mostram seu
fraco desempenho ou o desinteres-
se do Estado com respeito educa-
o rural, quando nos referimos ao
Dicionrio da Educao do Campo
300
analfabetismo no Brasil (Ribeiro,
2010, p. 181).
A anlise feita at aqui, e consi-
derando a riqueza do tema, permite
uma definio, ainda que provisria,
sobre a educao rural. Esta moda-
lidade de educao transcende a es-
cola destinada s populaes que
vivem em reas rurais e garantem o
seu sustento por meio do trabalho
com e da terra, e, por isso, est arti-
culada, de maneira indissocivel, com
este trabalho. Mas o vnculo com a
terra, o meio de produo que no
resulta do trabalho e que essencial
produo de alimentos e, portanto,
essencial vida , coloca a educao
rural no cerne da luta de classes, mais
precisamente, da formao do tra-
balhador para o capital e deste traba-
lhador para si, na condio de classe
(Ribeiro, 1987).
Em confronto com a educao ru-
ral negada, a educao do campo cons-
truda pelos movimentos populares de
luta pela terra organizados no movi-
mento campons articula o trabalho
produtivo educao escolar tendo
por base a cooperao. A educao do
campo no admite a interferncia de
modelos externos, e est inserida em
um projeto popular de sociedade, ins-
pirado e sustentado na solidariedade e
na dignidade camponesas.
Isso explica a relao entre a edu-
cao rural e a Reforma Agrria, bem
como o temor que despertam as or-
ganizaes camponesas que lutam
pela terra de trabalho associada
Educao do Campo. Explica, ainda,
por que a caminhada pela Educao
do Campo conquistada em 1998, e
posta em prtica desde a CIRANDA
INFANTIL at a formao em nvel de
ps-graduao, vem sendo ferozmen-
te combatida. O movimento reacio-
nrio se materializa com o bloqueio
dos recursos do Programa Nacio-
nal de Educao na Reforma Agr-
ria (Pronera) e com o desenterro do
ruralismo pedaggico, fora de sua
poca, por meio do Programa Esco-
la Ativa, adotado como poltica pelo
MEC. So questes que desafiam a
Educao do Campo, mas transcen-
dem o conceito de educao rural.
Nota
1
A Carta de Punta del Este foi frmada na Conferncia do Uruguai, realizada em 1961, de-
vido presso dos Estados Unidos, ento sob a presidncia de John F. Kennedy, para que
os governos dos pases latino-americanos adotassem a estratgia de promover a Reforma
Agrria, a fm de estimular o desenvolvimento capitalista e a modernizao do campo e,
ainda, como meio de frear as guerrilhas rurais; procurando anular a potencialidade revo-
lucionria do campons, essa estratgia orientava-o para uma posio conservadora (ver
Pinto, 1981).
Para saber mais
ASHBY, J. et al. Desenvolvimento agrcola e capital humano: o impacto da educa-
o e da comunicao. In: WERTHEIN, J.; BORDENAVE, J. D. Educao rural no Terceiro
Mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 127-159.
301
E
Educao Versus Cidadania
CALAZANS, M. J. Para compreender a educao do Estado no meio rural. Traos
de uma trajetria. In: THERRIEN, J.; DAMASCENO, M. N. (org.). Educao e escola no
campo. Campinas: Papirus, 1993. p. 15-42.
FREIRE, P. Ao cultural para a liberdade e outros escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1979.
GRITTI, S. Educao rural e capitalismo. Passo Fundo: UPF, 2003.
GAJARDO, M. Educao popular e conscientizao no meio rural latino-america-
no. In: WERTHEIN, J.; BORDENAVE, J. D. (org.). Educao rural no Terceiro Mundo. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 103-126.
PETTY, M.; TOMBIM, A.; VERA, R. Uma alternativa de educao rural. In:
WERTHEIN, J.; BORDENAVE, J. D. (org.). Educao rural no Terceiro Mundo. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 31-64.
PINTO, J. B. A educao de adultos e o desenvolvimento rural. In: WERTHEIN, J.;
BORDENAVE, J. D. (org.). Educao rural no Terceiro Mundo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1981. p. 65-102.
RIBEIRO, M. Movimento campons, trabalho, educao. Liberdade, autonomia, emancipa-
o: princpios/fns da formao humana. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
______. De seringueiro a agricultor-pescador a operrio metalrgico: um estudo sobre o
processo de expropriao/proletarizao/organizao dos trabalhadores amazo-
nenses. 1987. Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade de Educao,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1987.
WERTHEIN, J.; BORDENAVE, J. D. (org.). Educao rural no Terceiro Mundo. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1981.
E
EMANCIPAO VERSUS CIDADANIA
Marlene Ribeiro
Partimos da realidade de uma cida-
dania abstrata, assentada na liberdade
do indivduo, na propriedade privada
e na competio, justificadoras das
desigualdades sociais, para projetar a
emancipao, como busca de uma hu-
manizao que se assenta na solidarie-
dade, na justia e na dignidade para to-
dos. Para isso, comeamos por defnir a
cidadania tanto no seu contedo hist-
rico quanto no que possvel captar do
que ela expressa como fenmeno em-
prico. Num segundo momento, vamos
contrapor essa emancipao, tal como
vem sendo esboada, concepo dos
movimentos sociais populares, entre
os quais destacamos os que lutam pela
terra de trabalho, por uma vida digna e
pela educao do campo.
Cidadania, colocada pelos gregos
que participam da poltica na plis
ateniense, pressupe a liberdade de
Dicionrio da Educao do Campo
302
deciso e a igualdade entre os pares.
Para isso, so os homens cultos e os
grandes proprietrios que frequentam
a Academia livres, portanto do tra-
balho. Aquele que trabalha excludo,
com a justifcativa de que o trabalho
cansativo e impede pensar, produzir
conhecimento e interferir na vida pol-
tica da cidade. Assim, cidado aque-
le que, por nascimento e fortuna, um
homem livre e tem o direito de parti-
cipar das assembleias e dos debates na
gora (Ribeiro, 2002, p. 117).
Seguindo com a histria, na supera-
o do sistema feudal, com a constitui-
o do Estado moderno, a burguesia,
na condio de classe em ascenso, rei-
vindica a cidadania como liberdade de
ao inicialmente ligada ao comrcio
combinando-a com a igualdade de di-
reitos at ento exclusivos da nobreza
e do clero. Nesse caso, a concepo de
cidadania se assemelha da cidadania
grega: considerado cidado, ou pode
participar da vida pblica e reivindicar
direitos, o indivduo masculino, bran-
co, escolarizado e proprietrio de ter-
ras, de bens materiais e/ou culturais.
Todavia, diferentemente da cida-
dania grega, cujo exerccio da razo
est orientado pela filosofia, e mais
propriamente pela metafsica, a cida-
dania moderna, associada ao comrcio
e, mais tarde, indstria e ao sistema
bancrio, rompe com a metafsica e
ampara-se nas cincias fsico-naturais,
das quais retira os argumentos para se
definir como neutra em relao s de-
sigualdades sociais. propriedade pri-
vada da terra acrescenta a do conjunto
dos meios de produo e subsistncia,
reunindo, dessa forma, as condies
materiais e ideolgicas para a consti-
tuio do capital como relao social
alicerada na expropriao da terra
e na apropriao privada do fruto
do trabalho.
Inicialmente, os pensadores que
refetiram sobre a cidadania vinculada
ao Estado-nao, contrapondo-se aos
nobres e Igreja feudal, defendiam a
propriedade privada como resultante
do trabalho, no que tambm se dife-
renciam da cidadania grega. O traba-
lho signifca, portanto, a ruptura com
o estado de natureza e o fundamento
do princpio da propriedade, que d ao
homem burgus a justifcativa moral
e legal para preserv-la e defend-la
(Ribeiro, 2002, p. 118).
Alm de explicar seu direito pro-
priedade perante a nobreza e o clero, o
trabalho, como uso da natureza para a
produo de bens que corroboram as
ideias de progresso e civilizao, tam-
bm justifca a expropriao da terra, a
explorao do campons, a escravido
de africanos e o genocdio dos povos
indgenas no continente americano. Se
o campons, o negro e o ndio so con-
siderados incapazes de produzir com
mtodos racionais, porque atrasados,
certo que trabalhem para os cidados
proprietrios e que esses os explorem,
subordinem, escravizem ou at elimi-
nem como obstculos ocupao da
terra em direo ao progresso. Assim,
como pensar que ndios, negros, agri-
cultores, analfabetos, trabalhadores or-
ganizados em movimentos sociais, ou
seja, que os alijados da cidadania desde
a sua origem grega, se conformem ape-
nas com buscar alcan-la?
Imersa na compreenso do concei-
to e observada nas condies concretas
nas quais engloba apenas determina-
dos sujeitos, a cidadania no resiste ao
questionamento que lhe feito pelos
movimentos sociais populares, e em
especial pelo movimento campons
303
E
Educao Versus Cidadania
unidade na diversidade de movimentos
que lutam por terra na qual possam
exercer seu trabalho e viver com digni-
dade (Ribeiro, 2010).
Tanto na sua compreenso hist-
rico-flosfca, oriunda da Grcia e re-
formulada na Europa no processo de
constituio do Estado moderno, quan-
to na realidade da maioria das popula-
es nos diferentes pases, a cidadania
assume a forma de discurso da civiliza-
o, da gramtica, da lngua, da escrita
e da cultura dominantes. Associada
propriedade dos meios de produo e
de subsistncia, entre os quais a terra,
a cidadania identifca-se pela chamada
raa branca, de religio crist, com
prioridade para o gnero masculino.
Assim, os contedos que defnem a
histria e a materialidade da cidadania
so incompatveis com a maioria da
populao, em particular com os sujei-
tos poltico-coletivos que constituem o
movimento campons. E isso porque a
cidade o ncleo econmico-poltico
incrustado no processo de constituio
da cidadania tanto grega quanto mo-
derna, defnindo, por sua vez, a cultura
que expressa a civilizao e, sobretudo,
o perfl urbano da educao moderna
sob controle do Estado.
Porm, se a cidadania no foi
construda tendo por sujeitos aqueles
e aquelas que vivem do/no trabalho e
se organizam em movimentos sociais
populares, o que se pode captar, ento,
nas suas lutas pela terra, pelo trabalho,
pela moradia, pela sade, pela educa-
o? Nesse segundo momento, e em
confronto com a cidadania como in-
veno tanto dos proprietrios gregos
quanto dos burgueses, pensamos que
a emancipao projetada pelas classes
subalternas pode indicar o horizonte
para o qual caminham os movimentos
sociais populares e, entre eles, o movi-
mento campons.
Sem negar a importncia histrica da
conquista da liberdade que d conte-
do cidadania, Marx e Engels (1984)
deslocam o foco de suas preocupaes
para o projeto poltico-coletivo que s
pode ser colocado em prtica pela clas-
se majoritria submetida ao regime de
expropriao da terra e de apropriao
do produto do trabalho. Nesse caso,
j no sufciente a liberdade dos in-
divduos a ser incorporada s novas
conquistas, mas a emancipao hu-
mana buscada nas lutas histricas das
classes populares. Outro autor alemo,
Theodor W. Adorno (1995), embora
pessimista em relao possibilidade
de mudanas, por causa da fora do
sistema, destaca tambm a emancipa-
o como pressuposto para se superar
a ausncia de liberdade que marca a so-
ciedade capitalista.
Em parte infuenciados pela teo-
logia da libertao, associada s mu-
danas ocorridas na Igreja Catlica
nos anos 1960-1970, mas, sobretudo,
amparados pelo acompanhamento da
trajetria dos movimentos sociais que
tm indgenas, camponeses e trabalha-
dores urbanos como sujeitos, alguns
pesquisadores latino-americanos iden-
tifcam a emancipao como libertao.
Enrique Dussel, pesquisador mexica-
no e autor da obra tica da libertao
(2002), afrma que o aumento no n-
mero de vtimas do sistema capitalista
revela a impossibilidade de o mesmo se
manter eternamente, o princpio-liber-
tao colocando-se como dever tico
para que se promova a transforma-
o do sistema. O uruguaio Jos Luis
Rebellato (2000) prope uma tica da
autonomia e da libertao que passa
pela capacidade de acreditarmos em
Dicionrio da Educao do Campo
304
nossas prprias foras para viver e para
lutar. Para esse autor, uma tica da dig-
nidade est no centro da prtica eman-
cipatria consciente.
Para o educador brasileiro Paulo
Freire (1978 e 2003), a libertao no
se d como uma tomada de conscin-
cia isolada da injustia que marca as
relaes sociais na sociedade capitalis-
ta, mas, essencialmente, numa prxis
datada e situada, que tem por sujeitos
os povos oprimidos. Dussel, Rebellato
e Freire pensam a emancipao como
projeto e ao coletivos das vtimas,
dos excludos, dos desumanizados. J
Marx e Engels tm a classe revolucio-
nria como autora de tal projeto e ao:
para alm da liberdade e da autonomia
individuais implcitas na cidadania, a
classe revolucionria, no seu processo
de construo, coloca como horizonte
a emancipao de toda a humanidade,
uma emancipao social, portanto.
Em algumas obras, Marx e Engels
tambm identificam a libertao
emancipao, no como um problema
que pode ser resolvido no plano da
abstrao, mas sim como uma necessi-
dade concreta e que, como tal, deve ser
solucionada: A libertao um ato
histrico, no um ato de pensamen-
to, e efetuada por relaes histricas,
pelo nvel da indstria, do comrcio,
da agricultura, do intercmbio (Marx
e Engels, 1984, p. 25).
A emancipao da sociedade de-
duz-se da possibilidade de se romper
a relao contraditria entre o trabalho
alienado e a propriedade privada dos
meios de produo e de subsistncia
nos quais est includa a terra, como
bem no produzido pelo trabalho: Da
relao do trabalho alienado pro-
priedade privada deduz-se, ainda, que
a emancipao da sociedade, quanto
propriedade privada e servido, toma
a forma poltica da emancipao dos
trabalhadores (Marx, 1993, p. 170).
Essa emancipao, porm, no atin-
ge apenas os trabalhadores: inclui a
emancipao da humanidade enquanto
totalidade, uma vez que toda a servido
humana se encontra envolvida na rela-
o do trabalhador produo e todos
os tipos de servido se manifestam
como modifcaes ou consequncias
da sobredita relao (ibid.).
Da anlise efetuada at aqui, emerge
a pergunta: como conquistar a emanci-
pao das condies de explorao e
opresso que atingem a maior parte da
humanidade? Antes de mais nada, for-
oso constatar que a existncia de uma
classe oprimida s pode ser explicada
por sua relao contraditria com outra
classe, a classe opressora, e, portanto,
numa sociedade alicerada no antago-
nismo de classes. Nesse sentido, para
que a libertao da classe oprimida
pressuposto da emancipao humana
tenha lugar, condio essencial que
se constitua uma nova sociedade, mas
isso exige que as foras produtivas e as
relaes sociais de produo tenham
chegado a tal nvel de confronto que
no possam continuar existindo da
forma como se mantm: A condio
de libertao da classe trabalhadora a
abolio de toda a classe, assim como
a condio de libertao do terceiro
estado, da ordem burguesa, foi a abo-
lio de todos os estados e de todas as
ordens (Marx, 1989, p. 218).
Compreendida como separao en-
tre o produtor e o produto do seu tra-
balho, apropriado pelo capital, e como
inverso desse processo na conscincia
do trabalhador, a alienao humana
tem por base a propriedade privada dos
meios de produo e subsistncia. Para
305
E
Educao Versus Cidadania
o alcance da emancipao, portanto,
imprescindvel superar as condies
objetivas e subjetivas que sustentam a
alienao, supondo-se, para isso, duas
premissas de carter prxico. Em pri-
meiro lugar, somente por meio de uma
revoluo homens e mulheres podem
libertar-se da alienao do trabalho.
Antes disso, porm, necessrio que a
diviso do trabalho tenha gerado uma
enorme massa de humanidade comple-
tamente destituda da propriedade, em
contradio com um reduzido nmero
de proprietrios com enorme reserva de
riqueza e cultura, resultante do elevado
desenvolvimento das foras produtivas.
Em segundo lugar, a existncia con-
creta, em mbito histrico-mundial,
de um imenso contingente de homens
e mulheres vivendo na misria, com
a generalizao da penria e da busca
do necessrio para sobreviver, con-
dio indispensvel para mobilizar
uma revoluo. Exemplos comprovam
que revolues isoladas geografcamente
no conseguem resistir s presses
econmicas e polticas amparadas na
fora convincente das armas em mos
dos proprietrios do capital.
Assim, numa face da realidade,
ocorre o desenvolvimento das foras
produtivas em mbito global, colocan-
do os seres humanos em contato uns
com os outros. Na outra, o intercm-
bio entre populaes pobres e domi-
nadas desvela a existncia de enorme
massa de seres humanos destituda da
propriedade, deixando claras as origens
das desigualdades sociais, da misria
e da pobreza. E esses homens e mulheres
despossudos, ao serem colocados em
contato uns com os outros, comeam
a desenhar, embora nem sempre com
caracteres ntidos, um projeto de revo-
luo como alternativa para a eman-
cipao da humanidade. No entanto,
para que a emancipao acontea, os
povos oprimidos dependem uns dos
outros, ou seja, precisam construir
a intersolidariedade.
A libertao s pode ser conquis-
tada pelos proletrios excludos de to-
das e quaisquer condies de liberdade
e de autonomia para garantir uma so-
brevivncia digna. E essa libertao
aqui tomada no sentido de emanci-
pao consiste na apropriao da
totalidade das foras produtivas, o
que permitir aos homens e mulheres
desenvolverem, tambm, a totalidade
de suas capacidades de trabalho como
expresso e criao. Assim, essa con-
quista pressupe a supresso de toda
espcie de classe. Todavia, do mesmo
modo que a classe revolucionria no
est pronta, mas em processo de se
fazer, a emancipao que abarca toda
a humanidade apenas um projeto, o
horizonte para o qual caminham os
movimentos sociais populares entre
eles, o movimento campons.
Marx e Engels trabalham com os
conceitos de libertao da classe traba-
lhadora, de emancipao poltica e de
emancipao social como possibilidades
de romper a relao que separa os traba-
lhadores enquanto produtores dos pro-
dutos do seu trabalho e dos meios de
produo e subsistncia. Esses autores
refetem sobre questes do seu tempo, o
sculo XIX, algumas das quais persistem
at hoje, como as condies materiais e
humanas de vida e as relaes sociais
sobre as quais se assenta a explorao,
a dominao e a alienao da imensa
maioria da populao mundial. Ambos
afrmam a revoluo dessas condies
e relaes sociais como necessidade im-
periosa e como possibilidade real para a
emancipao humana.
Dicionrio da Educao do Campo
306
Nos autores consultados, bem
como nas prticas dos movimentos so-
ciais populares, dos quais destacamos
aqueles que lutam com terra para rea-
lizar o seu trabalho e viver com dig-
nidade, a emancipao de todos os
trabalhadores e trabalhadoras inclui a
emancipao da totalidade da humani-
dade. Essa emancipao consiste em
romper com a alienao do trabalho e
devolver a autoria do mundo e da pro-
duo para aqueles que efetivamente
produzem, com suas mos e suas men-
Para saber mais
ADORNO, T. W. Educao e emancipao. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
DUSSEL, H. tica da libertao. Petrpolis: Vozes, 2000.
FREIRE, P. Educao como prtica da liberdade. 8. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
______. Poltica e educao. 7. ed. So Paulo: Cortez, 2003.
MARX, K. O trabalho alienado. In: ______. Manuscritos econmico-flosfcos. Lisboa:
Edies 70, 1993.
______. A libertao da classe oprimida. In: FERNANDES, F. (org.). Marx, Engels:
histria. 3. ed. So Paulo. tica, 1989. p. 215-219.
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alem e Teses sobre Feuerbach. So Paulo:
Moraes, 1984.
REBELLATO, J. L. tica de la liberacin. Montevidu: Nordan, 2000.
RIBEIRO, Marlene. Educao para a cidadania: questo colocada pelos movimen-
tos sociais. Educao e Pesquisa, So Paulo, v. 28, n. 2, p. 113-128, jul.-dez. 2002.
______. Movimento campons, trabalho, educao: liberdade, autonomia, emancipao
como princpios/fns da formao humana. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
tes, os bens, os conhecimentos, as artes
e os servios dos quais todos e todas
necessitamos para uma vida digna. O
esgotamento dos recursos naturais,
devorados pela ambio insacivel ca-
racterstica dos processos relacionados
ao movimento do capital na busca cega
de lucro, colocam hoje a emancipao
como imprescindvel, no somente
para se superar a desumanizao que
da decorre, mas tambm para garantir
as condies essenciais manuteno
da vida no planeta.
307
E
Ensino Mdio Integrado
E
ENSINO MDIO INTEGRADO
Maria Ciavatta
Marise Ramos
O ensino mdio integrado carrega,
nas expresses correlatas ensino mdio
integrado educao profissional e educa-
o profissional integrada ao ensino mdio,
a ideia de uma educao que esteja
alm do simples objetivo propedu-
tico de preparar para o ensino supe-
rior, ou apenas preparar para cumprir
exigncias funcionais ao mercado de
trabalho. A ideia bsica subjacente
expresso tem o sentido de inteiro, de
completude, de compreenso das par-
tes no seu todo ou da unidade no di-
verso, de tratar a educao como uma
totalidade social, isto , nas mltiplas
mediaes histricas que concretizam
os processos educativos.
1
A expresso comeou a ser utiliza-
da por educadores que se posicionaram
como contrrios reforma do ensino
mdio e da educao profssional rea-
lizada no Brasil, a partir do decreto
n 2.208/1997 (Brasill, 1997), no Go-
verno Fernando Henrique Cardoso.
Deriva do termo formao integrada, que
tem uma elaborao recente na histria
da educao no Brasil, pois remonta
ao incio do Governo Lula, em 2003.
A crise poltica defagrada na esquerda
brasileira pelas orientaes econmi-
cas do Governo Lula atingiu tambm a
compreenso do conceito, acrescida de
sua implementao ambgua nas polti-
cas do Ministrio da Educao (MEC)
durante os dois Governos Lula (2003 a
2010). No obstante, o termo tem uma
origem remota na educao socialista, na
concepo de EDUCAO POLITCNICA
ou tecnolgica, e uma origem recente,
na segunda metade dos anos 1980, nas
lutas do Frum Nacional em Defesa
da Educao Pblica, na Constituio
e na nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educao Nacional (LDB).
Na concepo anterior ao decreto
n 2.208/1997, como ensino mdio
integrado educao profissional,
significava a possibilidade de a for-
mao bsica e a profissional acon-
tecerem numa mesma instituio de
ensino, num mesmo curso, com cur-
rculo e matrculas nicas, o que havia
sido impedido pelo referido decreto
(Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005).
Com esse sentido, o termo integrado foi
incorporado legislao primeira-
mente, no decreto n 5.154/2004 (que
revogou o decreto n 2.208/1997)
(Brasil, 2004), e, posteriormente, na
lei n 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educao Nacional) (Brasil,
1996), alterada pela lei n 11.741/2008
(Brasil, 2008) como uma das formas
pela qual o ensino mdio e a educao
profissional podem se articular.
Essa possibilidade, por sua vez,
baseia-se no enunciado do pargrafo 2
o
do artigo 36 da LDB, ratifcado pela lei
que a alterou: O ensino mdio, aten-
dida a formao geral do educando,
poder prepar-lo para o exerccio de
profsses tcnicas. Este enunciado
apresenta, simultaneamente, uma con-
dio: uma formao geral que no
pode ser substituda nem minimizada
pela formao profssional; e, tambm,
Dicionrio da Educao do Campo
308
uma possibilidade: a da formao
profssional. Condio e possibilidade,
nesse caso, convergem para a garantia
do direito a dois tipos de formao
bsica e profssional no ensino m-
dio, o que assegura, por isso, a legali-
dade e a legitimidade do ensino mdio
integrado educao profssional.
Conceitualmente, porm, a ex-
presso signifca muito mais do que
uma forma de articulao entre en-
sino mdio e educao profssional.
Ela busca recuperar, no atual contexto
histrico e sob uma especfca correla-
o de foras entre as classes, as con-
cepes de EDUCAO POLITCNICA,
EDUCAO OMNILATERAL e ESCOLA UNI-
TRIA, que estiveram na disputa por
uma nova LDB na dcada de 1980 e
que foram perdidas na aprovao da lei
n 9.394/1996. Assim, essa expresso
tambm se relaciona com a luta pela
superao do dualismo estrutural da
sociedade e da educao brasileiras,
da diviso de classes sociais, da diviso
entre formao para o trabalho manual
ou para o trabalho intelectual, e em de-
fesa da democracia e da escola pblica.
Da sua forma transitiva integrar
algo a outra coisa, neste caso, o ensino
mdio educao profssional , essa
ampliao conceitual levou utilizao
do verbo na forma intransitiva. Ou seja,
no se trata somente de integrar um a
outro na forma, mas sim, de se consti-
tuir o ensino mdio como um proces-
so formativo que integre as dimenses
estruturantes da vida, trabalho, cincia
e cultura, abra novas perspectivas de
vida para os jovens e concorra para a
superao das desigualdades entre as
classes sociais.
Esse tipo de integrao no exige,
necessariamente, que o ensino mdio
seja oferecido na forma integrada edu-
cao profssional. Esta, entretanto, na
realidade brasileira, apresenta-se como
uma necessidade para a classe trabalha-
dora e como uma mediao para que o
trabalho se incorpore educao b-
sica como princpio educativo e como
contexto econmico, formando uma
unidade com a cincia e a cultura. As-
sim concebido, diferentemente do que
alegam seus crticos, o ensino mdio
integrado difere das determinaes da
lei n 5.692/1971 (Brasil, 1971), j re-
vogada, que instituiu a profssionaliza-
o compulsria no ensino de segundo
grau atual ensino mdio.
Portanto, o termo integrado remete,
por um lado, forma de oferta do en-
sino mdio articulado com a educao
profssional; mas, por outro, remete a
um tipo de formao que seja integrada,
plena, vindo a possibilitar ao educando
a compreenso das partes no seu todo
ou da unidade no diverso. Tratando-se
a educao como uma totalidade social,
so as mltiplas mediaes histricas
que concretizam os processos educati-
vos. No caso da formao integrada, a
educao geral se torna parte insepar-
vel da educao profssional em todos
os campos em que se d a preparao
para o trabalho: seja nos processos
produtivos, seja nos processos educati-
vos, como a formao inicial, o ensino
tcnico, tecnolgico ou superior. Signi-
fca que buscamos enfocar o trabalho
como princpio educativo, no sentido
de superar a dicotomia trabalho ma-
nual/trabalho intelectual, incorporar a
dimenso intelectual ao trabalho pro-
dutivo, e formar trabalhadores capazes
de atuar como dirigentes e cidados
(Gramsci, 1981, p. 144 e seg.).
Se a formao profssional no ensi-
no mdio uma imposio da realida-
de da populao trabalhadora, admitir
309
E
Ensino Mdio Integrado
legalmente essa necessidade um pro-
blema tico-poltico. No obstante, se
o que se persegue no somente aten-
der a essa necessidade, mas mudar as
condies em que ela se constitui,
tambm uma obrigao tica e polti-
ca garantir que o ensino mdio se de-
senvolva sobre uma base unitria, para
todos. Portanto, o sentido de formao
integrada ou o ensino mdio integrado
educao profssional, sob uma base
unitria de formao geral, uma con-
dio necessria para se fazer a travessia
para a educao politcnica e omnilate-
ral realizada pela escola unitria, no se
confundindo totalmente com ela por-
que a realidade assim no o permite.
Ele um ensino possvel e neces-
srio aos flhos dos trabalhadores que
precisam obter uma profsso ainda du-
rante a educao bsica. Porm, tendo
como fundamento a integrao entre
trabalho, cincia e cultura, esse tipo de
ensino acirra contradies e potenciali-
za mudanas. semelhana dos pases
que universalizaram a educao bsica
at o ensino mdio, para toda a popu-
lao, urge superar essa conjuntura da
sociedade brasileira, de grande pobre-
za e carncia de investimentos subs-
tantivos nas polticas sociais. H que
se constituir uma educao que conte-
nha elementos de uma sociedade justa
e que, assim, no exija dos jovens a
profssionalizao precoce nesse mo-
mento educacional, mas possa remet-
la, nos termos de Gramsci (1991), a
uma etapa posterior em que a maturi-
dade intelectual lhes permita fazer es-
colhas profssionais.
Para que esses objetivos poltico-
pedaggicos se concretizem nos pro-
cessos educativos, o ensino mdio
precisa de uma elaborao relativa
integrao de conhecimentos no cur-
rculo, ou seja, um currculo integrado. O
conceito de currculo integrado cons-
ta da obra de Bernstein (1996) e de
Santom (1998), dentre outros. Ainda
que se incorporem alguns elementos de
suas formulaes, tambm o currculo
deve ser pensado como uma relao en-
tre partes e totalidade na produo do
conhecimento em todas as disciplinas
e atividades escolares, o que signifca a
compreenso do CONHECIMENTO como
apropriao intelectual de determina-
do campo emprico, terico ou simb-
lico, pelo qual se apreendem e se re-
presentam as relaes que constituem
e estruturam a realidade objetiva.
Se o processo de construo do
conhecimento exige que sejam dados
a conhecer os conceitos j elaborados
ou em elaborao sobre a realidade, a
escola cumpre a funo de socializ-
los e difundi-los, tanto em benefcio da
prpria cincia quanto pelo direito
de todos os cidados terem acesso aos
conhecimentos produzidos. O currcu-
lo escolar, formalmente, faz a seleo
desses conhecimentos, visando a sua
apreenso, em sua especifcidade con-
ceitual, pelos educandos.
Assim, o currculo integrado ou o
currculo do ensino mdio integrado
destaca a organizao do conheci-
mento como um sistema de relaes
de uma totalidade histrica e dialti-
ca. Ao integrar, por um lado, trabalho,
cincia e cultura, tem-se a compreen-
so do trabalho como mediao pri-
meira da produo da existncia social
dos homens, processo esse que coin-
cide com a prpria formao humana,
na qual conhecimento e cultura so
produzidos. O currculo integrado
elaborado sobre essas bases no hie-
rarquiza os conhecimentos nem os
respectivos campos das cincias, mas
Dicionrio da Educao do Campo
310
os problematiza em suas historicida-
de, relaes e contradies.
Por outro lado, ao integrar for-
mao geral, profissional, tcnica e
poltica, a distino entre conhe-
cimentos considerados gerais ou es-
pecfcos no determinada a priori
nem de forma absoluta. Ao contrrio,
ela contingencialmente determinada
pelos objetos concretos que motivam
a elaborao do currculo. No currculo
integrado, nenhum conhecimento s
geral, posto que estrutura objetivos de
produo; nem somente s especf-
co, pois nenhum conceito apropriado
produtivamente pode ser formulado
ou compreendido desarticuladamente
da cincia bsica que o sustenta.
Embora no se confundam, fre-
quentemente a ideia de formao inte-
grada entendida como interdisciplina-
ridade que se pretende alcanar apenas
pela justaposio de vrias disciplinas
que se cruzam ou que se somam. A
interdisciplinaridade um problema
e uma necessidade (Frigotto, 1993).
um problema porque os fenmenos
sociais so complexos, multirrelacio-
nados, e nossa primeira viso alcana
apenas alguns de seus aspectos, os apa-
rentes. ainda um problema porque
todo conhecimento permeado pelos
interesses de classe e de grupos, pelas
ideologias construdas para a legitima-
o desses interesses. Exatamente por
isso, uma necessidade inerente aos
fenmenos sociais a compreenso de
sua ntima articulao, da totalidade
social que lhes d forma e signifcado
(Ciavatta, 2010).
A expresso ensino mdio integrado
educao profssional caracteriza uma
forma como o ensino mdio pode ser
ofertado, vindo a cumprir uma fnali-
dade profssionalizante, diferentemen-
te daquela no integrada educao profs-
sional, que seria, ento, exclusivamente
propedutica. A poltica de educao
profssional, portanto, no poderia f-
car alheia a essas possibilidades, uma
vez que parte constituinte da unidade.
Mesmo que haja uma dimenso espec-
fca dessa poltica relativa aos variados
processos de qualifcao da fora de
trabalho, as instncias polticas e admi-
nistrativas da educao profssional no
pas colocaram-se o problema da inte-
grao com o ensino mdio.
Quando formulada a partir de tais
instncias, tende-se a uma inverso da
expresso nos termos da educao pro-
fssional integrada ao ensino mdio. Portan-
to, somente quando colocada a partir
de uma dessas referncias da pol-
tica de ensino mdio ou de educao
profssional , a ordem de formulao
dessas expresses pode se inverter,
e somente essa informao que tal
ordem nos fornece, posto que, sob os
princpios que aqui discutimos, ensino
mdio e educao profssional integra-
dos formam uma unidade na qual no
h precedncia de um sobre o outro.
O preceito inviolvel de qualquer uma
dessas formulaes assegurar a for-
mao bsica do educando e a indis-
sociabilidade conceitual da formao
profssional dessa mesma formao.
O uso intercambivel das expres-
ses em torno do ensino mdio integra-
do uma manifestao da existncia de
distintas instncias governamentais que
tm a integrao entre ensino mdio e
educao profssional como questo a
partir de seus respectivos objetos. De
fato, em 2004, as polticas ministeriais
de ensino mdio e educao profssio-
nal foram destinadas a distintas secre-
tarias. O ensino mdio fcou com a Se-
cretaria de Educao Bsica (SEB), e a
311
E
Ensino Mdio Integrado
educao profssional, com a Secretaria
de Educao Profssional e Tecnolgi-
ca (Setec).
Dentro deste quadro, vimos o de-
senvolvimento de duas polticas de en-
sino mdio em mbito nacional, a sa-
ber: Brasil Profissionalizado (decreto
n 6.302/2007) (Brasil, 2007), da Setec,
e a poltica do Ensino Mdio Inovador,
da SEB (Brasil, 2009), ambas anuncian-
do o incentivo implantao do ensino
mdio integrado, seja no sentido formal,
seja no sentido conceitual. No primeiro
caso, predominou uma verso de ensino
mdio profssionalizante e, no segundo,
ao contrrio, para o ensino no profs-
sionalizante, mas com a defesa da inte-
grao entre trabalho, cincia e cultura.
Algumas caractersticas dessas pol-
ticas so: a) implicam, respectivamen-
te, as redes estaduais e a federal, atin-
gindo, ento, a totalidade do sistema
pblico que atua na educao profs-
sional; b) apresentam metas fsicas e
fnanceiras claras; c) particularmente,
o Programa Brasil Profssionalizado
vem acompanhado de um documento
bsico que dispe sobre princpios e
diretrizes fundamentais para as aes
polticas e pedaggicas realizadas sob a
sua gide; d) o Ensino Mdio Inovador
um programa orientador para os pla-
nos de aes pedaggicas dos sistemas
de ensino.
O programa Brasil Profssionaliza-
do pode representar um avano para
os estados, ainda que as condies
objetivas (instalaes, mecanismos de
transporte, alimentao etc.) de seus
sistemas de ensino possam apresentar
limites estruturais efetivao do ensi-
no mdio integrado. Ademais, mesmo
tendo sido formulado visando im-
plantao do ensino mdio integrado
educao profssional nos sistemas
estaduais de ensino, a negociao pol-
tica levou ao fnanciamento tambm de
outras formas de articulao nos ter-
mos da lei (subsequente e concomitan-
te, este ltimo na mesma ou em outra
instituio).
No que se refere rede federal,
destacamos que a condio de oferta
de 50% de suas vagas para o ensino
mdio integrado no deve se tornar
apenas uma formalidade advinda da
negociao para a sua transformao
em instituies de ensino superior de
Centros Federais de Educao Tecno-
lgica (Cefets) para Institutos Federais
de Educao Tecnolgica (Ifets) ,
mas
tem por base a fnalidade de um efetivo
comprometimento com a formao in-
tegrada de trabalhadores.
O programa Ensino Mdio Ino-
vador pretende incidir sobre o ensino
mdio no profssionalizante, visando
instaurar outros modos de organizao
e delimitao dos conhecimentos. As
disciplinas deveriam se articular com
atividades integradoras mediante re-
laes entre os eixos constituintes do
ensino mdio, quais sejam, trabalho,
cincia, tecnologia e cultura. O curr-
culo teria o trabalho como princpio
educativo nas dimenses ontolgica e
histrica, s quais estariam relaciona-
das as concepes de cincia e cultura.
Nessas proposies, v-se a infun-
cia da concepo de ensino mdio in-
tegrado. A consolidao de uma base
unitria deste ensino uma das nfases
do documento, que destaca, tambm,
que esta base deve integrar trabalho,
cincia e cultura. A partir dessa base, se
desdobrariam possibilidades formativas
diversas, segundo cada um dos eixos
de integrao, concebendo-os tambm
como contextos de formao espe-
cfica: no trabalho, como formao
Dicionrio da Educao do Campo
312
profssional; na cincia, como iniciao
cientfca; na cultura, como ampliao
da formao cultural. A formao para
a compreenso e a atuao no mundo
do trabalho sendo profssionalizante
ou no , a formao cientfca e, ainda,
para o trabalho cientfco, assim como
a formao cultural deveriam compor a
base unitria do ensino mdio, poden-
do tambm ser convertidas em contex-
tos da formao diversifcada.
Quando vamos ao documento do
programa Ensino Mdio Inovador
(Brasil, 2009), entretanto, no encon-
tramos orientaes mais claras nesse
sentido, ainda que se aponte para que
o projeto poltico-pedaggico, dentre
outros aspectos, articule teoria e pr-
tica, vinculando o trabalho intelectual
a atividades prticas experimentais;
promova a integrao com o mun-
do do trabalho por meio de estgios
direcionados para os estudantes do
ensino mdio; e organize os tempos
e os espaos com aes efetivas de in-
terdisciplinaridade e contextualizao
dos conhecimentos.
Em termos operacionais, o que
se pode encontrar de diferencial nes-
te programa em relao ao que as di-
retrizes curriculares do ensino mdio
vigentes apregoam so a elevao da
carga horria mnima para trs mil ho-
ras; a dedicao exclusiva do docente
escola; e o estabelecimento de que
o mnimo de 20% da carga horria
total do curso seja destinado a ativi-
dades optativas e disciplinas eletivas,
a serem escolhidas pelos estudantes.
Embora indique que a escola no se
limite ao interesse imediato, pragm-
tico e utilitrio (Brasil, 2009, p. 4) e
tenha princpios convergentes com a
concepo do ensino mdio integrado,
no a explicita como base do progra-
ma, apresentando-se como uma nova
proposta educacional.
Alm do ensino mdio integrado
para alunos na idade prevista (14 a 17
anos), o governo instituiu o Progra-
ma Nacional de Integrao da Edu-
cao Profissional com a Educao
Bsica na Modalidade de Educao
de Jovens e Adultos (Proeja),
2
cujos
cursos e programas devero consi-
derar as caractersticas de jovens e
adultos atendidos, e podero ser arti-
culados [...] ao ensino mdio, de for-
ma integrada ou concomitante (arti-
go 1, pargrafo 2, inciso II) (Brasil,
2006). Esta determinao aplica-se a
todas as instituies pblicas, o que
significa um avano na poltica de
atendimento a jovens e adultos fora
da idade prevista, que buscam com-
pletar sua escolaridade.
No entanto, tem havido obstculos
implantao da formao integrada
entre jovens e adultos, em razo de def-
cincias estruturais das escolas (instala-
es, laboratrios, apoio aos alunos em
transporte, alimentao etc.); pelo es-
gotamento fsico dos trabalhadores na
jornada noturna; e pelo despreparo dos
professores para lidar com esses alunos
que, em geral, trazem lacunas nos con-
tedos relativos ao ensino fundamen-
tal, mas so portadores de experin-
cias de vida e maturidade importantes
para a aprendizagem, embora no re-
conhecidas pelos mtodos e programas
tradicionais da escola.
Um nmero crescente de estudos,
pesquisas, dissertaes e teses sobre o
ensino mdio integrado tem sido reali-
zado,
3
mas ainda no existe sufciente
acmulo de conhecimentos sobre os
entraves conceituais e polticos sua
compreenso e implementao.
313
E
Ensino Mdio Integrado
Notas
1
O termo educao integral compartilha da ideia de uma educao mais completa, mas a reduz
durao ampliada da jornada escolar e ao sentido de ensino com outros recursos pedag-
gicos, alm dos tradicionais, em implantao, at agora, no ensino fundamental, pr-escolar
e creches. O Programa Mais Educao, criado pela portaria interministerial n 17/2007,
aumenta a oferta educativa nas escolas pblicas por meio de atividades optativas que foram
agrupadas em macrocampos como acompanhamento pedaggico, meio ambiente, esporte
e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, preveno e promoo da sade,
educomunicao, educao cientfca e educao econmica (Brasil, s.d.).
2
Institudo pelo decreto n
o
5.840, de 13 de julho de 2006.
3
Ver, por exemplo, os trabalhos reunidos em Frigotto, Ciavatta e Ramos, no prelo.
Para saber mais
BERNSTEIN, B. A estruturao do discurso pedaggico classe, cdigo e controle.
Petrpolis: Vozes, 1996.
BRASIL. Decreto n 2.208, de 17 de abril de 1997: regulamenta o 2 do art. 36
e os arts. 39 a 42 da lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo
1, p. 7.760, 18 abr. 1997.
______. Decreto n 5.154, de 23 de julho de 2004: regulamenta o 2 do art. 36
e os arts. 39 a 41 da lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educao Nacional, e d outras providncias. Dirio Ofcial
da Unio, Braslia, 26 jul. 2004.
______. Decreto n 5.840, de 13 de julho de 2006: institui, no mbito federal,
o Programa Nacional de Integrao da Educao Profssional com a Educao
Bsica na Modalidade de Educao de Jovens e Adultos Proeja, e d ou-
tras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 14 jul. 2006. Disponvel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm.
Acesso em: 14 set. 2011.
______. Decreto n 7.352, de 4 de novembro de 2010. Dispe sobre a poltica
de educao do campo e o Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria
(Pronera). Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 5 nov. 2010.
______. Lei n 11.741, de 16 de julho de 2008: altera dispositivos da lei n 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educao na-
cional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as aes da educao pro-
fssional tcnica de nvel mdio, da educao de jovens e adultos e da educao
profssional e tecnolgica. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 17 jul. 2008.
______. Lei n 5.692, de 11 de agosto de 1971: fxa diretrizes e bases para o ensi-
no de 1 e 2 graus, e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo
1, p. 6.377, 12 ago. 1971.
Dicionrio da Educao do Campo
314
______. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as Diretrizes e Bases da
Educao Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1, p. 27.833, 23 dez. 1996.
______. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAO (CNE); CMARA DE EDUCAO
BSICA (CEB). Resoluo CNE/CEB, n 1, de 3 de abril de 2002: Institui
diretrizes operacionais para a educao bsica nas escolas do campo. Braslia:
Secad, 2002.
______. ______; ______. Resoluo CNE/CEB n 2, de 28 de abril de 2008: Di-
retrizes complementares para a educao bsica nas escolas do campo. Dirio
Oficial, Braslia, seo 1, p. 81, 29 abr. 2008. Disponvel em: http://pfdc.pgr.mpf.
gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/educacao/educacao-rural/
resolucao_MEC_2.08. Acesso em: 4 nov. 2011.
______. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC) Diretrizes para implantao e implementao
da estratgia metodolgica escola ativa. Braslia: MEC/FNDE/Fundescola, 1996.
______. ______. Mais educao. Braslia: MEC, [s.d.]. Disponvel em: http://
por t al . mec. g ov. br /i ndex. php? I t emi d=86&i d=12372&opt i on=com_
content&view=article. Acesso em: 19 jun. 2011.
______. ______. SECRETARIA DE EDUCAO BSICA (SEB). Programa Ensino M-
dio Inovador: documento orientador. Braslia: MEC, 2009. Disponvel em: http://
portal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_orientador.pdf. Acesso em:
18 jun. 2011.
______. ______. SECRETARIA DE EDUCAO CONTINUADA, ALFABETIZAO, DI-
VERSIDADE E INCLUSO (SECADI). Escola ativa: projeto base. Braslia: MEC/Secadi,
2008a.
______. ______. ______. Projeto base do Programa Escola Ativa. Braslia: MEC/
Secadi, 2008b.
______. ______. ______. Programa Escola Ativa: orientaes pedaggicas para for-
mao de educadoras e educadores. Braslia: MEC/Secadi, 2009b.
______. ______; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANSIO TEIXEIRA (INEP). Pesquisa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pnera).
Braslia: MEC/Inep, 2005.
______. ______; ______. Censo escolar. Braslia: MEC/Inep, 2009a.
CIAVATTA, M. A formao integrada e a questo da interdisciplinaridade: exerc-
cio terico ou realidade possvel? In: ENCONTRO DE PROFESSORES DO INSTITUTO
FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1. Anais... Natal, 2010. (Mimeo.).
FRIGOTTO, G. A interdisciplinaridade como problema e como necessidade
nas cincias sociais. Educao e realidade, Porto Alegre, v. 18, n. 2, p. 63-72,
jul.-dez. 1993.
315
E
Escola Ativa
______; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. Ensino mdio integrado: concepo e contradies.
So Paulo: Cortez, 2005.
______; ______; ______ (org.). Produo de conhecimentos sobre o ensino mdio integrado:
dimenses epistemolgicas e poltico-pedaggicas. Rio de Janeiro: Escola Politc-
nica de Sade Joaquim Venncio. (No prelo).
GRAMSCI, A. La alternativa pedaggica. Barcelona: Fontamara, 1981.
______. Os intelectuais e a organizao da cultura. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1991.
SANTOM, J. Globalizao e interdisciplinaridade: o currculo integrado. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1998.
E
ESCOLA ATIVA
Adriana DAgostini
Celi Zulke Taffarel
Claudio de Lira Santos Jnior
A escola ativa uma estratgia
metodolgica implantada inicialmen-
te pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso, que continuou no Governo
Luiz Incio Lula da Silva e no Gover-
no Dilma Rousseff, e que se destina s
salas multisseriadas, ou escolas peque-
nas, em locais de difcil acesso e con-
ta com baixa densidade populacional;
com apenas um professor, todas as s-
ries estudam juntas numa mesma sala
de aula. Elas representaram em 2011
mais de 50% das escolas do campo.
Somam no Brasil 51 mil escolas com
classes multisseriadas, localizadas prin-
cipalmente no campo. Foram, ao todo,
3.106, dos 5.565 municpios brasilei-
ros, a aderirem ao Programa Escola
Ativa, por meio do Plano de Desen-
volvimento da Educao (PDE), em
2008. As regies que mais tm classes
multisseriadas so Norte, Nordeste e
Centro-Oeste. A escola multisseriada
uma realidade na educao no e do
campo que no pode ser ignorada. As
posies sobre a multisseriao so po-
lmicas e de crtica, por terem a seria-
o como referncia de lgica escolar
mais adequada aprendizagem. Assim,
h muito preconceito e desqualifcao
das escolas multisseriadas, porm elas
so uma forma possvel e necessria de
organizao escolar no campo e podem
ser referncia de qualidade de ensino
se organizadas por ciclos e por prin-
cpios multidisciplinares. Isso porque
toda criana tem direito a estudar pr-
ximo sua casa e aos seus familiares; o
Dicionrio da Educao do Campo
316
transporte escolar demasiado perigo-
so para crianas pequenas, e o cansao
causado pelo mesmo um agravante
para a aprendizagem. Essas escolas
podem/devem se organizar de forma a
superar a seriao e a fragmentao do
conhecimento, favorecendo um traba-
lho por ciclos de aprendizagem; essas
escolas constroem e mantm uma re-
lao de reciprocidade, de coletivida-
de, de referncia cultural e de organi-
zao social nas comunidades em que
esto inseridas.
Surgimento da Escola
Ativa na Amrica Latina
Na dcada de 1970, o escolanovis-
mo (Pugina, 2009) orientou a proposta,
formulada na Colmbia, do Programa
Escuela Nueva, criado para atender as
classes multisseriadas.
O iderio da Escola Nova tem suas
razes no liberalismo, e representou
uma reao escola tradicional. Muitas
dessas ideias pedaggicas j eram co-
locadas em prtica no fnal do sculo
XIX, em plena ascenso do capitalis-
mo. As ideias bsicas so: a centralida-
de da criana nas relaes de aprendi-
zagem; o respeito s normas higinicas;
a disciplinarizao do corpo e dos ges-
tos; a cientifcidade da escolarizao de
saberes e fazeres sociais; e a exaltao
do ato de observar, de intuir, na cons-
truo do conhecimento. Tal iderio
encontra ressonncia no Manifesto dos
Pioneiros, de 1932.
1
O programa Escola Ativa estava
dirigido ao atendimento das regies
com baixa densidade populacional e
que apresentavam problemas de bai-
xa qualidade educacional. Durante a
dcada de 1970, a Ofcina Regional
para a Educao na Amrica Latina e
no Caribe (Orealc) (2000) apresentou
e promoveu aes na Amrica Latina
para desenvolver e melhorar a qualida-
de das escolas multisseriadas que se es-
pelharam na experincia desenvolvida
na Colmbia.
Assim, a Colmbia foi a experin-
cia parmetro para essa construo no
Brasil, em 1996, nos estados do Nordeste,
por meio do Fundo de Fortalecimento
da Escola (Fundescola). No Governo
Fernando Henrique Cardoso, com f-
nanciamento do Banco Mundial, o pro-
grama se denominou Programa Escola
Ativa. Consolidado, portanto, em 12 pa-
ses, o programa entrou no Brasil pela
via da capacitao de professores.
A Escola Ativa no Brasil
Segundo o documento Diretrizes para
implantao e implementao da estratgia
metodolgica escola ativa (Brasil, 1996),
um grupo de tcnicos da direo ge-
ral do Projeto Educao Bsica para o
Nordeste (Projeto Nordeste), do Mi-
nistrio da Educao, e tcnicos dos
estados de Minas Gerais e Maranho
foram convidados pelo Banco Mundial
a participar, na Colmbia, de um cur-
so sobre a estratgia Escola Nova
Escola Ativa, desenhada por um gru-
po de educadores colombianos que,
havia mais de 20 anos, atuava com clas-
ses multisseriadas daquele pas (Brasil,
2009b, p. 12-14).
De 1996 at 2004, ou seja, dez anos
aps a sua implantao, o programa
foi avaliado e sofreu severas crticas,
principalmente em decorrncia de suas
referncias econmicas de base neoli-
beral, das referncias tericas constru-
tivistas e de sua inefcincia para alterar
os ndices de qualidade da educao
bsica no campo.
De agosto de 2004 at setembro
de 2006, o programa Escola Ativa,
317
E
Escola Ativa
mesmo com a criao da Secretaria de
Educao Continuada, Alfabetizao,
Diversidade e Incluso (Secadi), per-
maneceu na estrutura do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educao
(FNDE) agncia que faz a gesto dos
recursos do Ministrio da Educao
(MEC) advindos do Banco Mundial. O
programa somente passou para a Secadi
no decorrer de 2007. Foram encerradas
as transaes com o Banco Mundial, e
o MEC assumiu o programa com re-
cursos prprios, expandindo-o a todas
as regies do pas e transferindo, ento,
sua gesto estrutura da Secadi. Para
tanto, chegou a solicitar uma avaliao
com vistas a redirecionamentos, mas
esta avaliao, feita pela Universidade
Federal do Par (UFPA), nunca chegou
a ser considerada.
O processo de reformulao do
programa se d em confronto e con-
fito com as concepes apresentadas
nas Diretrizes operacionais para a
educao bsica nas escolas do cam-
po (resoluo CNE/CEB n 1, de 3
de abril de 2002) (Brasil, 2002) e nas
Diretrizes complementares, normas
e princpios para o desenvolvimento
de polticas pblicas de atendimento
educao bsica do campo (reso-
luo CNE/CEB n 2, de 28 de abril
de 2008) (Brasil, 2008). Nas reformu-
laes propostas para o programa, so
levadas em considerao formulaes
de alguns autores a respeito de dire-
trizes para a Educao do Campo.
2
O
programa avana em suas formulaes,
mas no assume o referencial terico e
metodolgico da Educao do Campo.
Desde 2008, o programa expandiu-se
para todo o Brasil, recebeu fnanciamento
direto do MEC e deixou de estar atrelado
ao Banco Mundial. Alm disso, os livros
foram revisados, mudados e reeditados. O
programa foi assumido pela Secadi como
uma ao prioritria para a educao b-
sica no campo, e as universidades fede-
rais foram aladas a participar das inicia-
tivas nos estados brasileiros, juntamente
com as secretarias de Educao, o que
possibilitou um aprofundamento das cr-
ticas proposio terico-metodolgica
do programa.
3
Em 2009, a expanso do programa
assume dimenso nacional, abrangen-
do aproximadamente 3.100 municpios,
com fnanciamento que toma a maior
parte do oramento da Secadi. Porm,
ao analisar a dimenso do programa em
relao aos nmeros reais das escolas
do campo, ainda pouco abrangente,
pois no universo da realidade da educa-
o do campo no Brasil o nmero total
de escolas multisseriadas de aproxi-
madamente 51 mil, a maioria delas no
Nordeste (Brasil, 2009a).
Problema da implementao
do programa Escola Ativa
Melhorar a qualidade do desempe-
nho escolar em classes multisseriadas
das escolas do campo (Brasil, 2008,
p. 33) o objetivo do programa Esco-
la Ativa. No entanto, este objetivo no
vem sendo alcanado. Nas avaliaes da
prpria Secadi, os problemas advm
da base das escolas multisseriadas, que
possuem estruturas precrias e profes-
sores leigos, sem formao continuada,
desestimulados e resistentes ao novo.
Alm disso, a Secadi alega que as secre-
tarias estaduais e municipais so muito
limitadas frente s necessidades dessas
escolas e de implementao do progra-
ma. Em relao sua prpria atuao,
a Secadi assume a responsabilidade
quanto ao atraso do material didtico e
kits pedaggicos para que a metodolo-
gia do programa possa ser efetivada de
acordo com o seu planejamento.
Dicionrio da Educao do Campo
318
Diante dos indicadores de pesqui-
sas publicadas
4
sobre as experincias
realizadas e das experincias desen-
volvidas em algumas instituies de
ensino superior (IES), apontam-se
como problemas e difculdades:
5
desin-
formao sobre o programa, atraso na
aprovao, liberao e repasse de re-
cursos; falta de condies necessrias
nas IES e na Coordenao Estadual
da Educao do Campo para execuo
do programa difcil acesso comuni-
cao com os municpios por falta de
recursos como linha telefnica, servi-
o de correio, fax e computadores; em
algumas IES, a falta de pessoal tcni-
co administrativo e de professores-
pesquisadores do quadro efetivo que
aceitem assumir a formao so um
agravante para a realizao do progra-
ma; burocratizao do programa; falta
de condies dos municpios, estados
e universidades para implementarem
de fato polticas educacionais de qua-
lidade; alta rotatividade dos professo-
res e contratos temporrios; atraso no
pagamento dos bolsistas; quantidade
insufciente de material para as escolas
que aderiram ao programa; defasagem
dos dados pelo atraso de anos na libe-
rao de materiais e recursos; material
de orientao pedaggica defasado, de
base neoliberal e escolanovista, o que
fragiliza a formao e a alfabetizao
dos educandos os livros so fechados
e no permitem autonomia no plane-
jamento do professor; erros concei-
tuai s e com pouco contedo esco-
lar nos livros didticos do programa;
defeitos e erros de fabricao nos kits
pedaggicos entregues s escolas mu-
nicipais; falta de logstica nas secreta-
rias estaduais de Educao faltam
tcnicos especializados, logstica de
distribuio de material, espaos p-
blicos para capacitao de um grande
contingente de professores, entre ou-
tros. Estes problemas foram expressos
pelos participantes dos processos de
capacitao, em documentos divulga-
dos que permitem localizar as reivin-
dicaes dos professores do campo no
que diz respeito s responsabilidades
dos governos federal, estadual e muni-
cipal e das universidades para garantir
efetivamente a implementao de dire-
trizes da educao do campo nas esco-
las multisseriadas.
Diante do exposto, questiona-se
como um programa voltado apenas
s escolas multisseriadas, que um
tipo de escola do campo, assumido
pela Secadi como ao prioritria para
a educao bsica no campo com o
propsito de melhorar a qualidade do
desempenho escolar? Diante do mon-
tante de financiamento (trata-se do
programa com a maior verba dentro da
Secadi), da abrangncia do programa e
da real demanda da educao do cam-
po, o programa vem sendo questiona-
do tambm como ao prioritria para
concretizar as diretrizes operacionais
da educao do campo no que diz res-
peito a sua capacidade de melhorar a
qualidade do desempenho escolar em
classes multisseriadas das escolas do
campo (Brasil, 2008b).
O programa: aspectos
terico-metodolgicos
Fundamentao terica
O programa est fundamentado
no liberalismo, na Escola Nova (John
Dewey), no construtivismo e no neo-
construtivismo (Piaget) expressos
nas formulaes da Organizao das
Naes Unidas para a Educao, a
319
E
Escola Ativa
Cincia e a Cultura (Unesco) com as te-
ses ps-modernas dos sete saberes, en-
tre os quais o aprender a aprender.
6
Essas teses vm infuenciando a educa-
o no Brasil desde a dcada de 1920
e tm recebido severas crticas, entre
elas a formulada por Newton Duarte
(2004). O programa fundamenta-se na
metodologia em si e no ambiente pe-
daggico favorvel aprendizagem,
centrado no aluno e na no diretivida-
de pedaggica. O professor um faci-
litador da aprendizagem. O contedo
fexvel e deve ser priorizado o estu-
do da realidade em que os alunos es-
to inseridos. Uma das consequncias
de tal metodologia o esvaziamento do
contedo clssico da escola e a no
elevao do pensamento cientfco dos
alunos. Tanto a Secadi quanto muitas
universidades participantes, cientes
dessas consequncias, propuseram re-
formulaes e reconceptualizaes na
base terico-metodolgica do progra-
ma, buscando a fundamentao nas
teorias crticas da educao. Portanto,
o programa apresenta em sua formula-
o elementos tericos no crticos.
Operacionalidade
O programa consiste em formao,
multiplicao e monitoramento, via-
bilizados da seguinte forma: a Secadi
oferece formao e orientao para os
professores-pesquisadores e os for-
madores das IES e para os tcnicos
responsveis pelo monitoramento das
secretarias de Educao dos estados; as
IES oferecem formao e orientao
para os multiplicadores (tcnicos das
secretarias municipais de Educao).
Esses, por sua vez, multiplicam a for-
mao para os professores de escolas
multisseriadas. Os tcnicos das secreta-
rias estaduais realizam monitoramento
e superviso de todo o processo. Isso
se d a partir de seis mdulos de for-
mao dos professores da IES capacita-
dos pela equipe da Secadi. As consequ-
ncias so a reproduo de contedos
desconexos da realidade do campo e,
muitas vezes, a difculdade para repli-
car na escola do campo os contedos
tratados com os formadores dos for-
madores. A proposio das IES foi a
alterao dos contedos do processo
de formao, com nfase na forma-
o de professores para trabalhar
coletivamente e construir o projeto
poltico-pedaggico, os currculos e
os programas escolares de forma au-
tnoma, adequada a cada realidade;
essas medidas foram implantadas nos
estados da Bahia, de Santa Catarina
e de Minas Gerais. O programa dis-
pe de financiamento para kits esco-
la, livros didticos, formao, bolsas
e superviso.
Recursos humanos
Os recursos humanos compreen-
dem professores-pesquisadores e
formadores, das IES, que so respon-
sveis pela elaborao do contedo
e pela organizao dos mdulos de
formao; tcnicos supervisores, das
secretarias de Educao do estado,
responsveis por acompanhar e mo-
nitorar todo o processo; professores
multiplicadores, tcnicos das secre-
tarias de Educao dos municpios,
responsveis por replicar/multiplicar
a capacitao para os professores que
realmente atuam nas classes multis-
seriadas. Essas aes acontecem em
centros de formao, denominados
macrocentros (regional) e microcen-
tros (em cada municpio), por meio
de grupos de estudos, oficinas, pales-
tras, mesas-redondas etc.
Dicionrio da Educao do Campo
320
Crticas acumuladas na
implantao do programa
Entre as crticas acumuladas nos
debates decorrentes de estudos ante-
riores em IES e da implementao do
programa Escola Ativa por parte de
coordenadores, professores formado-
res, supervisores e professores multi-
plicadores, destacamos:
A origem do programa: com fnancia-
mento do Banco Mundial como
poltica compensatria, via orga-
nismos multilaterais, alm de via-
bilizado pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso, com seu perfl
de poltica focal e assistencialista, o
programa nasce para atender esco-
las do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, e agora se destina a todas as
classes multisseriadas do campo.
Qualidade do ensino e aprendizagem do
programa: estudos iniciados duran-
te o Governo Fernando Henrique
Cardoso e consolidados no Gover-
no Luiz Incio Lula da Silva con-
cluram que, durante os quinze anos
de implantao do programa Esco-
la Ativa, no houve avanos signi-
fcativos na situao das escolas e
na aprendizagem dos estudantes
do campo. Portanto, a estrutura, a
fundamentao terica e a metodo-
logia do programa no garantiram
at o momento qualidade de ensino
e efetivao da aprendizagem.
A base terica do programa: tem suas
razes no pragmatismo e nas con-
cepes escolanovistas e neocons-
trutivistas, no atende s necessida-
des de uma consistente base terica
sobre Educao do Campo para
sustentar o trabalho pedaggico
nas escolas do campo. A orientao
poltica do programa alienadora,
uma vez que o programa ape-
nas uma estratgia metodolgica,
centrada na neutralidade da tcnica
de ensino.
O fnanciamento: tal como sua orienta-
o terica, tem origem na Unesco,
mas encontra-se em situao ins-
tvel na atualidade, no Governo
Dilma Rousseff, perante os cortes
no oramento executados no in-
cio do ano de 2011 no montante
de 50 bilhes de reais. O progra-
ma no est assegurado em face da
fragilidade das polticas pblicas
educacionais do governo e diante
dos problemas por que passam os
estados em decorrncia da crise do
capitalismo. A regulamentao via
decreto da educao do campo no
assegura os programas como polti-
ca pblica permanente.
A relao entre governo federal, uni-
versidades e secretarias de Educao de
municpios e estados: complicada
e burocratizada, alm de inter-
ferir na autonomia da escola e dos
professores.
A preparao e a formao dos educadores:
esto voltadas somente para a tc-
nica de ensino, para a gesto res-
trita e para a dimenso pedaggica
e tcnica, secundarizando as de-
mais dimenses do ato de ensinar
e aprender, como o so as dimen-
ses do pensamento e das atitu-
des cientfca, poltica, tica, moral
e esttica.
A falta de autocrtica: de 1998 a 2004
no foram realizados balanos ou
autocrticas do programa; de 2004
a 2008 foram realizadas pequenas
alteraes, mas que no resultaram
em mudanas signifcativas. J em
setembro de 2011 foram realiza-
das reunies com todos os setores
321
E
Escola Ativa
envolvidos para avaliao e rees-
truturao do programa, que far
parte do novo pacote, chamado
Programa Nacional de Educao
do Campo (Pronacampo), em fase
de implantao.
A no reconceitualizao do programa
em sua nova verso: a nova verso do
programa, com reformulaes ela-
boradas em 2008, rebaixa novamen-
te a teoria e incorpora de maneira
aligeirada noes da Educao do
Campo. O programa no atingiu
um grau de reformulao nacional
capaz de identifc-lo com os fun-
damentos da Educao do Campo,
que tm sua identidade relacionada
s lutas sociais pela Reforma Agr-
ria e por outro modelo de desenvol-
vimento econmico no campo.
A no presena dos movimentos de luta
social no campo: os movimentos so-
ciais no funcionam como articu-
ladores dos povos do campo ao
programa e tecem crticas severas a
ele, principalmente porque a imple-
mentao do programa, da forma
como vem se dando, compromete
a formao humana nas escolas do
campo em reas de Reforma Agr-
ria e no leva em considerao as
experincias acumuladas pelos mo-
vimentos sociais.
A burocracia e os critrios na aplicao dos
recursos, que desconsideram a realidade do
campo: no so permitidos a compra
de materiais permanentes equipa-
mentos didticos e o pagamento
de professores para as capacitaes
no interior dos estados, principal-
mente de professores sem experin-
cia no magistrio superior, exigncia
para o recebimento de bolsa.
Hierarquizao do programa e agresso
autonomia universitria: constata-se
que a preparao dos formadores
est sendo proposta somente do
ponto de vista tcnico-pedaggico,
faltando uma dimenso cientfca
consistente e a dimenso poltica,
bem como a explicitao dos dados
concretos do balano realizado nos
quinze anos do programa.
Falta de continuidade: o programa no
atingiu o ponto de irreversibilida-
de que garanta a sua continuidade
em outro patamar qualitativo.
Proposta para uma educao
de qualidade no campo
Para universalizar a educao bsica
no campo e melhorar a qualidade do
desempenho escolar em classes multis-
seriadas das escolas do campo, faz-se
necessria uma poltica global, articu-
lada, permanente, com fnanciamento
adequado e uma gesto pblica, trans-
parente, simplifcada e com controle
social e, fundamentalmente, com a par-
ticipao dos povos do campo, com os
movimentos que articulam suas lutas.
As formaes inicial e continuada
devem ser enfatizadas, priorizadas e
elaboradas de forma consistente pelas
IES. Elas no devem ser uma mera for-
mao tcnica, e tm de estar sintoni-
zadas com as propostas mais avanadas
para a formao de professores desen-
volvida no pas, como a proposta da
Associao Nacional de Formao de
Profssionais da Educao (Anfope),
7
e as propostas em desenvolvimento
nos cursos de formao de professores
implementados pelas IES e articulados
pelo Programa Nacional de Educao
em reas de Reforma Agrria (Pronera),
como os cursos de Pedagogia da Ter-
ra, bem como os cursos de licenciatura
em Educao do Campo, desenvolvidos
pela prpria Secadi.
Dicionrio da Educao do Campo
322
Faz-se necessria outra fundamen-
tao terica do programa, baseada na
tendncia crtica da educao, para al-
teraes na prtica pedaggica e para
elevao do padro cultural de profes-
sores e estudantes no Brasil.
Os materiais didticos elaborados
para uso nacional no devem conter
erros e precisam ser utilizados de ma-
neira a favorecer o planejamento do
professor e auxiliar o desenvolvimento
das funes psquicas superiores das
crianas do campo. Este material deve
chegar rapidamente s escolas e no f-
car dependente de uma logstica nos es-
tados em que o programa no funciona.
O aporte fnanceiro deve ser ade-
quado para garantir condies concre-
tas de trabalho, de produo de cincia
e tecnologia, e de implementao e ma-
nuteno desta tecnologia no campo,
a fm de assegurar a permanncia do
estudante no campo. Isto nos faz reco-
nhecer a relevncia da defesa dos 10%
do produto interno bruto (PIB) para a
educao brasileira, item a ser inclu-
do e aprovado no Plano Nacional de
Educao (PNE) 2011-2020.
O Escola Ativa deve superar o es-
tgio de mero programa desarticulado
para incluir o Sistema Nacional Inte-
grado de Educao, pela qual cabe aos
entes federados assumirem de fato as
responsabilidades na implementao e
consolidao de uma poltica que ga-
ranta a todos uma educao pblica,
gratuita e de qualidade no campo, com
um padro qualitativo elevado.
imprescindvel que haja uma
forte relao com os movimentos de
lutas sociais do campo (sem-terras,
ribeirinhos, quilombolas, indgenas,
caiaras, atingidos por barragem, fun-
do de pasto, extrativistas) e demais
povos do campo, como os trabalhado-
res assalariados rurais, os pescadores
artesanais, os agricultores familiares,
os povos das florestas, os caboclos e
outros que produzem as suas condi-
es materiais de existncia mediante
o trabalho no meio rural, para que se
substitua o programa por uma poltica
de educao bsica do campo.
Diante disto, vem sendo proposto
que a Secadi realize encontro de avalia-
o e redimensionamento do progra-
ma com os responsveis implicados no
mesmo, ampliando a base do dilogo
com aqueles que realmente represen-
tam as populaes do campo e os mo-
vimentos de luta social no campo.
O redimensionamento e a recon-
ceitualizao do programa vm se
dando, como se comprova pela apro-
vao do decreto n 7.352, de 4 de
novembro de 2010, que dispe sobre
a poltica de educao do campo e o
Pronera, com a finalidade de avanar
para uma poltica pblica efetiva e
ampliada, de formao inicial e conti-
nuada de professores do campo para a
educao bsica que abranja todos os
tipos de escolas do campo em sua real
demanda no Brasil.
Os rumos da Educao do Campo
dependem fundamentalmente da luta
diuturna travada entre sujeitos que se
identificam e se inserem em projetos
de sociedade e de educao antag-
nicos. A posio dos movimentos de
luta social do campo, articulando os
povos do campo, a posio de fruns
nacionais e estaduais, como o Frum
de Educao do Campo (Fonec), lan-
ado em 17 de agosto de 2010, e a po-
sio dos demais organismos de luta
da classe trabalhadora, como partidos
polticos e centrais sindicais, influen-
ciaro decididamente os rumos da
educao pblica.
323
E
Escola Ativa
Notas
1
Segundo Menezes e Santos, o Manifesto dos Pioneiros da Educao Nova um docu-
mento escrito por 26 educadores, em 1932, com o ttulo A reconstruo educacional no Brasil:
ao povo e ao governo. Circulou em mbito nacional com a fnalidade de oferecer diretrizes para
uma poltica de educao (2002). Ver tambm http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/
dicionario.asp?id=279.
2
Entre elas, os trabalhos de Kolling, Cerioli e Caldart, 2002; Kolling, Nery e Molina, 1999a;
e Molina e Jesus, 2004.
3
O trabalho de Marsiglia e Martins (2010) traz uma anlise do teor dessas crticas.
4 Entre esses estudos, destaca-se o do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educao do Cam-
po da Amaznia (Geperuaz). Ver mais em Hage, 2009.
5
A solicitao de audincias s autoridades, pelos coordenadores do programa na Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA), deixa evidente os problemas e as difculdades para imple-
mentao do programa (Taffarel e Santos Junior, 2010).
6
O neo-escolanovismo atualmente difundido a partir do lema aprender a aprender,
que, para Saviani, desloca o processo educativo do aspecto lgico para o psicolgico; dos
contedos para os mtodos; do professor para o aluno; do esforo para o interesse; da
disciplina para a espontaneidade, confgurando uma teoria pedaggica em que o mais im-
portante no ensinar e nem aprender algo, isto , assimilar determinados conhecimentos.
O importante aprender a aprender, isto , aprender a estudar, a buscar conhecimentos, a
lidar com situaes novas. E o papel do professor deixa de ser o daquele que ensina para ser
o de auxiliar o aluno em seu processo de aprendizagem (2007, p. 429).
7
Ver http://anfope.spaceblog.com.br/.
Para saber mais
BRASIL. Decreto n 2.208, de 17 de abril de 1997: regulamenta o 2 do art. 36
e os arts. 39 a 42 da lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educao Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1,
p. 7.760, 18 abr. 1997.
______. Decreto n 5.154, de 23 de julho de 2004: regulamenta o 2 do art. 36
e os arts. 39 a 41 da lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educao Nacional, e d outras providncias. Dirio Ofcial
da Unio, Braslia, 26 jul. 2004.
______. Decreto n 5.840, de 13 de julho de 2006: institui, no mbito federal,
o Programa Nacional de Integrao da Educao Profssional com a Educao
Bsica na Modalidade de Educao de Jovens e Adultos Proeja, e d ou-
tras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 14 jul. 2006. Disponvel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm.
Acesso em: 14 set. 2011.
______. Decreto n 7.352, de 4 de novembro de 2010. Dispe sobre a poltica
de educao do campo e o Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria
(Pronera). Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 5 nov. 2010.
Dicionrio da Educao do Campo
324
______. Lei n 11.741, de 16 de julho de 2008: altera dispositivos da lei n 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educao
nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as aes da edu-
cao profissional tcnica de nvel mdio, da educao de jovens e adultos
e da educao profissional e tecnolgica. Dirio Oficial da Unio, Braslia,
17 jul. 2008.
______. Lei n 5.692, de 11 de agosto de 1971: fxa diretrizes e bases para o ensino
de 1 e 2 graus, e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1,
p. 6.377, 12 ago. 1971.
______. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as Diretrizes e Bases
da Educao Nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, seo 1, p. 27.833, 23 dez.
1996.
______. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAO (CNE); CMARA DE EDUCAO
BSICA (CEB). Resoluo CNE/CEB, n 1, de 3 de abril de 2002: institui dire-
trizes operacionais para a educao bsica nas escolas do campo. Braslia: Secad,
2002.
______. ______; ______. Resoluo CNE/CEB n 2, de 28 de abril de 2008: diretri-
zes complementares para a educao bsica nas escolas do campo. Dirio Oficial,
Braslia, seo 1, p. 81, 29 abr. 2008. Disponvel em: http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/
atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/educacao/educacao-rural/resolucao_
MEC_2.08. Acesso em: 4 nov. 2011.
______. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC). Diretrizes para implantao e implementa-
o da estratgia metodolgica escola ativa. Braslia: MEC/FNDE/Fundescola, 1996.
______. ______. Mais educao. Braslia: MEC, [s.d.]. Disponvel em: http://
por t al . mec. g ov. br /i ndex. php? I t emi d=86&i d=12372&opt i on=com_
content&view=article. Acesso em: 19 jun. 2011.
______. ______. SECRETARIA DE EDUCAO BSICA (SEB). Programa Ensino Mdio
Inovador: documento orientador. Braslia: MEC, 2009. Disponvel em: http://por-
tal.mec.gov.br/dmdocuments/documento_orientador.pdf. Acesso em: 18 jun.
2011.
______. ______. SECRETARIA DE EDUCAO CONTINUADA, ALFABETI-
ZAO, DIVERSIDADE E INCLUSO (SECADI). Escola ativa: projeto base.
Braslia: MEC/Secadi, 2008a.
______. ______. ______. Projeto base do Programa Escola Ativa. Braslia: MEC/
Secadi, 2008b.
______. ______. ______. Programa Escola Ativa: orientaes pedaggicas para
formao de educadoras e educadores. Braslia: MEC/Secadi, 2009b.
______. ______; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
325
E
Escola Ativa
ANSIO TEIXEIRA (INEP). Pesquisa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pnera).
Braslia: MEC/Inep, 2005.
______. ______; ______. Censo escolar. Braslia: MEC/Inep, 2009a.
DUARTE, N. Vigotski e o aprender a aprender: crtica s apropriaes neoliberais e
ps-modernas da teoria vigotskiana. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2004.
FRUM NACIONAL EM DEFESA DA ESCOLA PBLICA. Propostas emergenciais para
mudanas na educao brasileira. In: SEMINRIO REAFIRMANDO PROPOSTAS PARA
A EDUCAO BRASILEIRA. Anais... Braslia: Frum Nacional em Defesa da Escola
Pblica, 18 a 21 de fevereiro de 2003.
FRUM NACIONAL DE EDUCAO DO CAMPON (FONEC). Carta de criao do F-
rum Nacional de Educao do Campo. Braslia: Fonec, 2010. Disponvel em:
http://api.ning.com/fles/rh19tRCUcGP1HlXcjUA1gV6r06cOK2Pvew3WTfI
x8Xz5rXorr7OK8J*pGerVDimDlVxEoKCKiTQ2lKa7BFdvaaVaqG92dwzC/
CartadecriaodoFrumNacionaldeEducaodoCampoFONEC.pdf. Acesso em:
31 ago. 2011.
FREITAS, H. C. L. DE. Formao de professores no Brasil: 10 anos de embate entre
projetos de formao. Educao e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, set. 2002. Dis-
ponvel em: http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 31 ago. 2011.
HAGE, S. M. (org.). Educao do campo na Amaznia: retratos de realidade das esco-
las multisseriadas no Par. Belm: Gutemberg, 2005.
______. A multissrie em pauta: para transgredir o paradigma seriado nas esco-
las do campo. In: ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE CLASSES MULTISSERIADAS DAS
ESCOLAS DO CAMPO DA BAHIA, 1. Anais... Salvador, 2009. Disponvel em: http://
www2.faced.ufba.br/educacampo/escola_ativa/multisserie_pauta_salomao_
hage. Acesso em: 31 ago. 2011.
KOLLING, E. J.; NERY, I.; MOLINA, M. C. (org.). A educao bsica e o movimento
social do campo. Braslia: Editora UnB, 1999a.
KOLLING, E. J.; NERY, I.; MOLINA, M. C. Por uma educao bsica do campo (memria).
Braslia: Articulao Nacional por uma Educao do Campo, 1999.b
______; CERIOLI, P. R.; CALDART, R. S. (org.). Educao do campo: identidade e polti-
cas pblicas. Braslia: Articulao Nacional por uma Educao do Campo, 2002.
MARSIGLIA, A. C. G.; MARTINS, L. M. Programa Escola Ativa: anlise crtica. In:
BARBOSA, M. V.; MENDONA, S. G. L. (org.). Ensino e aprendizagem como processos
humanizadores: propostas da teoria histrico-cultural para a educao bsica: co-
letnea de textos da 9 Jornada do Ncleo de Ensino de Marlia. Marlia: Ofcina
Universitria Unesp, 2010. Disponvel em: http://www2.faced.ufba.br/educa-
campo/escola_ativa/programa_. Acesso em: 7 mar. 2011.
MENEZES, E. T. de; SANTOS, T. H. dos. Manifesto dos Pioneiros da Educa-
o Nova. Dicionrio Interativo da Educao Brasileira EducaBrasil. So Paulo:
Dicionrio da Educao do Campo
326
Midiamix, 2002. Disponvel em: http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/
dicionario.asp?id=279. Acesso em: 18 set. 2011.
MOLINA, M. C.; JESUS, M. S. A. (org.). Por uma educao bsica do campo: contribuies
para a construo de um projeto de educao do campo. Braslia: Articulao
Nacional por uma Educao do Campo, 2004.
OFICINA REGIONAL PARA A EDUCAO NA AMRICA LATINA E NO CARIBE (OREALC).
O Seminrio Orealc/Unesco sobre o futuro da educao na Amrica Latina.
Santiago do Chile, 2000. Disponvel em: http://www.schwartzman.org.br/
simon/delphi/pdf/seminario.pdf. Acesso em: 31 ago. 2011.
PUGINA, L. O iderio da Escola Nova. In: WEBARTIGOS.COM, 10 ago. 2009. Dispon-
vel em: http://www.webartigos.com/articles/22754/1/Escolanovismo/pagina1.
html#ixzz1FwmbCZOc. Acesso em: 5 set. 2011.
SAVIANI, D. Histria das ideias pedaggicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.
ROCHA-ANTUNES; M. I.; HAGE, S. Escola de direito: reinventado a escola multisseriada.
Belo Horizonte: Autntica, 2010.
TAFFAREL, C. Z.; SANTOS JUNIOR, C. DE L. Ofcio n 42/2010 DIR: programa
Escola Ativa: audincia com o secretrio de Educao do estado da Bahia.
Salvador, 8 mar. 2010. Disponvel em: http://www2.faced.ufba.br/educacampo/
escola_ativa/audiencia. Acesso em: 31 ago. 2011.
XAVIER NETO, L. P. Educao do Campo em disputa: anlise comparativa entre o
MST e o Programa Escola Ativa. [s.d.]. Disponvel em: http://www2.faced.ufba.
br/educacampo/escola_ativa/mst. Acesso em: 7 mar. 2011.
E
ESCOLA DO CAMPO
Mnica Castagna Molina
Lais Mouro S
A concepo de escola do cam-
po nasce e se desenvolve no bojo do
movimento da EDUCAO DO CAMPO,
a partir das experincias de formao
humana desenvolvidas no contexto
de luta dos movimentos sociais cam-
poneses por terra e educao. Trata-
se, portanto, de uma concepo que
emerge das contradies da luta social
e das prticas de educao dos traba-
lhadores do e no campo.
Sendo assim, ela se coloca numa re-
lao de antagonismo s concepes
de escola hegemnicas e ao projeto de
educao proposto para a classe traba-
lhadora pelo sistema do capital. O
movimento histrico de construo
da concepo de escola do campo faz
327
E
Escola do Campo
parte do mesmo movimento de cons-
truo de um projeto de campo e de
sociedade pelas foras sociais da classe
trabalhadora, mobilizadas no momento
atual na disputa contra-hegemnica.
Assim, a concepo de escola do
campo a ser tratada aqui se enraza no
processo histrico da luta da classe tra-
balhadora pela superao do sistema do
capital. O acesso ao conhecimento e a
garantia do direito escolarizao para
os sujeitos do campo fazem parte desta
luta. A especifcidade desta insero se
manifesta nas condies concretas em
que ocorre a luta de classes no campo
brasileiro, tendo em vista o modo de
expanso do AGRONEGCIO e suas de-
terminaes sobre a luta pela terra e a
identidade de classe dos sujeitos coleti-
vos do campo.
A concepo de escola do campo se
insere tambm na perspectiva grams-
ciana da ESCOLA UNITRIA, no sentido
de desenvolver estratgias epistemol-
gicas e pedaggicas que materializem o
projeto marxiano da formao huma-
nista omnilateral, com sua base unit-
ria integradora entre trabalho, cincia e
cultura, tendo em vista a formao dos
intelectuais da classe trabalhadora.
A intencionalidade de um projeto
de formao de sujeitos que percebam
criticamente as escolhas e premissas
socialmente aceitas, e que sejam ca-
pazes de formular alternativas de um
projeto poltico, atribui escola do
campo uma importante contribuio
no processo mais amplo de transfor-
mao social. Ela se coloca o desafo
de conceber e desenvolver uma for-
mao contra-hegemnica, ou seja,
de formular e executar um projeto de
educao integrado a um projeto po-
ltico de transformao social liderado
pela classe trabalhadora, o que exige
a formao integral dos trabalhadores
do campo, para promover simultanea-
mente a transformao do mundo e a
autotransformao humana.
Questo central para a materiali-
zao desta condio a formao da
capacidade dirigente da classe trabalha-
dora, para que venha a exercer o con-
trole do processo de reproduo social
no interesse das necessidades sociais
bsicas. Nos termos de Gramsci, esse
processo formativo est intrinseca-
mente vinculado atividade crtica e
organizativa dos intelectuais orgnicos
no conjunto de atividades culturais e
ideolgicas da luta de classes, na dispu-
ta entre os projetos de sociedade. Para
Gramsci (1991), a capacidade intelec-
tual no monoplio de alguns, mas
pertence a toda a coletividade, tanto no
sentido do acmulo de conhecimento
ao longo da histria da humanidade
quanto no sentido da elaborao de
novos conhecimentos que permitam
compreender e superar as contradies
do momento presente. O exerccio da
intelectualidade, portanto, funo
de um intelectual coletivo, e, embora
alguns indivduos desempenhem fun-
es mais estritamente intelectuais na so-
ciedade, o grau dessa atividade entre seus
componentes apenas quantitativo.
A possibilidade do exerccio deste
papel fundamental da escola do campo,
contribuindo para a formao desse in-
telectual coletivo, depender da forma
pela qual esta escola estiver conectada
ao mundo do trabalho e s organiza-
es polticas e culturais dos trabalha-
dores do campo. Isto signifca que a
escolarizao em todos os nveis deve
promover o conhecimento sobre o
funcionamento da sociedade, sobre
os mecanismos de dominao e subor-
dinao que a caracterizam, e sobre o
Dicionrio da Educao do Campo
328
modo de integrao da produo agr-
cola neste projeto de sociedade, a par-
tir do complexo sistema de relaes e
de mediaes que constitui o processo
de desenvolvimento rural.
Por isso, a escola do campo, pen-
sada como parte de um projeto maior
de educao da classe trabalhadora, se
prope a construir uma prtica edu-
cativa que efetivamente fortalea os
camponeses para as lutas principais,
no bojo da constituio histrica dos
movimentos de resistncia expanso
capitalista em seus territrios.
Uma das importantes vitrias con-
quistadas na luta dos movimentos so-
ciais pela construo desta concepo
de escola do campo foi o seu reconhe-
cimento em marcos legais, o que se deu
somente aps muitos anos de experin-
cias e prticas concretas de Educao
do Campo. O primeiro destes marcos a
reconhecer e utilizar a expresso escola
do campo, como fgura jurdica legal-
mente reconhecida, portanto demar-
cando uma diferenciao em relao
expresso escola rural, foram as Dire-
trizes operacionais para educao bsica
das escolas do campo, de abril de 2002
(Brasil, 2002), expedidas pelo Conselho
Nacional de Educao (CNE). O fato
de esta denominao ser incorporada na
agenda poltico-jurdica confgura avan-
o e vitria dos que reafrmam a impres-
cindibilidade do campo na construo de
um modelo novo de desenvolvimento.
Consoante com esta interpretao,
consideramos relevante destacar a de-
fnio conquistada naquelas diretrizes
sobre a identidade das escolas do cam-
po, como acontece no pargrafo nico
do artigo 2:
[...] a identidade das escolas do
campo defnida pela sua vin-
culao s questes inerentes
sua realidade, ancorando-se na
temporalidade e saberes pr-
prios dos estudantes, na mem-
ria coletiva que sinaliza futuros,
na rede de cincia e tecnologia
disponvel na sociedade e nos
movimentos sociais em defesa
de projetos que associem as so-
lues exigidas por essas ques-
tes qualidade social da vida
coletiva no Pas. (Brasil, 2002)
Articulada s possibilidades aber-
tas por esta defnio, h ainda outro
dispositivo legal de grande importncia
na perspectiva de remover impedimen-
tos para a construo de projetos dos
movimentos com as escolas e comuni-
dades, em busca de seu desenvolvimento
a partir das concepes educativas do
campesinato, organizada em torno dos
princpios da Educao do Campo. O
artigo 4 das Diretrizes operacionais
estabelece que: a construo dos pro-
jetos poltico-pedaggicos das escolas
do campo se constituir num espao
pblico de investigao e articulao
de experincias e estudos direcio-
nados para o mundo do trabalho
(Brasil, 2002). Este dispositivo legitima
as experincias em curso, e abre espao
para projetos a serem propostos pelos
movimentos sociais para ocupar as
escolas rurais, visando a sua transfor-
mao em escolas do campo.
No mbito das vitrias nos marcos
legais, conquistadas a partir da luta dos
movimentos sociais, merece registro
tambm a defnio consagrada no de-
creto n
o
7.352/2010, que institui a Po-
ltica Nacional de Educao do Cam-
po, sobre o que so escolas do campo.
Em seu artigo primeiro, este decreto
estabelece que se compreende por:
Escola do campo: aquela situada em
329
E
Escola do Campo
rea rural, conforme defnida pela Fun-
dao Instituto Brasileiro de Geografa
e Estatstica IBGE, ou aquela situa-
da em rea urbana, desde que atenda
predominantemente a populaes do
campo (Brasil, 2010).
Mantm-se, neste instrumento legal
que eleva a Educao do Campo po-
ltica de Estado, no s a demarcao
das escolas do campo neste territrio,
mas tambm a importante defnio de
que sua identidade no se d somente
por sua localizao geogrfca, se d
tambm pela identidade dos espaos
de reproduo social, portanto, de vida
e trabalho, dos sujeitos que acolhe em
seus processos educativos, nos diferen-
tes nveis de escolarizao ofertados.
Nesta tarefa coloca-se tambm
uma disputa epistemolgica por fun-
damentos tico-polticos e concei-
tuais que garantam a legitimidade da
construo do projeto. Como toda a
riqueza no sistema do capital, o co-
nhecimento cientfico tambm est
desigualmente distribudo, e a disputa
entre projetos de sociedade coloca em
pauta a necessidade de desconstruo
destes privilgios epistemolgicos. A
escola do campo deve fazer o enfren-
tamento da hegemonia epistemolgica
do conhecimento inoculado pela cin-
cia capitalista.
O conhecimento cientfco acumu-
lado pela humanidade no pode ser
usado com neutralidade; ele deve dialo-
gar com as contradies vividas na rea-
lidade destes sujeitos, o que envolve a
busca de alternativas para as condies
materiais e ideolgicas do trabalho
alienado e para as difculdades de re-
produo social da classe trabalhadora
do campo, todas elas condies ineren-
tes ao antagonismo intrnseco lgica
do capital.
A partir destas ideias, faz sentido
afrmar que a escola do campo pode
contribuir para a formao de novas
geraes de intelectuais orgnicos ca-
pazes de conduzir o protagonismo dos
trabalhadores do campo em direo
consolidao de um processo social
contra-hegemnico. Mas esta afrmao
se faz a partir do reconhecimento dos
limites que a escola, ainda que trans-
formada em seus aspectos principais,
pode vir a ter nos processos maiores
de transformao social.
Partindo dessa materialidade, a
Educao do Campo, nos processos
educativos escolares, busca cultivar
um conjunto de princpios que devem
orientar as prticas educativas que
promovem com a perspectiva de
oportunizar a ligao da formao es-
colar formao para uma postura na
vida, na comunidade o desenvolvi-
mento do territrio rural, compreen-
dido este como espao de vida dos
sujeitos camponeses.
A partir das concepes sobre as
possibilidades de atuao das institui-
es educativas na perspectiva contra-
hegemnica, alm das funes tradi-
cionalmente reservadas escola, como
a socializao das novas geraes e a
transmisso de conhecimentos, a esco-
la do campo, que forja esta identida-
de, pode ser uma das protagonistas na
criao de condies que contribuam
para a promoo do desenvolvimento
das comunidades camponesas, desde
que se promova no seu interior im-
portantes transformaes, tal como j
vem ocorrendo em muitas escolas no
territrio rural brasileiro, que contam
com o protagonismo dos movimentos
sociais na elaborao de seus projetos
educativos e na sua forma de organizar
o trabalho pedaggico.
Dicionrio da Educao do Campo
330
Podemos destacar, ento, quais so
as principais questes que devem ser
alteradas na escola do campo, para que
possa atuar de acordo com os princ-
pios da Educao do Campo. Antes de
mais nada, preciso compreender que
no se pode pensar em transformao
da escola sem pensar na questo da
transformao das fnalidades educati-
vas e na reviso do projeto de forma-
o do ser humano que fundamenta
estas fnalidades. Qualquer prtica edu-
cativa se fundamenta numa concepo
de ser humano, numa viso de mundo
e num modo de pensar os processos de
humanizao e formao do ser huma-
no (Caldart, 2010).
No entanto, a colocao poltico-
flosfca destas questes tende a emer-
gir apenas nos momentos em que a so-
ciedade est se colocando o desafo de
vincular a educao fundao de um
novo projeto histrico. No momento
atual, em que as contradies do modo
de produo e da sociabilidade capita-
listas enfrentam uma crise estrutural,
a questo da formao das novas ge-
raes crucial. E, no caso da Edu-
cao do Campo, a entrada dos flhos
da classe trabalhadora do campo na
escola, os mais desiguais entre os de-
siguais, representa a explicitao ineg-
vel da incompetncia da ordem educa-
cional vigente para enfrentar o desafo
de corrigir consequncias das desigual-
dades estruturais do prprio avano do
sistema do capital no campo.
Assim, torna-se mais necessrio do
que nunca indagar, a respeito do proje-
to educativo da escola, sobre a especi-
fcidade concreta desses sujeitos cam-
poneses e suas necessidades formativas
especfcas; e, consequentemente, su-
bordinar a discusso sobre a escola em
si mesma s necessidades coletivas de
construo de um projeto histrico de
classe. Portanto, importante distin-
guir objetivos formativos de objetivos
da educao escolar, para que estes l-
timos se vinculem resposta poltico-
flosfca que se quer dar pergunta
sobre a construo de um novo projeto
de sociedade e sobre a formao das
novas geraes dentro deste projeto.
A partir do projeto formativo rede-
senhado, outras dimenses importantes
e que precisam ser alteradas, para garantir
que as escolas tradicionais do meio rural
possam vir a se transformar em escolas
do campo, referem-se s relaes sociais
vividas na escola, cujas mudanas devem
ser dirigidas a: 1) cultivar formas e estra-
tgias de trabalho que sejam capazes de
reunir a comunidade em torno da escola
para seu interior, enxergando nela uma
aliada para enfrentar seus problemas e
construir solues; 2) promover a supe-
rao da prioridade dada aos indivduos
isoladamente, tanto no prprio percur-
so formativo relacionado construo
de conhecimentos quanto nos valores
e estratgias de trabalho, cultivando, no
lugar do individualismo, a experincia
e a vivncia da realizao de prticas e
estudos coletivos, bem como instituin-
do a experincia da gesto coletiva da
escola; 3) superar a separao entre tra-
balho intelectual e manual, entre teoria
e prtica, buscando construir estratgias
de inserir o trabalho concretamente nos
processos formativos vivenciados na es-
cola (Caldart, 2010).
Para que a escola do campo con-
tribua no fortalecimento das lutas de
resistncia dos camponeses, impres-
cindvel garantir a articulao poltico-
pedaggica entre a escola e a comuni-
dade por meio da democratizao do
acesso ao conhecimento cientfico. As
estratgias adequadas ao cultivo desta
331
E
Escola do Campo
participao devem promover a cons-
truo de espaos coletivos de deciso
sobre os trabalhos a serem executa-
dos e sobre as prioridades da comu-
nidade nas quais a escola pode vir a
ter contribuies.
Outra dimenso signifcativa nas
escolas do campo a lgica do traba-
lho e da organizao coletiva. Ensinar
os alunos e a prpria organizao es-
colar a trabalhar a partir de coletivos
um relevante mecanismo de forma-
o e aproximao das funes que a
escola pode vir a ter nos processos de
transformao social. Esta dimenso
envolve tambm as vivncias e expe-
rincias de resoluo e administrao
de confitos e de diferenas decor-
rentes das prticas coletivas, gerando
aprendizados para posturas e relaes
fora da escola. A participao e gesto
por meio de coletivos mecanismo
importante na criao de espaos que
cultivem a auto-organizao dos edu-
candos para o aprendizado do conv-
vio, da anlise, da tomada de decises
e do encaminhamento de deliberaes
coletivas. Com base nessas experin-
cias, torna-se possvel acumular apren-
dizados e valores para a construo de
novas relaes sociais fora da escola,
com maior protagonismo e autonomia
destes sujeitos.
No que se refere pedagogia do
trabalho, colocam-se escola do cam-
po imensos desafos no sentido de
contribuir para a transformao das re-
laes e ideologias que fundamentam
as relaes sociais na lgica do capi-
tal (ver ESCOLA NICA DO TRABALHO e
TRABALHO COMO PRINCPIO EDUCATIVO).
Para uma escola que adote o ponto de
vista poltico da emancipao da classe
trabalhadora, trata-se de ressignifcar
os valores da subordinao do trabalho
ao capital, ou seja: ter o trabalho como
um valor central tanto no sentido on-
tolgico quanto no sentido produtivo,
como atividade pela qual o ser humano
cria, d sentido e sustenta a vida; en-
sinar a crianas e jovens o sentido de
transformar a natureza para satisfazer
as necessidades humanas, compreen-
dendo que nos produzimos a partir
do prprio trabalho, e, principalmente,
ensinando a viver do prprio trabalho
e no a viver do trabalho alheio.
Outro aspecto central a ser trans-
formado na escola do campo o fato
de seus processos de ensino e apren-
dizagem no se desenvolverem apar-
tados da realidade de seus educandos.
O principal fundamento do trabalho
pedaggico deve ser a materialidade da
vida real dos educandos, a partir da qual
se abre a possibilidade de ressignifcar
o conhecimento cientfco, que j ,
em si mesmo, produto de um trabalho
coletivo, realizado por centenas de ho-
mens e mulheres ao longo dos sculos.
Este um dos maiores desafos e,
ao mesmo tempo, uma das maiores
possibilidades da escola do campo:
articular os conhecimentos que os
educandos tm o direito de acessar,
a partir do trabalho com a realidade,
da religao entre educao, cultura e
os conhecimentos cientfcos a serem
apreendidos em cada ciclo da vida e de
diferentes reas do conhecimento. Sur-
ge da uma grande potencialidade de
dimenses formativas que foram sepa-
radas pela cultura fragmentada e indi-
vidualista do capital, embora, na vida
real, estejam articuladas e imbricadas.
Alm de contribuir com a construo
da autonomia dos educandos, essas ar-
ticulaes propiciam a internalizao
da criticidade necessria compreen-
so da inexistncia da neutralidade
Dicionrio da Educao do Campo
332
cientfca, com a localizao da histo-
ricidade dos diferentes contedos e
dos contextos scio-histricos nos
quais foram produzidos.
Experincias ricas neste sentido
tm sido desenvolvidas em algumas
escolas vinculadas ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), especialmente nas chamadas
escolas itinerantes (ver ESCOLA ITINERAN-
TE), nas quais tem sido possvel ado-
tar metodologias que historicamente
foram capazes de trazer contribuies
neste sentido, como, por exemplo, a
experincia desenvolvida a partir do
sistema de complexos, de Pistrak.
Uma das principais caractersticas
exitosas desta estratgia de vinculao
dos processos de ensino-aprendizagem
com a realidade social, e com as con-
dies de reproduo material dos
educandos que frequentam a escola do
campo, refere-se construo de estra-
tgias pedaggicas que sejam capazes
de superar os limites da sala de aula,
construindo espaos de aprendizagem
que extrapolem este limite, e que per-
mitam a apreenso das contradies do
lado de fora da sala. A escola do cam-
po, exatamente por querer enfrentar,
confrontar e derrotar a escola capita-
lista, no se deixa enredar pelos muros
da escola e, muito menos, pelas quatro
paredes da sala de aula.
Esta possibilidade de conduzir tra-
balhos pedaggicos que superem a sala
de aula como espao central de apren-
dizagem traz tambm outro potencial,
que a construo de estratgias que
visem superar a fragmentao do co-
nhecimento vigente na grande maioria
dos processos de ensino-aprendizagem,
neste caso, sem ser privilgio das es-
colas do campo.
Retomando as colocaes iniciais
sobre as potencialidades de construo
desta escola do campo, em que se afr-
mou que uma das suas possibilidades
contribuir para a formao de intelec-
tuais orgnicos do campo, explicita-se a
importncia da mudana deste padro
de relacionamento das escolas do cam-
po com a produo do conhecimento,
e as contribuies que da podem advir,
para melhorar as possibilidades de resis-
tncia dos sujeitos do campo aos pro-
cessos de desterritorializao que lhes
tm sido impostos pelo voraz aumento
das estratgias de acumulao de capital
desenvolvidas pelo agronegcio.
Para saber mais
BRASIL. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC). CONSELHO NACIONAL DE EDUCAO
(CNE). Resoluo CNE/CEB n 1, de 3 de abril de 2002: institui diretrizes ope-
racionais para a educao bsica nas escolas do campo. Dirio Ofcial da Unio,
9 abr. 2002.
______. PRESIDNCIA DA REPBLICA. Decreto n
o
7.352, de 4 de novembro de 2010:
dispe sobre a Poltica Nacional de Educao do Campo e sobre o Programa
Nacional de Educao na Reforma Agrria. Dirio Ofcial da Unio, 5 nov. 2010.
BUTTIGIEG, J. A. Educao e hegemonia. In: COUTINHO, C. N.; TEIXEIRA, A. P.
(org.). Ler Gramsci, entender a realidade. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003.
333
E
Escola Itinerante
CALDART, R. S. A educao do campo e a perspectiva de transformao da forma
escolar. In: MUNARIM, A. et al. (org.). Educao do campo: refexes e perspectivas.
Florianpolis: Insular, 2010.
FREITAS, L. C. Crtica da organizao do trabalho pedaggico e da didtica. Campinas:
Papirus, 2003.
GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organizao da cultura. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1991.
E
ESCOLA ITINERANTE
*
Caroline Bahniuk
Isabela Camini
Escola itinerante a denominao
dada s escolas localizadas em acampa-
mentos do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), movi-
mento social que parte da reivindicao
pelo acesso terra, articulando-a ao
projeto de transformao social. De-
nominam-se itinerantes porque acom-
panham a luta pela Reforma Agrria,
assegurando a escolarizao dos tra-
balhadores do campo. Desta forma,
a escola itinerante, em seus objetivos
gerais, no se diferencia das demais es-
colas do MST; o que se altera so as
circunstncias em que ela est inserida:
em um acampamento, que, em geral,
tende a ser um espao no qual a luta de
classes mais evidente.
As escolas itinerantes vm respon-
der necessidade concreta de asse-
gurar a escolarizao das pessoas que
vivem em acampamentos, inicialmente
as crianas. Era comum que elas per-
dessem o ano letivo devido s mudan-
as constantes, falta de vagas nas
escolas prximas dos acampamentos,
e discriminao sofrida pelo fato de
serem sem-terra.
O reconhecimento legal da escola
itinerante ocorreu pela primeira vez
no estado do Rio Grande do Sul, fruto
de presses e reivindicaes do MST.
Tal proposta foi debatida e elaborada
pelo Setor de Educao do MST e pela
Secretaria da Educao do estado. Em
seguida, foi aprovada pelo Conselho
Estadual de Educao, sob o parecer
n 1.313, no ano de 1996. Porm, esta
proposta vinha sendo construda desde
as primeiras ocupaes do MST na d-
cada de 1980, nos acampamentos da
Encruzilhada Natalino e da Fazenda
*
Este verbete refete sobre a forma escolar itinerante e suas contribuies para a escola e a edu-
cao do campo, na perspectiva da classe trabalhadora. No entanto, temos clareza de no termos
abarcado todos os aspectos e aprendizados que constituram essa escola no decorrer dos quinze
anos de sua existncia. Por isso, nas referncias deste verbete, listamos as principais publicaes
sobre a escola itinerante dos acampamentos do MST, assim como outras obras que questionam o
projeto hegemnico de escola. Tambm indicamos a consulta das pesquisas sobre a temtica.
Dicionrio da Educao do Campo
334
Annoni, nos quais aconteceram as pri-
meiras experincias escolares no MST.
Neste perodo, eram denominadas de
escolas de acampamento, e nelas j
se colocava a necessidade de construir
uma escola que contribusse para a luta
da classe trabalhadora.
As escolas itinerantes so escolas p-
blicas que compem a rede estadual de
ensino e so aprovadas pelos conselhos
estaduais de Educao. Por se movimen-
tarem com a luta, tm de estar vinculadas
legalmente a uma escola base que a res-
ponsvel por sua vida funcional: matrcu-
las, certifcao, verbas, acompanhamen-
to pedaggico etc. Geralmente, a escola
base localiza-se em um assentamento do
MST, referenciando-se no projeto educa-
tivo do Movimento.
Nas itinerantes, de forma geral, os
educadores responsveis pela educao
infantil e pelos anos iniciais do ensino
fundamental so acampados do MST.
E os educadores dos anos finais do
ensino fundamental e do ensino mdio
so professores da rede estadual de en-
sino, selecionados a partir das exign-
cias estabelecidas pela Secretaria Es-
tadual de Educao. Em alguns casos
e momentos, assumiram esta modali-
dade de ensino estudantes voluntrios
das universidades.
A escola itinerante foi aprovada
em seis estados: Rio Grande do Sul
(1996), Paran (2003), Santa Catarina
(2004), Gois (2005), Alagoas (2005)
e Piau (2008). Porm, em Gois, a
experincia foi desenvolvida por dois
anos, e, no Rio Grande do Sul, suas
atividades foram interrompidas pelo
termo de ajustamento de conduta
(TAC) firmado entre a Secretaria de
Estado da Educao e o Ministrio
Pblico do Rio Grande do Sul, no
ano de 2008.
No primeiro semestre de 2011, o
referido termo estava sendo questiona-
do e considerado sem valor legal pelo
governo do estado do Rio Grande do
Sul. Ao mesmo tempo, algumas me-
didas foram tomadas pelo MST, pela
Secretaria da Educao e pelo governo
do estado para a retomada dessas esco-
las nos acampamentos.
Convm registrar que a forma esco-
lar itinerante est organizada de acor-
do com a organicidade do Movimento
e do seu Setor de Educao em cada
estado, e se apresenta com diferenas e
singularidades. Todavia, no limite deste
texto, reportamo-nos especialmente s
experincias do Rio Grande do Sul e do
Paran (devido ao seu maior tempo de
existncia), s pesquisas e ao processo
de sistematizao realizado, forma-
o de educadores, e nossa vinculao
mais direta com as itinerantes localiza-
das nestes estados. Outra questo a des-
tacar que, nas itinerantes no Paran,
est em curso uma experimentao pe-
daggica que retoma o dilogo com a
experincia da escola sovitica, mais
especificamente no perodo de 1917-
1929, a partir das formulaes dos pio-
neiros da educao: Pistrak, Krupskaya,
Shulgin e outros. A pedagogia socialista
um dos pilares da Pedagogia do Mo-
vimento e, desde o incio da formulao
de propostas para as escolas do MST,
essa referncia estudada.
Evidenciamos que a escola itine-
rante tem apresentando maiores possi-
bilidades de contrariar o projeto hege-
mnico de escola funcional ao capital,
buscando promover a formao huma-
na das pessoas nela envolvidas. Isso se
deve ao fato de estarem localizadas em
espaos de luta, em que as contradies
se tornam mais evidentes e, queiramos
ou no, adentram a escola.
335
E
Escola Itinerante
Todavia, ressaltamos que a escola
itinerante, ao mesmo tempo que apre-
senta possibilidades, por estar mais dis-
tante do controle do sistema, tambm
o compe e o reproduz, no perdendo
o peso da instituio escolar e das re-
laes sociais capitalistas. Sendo assim,
essa escola no se emancipa, em sua to-
talidade, sem a superao deste modo
de produo.
Convm tambm apontar que as
itinerantes, por se encontrarem no
acampamento e conviverem com a pro-
visoriedade, enfrentam difculdades de
estrutura fsica e pedaggica em maio-
res propores. Se esta situao estimu-
la a criao de outros espaos escolares
e prticas pedaggicas, tambm limita o
trabalho pedaggico.
A seguir, destacaremos alguns as-
pectos da organizao do trabalho pe-
daggico das escolas itinerantes, den-
tre eles a relao entre escola e vida,
a organicidade da escola, os ciclos de
formao e avaliao, e a formao
de educadores.
Escola itinerante: relao
entre escola e vida
Para iniciar a compreenso da rela-
o entre escola e vida, faz-se necess-
rio refetir sobre o espao em que elas
se entrecruzam: o acampamento. Essa
forma de luta e de presso pela Refor-
ma Agrria constitui-se a partir de
uma ocupao, e uma marca caracte-
rstica do MST.
O acampamento, pelas prprias
necessidades organizativas que ema-
na, tem sido um lugar potencial para a
construo de relaes mais coletivas e
solidrias, bem como de novas relaes
e experincias no trabalho, na poltica,
na educao, e na constituio da esco-
la itinerante.
De forma distinta, a escola capita-
lista, ideologicamente, coloca-se afas-
tada da realidade e das contradies da
vida. Por isso, pensar numa escola que
subverta a lgica dominante pressupe
incorpor-la vida, permitir que nela
adentrem os problemas, as dvidas e
preocupaes a ela ligadas. O desafo
da classe trabalhadora conseguir re-
lacionar essas questes mais imediatas
com a totalidade das relaes sociais,
cindidas por interesses distintos de
classes, o que pressupe ultrapassar a
compreenso de vida numa dimenso
imediata e utilitria.
Sendo assim, consideramos a con-
dio da escola itinerante em luta pri-
vilegiada para articular escola e vida.
Porm, isso no significa dizer que
naturalmente ela faa essa relao,
pois requer condies concretas para
tal, dentre as quais a de que os sujei-
tos envolvidos tenham clareza poltica
acerca do projeto histrico em que o
Movimento se referencia e da contri-
buio da educao e da escola para
este projeto.
Consideramos que a apropriao
do conceito de atualidade importan-
te para compreender como a realidade
pode ser apreendida pela escola. Porm,
formar para a atualidade no signifca
negligenciar contedos clssicos e his-
tricos, uma vez que eles compem o
processo da realidade atual.
Ento, o que signifca formar para a
atualidade? Freitas (2003) afrma que a
formao para a atualidade diz respei-
to a tudo o que em nossa sociedade
capaz de crescer e se desenvolver; em
nosso caso, tem a ver com o capitalis-
mo e as suas contradies.
Dicionrio da Educao do Campo
336
Porm, a formao para a atuali-
dade no um processo simples; nas
escolas itinerantes, pressupe dominar
as relaes naturais e sociais do acam-
pamento e para alm dele, com vistas a
apreender a realidade e as suas contra-
dies. Para tal, necessrio dominar
os conhecimentos cientfcos constru-
dos ao longo da histria.
Evidenciamos, por vezes, nas es-
colas itinerantes, uma polarizao: ou
se prioriza trabalhar com temas da
realidade imediata secundarizando
o papel do conhecimento cientfco e
permanecendo no senso comum , ou
se prioriza o contedo de forma des-
contextualizada e fragmentada, sem
estabelecer relaes com a realidade.
No entanto, h tambm exemplos sig-
nifcativos que superam esta polariza-
o, no que se refere ao trabalho com
a atualidade. Alguns esto descritos em
Camini (2009).
A condio de itinerncia da escola
tambm atualidade, pois signifca tan-
to acompanhar o itinerrio do acam-
pamento, na direo da garantia de a
escola caminhar junto com a luta, de
ir aonde o povo est, quanto realizar
o ensino para alm da sala de aula. Ou
seja, pode-se aprender em uma marcha,
numa ocupao de pedgio ou prdio
pblico, numa pesquisa no acampa-
mento, na visita a um local do entorno,
se forem aes planejadas intencio-
nalmente. A itinerncia potencializa e
fora a escola itinerante a trabalhar
com a atualidade.
Organicidade da escola
Organicidade um termo presente
no MST e signifca o movimento or-
gnico presente em suas estruturas
organizativas e as relaes entre elas.
Na escola, a organicidade refere-se s
vrias formas de organizao viven-
ciadas pelos educadores e educandos,
bem como relao da escola com a
comunidade acampada e as instncias
do Movimento.
Nas escolas itinerantes, exercita-se
a organizao e aprende-se a desenvol-
ver a coletividade, sendo que os dife-
rentes sujeitos envolvidos participam
de sua gesto, desde suas especifci-
dades, estabelecendo relaes menos
verticalizadas no interior da escola.
Os educadores constituem-se em
coletivos para planejar, estudar e pen-
sar estrategicamente a escola. Os
educandos so estimulados a partici-
par, nas aulas eles tm espao para
colocar suas opinies, problematizar;
alm disso, organizam-se em grupos
de trabalho, de estudo, muitas vezes
denominados ncleos de base (NBs),
com referncia estrutura organizati-
va presente no acampamento. Tambm
participam dos processos de avaliao
do conjunto da escola, do seu prprio
desempenho e dos educadores.
Os tempos educativos, como tem-
po aula, tempo formatura, tempo auto-
organizao, tempo trabalho, entre
outros, desafam a escola a mover-se,
estimulando formas mais participativas
de gesto. Estes tempos so uma tenta-
tiva de buscar desenvolver a formao
humana em todas as suas dimenses:
cognitiva, poltica, esttica, afetiva etc.
Ciclos de formao
humana e avaliao
Atualmente, as escolas itineran-
tes no Paran se organizam por meio
dos ciclos de formao humana, numa
tentativa de romper com a lgica da
seriao e, consequentemente, de tem-
pos homogneos de desenvolvimento
e aprendizagem. Reconhecer essa he-
337
E
Escola Itinerante
terogeneidade importante, pois ques-
tiona um dos fundamentos da escola
capitalista: de que ela ensina tudo a to-
dos e ao mesmo tempo.
Os ciclos se propem a criar es-
tratgias para que todos aprendam
e se desenvolvam. Nos agrupamentos de
referncia, os educandos so reunidos
considerando sua temporalidade (idade,
prioritariamente) e, tambm, sua apren-
dizagem. A educao bsica se constitui
de 5 ciclos: educao infantil (2 anos);
3 ciclos no ensino fundamental (3 anos
cada); e ensino mdio (3 anos).
Pretende-se, dessa maneira, movi-
mentar a escola, avanando da forma
esttica seriao , e criando outras
a partir das necessidades e potencia-
lidades dos educandos, por exemplo,
os reagrupamentos, nos quais, a partir
de uma necessidade especfca, os edu-
candos so reunidos para alm de seu
agrupamento de referncia.
Desta forma, a escola no respon-
sabiliza individualmente o educando
por no aprender, mas compromete-se,
criando estratgias diversas para supe-
rar tais necessidades. Nesse contexto, a
avaliao escolar no pode ser punitiva
e classifcatria. Na escola itinerante,
busca-se superar as notas, e o registro
da aprendizagem dos alunos reali-
zado por meio de pareceres descritivos
semestrais, que so a sntese da avalia-
o diagnstica e processual efetivada
ao longo do perodo. Os instrumentos
avaliativos utilizados so diversos: ca-
derno de avaliao do educando, pasta
de acompanhamento, conselho de clas-
se participativo, entre outros.
Formao de educadores
A formao de educadores sempre
se fez presente com bastante fora nas
escolas itinerantes, uma vez que muitos
deles se tornam educadores por causa
desta escola. Essa nova forma escolar
tambm pressupe um processo cont-
nuo de formao para que se realize.
Salientamos que, desde o incio
desta escola, o MST entendeu que ela
s se sustentaria mediante o acompa-
nhamento permanente e direto de suas
atividades, por meio do registro, refe-
xo e sistematizao desta experincia
escolar, assim como s se sustentaria
assegurando a formao contnua de
seus educadores.
A vivncia organizativa do acampa-
mento um espao formativo mpar;
alm disso, a escola organiza perma-
nentemente estudos e planejamentos
coletivos entre os educadores. Eles so
realizados com apoio pedaggico do
Setor de Educao do MST, de edu-
cadores/assessores amigos do Movi-
mento. Nessa direo, realizam-se en-
contros e seminrios em que se renem
o conjunto de educadores e educandos e
a comunidade escolar, especialmente
em mbito estadual e local.
Alm disso, os educadores itine-
rantes realizam cursos formais, tais
como: Magistrio, Pedagogia da Terra,
Licenciatura em Educao do Campo,
Geografa, entre outros, em especial os
que ocorrem em parceria entre o MST
e as universidades pblicas brasileiras.
Outra iniciativa importante do Setor
de Educao do MST foi a realizao
de trs seminrios nacionais em 2005,
2006 e 2008, envolvendo educadores
de todos os estados onde o MST tem
o projeto de escola itinerante aprovado.
Esses seminrios foram importantes
oportunidades para os educadores se
encontrarem, dialogarem sobre suas ex-
perincias pedaggicas realizadas na iti-
nerncia, nas diferentes regies do pas,
assim como para se alimentarem da
mstica e da militncia coletivamente.
Dicionrio da Educao do Campo
338
Enfm, a formao dos educadores
itinerantes um processo intenso, que
envolve diferentes sujeitos em diferen-
tes espaos e engloba a formao local
e permanente, a formao em licencia-
turas nas universidades, alm dos espa-
os formativos prprios da luta.
Em sntese, podemos constatar que
a escola itinerante escola pblica,
estadual vem rompendo, embora de
maneira lenta e s vezes descontnua,
com a forma escolar capitalista. To-
davia, no sem tenses, contradies
e limitaes.
Os desafos colocados para esta ex-
perincia so muitos. Um deles ampliar
e assegurar o projeto de escola itineran-
te, na perspectiva da classe trabalhadora,
at que se resolva a questo da Reforma
Agrria no pas. Outro desafo diz res-
peito ao momento em que esta escola
se torna escola de assentamento, pois,
como tal, ela dever ser capaz de carre-
gar consigo as positividades do fazer-se
na itinerncia, buscando romper com
as limitaes impostas pela itinerncia,
especialmente no que tange estrutura
fsica e pedaggica destas escolas.
Para saber mais
BAHNIUK, C. Educao, trabalho e emancipao humana: um estudo sobre as escolas
itinerantes nos acampamentos do MST. 2008. Dissertao (Mestrado em Educa-
o) Centro de Cincias da Educao, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianpolis. 2008.
CAMINI, I. Escola itinerante: na fronteira de uma nova escola. So Paulo: Expresso
Popular, 2009.
ENGUITA, M. A face oculta da escola: educao e trabalho no capitalismo. Porto
Alegre: Artes Mdicas, 1989.
FREITAS, L. C. Ciclos, seriao e avaliao: confronto de lgicas. So Paulo:
Moderna, 2003.
______. Crtica da organizao do trabalho pedaggico e da didtica. 7. ed. Campinas:
Papirus, 2005.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Escola itinerante em
acampamentos do MST. So Paulo: Setor de Educao do MST, 1998. (Fazendo
Escola, 1.)
______. Escola itinerante, uma prtica pedaggica em acampamentos. So Paulo: Setor de
Educao do MST, 2001. (Fazendo Escola, 4.)
______. Escola itinerante do MST: histria, projeto e experincias. Cadernos da
Escola Itinerante MST, v. 8, n. 1, abr. 2008a.
______. Itinerante: a escola dos Sem Terra trajetrias e signifcados. Cadernos da
Escola Itinerante MST, v. 1, n. 2, out. 2008b.
______. Pesquisas sobre a escola itinerante: refetindo o movimento da escola.
Cadernos da Escola Itinerante MST, v. 2, n. 3, abr. 2009b.
339
E
Escola nica do Trabalho
______. Pedagogia que se constri na itinerncia: orientaes aos educadores.
Cadernos da Escola Itinerante MST, v. 2, n. 4, 2009a.
______. A escola da luta pela terra: a escola itinerante do Rio Grande do Sul,
Paran, Santa Catarina, Alagoas e Piau. Cadernos da Escola Itinerante MST, v. 3,
n. 5, 2010.
PISTRAK, M. M. (org.). A escola-comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
E
ESCOLA NICA DO TRABALHO
Luiz Carlos de Freitas
O termo Escola nica do Trabalho
tem sua formulao mais acabada logo nos
primeiros momentos da Revoluo Russa
de outubro de 1917. Seu entendimento
exige que esclareamos alguns conceitos
que esto embutidos na expresso.
Em primeiro lugar, a formulao
reconhece a escola como local de for-
mao da juventude, ainda que no
isolada de outras agncias formativas
existentes na sociedade, em especial as
que tratam da organizao poltica da
juventude. Reconhece a importncia
da escola como um instrumento de luta
na construo de uma nova socieda-
de, na perspectiva de que esta atenda
aos interesses da classe trabalhadora
vale dizer, como instrumento de
sua conscientizao e emancipao.
Neste entendimento, a apropriao
do conhecimento cientfco no ocupa
lugar menor.
Em segundo lugar, defne a escola
como sendo nica, ou seja, h um ni-
co caminho para todos os jovens, para
todos os trabalhadores. Tal afrmao
parte da concepo de que a sociedade
que almejamos uma sociedade de tra-
balhadores iguais, e no dividida entre
exploradores e trabalhadores explora-
dos. Isso no pouco, pois, na socieda-
de capitalista, a escola tem carter dual,
ou seja, dependendo da origem social
do estudante, ela prov um caminho
ascendente para os patamares mais ele-
vados de instruo ou prov o caminho
da terminalidade, sendo o estudante
excludo em algum ponto do sistema
escolar sem possibilidade de acessar
nveis mais elevados de formao.
O termo nico quer fortalecer a
ideia de que no existem duas escolas ou
uma escola com dois caminhos dentro
dela, mas todos transitam por ela segun-
do suas necessidades e possibilidades e
no segundo quanto dinheiro carregam
no bolso. importante assinalar que o
termo nico, aqui, no tem nada a ver
com uma escola de pensamento nico
ou de metodolgica nica.
Em terceiro lugar, fxa que tal esco-
la voltada para o trabalho. Aqui, cabem
dois sentidos um, no entendimento
ontolgico do termo trabalho como
atividade criativa dos seres humanos
(portanto signifcando uma relao da
escola com a vida), e outro como tra-
balho produtivo, ligado diretamente
subsistncia, no qual emerge o sentido
da politecnia.
Dicionrio da Educao do Campo
340
Em 30 de setembro de 1918, o Co-
mit Central do Partido Comunista da
Rssia publica a Deliberao sobre a
Escola nica do Trabalho, a qual d
base para a elaborao de um texto pro-
duzido em 16 de outubro de 1918 pelo
Comissariado Nacional de Educao,
no incio da Revoluo Russa de 1917,
portanto, chamado Princpios bsicos
da Escola nica do Trabalho. Esse
texto orientaria todo o esforo educa-
cional nos anos que se seguiriam. Nele
pode-se ler:
A nova escola deve ser no so-
mente gratuita em todos os n-
veis, no somente acessvel, mas,
o mais rpido possvel, obrigat-
ria, e, para fortalecer-se solida-
mente, ela deve ser, ainda, nica
e de trabalho. O que signifca que
a escola deve ser nica?
1
Isto
signifca que todo o sistema das
escolas regulares, do jardim da
infncia at a universidade, apre-
senta-se como uma escola, como
uma escala contnua. Isto signif-
ca que todas as crianas devem
entrar em uma mesma escola e
comear sua educao igualmen-
te, que todas tm o direito de
caminhar nesta escala at os n-
veis superiores. [...] Entretanto, a
ideia de escola nica no pressu-
pe, necessariamente, que seja de
um nico tipo.
2
O Comissariado
Central, fxando algumas condi-
es, cuja execuo considera-se
absolutamente obrigatria, deixa,
ao mesmo tempo, grande ampli-
tude de iniciativa para a Seo de
Educao Pblica dos Deputa-
dos Soviticos, os quais, por sua
vez, certamente no vo limitar
a criatividade educacional dos
pedagogos soviticos onde ela
siga a linha da luta pela democra-
tizao da escola. (Narkompros,
1974b, p. 138; grifado no original;
nossa traduo)
O texto ainda discute em que mo-
mento possvel estabelecer caminhos
diferenciados para a juventude na es-
cola, aps os 15 anos de idade, mas
sempre segundo seu talento, interesses
e possibilidades, e nunca como uma
destinao de classe.
Sobre a proximidade da escola com
o trabalho, o documento diz:
A exigncia da introduo do
trabalho como fundamento do
ensino baseia-se em dois fun-
damentos complementarmente
diferentes, cujos resultados,
entretanto, facilmente entre-
laam-se. A psicologia cons-
titui o primeiro fundamento,
ensinando-nos que o que ver-
dadeiramente compreendemos
somente compreensvel ativa-
mente. A criana almeja ativida-
de, permanece forada em es-
tado de imobilidade. Assimila
com muitssima facilidade os
conhecimentos quando eles lhe
so transmitidos em forma de
jogo ou trabalho alegre e ativo,
os quais, com organizao com-
petente, unem-se, mas aprendeu
de ouvido e no livro. A criana
orgulha-se com a aquisio de
qualquer habilidade prtica, mas
a ela no dada nenhuma. [...]
Outra origem da tendncia da
escola para o trabalho moder-
na avanada o desejo natural
de os alunos inteirarem-se da-
quilo que mais ser necessrio
341
E
Escola nica do Trabalho
na vida, daquilo que joga papel
dominante nela no presente
momento, com o trabalho no
campo e na indstria em todas
as suas variedades. preciso to-
mar cuidado, entretanto, pois se
no somos de modo algum con-
trrios ao ensino especial tcni-
co para idades mais avanadas,
protestamos energicamente con-
tra qualquer estreitamento es-
pecfco da esfera da educao
para o trabalho nos nveis mais
elementares da escola ni-
ca, isto , pelo menos at os
14 anos. (Narkompros, 1974b,
p. 138; nossa traduo)
Isto signifca que, at os 14 anos,
outras formas de trabalho devem estar
sendo utilizadas no processo educati-
vo, como aponta o texto:
No primeiro nvel, o ensino
baseia-se em processos mais
ou menos de carter artesanal,
em consonncia com as frgeis
foras das crianas e suas natu-
rais inclinaes nesta idade. No
segundo nvel, encontra-se, em
primeiro plano, o trabalho no
campo e na indstria em suas
formas mecnicas modernas.
Porm, o objetivo geral da es-
cola de trabalho no , de modo
algum, o adestramento para este
ou aquele ofcio, mas o ensino
politcnico, dando s crianas,
na prtica, conhecimento dos
mtodos de todas as mais im-
portantes formas de trabalho,
em parte nas ofcinas escolares
ou nas fazendas escolares, em
parte nas fbricas, empresas e
semelhantes. Dessa forma, por
um lado, a criana deve estudar
todas as disciplinas, passeando,
colecionando, desenhando, fo-
tografando, modelando, fazen-
do colagens, observando plantas
e animais, criando e cuidando
deles. Lngua, matemtica, his-
tria, geografa, fsica e qumica,
botnica e zoologia todas as
matrias de ensino no somen-
te admitem mtodos de ensino
criativo e ativo, mas exigem-nos.
Por outro lado, aproximando-se
do ideal, a escola deve ensinar
para o aluno as principais tc-
nicas de trabalho nos seguintes
campos: tarefas de marcenaria
e carpintaria, torneamento, en-
talhes de madeira, moldagem,
forjamento, fundio, acaba-
mento de metais, soldagem
e liga de materiais, trabalhos
de perfurao, trabalhos com
couro, editorao e outros. No
campo, sem dvida, a base ao
redor da qual se agrupa o ensi-
no so os variados trabalhos do
campo. (Narkompros, 1974b,
p. 139; nossa traduo)
O mesmo texto tenta antecipar uma
viso preliminar do que deveramos
entender por uma escola na qual o tra-
balho tivesse adquirido centralidade:
Lancemos um olhar sobre como
na escola onde o trabalho tenha
ocupado papel predominante,
ser encaminhado o ensino no
tocante assimilao do co-
nhecimento. Os limites entre as
matrias especfcas de ensino
desaparecem, naturalmente, por
completo na escola elementar,
que constitui os ltimos anos
do jardim da infncia. Nela,
Dicionrio da Educao do Campo
342
quase todos os estudos redu-
zem-se a uma nica grande dis-
ciplina, ainda no diferenciada:
o conhecimento, pelo trabalho,
do meio ambiente natural e so-
cial que cerca a criana. Jogos,
excurses, palestras fornecem
material para o pensamento co-
letivo e individual na atividade
da criana. Comeando com
a criana mesma e seu meio
ambiente, tudo serve de obje-
to para perguntas e respostas,
contos, composies, desenhos,
imitaes. O professor sistema-
tiza, sem difculdade, a curiosi-
dade da criana e seu desejo de
movimento e direciona-os de
modo a obter resultados mais
valiosos. Tudo isso tambm
matria bsica de ensino, como
uma enciclopdia infantil. Os
nveis mais altos de ensino,
evidentemente, no se limitam
a isso. O trabalho sistemtico
para a assimilao de uma srie
de conhecimentos determina-
dos ocupa lugar principal. Con-
tudo, este ensino de disciplinas
isoladas no pode jamais subs-
tituir esta enciclopdia, conti-
nuando aqui tambm a jogar um
grande papel, mas adquirindo
um carter um pouco diferente.
A saber, adquire agora carter
de pesquisa da cultura huma-
na em ligao com a natureza.
(Narkompros, 1974b, p. 139;
nossa traduo)
Uma escola com estas caractersti-
cas ainda precisa ser construda e, em
nosso tempo, marcado por relaes so-
ciais capitalistas, a difculdade maior.
No raro que se tente apropriar des-
tas ideias segundo a lgica de nossas
relaes sociais atuais. Por outra parte,
no possvel uma transferncia direta
deste conceito de Escola nica do Tra-
balho para a realidade das nossas esco-
las regulares. Sua construo se dar na
prtica do magistrio, em espaos em
que a criatividade possa ser exercitada,
guiada por um projeto social alterna-
tivo. Entretanto, os avanos da peda-
gogia russa nesta rea so um legado
fundamental para que possamos cami-
nhar mais rapidamente em direo a
uma pedagogia socialista, a qual um
esforo coletivo da classe trabalhado-
ra mundial.
Esta escola est sendo gestada
no interior dos movimentos sociais,
em especial no Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST).
Seja nas escolas itinerantes, seja nas
escolas dos assentamentos mais orga-
nizados, os germens da nova escola
esto plantados. Uma intensa expe-
rimentao no dogmtica est em
curso na prtica dos educadores do
campo, baseada na necessidade de li-
gar a escola com o trabalho, ou seja,
com a vida e com o trabalho produti-
vo; na necessidade de garantir o aces-
so ao conhecimento historicamente
acumulado pela humanidade e farta-
mente negado classe trabalhadora
ao longo do desenvolvimento do ca-
pitalismo; na necessidade de que
a classe trabalhadora se constitua
como classe organizada e com ca-
pacidade para se auto-organizar e
cumprir suas tarefas histricas; e na
necessidade de um grande domnio
de seu tempo atual, suas culturas, suas
histrias e das contradies sociais nas
quais se v inevitavelmente envolvida.
343
E
Escola Unitria
Notas
1
Em russo, edinoy.
2
Em russo, odnotipnost.
Para saber mais
CAMINI, I. Escola itinerante: na fronteira de uma nova escola. So Paulo: Expresso
Popular, 2009.
FREITAS, L. C. A Escola nica do Trabalho: explorando caminhos de sua cons-
truo. In: CALDART, R. S. (org.). Caminhos para transformao da escola. So Paulo:
Expresso Popular, 2010.
NARKOMPROS [Comissariado Nacional de Educao]. Deliberao da Escola
nica do Trabalho. In: ABAKUMOV, A. A. et al. (org.). Instruo pblica na URSS:
educao geral. Documentos: 1917-1973. Moscou: Pedagogika, 1974a. (Original
em russo.)
______. Princpios bsicos da escola nica do trabalho. In: ABAKUMOV, A. A.
et al. (org.). Instruo pblica na URSS: educao geral. Documentos: 1917-1973.
Moscou: Pedagogika, 1974b. (Original em russo.)
PISTRAK, M. M. Fundamentos da escola do trabalho. So Paulo: Expresso
Popular, 2000.
______. Escola comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
E
ESCOLA UNITRIA
Marise Ramos
A proposta da escola unitria ela-
borada por Antonio Gramsci na Itlia
dos anos de 1930, ao se opor reforma
da educao realizada por Gentile,
1
tem
como fundamento a superao da divi-
so entre trabalho manual e intelectual
estabelecida pela diviso da sociedade
em classes. A separao entre conhe-
cimentos de cultura geral e de cultura
tcnica tambm seria eliminada na es-
cola unitria. A gnese dessa formula-
o, porm, est no confronto entre
ideias sobre o papel da escola, que,
historicamente, foi tensionada, de um
lado, pela concepo humanista, de
clara inspirao iluminista, e, de outro,
pela economicista. No primeiro polo
est a prpria gnese da pedagogia
moderna, com Comenius, Rosseau e
Pestalozzi; no segundo, o pensamen-
to dos economistas clssicos e dos
socialistas utpicos.
Os humanistas enfatizavam a orga-
nizao do espao escolar e os mtodos
Dicionrio da Educao do Campo
344
que proporcionam o desenvolvimento
livre e espontneo da criana. A infn-
cia era entendida na sua especifcidade,
enquanto o trabalho, o jogo e a ativida-
de em geral constituam-se como ele-
mentos didticos, ldicos e formativos
que convergiriam para o desenvolvi-
mento livre e harmonioso da criana.
Os economistas clssicos, por sua
vez, consideravam que a fragmentao
e a simplifcao dos procedimentos de
trabalho levariam a tal embrutecimento
do trabalhador que este deveria ser do-
cilizado e disciplinado desde a infncia.
Esse preceito levou Adam Smith, ainda
no sculo XVIII, a recomendar o en-
sino popular pelo Estado, embora em
doses prudentemente homeopticas
(Marx, 1988).
J os socialistas utpicos, como
Saint-Simon, Fourier e Owen, busca-
ram no trabalho industrial e na combi-
nao com a instruo as bases para a
construo de suas pedagogias.
Vemos, ento, que o trabalho entra
na educao por dois caminhos, que
ora se ignoram, ora se entrelaam, ora
se chocam: o primeiro a moderna
descoberta da criana; o segundo,
o desenvolvimento objetivo das capa-
cidades produtivas sociais, provocado
pela Revoluo Industrial. O primeiro
caminho exalta o tema da espontanei-
dade da criana, da necessidade de ade-
rir evoluo de sua psique, solicitando
a educao sensrio-motora e intelec-
tual por meio das formas adequadas,
do jogo, da livre atividade, do desen-
volvimento afetivo, da socializao. O
segundo, por sua vez, muito duro e
exigente: precisa de homens capazes
de produzir de acordo com as mqui-
nas, precisa colocar algo de novo no
velho aprendizado artesanal, precisa de
especializaes modernas.
Portanto, a i nstr uo tcni co-
profssional promovida pelas inds-
trias ou pelo Estado e a educao ativa
das escolas novas, de um lado, do-se
as costas; mas, do outro lado, ambas
se baseiam num mesmo elemento for-
mativo, o trabalho, e visam ao mesmo
objetivo, qual seja, o homem capaz
de produzir ativamente (Manacorda,
2006, p. 305).
Desse modo, podemos afrmar
que a partir da Revoluo Industrial
que a educao torna mais explcitos
os seus vnculos com a produo da
vida material, e quando passa a encarar
o trabalho ou a formao para a vida
produtiva como elemento indissocivel
e princpio que ordena o sistema de en-
sino, o currculo e as prticas pedag-
gicas, reproduzindo as relaes sociais
de produo e conformando os sujei-
tos ordem da sociedade capitalista. A
escola, que antes educava para o fruir e
se centrava num saber desinteressado,
passa a educar para o produzir, assim
como a cincia, antes centrada na busca
desinteressada da verdade, assume-se
cada vez mais como cincia aplicada e
a servio do capital.
Estreitam-se, assim, os laos que
unem a escola fabrica, dos quais a cin-
cia participa como elemento integrador,
ainda que subordinada e comprometida
com a ordem capitalista. Aprofunda-
se, em contrapartida, outra separao,
aquela entre o campo e a cidade, posto
que o modelo de produo hegemnico
passa a ser o urbano-industrial. No texto
Americanismo e fordismo, Gramsci
(1991a) reconhecer o industrialismo
como uma nova cultura e reconhecer
o ensino tcnico-profssional como um
meio de promover a adaptao psicofsica
do trabalhador nova estrutura social de-
terminada pela racionalizao industrial.
345
E
Escola Unitria
Num sentido distinto tanto dos
iluministas quanto dos economistas
clssicos e dos utpicos, ainda que
sob alguma infuncia destes ltimos,
desenvolve-se o pensamento pedag-
gico de Marx e de Engels, postulando
o trabalho como elemento formativo
na perspectiva do desenvolvimento in-
tegral do indivduo. No entanto, ape-
nas propor a associao entre ensino
e trabalho como estratgia educativa
no seria sufciente para compreender
o real sentido que tem, para Marx, o
trabalho como princpio educativo.
A pedagogia do trabalho foi desen-
volvida por Marx de modo original,
a partir de uma anlise das condies
histricas concretas, e apreende o mo-
vimento dialtico que caracteriza a pro-
duo capitalista. Conforme nos indica
mais uma vez Manacorda (2006), nos
vrios representantes das pedagogias
modernas no marxistas, a Revoluo
Industrial pode ser objeto de lamenta-
o, aceitao a-histrica, ou contrapo-
sio utpica; porm, em Marx, ela
expresso consciente da historicidade
das relaes sociais.
Marx criticou o ensino industrial
defendido pelos burgueses, destina-
do ao treinamento dos operrios. No
Manifesto do Partido Comunista (Marx,
1996), fgura, como programa da revo-
luo, o ensino pblico e gratuito a to-
das as crianas, a abolio do trabalho
das crianas nas fbricas em sua forma
atual, e a unifcao do ensino com a
produo material.
Mais tarde, os termos educao poli-
tcnica e educao tecnolgica
2
sero utiliza-
dos por ele, explicitando sua defesa por
um ensino que no seja apenas poliva-
lente, mas que permita a compreenso
dos fundamentos tcnico-cientfcos dos
processos de produo. A formulao
dessas propostas tem como motivao a
adoo de medidas ps-revolucionrias
que confuam para a passagem a uma
sociedade sem classes, na qual todos
trabalhem e o desenvolvimento omni-
lateral (ver EDUCAO OMNILATERAL)
das capacidades seja premissa e resultado
do fm da diviso do trabalho fundada
na propriedade privada.
Sabia-se que a viabilidade de um de-
senvolvimento omnilateral posta pela
indstria s seria plenamente realizvel
numa sociedade livre da propriedade
privada. Desse modo, o princpio da
unio entre ensino e trabalho estava
colocado como parte de um progra-
ma poltico de transio de uma so-
ciedade capitalista para uma sociedade
ps-capitalista.
No sculo XX, particularmente
nos anos 1930, Antonio Gramsci atua-
lizou o programa marxiano de educa-
o, especialmente ao se contrapor
Reforma Gentile, realizada na Itlia
fascista, e a qualquer separao no in-
terior do sistema educativo, seja entre
as escolas elementar, mdia e superior,
seja entre elas e a escola profssional.
Tais crticas so a fonte de sua pro-
posta de escola unitria, que Gramsci
(1991b) assim defnia: escola nica ini-
cial de cultura geral, humanista, for-
mativa, que equilibre equanimemente
o desenvolvimento da capacidade de
trabalhar manualmente (tecnicamente,
industrialmente) e o desenvolvimento
das capacidades de trabalho intelectual.
Segundo ele, deste tipo de escola ni-
ca, por meio de repetidas experincias
de orientao profssional, passar-se-ia
a uma das escolas especializadas ou ao
trabalho produtivo.
A escola unitria tem um princ-
pio que a organizaria, o trabalho, pos-
to que a ordem social e estatal (direitos
Dicionrio da Educao do Campo
346
e deveres) introduzida e identifcada
na ordem natural pelo trabalho. Para
Gramsci, o conceito de equilbrio en-
tre ordem social e ordem natural sobre
o fundamento do trabalho por ele de-
fnido como a atividade terico-prtica
do homem cria os primeiros elemen-
tos de uma intuio do mundo liberta
de toda magia ou bruxaria. Por isso, o
trabalho fornece o ponto de partida
para o posterior desenvolvimento de
uma concepo histrico-dialtica do
mundo, para a compreenso do movi-
mento e do devenir, para a valorizao
da soma de esforos e de sacrifcios
que o presente custou ao passado e que
o futuro custa ao presente, para a con-
cepo da atualidade como sntese do
passado, de todas as geraes passadas,
que se projeta no futuro (Gramsci,
1991b, p. 130).
Na singularidade das palavras de
Gramsci, encontramos o significado
do trabalho como princpio educativo:
o trabalho como uma categoria que,
por ser ontolgica, nos permite com-
preender a produo material, cientf-
ca e cultural do homem como resposta
s suas necessidades, num processo his-
trico-social contraditrio. Esse pro-
cesso elide qualquer determinao
sobre-humana dos fatos, mas coloca
no real as razes, o sentido e a dire-
o da histria feita pelos prprios ho-
mens. Esta uma aprendizagem que
se quer desde a infncia, de modo que
as contradies das relaes sociais
sejam captadas a ponto de no se po-
der considerar natural que uns traba-
lhem e outros vivam da explorao do
trabalho alheio.
Ao mesmo tempo, o reconheci-
mento da necessria formao para o
exerccio da vida produtiva se agrega
ao preceito da escola unitria, posto
que esta proporcionaria aos estudantes
experincias de orientao profssio-
nal, possibilitando-lhes a passagem s
escolas especializadas ou ao trabalho
produtivo. Porm, tambm essas esco-
las modifcariam seus propsitos em
contraposio hegemonia capitalis-
ta, medida que visassem formao
no somente de operrios qualifcados,
mas destes prprios como dirigentes
da classe trabalhadora. Diz ele: a ten-
dncia democrtica, intrinsecamente,
no pode consistir apenas em que o
operrio manual se torne qualifcado,
mas em que cada cidado possa se
tornar governante e que a sociedade
o coloque, ainda que abstratamente,
nas condies gerais de poder faz-lo
(Gramsci, 1991b, p. 137).
Vemos, ento, que, em Gramsci, o
trabalho como princpio educativo no
impe escola a fnalidade profssio-
nalizante. Muito pelo contrrio, o pen-
sador italiano prope uma coerncia
tambm unitria no percurso escolar.
o que vemos quando ele afrma que a
carreira escolar um ponto importante
no estudo da organizao prtica da es-
cola unitria, considerando seus vrios
nveis, de acordo com a idade, com o
desenvolvimento intelectual-moral dos
alunos, e com os fns que a escola pre-
tende alcanar.
Para ele, a escola unitria, ou de for-
mao humanista (entendido o termo
humanismo em sentido amplo, e no
apenas em sentido tradicional
3
), ou de
cultura geral, deveria propor-se a tare-
fa de inserir os jovens na atividade so-
cial, depois de t-los levado a certo grau
de maturidade e capacidade, criao
intelectual e prtica e a uma certa au-
tonomia na orientao e na iniciativa.
Por isso, na escola unitria, a ltima
fase deveria ser concebida e organizada
347
E
Escola Unitria
como a fase decisiva, na qual se tende-
ria a criar os valores fundamentais do
humanismo, a autodisciplina intelec-
tual e a autonomia moral necessrias a
uma posterior especializao, seja ela
de carter cientfco (estudos univer-
sitrios), seja de carter imediatamen-
te prtico-produtivo (indstria, buro-
cracia, organizao das trocas etc.)
(Gramsci, 1991b, p. 124).
A escola unitria em Gramsci, por-
tanto, no profssionalizante. Esta
fnalidade conferida educao bsica
na educao brasileira, especialmente
ao ensino mdio, tem razes scio-
histricas especficas que precisam
ser compreendidas.
A primeira dessas razes de carter
econmico. A sociedade brasileira no
construiu condies para que jovens e
adultos da classe trabalhadora possam
traar uma carreira escolar em que a
profssionalizao de nvel mdio ou
superior seja um projeto posterior
educao bsica. O reconhecimento
social e a autonomia possibilitada pela
apreenso de fundamentos cientfco-
tecnolgicos, scio-histricos e cultu-
rais de atividades produtivas tornam-
se importantes instrumentos na luta
contra-hegemnica, especialmente se o
projeto educativo tiver como fnalida-
de a formao de trabalhadores como
dirigentes. E esta possibilidade vem a
ser a segunda razo a tornar pertinente
a possibilidade de profssionalizao na
educao bsica.
A terceira razo refere-se ao carter
dual da educao brasileira e corres-
pondente desvalorizao da cultura do
trabalho pelas elites e pelos segmen-
tos mdios da sociedade, tornando a
escola refratria a essa cultura e suas
prticas. Assim, a no ser por uma efe-
tiva reforma moral e intelectual da so-
ciedade, preceitos ideolgicos no so
sufcientes para promover o ingresso
da cultura do trabalho nas escolas, nem
como contexto pedaggico aprender
no e pelo trabalho e, menos ainda,
como princpio educativo. Assim, uma
poltica consistente de profssionaliza-
o, dadas as outras razes e condicio-
nada concepo de integrao entre
trabalho, cincia e cultura, pode ser a
travessia para a organizao da educa-
o brasileira com base no projeto de
escola unitria, tendo o trabalho como
princpio educativo.
Compreendendo a escola unitria
como uma utopia ainda a ser constru-
da, enquanto a fnalidade profssionali-
zante na educao bsica seja uma ne-
cessidade, deve-se assegurar uma base
unitria para a formao num projeto
educativo que, conquanto reconhea e
valorize o diverso, supere a dualidade
histrica entre formao para o traba-
lho intelectual e para o trabalho manual.
Trabalho, cincia e cultura integram a
base unitria desse projeto e orientam
a seleo e a organizao dos conte-
dos de ensino, a fm de proporcionar
aos educandos a compreenso do pro-
cesso histrico de produo da cincia
e da tecnologia como conhecimentos
desenvolvidos e apropriados social-
mente para a transformao das condi-
es naturais da vida e para a ampliao
das capacidades, das potencialidades e
dos sentidos humanos.
A compreenso da cultura como as
diferentes formas de (re)criao da so-
ciedade possibilita ver o conhecimen-
to marcado pelas necessidades e pelas
disputas sociais de um tempo histrico.
Esse o sentido que Gramsci confe-
re ao historicismo como mtodo que
ajuda a superar o enciclopedismo
quando conceitos histricos so trans-
Dicionrio da Educao do Campo
348
formados em dogmas e o esponta-
nesmo forma acrtica de apropriao
dos fenmenos que no ultrapassa o
senso comum.
Na organizao da educao bsi-
ca na perspectiva da escola unitria, os
objetivos e os mtodos de formao
geral e de formao tcnica integram-
se em um projeto unitrio. Neste, ao
mesmo tempo em que o trabalho se
confgura como princpio educativo for-
mando, com a cincia e a cultura, uma
unidade, que permite compreender
a historicidade do CONHECIMENTO ,
tambm se constitui como contex-
to que justifca a formao especfca
para atividades socialmente produtivas.
Nesse projeto, a formao profssional
um meio pelo qual o conhecimento
cientfco adquire, para o trabalhador, o
sentido de fora produtiva, traduzindo-
se em tcnicas e procedimentos. A
compreenso cientfco-tecnolgica da
produo adquire, ainda, densidade so-
cial, histrica e cultural, medida que
no elide as contradies das relaes
sociais de produo.
Do ponto de vista organizacional,
esse projeto integra em um mesmo cur-
rculo a formao plena do educando
possibilitando construes intelectuais
elevadas , a apropriao de conceitos
necessrios para a interveno cons-
ciente na realidade e a compreenso do
processo histrico de construo do
conhecimento. A perspectiva unitria
da educao coincide, ento, com uma
escola ativa e criadora, organicamente
identifcada com o dinamismo social
da classe trabalhadora.
Esta escola no elide as singularida-
des dos grupos sociais, mas se consti-
tui como um espao/tempo sntese do
diverso, ao unifc-las no processo e na
experincia de constituio da classe
trabalhadora. A unitariedade entendida
como sntese do diverso tambm impe-
de que as especifcidades das culturas
urbano-industrial e campesina sejam re-
conhecidas por oposio entre elas, ou
mesmo por negao de uma delas. Ao
contrrio, o que as torna particulari-
dades de uma totalidade a dinmica
histrica que as produziu e as transfor-
mou. A historicidade no permite sub-
meter culturas prprias a um modelo
educativo nico, mas tambm no ad-
mite que o reconhecimento da diversi-
dade redunde na fragmentao.
Como nos diz Gramsci, essa iden-
tidade orgnica construda a partir de
um princpio educativo que unifque, na
pedagogia, thos, logos e tcnos, tanto no
plano metodolgico quanto no episte-
molgico. O projeto da escola unitria
se materializa, portanto, no processo de
formao humana, no entrelaamento
entre trabalho, cincia e cultura, reve-
lando um movimento permanente de
inovao do mundo material e social.
Notas
1
Entendemos que a ressalva feita por Gramsci em relao a um humanismo no sentido
amplo e no apenas em sentido tradicional implica compreender o humanismo no na
perspectiva essencialista que levaria a uma pedagogia escolstica (lembremos que o ter-
mo tradicional em pedagogia est vinculado ao pensamento de Herbart, para quem a escola
cumpria a funo da transmisso de valores e de formao moral dos estudantes) , mas na
perspectiva histrico-dialtica, no sentido de que a produo da existncia humana uma
obra do prprio ser humano em condies objetivas enfrentadas e transformadas por ele
prprio. Esse universo humano o universo do trabalho, da cincia e da cultura.
349
E
Estado
2
Saviani (2007) recupera os estudos de Manacorda sobre o uso, por Marx, dos termos
educao tecnolgica e politecnia ou educao politcnica. Segundo ele, para alm
da questo terminolgica, importante observar que, do ponto de vista conceitual, o que
est em causa um mesmo contedo, isto , a unio entre formao intelectual e trabalho
produtivo. Um debate sobre o uso desses termos na obra de Marx e na atualidade pode ser
encontrado em Saviani (2007) e Nosella (2007). A leitura do verbete EDUCAO POLITCNICA
neste dicionrio tambm pode ser elucidativa.
3
Entendemos que a ressalva feita por Gramsci em relao a um humanismo no sentido
amplo e no apenas em sentido tradicional implica compreender o humanismo no na
perspectiva essencialista que levaria a uma pedagogia escolstica (lembremos que o termo
tradicional em pedagogia est vinculado ao pensamento de Herbart, para o qual a escola
cumpria a funo da transmisso de valores e de formao moral dos estudantes) , mas na
perspectiva histrico-dialtica, no sentido de que a produo da existncia humana uma
obra do prprio ser humano em condies objetivas enfrentadas e transformadas por ele
prprio. Esse universo humano o universo do trabalho, da cincia e da cultura.
Para saber mais
GRAMSCI, A. Americanismo e fordismo. In: ______. Maquiavel, a poltica e o Estado
moderno. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1991a. p. 375-413.
______. Os intelectuais e a organizao da cultura. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1991b.
MANACORDA, M. A histria da educao: da Antiguidade aos nossos dias. So Paulo:
Cortez, 2006.
MARX, K. O capital. So Paulo: Nova Cultural, 1988. Livro 1, v. 1.
______. Manifesto do Partido Comunista. Petrpolis: Vozes, 1996.
NOSELLA, P. Trabalho e perspectivas de formao dos trabalhadores: para alm
da formao politcnica. Revista Brasileira de Educao, v. 12 n. 34, p. 137-151,
jan./abr. 2007.
SAVIANI, D. Trabalho e educao: fundamentos ontolgicos e histricos. Revista
Brasileira de Educao, v. 12, n. 34, p 152-165, jan.-abr. 2007.
E
ESTADO
Sonia Regina de Mendona
A matriz liberal
Inmeras so as formas de defnir
o Estado, embora no senso comum ele
seja identifcado ora a uma agncia bu-
rocrtica, ora a uma fgura notria liga-
da administrao pblica. Tais identi-
fcaes respondem pela coisifcao
do conceito de Estado, fruto de ope-
raes tericas implcitas que no per-
Dicionrio da Educao do Campo
350
mitem compreender, de fato, no que
ele consiste em sua dinmica mais pro-
funda. O pensamento poltico e social
contemporneo caudatrio desse tipo
de simplifcao, mesmo que suas ra-
zes estejam fncadas nos sculos XVII
e XVIII, quando da elaborao de sua
matriz mais tradicional e difundida: a
liberal (originada de Hobbes, Locke e
Rousseau). Ela tambm denominada,
por alguns especialistas, de matriz jus-
naturalista.
O conceito de Estado na matriz li-
beral parte de dois princpios-chave. O
primeiro, que seu estudo deve decorrer
do direito e o segundo, que esse direito,
fundamento do prprio Estado, per-
tence ao domnio da natureza, assim
como os demais fenmenos sociais.
Contrapondo-se noo de direito di-
vino, em voga quando de suas formu-
laes iniciais, os pensadores da matriz
liberal contrapunham transcendncia
de Deus a centralidade do homem no
universo, tornando-o responsvel por
suas aes e modos de vida. Alm do
embate com a Igreja Catlica, os te-
ricos liberais buscavam transformar as
cincias humanas em algo to rigoroso
e passvel de comprovao quanto as
cincias ditas exatas, tomando a mate-
mtica como seu paradigma. Para tanto,
era preciso estabelecer leis universais
que, tal como na qumica ou na biolo-
gia, garantissem a repetio comprova-
da dos comportamentos humanos, em
qualquer tempo e espao.
Para a matriz liberal, a sociedade era
percebida como um somatrio de in-
divduos cuja natureza se pautava por
condutas egostas e agressivas, geran-
do a noo de estado (modo de estar)
de natureza, no qual os homens vive-
riam em constante barbrie e guerra,
obedecendo apenas a seus instintos e
apetites individuais indomveis. Dessa
forma, estavam fadados ao extermnio,
uma vez que as lutas frequentes entre
individualidades mltiplas e dotadas de
distintos desejos e interesses condu-
ziriam ao fm da espcie. Para conter
essa tendncia, somente um pacto ou
contrato social fundador do prprio
Estado poderia garantir, mediante a
sua externalidade, os direitos naturais
tidos como fundamentais: a vida e a
propriedade. Em teoria, os homens
abririam mo de sua liberdade e suas
prerrogativas individuais em nome de
um governante exterior e acima de-
les que refrearia as consequncias
funestas do estado natural. Essa era
a explicao para o surgimento do cha-
mado estado (ou sociedade) civil, o
verdadeiro Estado poltico, dentro do
qual os indivduos seriam tanto civili-
zados quanto cidados, sob o imprio
do Estado e da lei.
O Estado assumia, assim, um as-
pecto ambivalente. Por um lado, ele
regulava a todos da mesma forma, de
modo neutro e acima dos interesses
particulares que haviam prevalecido at
ento. Dessa forma, tornava-se uma
espcie de Sujeito, pairando acima e
fora da sociedade como um todo. Por
outro, o Estado incorporava um aspec-
to temvel o monoplio da violncia
fsica, necessrio para conter poss-
veis manifestaes que ameaassem o
contrato frmado entre o governante e
cada um de seus governados. Logo, na
matriz liberal, est implcita a identif-
cao entre governante e Estado, base
da simplifcao acima mencionada.
Entretanto, percebem-se, de ime-
diato, alguns problemas nessa matriz
de concepo da origem e do papel
do Estado. Em primeiro lugar, v-se
que a noo de sociedade (ou esta-
do) civil por ela veiculada subentende
a ideia de que a sociabilidade humana
351
E
Estado
somente ocorre no mbito do poltico,
tornando-se Estado e governo na-
turalmente sinnimos. Em segundo
lugar, observa-se a cristalizao de um
conceito de Estado como sujeito, uma
entidade ativa que, dotada de iniciativa
prpria, paira sobre os indivduos e a
sociedade, sem vnculos com os distin-
tos grupos sociais que a integram. Da
as afrmativas ainda presentes em nos-
so dia a dia, tais como o Estado fez
ou o Estado decidiu etc.
Da matriz liberal derivaram vrias
tendncias, resultantes, inclusive, das sig-
nifcativas modifcaes polticas rela-
cionadas proliferao das lutas popu-
lares. O pensamento liberal ramifcou-
se em uma ampla rvore genealgica de
fnais do sculo XIX at os nossos dias,
diante da emergncia da sociedade de
massas, que conduziu a remodelaes
da matriz original. A renovao apre-
sentada pela teoria das elites um desses
exemplos. Inaugurada pelos italianos
Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto entre
fns do sculo XIX e incios do XX, a
teoria das elites oscilava entre defender
o carter aristocrtico dos governos e
manter um perfl aristocrtico mesmo
naqueles ditos democrticos. Ambos
os pensadores partem da premissa de
que em toda sociedade existe, inexo-
ravelmente, uma minoria que, por ser
portadora de atributos especiais, tais
como dons, competncias ou recursos,
detm o poder, dirigindo naturalmen-
te a maioria. A teoria das elites respal-
dou um conjunto de teses antidemo-
crticas e anti-igualitrias, ainda hoje
em voga.
A matriz marxista
No comeo do sculo XIX surgi-
riam as primeiras crticas contunden-
tes a essa concepo do Estado. Seus
adversrios discordavam de seu carter
a-histrico, bem como da ideia de um
contrato social que transferia ao go-
vernante todos os poderes sobre a so-
ciedade. A matriz marxista foi a grande
responsvel pela ruptura com a viso li-
beral. A obra de Marx e Engels situa-se
abertamente na polmica com o libera-
lismo, desde seus fundamentos econ-
micos at suas derivaes histricas e
polticas. Nessa nova matriz terica,
a sociedade no pode ser tomada co-
mo mero somatrio de indivduos,
como o supunham os pensadores li-
berais, fosse para o momento deno-
minado de estado de natureza, fosse
para o do estado [ou sociedade] civil,
derivado do contrato social.
Para a matriz marxista, se h uma
natureza humana biolgica, ela dupli-
cada por uma forma especifcamente
scio-histrica de existncia que inte-
gra as transformaes produzidas pelos
prprios seres sociais sobre a natureza
e o conjunto das relaes nas quais es-
to inseridos. A isso podemos chamar,
de fato, historicidade. Em outras pa-
lavras: para a nova matriz, os homens
contam com uma sociabilidade prpria
que lhes dada, em cada contexto his-
trico, pelo lugar por eles ocupado no
processo de produo e de trabalho.
Alguns, nesse caso, so proprietrios
dos meios de produzir e de fazer tra-
balhar, e outros no. Os no proprie-
trios, por sua vez, exercem distintas
funes no processo produtivo.
Assim, a origem do Estado reside
na emergncia da propriedade privada,
quando um dado grupo social apro-
priou-se daquilo que a todos pertencia,
subordinando os demais e transfor-
mando-os em fora de trabalho. O Es-
tado, nessa perspectiva, deriva da ne-
cessidade dos grupos de proprietrios
privados de assegurar e ocultar por
Dicionrio da Educao do Campo
352
meio de leis e demais medidas coerci-
tivas capazes de manter os despossu-
dos nessa condio, sem se rebelarem
contra ela tal apropriao. Logo, o
que a matriz marxista apresenta uma
viso histrica e classista da sociedade
e dos homens (que sempre pertencem
a uma classe social), negando ter exis-
tido, em qualquer poca histrica, in-
dividualidades soberanas em estado
de natureza ou mesmo algum pacto
ou acordo que tenha originado o Es-
tado. Esse emergiu do conjunto das
relaes sociais para garantir a conti-
nuidade da produo e reproduo de
sua existncia.
Ao mesmo tempo, fca claro que
a sociabilidade humana deixa de se li-
mitar ao mbito do poltico, conforme
os tericos liberais, como se o polti-
co fosse o espao privilegiado para o
exerccio da vontade coletiva conscien-
te. Na nova matriz terica, o poder do
Estado no se explica nele mesmo, dei-
tando razes nas formas de dominao
existentes na vida social (econmicas,
sociais, culturais, polticas etc.), dado
que o Estado nada tem de natural ou
de externo sociedade.
A concepo do Estado como re-
presentante de classes dominantes su-
postamente homogneas desdobrou-se
em vrias correntes no interior do mar-
xismo, muitas delas considerando-o de
forma mecanicista, baseadas na defesa
ortodoxa do determinismo econmico
sobre o poltico, o social e o cultural.
Gestou-se, assim, a denominada vul-
gata marxista, que respaldou uma vi-
so do Estado como Objeto de uma
classe, legitimado quer pela violncia,
quer pelo engodo ideolgico. Trata-
se de uma vertente pouco histrica e
dialtica, apesar de amplamente difun-
dida no meio universitrio.
Outras linhagens marxistas, toda-
via, mantiveram-se ligadas s suas bases
originais e avanaram na construo
terica do Estado sob o capitalismo.
Dentre elas, destacou-se a contribui-
o do pensador e militante italiano
Antonio Gramsci.
Gramsci e o Estado
As grandes transformaes socio-
polticas ocorridas nas trs primeiras
dcadas do sculo XX permitiram
que, nos domnios do prprio marxis-
mo, surgissem outras vertentes sobre
o Estado, notadamente aquela elabo-
rada pelo flsofo Antonio Gramsci.
A grande questo norteadora de suas
refexes residiu, justamente, na def-
nio do carter do Estado ocidental
capitalista contemporneo, e da com-
plexidade de suas determinaes, e no
combate s abordagens economicis-
tas sobre o tema. Nesse sentido, a re-
fexo gramsciana integra e ultrapassa
as dicotomias entre vontade versus im-
posio, sujeito versus sociedade, base
versus superestrutura, por meio de uma
anlise cuja nfase histrica, no sen-
tido tanto da construo das formas
de interveno social das classes e suas
fraes quanto no de sempre remeter
ao processo de expanso do capitalis-
mo, em sua relao com a poltica.
O Estado em Gramsci no sujeito
nem objeto, mas sim uma relao so-
cial, ou melhor, a condensao das re-
laes presentes numa dada sociedade.
Sob tal tica, ele recupera defnies
marxistas clssicas, porm as redefne,
recriando um conceito de Estado que
denomina de Estado ampliado isso
porque esto incorporadas nele tanto a
sociedade civil quanto a sociedade po-
ltica, em permanente inter-relao. A
353
E
Estado
sociedade civil compreende o conjunto
dos agentes sociais, associados nos cha-
mados aparelhos privados de hegemo-
nia, cernes da ao poltica consciente,
e organizados pelos intelectuais org-
nicos de uma classe ou frao, visando
obter determinados objetivos. Em con-
trapartida, a sociedade poltica engloba
o conjunto de aparelhos e agncias
do poder pblico propriamente dito.
Qualquer alterao na correlao de
foras vigente em uma dessas esferas
repercute, forosamente, na outra.
Logo, o conceito de Estado amplia-
do transborda os limites institucionais
do Estado tal como entendido pelo
senso comum (instituies pblicas),
identifcando as formas pelas quais
ele integra a vida cotidiana em seus
mltiplos aspectos. Dialeticamente, o
Estado ampliado resulta das mltiplas
formas de organizao e confito ine-
rentes vida social.
O pensador italiano chegou a essa
reconceituao de modo tambm pe-
culiar. No mbito do marxismo, o ca-
minho clssico apontava para a ideo-
logia como veculo de transmutao
e ocultamento da dominao, transf-
gurando o interesse particular de uma
classe ou frao em interesse geral.
Para Gramsci, o poder estatal, embora
expressasse uma dominao de classe,
no poderia realizar-se somente com
base na coero. Da ser a prpria
organizao das vontades coletivas
na sociedade civil o objeto central de
sua anlise. o conceito de aparelhos
de hegemonia, forma preponderante na
sociedade civil, que permite coligar o
processo mediante o qual se elaboram
as conscincias, atingindo a organiza-
o do poder do Estado (sociedade
poltica). Como se observa, emerge um
conceito de cultura que, longe da eru-
dio dos sbios, integra a ampliao
do Estado.
E cultura, para Gramsci, compe-
se dos projetos e vises de mundo, em
permanente disputa, desenvolvidos por
cada cl asse ou frao, e pautados
por valores, crenas e autopercepes
de indivduos e grupos sobre seu lugar
social. Nesse sentido, o Estado amplia-
do guarda tambm uma dimenso de
consenso, obtido no apenas da ao
das vontades coletivas organizadas nos
aparelhos de hegemonia da sociedade
civil, mas tambm pela atuao do Es-
tado restrito, que tende a generalizar
o projeto da frao de classe hege-
mnica num dado bloco histrico.
Assim, a disputa pela afirmao da
hegemonia de uma frao de classe
organizada em seus aparelhos de he-
gemonia que institui a poltica e o
Estado ampliado, ambos indissoci-
veis da cultura. Para Gramsci, cultura
e poltica so inseparveis.
Entretanto, no mundo capitalista
contemporneo, nem sempre todos
os grupos conseguem organizar-se em
aparelhos de hegemonia para elaborar
sua prpria viso de mundo no mbito
da sociedade civil. Nesses casos, ado-
tam como seus os projetos e valores
elaborados por outras fraes de clas-
se, quase sempre as dominantes. Esse
o princpio de funcionamento da hege-
monia: a viso de mundo (cultura) de
um grupo se impe sobre a dos demais
grupos, sendo por eles partilhada.
Tornando o conceito de cultura,
pois, plenamente histrico ou seja,
repousando-o no solo concreto das
relaes sociais , Gramsci elabora
extensa reflexo sobre o papel dos
intelectuais. Ele aprofunda as premis-
sas marxistas e constri um conceito
de intelectual que, sem apagar a funo
Dicionrio da Educao do Campo
354
cerebral ou erudita, redefnido a
partir da constatao de que todos os
homens so intelectuais, pois mesmo
os trabalhos fsicos mais mecnicos
exigem um mnimo de atividade inte-
lectual criadora.
Na sociedade capitalista ocidental
(onde a sociedade civil mais se comple-
xifcou, em virtude, inclusive, das lu-
tas populares), o intelectual responde
a uma funo social. No por acaso,
o pensador italiano toma os prprios
organizadores do processo produ-
tivo (burgus) como primeiro exem-
plo de difusores de certa concepo de
natureza, de mundo, de vida social e,
sobretudo, de disciplina e obedincia.
Eles cumprem, pois, a funo social
de intelectuais orgnicos, que os liga
ao processo de produo da existncia
(no sentido mais imediato da produ-
o econmica), mas tambm repro-
duo do conjunto das formas de ser
adequadas a essa produo. Trata-se de
intelectuais organizadores da cultura
e da hegemonia das classes dominantes e
suas fraes.
Entretanto, sempre atento s con-
tradies que a realidade do proces-
so produtivo capitalista intensifica,
Gramsci sinaliza a existncia de inte-
lectuais tambm ligados s classes su-
balternas, os organizadores das lutas
contra-hegemnicas. O intelectual, se-
gundo Gramsci um persuasor perma-
nente, favorece a construo da vonta-
de coletiva de um grupo, atuando num
aparelho de hegemonia, por ele tambm
entendido como partido. Por tal razo,
em sua militncia poltica, Gramsci exor-
ta os setores subalternos (o conjunto das
classes dominadas) a multiplicarem seus
prprios aparelhos de hegemonia de
modo a se defenderem e contraporem-
se crescente dominao de classes que,
alimentada dentro e fora do Estado res-
trito, tende a se impor como natureza
da cultura. Como se observa, a prpria
concepo de poltica se encontra, aqui,
igualmente ampliada.
Para saber mais
BOBBIO, N.; BOVERO, M. Sociedade e Estado na flosofa poltica moderna. So Paulo:
Brasiliense, 1987.
______; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionrio de poltica. Braslia: Editora UnB,
1992. V. 2.
FONTANA, J. Historia: anlisis del pasado y proyecto social. Barcelona: Crtica, 1982.
FONTES, V. O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e histria. Rio de Janeiro:
Editora UFRJEscola Politcnica de Sade Joaquim Venncio, 2010.
GRAMSCI, A. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001. V. 1.
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001. V. 2.
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000. V. 3.
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002. V. 5.
GRYNSZPAN, M. Cincia poltica e trajetrias sociais: uma sociologia histrica da teoria
das elites. Rio de Janeiro: Fundao Getlio Vargas, 1999.
355
E
Estrutura Fundiria
MACPHERSON, C. B. A democracia liberal: origens e evoluo. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
MENDONA, S. R. O ruralismo brasileiro. So Paulo: Hucitec, 1997.
______. Estado e sociedade. In: MATTOS, M. B .(org.). Histria: pensar & fazer.
Rio de Janeiro: Laboratrio Dimenses da Histria, 1998. p. 13-32.
THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Editora da
Unicamp, 2001.
E
ESTRUTURA FUNDIRIA
Paulo Alentejano
Em texto datado do fnal do scu-
lo XIX, Elise Reclus sustentava que a
estrutura fundiria de um pas o re-
sultado das lutas entre latifundirios e
camponeses pela posse das terras. As-
sim, onde as lutas camponesas foram
capazes de se impor aos anseios mono-
polistas do latifndio, a estrutura fun-
diria mais democrtica; mas onde o
poder do latifndio prevaleceu sobre
as lutas camponesas, a concentrao
fundiria intensa. Em sntese, o con-
ceito de estrutura fundiria refere-se ao
perfl de distribuio das terras numa
dada sociedade. Assim, quanto mais
desigual a distribuio das terras, mais
concentrada ser a estrutura fundiria,
ao passo que quanto mais igualitria for
a distribuio, mais desconcentrada ela
ser. Em geral, utiliza-se como base de
comparao para medir a concentrao
fundiria o ndice de Gini,
1
mas pre-
ciso considerar tambm a distribuio
por estratos de rea, pois, como o n-
dice de Gini mede desigualdade, pode-
mos ter situaes em que h pouca de-
sigualdade, mas grande concentrao
de terras, em funo da eliminao das
pequenas propriedades pelas grandes.
No Brasil, apesar das inmeras lu-
tas e revoltas camponesas, da resistn-
cia indgena e quilombola, o latifndio
prevaleceu e imps ao pas a condio
de um dos recordistas mundiais em
monopolizao da terra. Iniciada com
o instrumento colonial das sesmarias
que dava aos senhores de terras o direi-
to de explorao econmica das mes-
mas e poder poltico de controle sobre
o territrio e intensifcada pela Lei
de Terras de 1850 que transformou
a terra em mercadoria e assegurou a
continuidade do monoplio privado,
ainda que sob outras bases jurdicas ,
a concentrao fundiria segue sendo
uma marca do campo brasileiro.
O ltimo Censo Agropecurio
(Instituto Brasileiro de Geografa e
Estatstica, 2006) comprovou que o n-
dice de Gini permaneceu praticamente
estagnado nas ltimas duas dcadas,
saindo de 0,857 em 1985, para 0,856
em 1995/1996, e para 0,854 em 2006.
Em alguns estados da federao, en-
tretanto, verifcaram-se signifcativos
aumentos, como em Tocantins (9,1%),
Mato Grosso do Sul (4,1%) e So
Paulo (6,1%). O movimento de
Dicionrio da Educao do Campo
356
concentrao foi puxado pelas gran-
des culturas de exportao, pela ex-
panso do agronegcio e pelo avano
da fronteira agropecuria, em direo
Amaznia, impulsionada pela cria-
o de bovinos e pela soja. No caso de
So Paulo, o crescimento deveu-se
cultura de cana-de-acar (estimulada
pelo maior uso de lcool com os carros
bicombustveis e pelos bons preos
do acar).
Os dados do Censo Agropecurio
de 2006 (Instituto Brasileiro de Geo-
grafa e Estatstica, 2006) apontam a
existncia de 5.175.489 estabelecimen-
tos agropecurios no Brasil ocupando
uma rea total de 329.941.393 hectares,
correspondente a 38,7% do territrio
nacional. Apontam ainda a existncia
de 125.545.870 hectares de terras ind-
genas, 72.099.864 hectares de unidades
de conservao e 30 milhes de hecta-
res de guas internas, rodovias e reas
urbanas. Sobram, assim, praticamente
300 milhes de hectares de terras de-
volutas que tm sido sistematicamente
objeto de grilagem, isto , da apropria-
o ilegal de terras pblicas por parte
de especuladores. Segundo Delgado
(2010), so cerca de 170 milhes de
hectares grilados.
Os dados do censo demonstram
ainda que os pequenos estabelecimen-
tos com menos de 10 hectares con-
tabilizam 2.477.071 (47,9% do total),
mas a rea ocupada pelos mesmos de
apenas 7.798.607 (2,4 % do total), ao
passo que, no polo oposto, os estabe-
lecimentos com mais de 1.000 hectares
so apenas 46.911 (0,9% do total), mas
ocupam 146.553.218 hectares (44,4%
da rea total). O contraste se torna
ainda mais ntido quando observa-
mos que os estabelecimentos com me-
nos de 100 hectares so cerca de 90%
do total, ocupando uma rea de cerca
de 20%, ao passo que os com mais de
100 hectares so menos de 10% do to-
tal e ocupam cerca de 80% da rea. E
este quadro permaneceu praticamente
inalterado nos ltimos 50 anos.
Se considerarmos os dados do Incra
(2003)
2
em vez dos dados do IBGE
(2006), ou seja, se considerarmos os
imveis rurais em vez dos estabeleci-
mentos agropecurios, verifcamos que
o panorama no muito diferente. Os
imveis com menos de 10 hectares so
31,6% do total, mas ocupam apenas
1,8% da rea, e os com mais de 5 mil
hectares representam apenas 0,2% do
total de imveis, mas controlam 13,4%
da rea. Somados os imveis com me-
nos de 100 hectares, eles correspon-
dem a 85,2% do total e possuem me-
nos de 20% da rea, ao passo que os
que possuem mais de 100 hectares re-
presentam menos de 15% dos imveis
e concentram mais de 80% da rea.
Dos 4,375 milhes de imveis, apenas
70 mil (1,6% do total) totalizam 183
milhes de hectares.
Assim, seja qual for a base estats-
tica, a concentrao fundiria aparece
como uma marca inegvel da estru-
tura fundiria brasileira e geradora de
profundas desigualdades. Porm, o pro-
blema ainda mais grave, pois as ca-
tegorias utilizadas pelo IBGE (esta-
belecimentos agropecurios) e pelo
Incra (imveis rurais) no do conta da
complexidade das formas de acesso
terra existentes no Brasil. Ao se centra-
rem nas dimenses econmica (IBGE)
e jurdica (Incra), essas categorizaes
tornam invisveis vrias modalidades
de acesso terra que tm profundo
enraizamento na cultura camponesa,
mas que no so evidenciadas pelas
estatsticas de tais rgos. Por isso, as
357
E
Estrutura Fundiria
formas de apropriao da terra tpi-
cas dos faxinais, dos geraizeiros, dos
fundos de pasto, das quebradeiras de
coco, dos seringueiros, dos ribeirinhos,
dos vazanteiros, e de tantas outras co-
munidades tradicionais no so capta-
das na sua complexidade, nem respei-
tadas na sua diversidade.
Assim, podemos afrmar que as
estatsticas revelam apenas parte das
desigualdades existentes no Brasil
quando se trata do acesso terra e suas
consequncias, o que as torna ainda
mais aterradoras.
Um dos resultados desta profunda
iniquidade na distribuio de terras no
Brasil , segundo Carter (2010), a dis-
crepncia da representao poltica en-
tre camponeses e/ou agricultores fami-
liares (1 deputado para 612 mil famlias
entre 1995 e 2006) e grandes proprie-
trios (1 deputado para 236 famlias),
uma diferena de 2.587 vezes. Como
consequncia direta dessa desigualda-
de, os grandes proprietrios consegui-
ram obter 1.587 vezes mais recursos
pblicos do que os camponeses e agri-
cultores familiares para o fnanciamen-
to da produo agropecuria. Segundo
o IBGE, em 2006, os estabelecimentos
com 1.000 ou mais hectares (0,9% do
total) captaram 43,6% dos recursos, e
os com at 100 hectares (88,5% dos
que obtiveram fnanciamento) capta-
ram 30,42% dos recursos.
Outro efeito da persistncia desta
concentrao fundiria a expulso
de trabalhadores do campo. A impos-
sibilidade de reproduo ampliada das
famlias camponesas, resultante da
concentrao fundiria, produz a ex-
pulso dos trabalhadores do campo, o
que acentuado pela modernizao da
agricultura, que reduz a necessidade
de mo de obra no campo. Os dados
do ltimo censo demonstram que os
pequenos estabelecimentos (menos
de 100 hectares) responderam por
84,36% das pessoas ocupadas em es-
tabelecimentos agropecurios, embora
a soma de suas reas represente apenas
30,31% do total. Em mdia, os peque-
nos estabelecimentos utilizam 12,6 ve-
zes mais trabalhadores por hectare do
que os mdios (100 a 1.000 hectares),
e 45,6 vezes mais do que os grandes
estabelecimentos (com mais de 1.000
hectares). O resultado da manuteno
do monoplio da terra no Brasil a
precariedade da vida nas favelas e pe-
riferias das metrpoles e mesmo das
mdias cidades brasileiras, para onde
foram empurrados os mais de 50 mi-
lhes de brasileiros expulsos do campo
nas ltimas dcadas.
A concentrao fundiria tem im-
pactos ainda sobre a dimenso produ-
tiva, seja porque boa parte das grandes
propriedades pouco ou quase nada pro-
duz (so 120 milhes de hectares que
os prprios proprietrios declaram
ao Incra serem improdutivos dentro
dos latifndios), seja porque, quando
produzem, concentram-se na produ-
o de poucos produtos, destinados
exportao ou a fins industriais. Com
isso, nas duas ltimas dcadas, a rea
plantada com gneros alimentares b-
sicos, como arroz, feijo e mandioca,
reduziu-se em mais de 2,5 milhes de
hectares, ao passo que a rea plantada
com soja, milho e cana-de-acar au-
mentou 16 milhes de hectares. Alm
destas lavouras, as grandes proprieda-
des destinam a maior parte de suas ter-
ras pecuria extensiva e plantao
industrial de rvores, sobretudo o eu-
calipto. Desta forma, a estrutura fun-
diria concentrada se converte tambm
num fator de insegurana alimentar.
Dicionrio da Educao do Campo
358
Outro efeito da concentrao fundi-
ria facilitar a transferncia do patri-
mnio natural brasileiro para o controle
estrangeiro, afnal, quando se trata o
agro como mero negcio (agronegcio),
a terra de fato apenas uma mercadoria
que pode ser transacionada sem maiores
preocupaes, diferentemente de quan-
do o agro lugar de vida (agricultura) e
a terra, portanto, no mera mercado-
ria, mas condio para a existncia.
Diante disso, verifca-se hoje no
Brasil uma intensa transferncia de ter-
ras para as mos de fazendeiros, fundos
de investimentos e empresas estrangei-
ras. Este no um fenmeno que est
acontecendo nica e exclusivamente
no Brasil; pelo contrrio, faz parte de
um movimento de escala global capita-
neado por corporaes agroindustriais
interessadas em ampliar seus negcios,
por especuladores e fundos de investi-
mento interessados na valorizao das
terras como ativos fnanceiros, e mes-
mo por governos de pases com limita-
es naturais para o desenvolvimento
da agricultura, que tm procurado ad-
quirir terras no exterior para assegurar
o fortalecimento seguro de alimentos.
Segundo dados do Banco Mundial cita-
dos por Sauer e Leite (2010), entre ou-
tubro de 2008 e agosto de 2009 foram
comercializados 45 milhes de hecta-
res no mundo, sendo 33,75 milhes na
frica (75% do total) e 3,6 milhes no
Brasil e na Argentina (8% do total). O
problema torna-se maior quando verif-
camos a fragilidade dos mecanismos de
controle do Estado sobre o territrio
brasileiro, pois o prprio Incra, rgo
responsvel pela administrao fundi-
ria no Brasil, admite que o governo no
tem dados precisos sobre investidores
e pessoas fsicas que j detm terras no
pas e que h inmeras brechas legais
que facilitam o acesso de estrangeiros
propriedade da terra no Brasil. De
todo modo, h indicaes desta cres-
cente aquisio de terras, pois o apor-
te de recursos estrangeiros destinado
compra de terras, que era da ordem
de 104 milhes dlares em 2002, subiu
para 548 milhes de dlares em 2008,
um aumento de 427% em seis anos. O
Incra estima em 4,5 milhes de hecta-
res a rea sob controle de estrangeiros,
mas no sabe a que se destinam, pro-
duo ou especulao.
A concentrao fundiria explica
tambm duas outras mazelas funda-
mentais do campo brasileiro: a violn-
cia e a devastao ambiental. Como
atestam os dados publicados anual-
mente pela Comisso Pastoral da Terra
(CPT), a violncia segue sendo parte do
cotidiano do campo brasileiro, onde,
nos ltimos 25 anos, houve uma m-
dia anual de: 63 pessoas assassinadas;
2.709 famlias expulsas de suas terras;
13.815 famlias despejadas por meio de
aes exaradas pelo Poder Judicirio de
alguma unidade da federao e cumpri-
das pelo Poder Executivo por meio de
suas polcias; 422 pessoas presas por
lutar pela terra; 765 confitos direta-
mente relacionados luta pela terra; e
92.290 famlias envolvidas diretamente
em confitos por terra (Porto-Gonal-
ves e Alentejano, 2010).
No que se refere devastao am-
biental, notrio que as grandes mono-
culturas e a criao extensiva de gado,
atividades tradicionais do latifndio,
foram as atividades que historicamente
provocaram a destruio das forestas
e demais formaes vegetais brasilei-
ras, como relata Warren Dean (1998).
Hoje, alm de continuar a produzir a
devastao ambiental, os grandes lati-
fndios monocultores so tambm os
principais responsveis pela transfor-
mao do Brasil no maior consumidor
359
E
Estrutura Fundiria
mundial de agrotxicos, pois so as
culturas da soja, da cana-de-acar, do
milho e do algodo as que mais utili-
zam agroqumicos e, com isto, contri-
buem para a contaminao do ar, das
guas, do solo, dos alimentos e dos tra-
balhadores rurais brasileiros.
Por tudo isso, os movimentos so-
ciais que lutam pela Reforma Agrria
no Brasil tm defendido o estabele-
cimento de um limite de 35 mdulos
fscais
3
para as propriedades fundirias
no Brasil. Caso este limite venha a ser
estabelecido, apenas 50.118 imveis
(2% do total), que somam 203.643.369
hectares, seriam atingidos, atendendo
amplamente s necessidades de terra
dos 4 milhes de sem-terra espalhados
por este pas afora. Isto possibilitaria
resolver no s a situao das milha-
res de famlias que permanecem acam-
padas em beiras de estrada ou dentro
de latifndios ocupados reivindicando
um pedao de terra, mas tambm dos
milhares que, embora no estejam dire-
tamente mobilizados na luta, continu-
am almejando uma terra para garantir
seu sustento.
Por tudo isso, a Reforma Agr-
ria continua sendo uma luta funda-
mental por uma sociedade mais justa
e democrtica.
Notas
1
O ndice de Gini serve para medir desigualdades (de terra, de renda, de riqueza, de acesso
a bens etc.) e varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais igualitria a distribuio, mais prximo
de 0 fca o ndice, e quanto maior a desigualdade, mais prximo de 1 ele fca.
2
O Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica (IBGE) utiliza a categoria estabeleci-
mentos agropecurios, que considera a unidade produtiva, enquanto o Instituto Nacional
de Colonizao e Reforma Agrria (Incra) utiliza a categoria imvel rural, que tem como
base a propriedade da terra. Assim, por exemplo, se uma fazenda arrendada para quatro
diferentes agricultores, o Incra contabiliza um imvel rural, e o IBGE, quatro estabeleci-
mentos agropecurios. Por outro lado, se trs diferentes fazendas so administradas como
uma unidade produtiva contnua, o Incra contabiliza trs imveis rurais, e o IBGE, apenas
um estabelecimento agropecurio. Assim, os dados do IBGE e do Incra devem ser consi-
derados como complementares para a anlise da concentrao fundiria.
3
Segundo a legislao brasileira, as pequenas propriedades so as que tm at 4 mdulos
fscais, as mdias so as que tm entre 4 e 15 mdulos, e as grandes, as que tm mais de 15
mdulos. O tamanho dos mdulos varia de acordo com a localizao e as condies natu-
rais, e vai de 5 a 110 hectares.
Para saber mais
CARTER, M. (org.). Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma agrria no
Brasil. So Paulo: Editora da Unesp, 2010.
DEAN, W. A ferro e fogo a histria e a devastao da Mata Atlntica brasileira. So
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
DELGADO, G. C. A questo agrria e o agronegcio no Brasil. In: CARTER, M.
(org.) Combatendo a desigualdade social: o MST e a reforma agrria no Brasil. So
Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 81-102.
Dicionrio da Educao do Campo
360
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo agropecurio
2006. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/brasil_2006/Brasil_
censoagro2006.pdf. Acesso em: 12 set. 2011.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA (INCRA). Estatsticas
cadastrais. Braslia: Incra, 2003
MEDEIROS, L. S. de. Reforma agrria no Brasil: histria e atualidade da luta pela terra.
So Paulo: Perseu Abramo, 2003.
PORTO-GONALVES, C. W.; ALENTEJANO, P. R. R. A violncia do latifndio
moderno-colonial e do agronegcio nos ltimos 25 anos. In: COMISSO PASTORAL
DA TERRA (CPT). Confitos no Campo Brasil 2009. Goinia: CPT, 2010. p. 109-117.
RECLUS, E. A propriedade e a explorao da terra. In: ANDRADE, M. C. DE (org.).
lise Reclus: grandes cientistas sociais. So Paulo: tica, 1985. p. 75-98.
SAUER, S.; LEITE, S. P. A estrangeirizao da propriedade fundiria no Brasil.
Artigos Mensais Oppa, n. 36, p. 1-4, ago. 2010.
361
F
F
FORMAO DE EDUCADORES DO CAMPO
Miguel G. Arroyo
Se a condio docente pensada
como nica e as diretrizes que regu-
lam sua formao tambm so nicas,
s resta aplic-las com as permitidas
adaptaes em tempos, cargas hor-
rias, nos tipos presencial ou em alter-
nncia, em comunidade etc. (Arroyo,
2008). Nessa lgica, os cursos espe-
cficos de formao de professores
do campo e de professores indge-
nas e quilombolas no passariam de
cursos comuns, genricos, com as
devidas e permitidas adaptaes, mais
ou menos elsticas. Ao serem incorpo-
rados como cursos das universidades,
podero ser pressionados a perder seu
carter especfico, sendo reduzidos a
secundrias adaptaes.
Sem a superao desse prottipo ni-
co, genrico de docente, as consequn-
cias persistem: a formao privilegia a
viso urbana, v os povos-escolas do
campo como uma espcie em extino,
e privilegia transportar para as escolas
do campo professores da cidade sem
vnculos com a cultura e os saberes
dos povos do campo. As consequn-
cias mais graves so a instabilidade
desse corpo de professores urbanos
que vo s escolas do campo, e a no
conformao de um corpo de profs-
sionais identifcados e formados para
a garantia do direito educao bsica
dos povos do campo. Assim, um siste-
ma especfco de escolas do campo no
se consolida.
Entretanto, os movimentos, ao de-
fenderem a especifcidade da forma-
A concepo e a poltica de forma-
o de professores do campo vo se
construindo na conformao da edu-
cao do campo.
Os movimentos sociais inauguram
e afrmam um captulo na histria da
formao pedaggica e docente. Na
diversidade de suas lutas por uma edu-
cao do/no campo, que fazem parte
de um outro projeto de campo, prio-
rizam programas, projetos e cursos
especfcos de Pedagogia da Terra, de
formao de professores do campo,
de professores indgenas e quilombo-
las. Como est sendo construda essa
concepo de formao? Quem so os
sujeitos dessa poltica? Como ela con-
tribui na consolidao da educao do
campo? Que contribuies traz para as
polticas e os currculos da formao
docente e pedaggica?
Superar um prottipo
nico de docente-educador
O primeiro signifcado a extrair dessa
histria a superao da formao de um
prottipo nico, genrico de docente-
educador para a educao bsica. Na
histria do ruralismo pedaggico dos
anos 1940, houve tentativas de formar
professores para a especifcidade das es-
colas rurais; porm, venceu a proposta
generalista de que todo professor deve-
r estar capacitado para desenvolver os
mesmos saberes e competncias do en-
sino fundamental, independentemente
da diversidade de coletivos humanos.
Dicionrio da Educao do Campo
362
o, no defendem uma funo gen-
rica nem um currculo nico com as
devidas adaptaes. E nem retornam
proposta do ruralismo pedaggico,
mas superam a viso da escola rural
e do professor rural ao politizarem a
educao do campo em um outro pro-
jeto de campo.
Os movimentos do campo
como sujeitos de polticas
de formao
Os movimentos do campo e o
Programa Nacional de Educao na
Reforma Agrria (Pronera) tentam
quebrar essa viso genrica de docente-
educador e, dessa maneira, superar as
desastrosas consequncias para a afr-
mao da educao do campo. Esses
movimentos se afrmam no como
reivindicadores de mais escolas e de
mais profissionais, mas como sujeitos
coletivos de polticas de formao de
docentes-educadores. Deles e de suas
lutas por terra, territrio, agricultura
camponesa e Reforma Agrria parte a
defesa de cursos de Pedagogia da Terra
e de formao de professores do campo.
Os cursos de Pedagogia da Terra re-
presentam um programa especfco das
lutas dos movimentos sociais pela Re-
forma Agrria. Os cursos de formao
de professores partem das demandas
dos movimentos do campo reunidos
na Conferncia Nacional realizada em
2004, que deu origem, na Secretaria de
Educao Continuada, Alfabetizao,
Diversidade e Incluso do Ministrio
da Educao (Secadi/MEC), ao Pro-
grama de Apoio s Licenciaturas em
Educao do Campo (Procampo).
Os movimentos sociais, ao se afr-
marem como sujeitos de polticas de
formao, trazem suas marcas polti-
cas formao docente e ao perfl de
docente-educador no apenas do cam-
po, mas de toda a educao bsica. Alm
disso, invertem os processos tradicio-
nais de formulao de polticas vindas
de cima para os setores populares vistos
apenas como destinatrios de polticas e
no como autores-sujeitos polticos
de polticas. Essa inverso tem trazido
tenses no apenas nas concepes
de formao, mas tenses polticas de
reconhecimento dos movimentos so-
ciais como autores nas universidades,
no MEC e nos rgos de formulao e
anlise de polticas do Estado.
A poltica de formao de profes-
sores do campo de que os movimen-
tos sociais so autores est sendo um
processo que obriga a repensar e rede-
fnir a relao entre o Estado, as suas
instituies e os movimentos sociais.
Esse processo tem um signifcado de
grande relevncia poltica. Consequen-
temente, os currculos de formao
tm como um dos seus objetivos for-
mar profssionais do campo capazes de
infuir nas defnies e na implantao
de polticas educacionais, ou seja, os
currculos objetivam afrmar esses pro-
fssionais como sujeitos de polticas.
Incorporar nos cursos a
formao acumulada
O fato de os movimentos sociais
serem atores centrais nos cursos de
formao traz consequncias para as
polticas e para os currculos de forma-
o. Seu ponto de partida a radicali-
dade poltica, cultural e educativa, que
vem dos prprios movimentos sociais e
dos seus processos de formao como
militantes-educadores. Levam para os
cursos formais a riqueza de prticas, de
363
F
Formao de Educadores do Campo
concepes de formao aprendidas
na tensa e pedaggica dinmica poltica
do campo de que so sujeitos centrais.
A lgica dominante at nos cursos
de formao de professores crticos,
refexivos e transformadores tem sido
em que currculos formar professores
com essa capacidade crtica, refexiva
para transformar a realidade. Essa tem
sido a lgica legitimante de tantas pro-
postas crticas de formao docente.
Na medida em que os(as) militantes-
educadores(as) dos movimentos que
chegam a esses cursos carregam radica-
lidades polticas, culturais e educativas,
acumuladas nas lutas dos movimen-
tos, eles passam a exigir dos cursos de
formao o reconhecimento desses sa-
beres, valores, concepes de mundo,
de educao, como ponto de partida de
sua formao.
Demanda-se dos currculos que in-
corporem, sistematizem e aprofundem
esses saberes e essa formao acumu-
lada, e que os ponham em dilogo com
seu direito aos saberes e concepes
das teorias pedaggicas e didticas,
de organi zao escol ar, de ensi no-
aprendizagem para a garantia do direi-
to educao dos povos do campo.
Nessas tenses, vai se conformando a
concepo de formao de professores
e professoras do campo.
Essa uma das contribuies da
concepo de formao dos profssio-
nais do campo para a formao de todo
profssional de educao bsica: reco-
nhecer os saberes do trabalho, da terra,
das experincias e das aes coletivas
sociais e legitimar esses saberes como
componentes tericos dos currculos.
Reconhecer e incorporar essa ri-
queza de aprendizados que entram nos
cursos de Pedagogia da Terra, de forma-
o de professores do campo e de pro-
fessores indgenas e quilombolas exige
mudar as identidades dos cursos de for-
mao como meros capacitadores para
o exerccio do magistrio e reconhec-
los como o lugar aberto aos saberes,
valores e prticas educativas que se do
na dinmica social, poltica e cultu-
ral, nos movimentos sociais que che-
gam aos cursos s universidades. A
trajetria de conformao da poltica
de formao de professores do campo
mostra no ser nada fcil fazer essas mu-
danas. Os cursos e seus educandos so
mantidos margem do funcionamento
das faculdades e universidades, repro-
duzindo o trato histrico marginalizado
desses coletivos.
H resistncias em reconhecer os
coletivos sociais, tnicos e raciais do
campo que chegam a esses cursos
como sujeitos de conhecimentos, de
linguagens, de histria intelectual e cul-
tural, de trajetrias polticas de forma-
o. Pouco se tem avanado em seu re-
conhecimento positivo e na abertura a
dilogos. Consequentemente, pouco se
tem avanado no questionamento das
lgicas que inspiram os cursos ofciais
de formao docente. Como avanar
para superar a condio desses cursos,
que esto margem da dinmica dos
cursos ofciais? E, sobretudo, como su-
perar sua caracterizao como conces-
ses benvolas para as minorias mar-
gem do conhecimento, da cincia, da
cultura, da civilizao e da educao?
Trata-se de questes tensas que pro-
vocam a conformao da concepo
de formao de professores do campo,
indgenas e quilombolas. Esses cursos
signifcam reverter as vises e os tra-
tos, os processos histricos brutais de
produo desses coletivos como infe-
riores, margem da histria intelectual,
cultural, social e pedaggica.
Dicionrio da Educao do Campo
364
Poltica afirmativa de
formao
A estratgia dos movimentos so-
ciais do campo avana defendendo
esses cursos como poltica afrmativa.
Na Proposta do Plano Nacional de Forma-
o de Profssionais da Educao do Campo
(Grupo Permanente de Trabalho de
Educao do Campo, 2005), o plano
justifcado como ao afrmativa para
correo da histrica desigualdade so-
frida pelas populaes do campo em
relao ao seu acesso educao bsica
e situao das escolas do campo e de
seus profssionais.
Podemos reconhecer na defesa da
formao especfca de professores
uma poltica afrmativa de formao
ou uma das frentes de formao pol-
tica e identitria de um outro projeto
de campo. Primeiro, porque vai alm de
uma ao corretiva de histricas desi-
gualdades e passa a ser defendida como
proposta dos povos do campo em pro-
cessos de afrmao social, poltica, cul-
tural e pedaggica. Esses povos atuam
como sujeitos polticos de presenas-
reconhecimentos afrmativos (da agri-
cultura camponesa, do trabalho, de um
projeto de campo, da cultura e valores
aprendidos nesse trabalho, na produo
camponesa) contra o histrico oculta-
mento e a segregao nos processos de
dominao-subordinao.
Esse carter afirmativo d dimen-
ses polticas novas s lutas no campo
e s polticas de formao de docentes-
educadores. Essas polticas afirmati-
vas acabam gerando um processo de
repolitizao das polticas e dos pr-
prios cursos de formao docente
que, tradicionalmente, so equacio-
nados com base em currculos de do-
mnios de competncias generalistas
de ensino-aprendizagem. Os cursos de
Pedagogia da Terra, de Formao
de Professores do Campo, Indgenas,
e Quilombolas politizam essas polti-
cas ao vincul-las a lutas polticas afir-
mativas desses povos e outro projeto
de campo.
Por sua vez, a presena de militan-
tes-estudantes do campo, indgenas, e
quilombolas nesses centros de forma-
o tem instigado a repolitizao do
perfl, das pesquisas e dos currculos de
formao do docente-educador da edu-
cao bsica e superior, e dos prprios
centros de pedagogia e de licenciatura
e de seus currculos, suas pesquisas e
sua produo terico-didtica.
Uma forma de repolitizar os cur-
rculos de formao tem sido incor-
porar o conhecimento dessa hist-
ria de produo das desigualdades e
da histria das relaes polticas de
dominao-subordinao da agricul-
tura, dos povos do campo e de seus
trabalhadores lgica do capital. Os
currculos de formao tm incor-
porado o direito ao conhecimento
da histria de resistncias e de aes
coletivas de movimentos sociais pela
sua afirmao.
Se os profssionais docentes-educa-
dores entenderem essa tensa histria,
estaro capacitados a trabalhar esse
entendimento com as crianas e ado-
lescentes, com os jovens e adultos que
trabalham nos campos, nas comunida-
des indgenas, negras e quilombolas,
e at nas escolas pblicas populares
em que chegam os diferentes, feitos e
tratados em nossa histria como desi-
guais. A incorporao dessa riqueza de
conhecimentos ocultados trar maior
densidade e radicalidade terica aos
currculos de formao.
365
F
Formao de Educadores do Campo
Uma formao plural para
funes plurais
Essa riqueza de conhecimentos
incorporados nos currculos de for-
mao dos profssionais do campo vai
construindo uma concepo plural
de formao. Ter os movimentos so-
ciais como sujeitos polticos da cons-
truo dessa concepo de formao,
ter militantes-educadores como estu-
dantes, traz uma concepo ampliada
de formao.
As polticas, assim como as diretri-
zes curriculares dos cursos ofciais de
formao, limitam-se a formar pro-
fessores para o ensino fundamental e
mdio ou para a educao escolar da
infncia e de jovens e adultos. Essa
concepo se limita aos processos es-
colares e com nfase no ensino-apren-
dizagem, secundarizando os processos
educativos, de desenvolvimento ple-
no, social, intelectual, cultural, tico,
identitrio dos educandos. Sobretudo,
ignoram os processos de formao que
acontecem no trabalho, na sobrevivn-
cia, nas resistncias opresso, na di-
versidade de lutas, aes e movimentos
de libertao. Que profssionais formar
para acompanhar esses processos for-
madores escolares e extraescolares
mais plurais?
Os movimentos sociais contribuem
para a conformao de uma concepo
de educao que incorpore essa plura-
lidade de dimenses e funes forma-
doras. Defendem uma relao estreita
entre a funo educativa, diretiva e or-
ganizativa no perfl de educador; do
nfase s didticas no apenas escola-
res, de ensino, mas s estratgias e di-
dticas para a direo e consolidao
da Reforma Agrria e dos movimentos.
A nfase nesses vnculos entre educa-
dores e dirigentes interventores na
realidade do campo, formuladores e
implementadores de polticas mais
amplas com fnalidades gerenciais edu-
cativas e polticas, traz consequncias
para o perfl de educador das escolas
e para a sua formao (Arroyo, 2005).
Essa defesa de uma formao mais
plural encontra justifcativa na funo
poltica esperada da escola do campo.
Ela deve ser espao em que sejam in-
corporados os saberes da terra, do tra-
balho e da agricultura camponesa; em
que as especifcidades de ser-viver a
infncia-adolescncia, a juventude e
a vida adulta no campo sejam incorpo-
radas nos currculos e propostas edu-
cativas; em que os saberes, concepes
de histria, de sociedade, de libertao
aprendidos nos movimentos sociais fa-
am parte do conhecimento escolar...
Que escola, que currculo e que forma-
o dos seus professores daro conta
dessa escola articulada aos processos
produtivos, de trabalho, de lutas do
campo? Afrmando essa escola, esses
currculos e esse perfl de professores
do campo, os movimentos sociais es-
to conformando outra concepo de
formao para todos os profssionais
da educao bsica e para todos os cur-
sos de Pedagogia e de Licenciatura.
Uma concepo totalizante
de formao
A Proposta do Plano Nacional de Forma-
o dos Profssionais da Educao do Campo
defende romper com a qualificao
instrumental e afrmar uma formao
na qual a raiz de tudo o ser huma-
no, seu processo de humanizao, de
emancipao humana.
Dicionrio da Educao do Campo
366
Sendo coerente com relao a essa
linha, a concepo de formao de
professores do campo, indgenas e qui-
lombolas se prope a superar a frag-
mentao do conhecimento. A forma-
o por reas, e no por disciplinas,
uma estratgia para essa superao.
Os movimentos sociais constroem
leituras de mundo, de sociedade, de
ser humano, de campo, de direitos e
de formao mais totalizantes, menos
segmentadas por recortes. As matrizes
em que eles se formam carregam es-
ses processos totalizantes: o trabalho,
a terra, a cultura, as experincias de
opresso-libertao (ver PEDAGOGIA
DO OPRIMIDO).
A concepo de educao-formao
que os movimentos sociais vo cons-
truindo ao fundamentar-se nesses
princpios-matrizes priorizam o direito
formao plena humana, politcnica,
do trabalhador (ver TEMPOS HUMANOS DE
FORMAO). Neste contexto, encontra
seu sentido mais radical na defesa de
formao j no segmentada por re-
as e articulando tempos presenciais e
tempo de comunidade ou de insero
nos processos formativos do trabalho,
da produo camponesa, da agricultura
familiar (escolas famlia-pedagogia da
alternncia), da insero nas lutas dos
movimentos pela terra, pelos territ-
rios, pela libertao. Incorporar essa
histria como objeto de conhecimento
e de pesquisa d outra densidade teri-
ca aos currculos de formao.
H ainda uma motivao para resis-
tir fragmentao em que se estrutu-
ram os currculos de educao bsica
e de formao, quando pensamos a
educao do campo e a formao de
seus profssionais: o campo no se de-
senvolve na lgica fragmentada com
que a racionalidade tcnica recorta
as cidades, na qual cada instituio e
campo profssional capacitado para
dar conta de um recorte do social. No
campo, nas formas produtivas em que
os diversos povos se organizam, tudo
extremamente articulado. Os movi-
mentos sociais agem e se estruturam
nessa dinmica produtiva, social, cul-
tural. As intervenes e lutas desses
movimentos so totais, e conformam
seus i nt egrant es como militantes-
educadores totais que propem cur-
rculos que incorporem essa forma-
o totalizante nos cursos de formao
(Arroyo, 2005).
Poderamos acrescentar que, na agri-
cultura camponesa, familiar e nas co-
munidades agrcolas, desde a infncia-
adolescncia-juventude, vai se dando
a insero total nos processos produ-
tivos e de trabalho, sociais, culturais,
de valores e de identidades , portan-
to, uma formao total. Como formar
seus professores para entenderem e
acompanharem esses processos totais
de socializao, de aprendizagem, de
formao to especfcos das vivncias
da infncia, da adolescncia e da juven-
tude do campo, indgena, quilombola
que se educa nas escolas?
Diversidade de modos
de pensar
A construo da concepo de
formao de professores do campo
acompanhada por uma produo con-
sistente de pesquisas, projetos, anlises
e avaliaes, a ponto de termos um
acmulo terico produzido pelos co-
letivos docentes desses cursos e pelos
militantes em formao. Uma carac-
terstica desses cursos constiturem
coletivos de produtores-pesquisadores
de conhecimentos sobre a prpria pr-
tica de formao tanto nos cursos, nas
pesquisas, no tempo comunidade e na
367
F
Formao de Educadores do Campo
dinmica social, poltica, cultural e pe-
daggica do campo, de seus povos e
dos seus movimentos.
signifcativa a socializao dessa
produo sobre a concepo de for-
mao dos professores do campo. Um
espao foi aberto nos grupos de tra-
balho da Associao Nacional de Ps-
graduao e Pesqui sa em Educao
(Anped) e na programao do XV En-
contro Nacional de Didtica e Prtica
de Ensino (Endipe), em 2010, cujo tema
foi Convergncias e tenses no campo
da formao e do trabalho docente. A
formao de professores do campo es-
teve presente, com oito trabalhos apre-
sentados no encontro. Ainda merecem
destaque as duas edies do Encontro
de Pesquisa em Educao do Campo.
Entretanto, essa densa produo
nem sempre reconhecida e incor-
porada como produo terica sobre
formao e trabalho docente. At os
processos de formao que acontecem
no trabalho, na produo camponesa,
nos movimentos sociais que os mili-
tantes em formao levam aos cursos
nem sempre encontram reconhecimen-
to. Nem suas leituras de mundo, suas
linguagens, suas culturas e seus modos
de pensar e de pensar-se so reconheci-
dos. Ao entrar na academia, na pesqui-
sa, na lgica da produo cientfca, nas
avaliaes, se defrontam com racionali-
dades, valores, linguagens, concepes
fechadas em si mesmas, que inferiori-
zam suas culturas, racionalidades, mo-
dos de pensar e de pensar-se.
Como equacionar e superar vises
inferiorizantes de outras formas de
pensar, de outras culturas e de seus
coletivos quando chegam academia
vtimas de representaes raciais hist-
ricas inferiorizantes? A concepo de
formao que est em construo ten-
ta superar essas vises e avanar para
posturas de reconhecimento e de di-
logo entre modos de pensar.
Para saber mais
ANTUNES-ROCHA, M. I. (org.). Educao do campo: convergncias e tenses no
campo da formao e do trabalho docente. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDTICA
E PRTICA DE ENSINO (ENDIPE), 15. Anais... Belo Horizonte: Autntica, 2010.
ARROYO, M. G. Formao de educadores e educadoras do campo. Braslia, 2005. (Mimeo.).
______. Os coletivos diversos repolitizam a formao. In: DINIZ-PEREIRA, J. E.;
LEO, G. (org.). Quando a diversidade interroga a formao docente. Belo Horizonte:
Autntica, 2008. p. 11-36.
GRUPO PERMANENTE DE TRABALHO DE EDUCAO DO CAMPO (GPT). Proposta do
Plano Nacional de Formao dos Profssionais da Educao do Campo. Braslia: Secadi/
MEC, 2006.
MOLINA, M. C.; S, L. M. Desafos e perspectivas na formao de educadores:
refexes a partir da Licenciatura em Educao do Campo na UnB. In: ENCONTRO
NACIONAL DE DIDTICA E PRTICA DE ENSINO (ENDIPE), 15. Anais... Belo Horizon-
te: Autntica, 2010.
______; ______ (org.). Licenciaturas em Educao do Campo: registros e refexes
a partir das experincias piloto (UFMG; UnB; UFBA e UFS). Belo Horizonte:
Autntica, 2011.
Dicionrio da Educao do Campo
368
F
FUNO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Juvelino Strozake
O conceito de funo social da pro-
priedade est descrito no artigo 186 da
Constituio Federal. Este artigo bas-
tante claro sobre o que signifca cum-
prir a funo social:
[...] a funo social cumpri-
da quando a propriedade rural
atende, simultaneamente, os se-
guintes requisitos: I aproveita-
mento racional e adequado; uti-
lizao adequada dos recursos
naturais disponveis e preser-
vao do meio ambiente; ob-
servncia das disposies que
regulam as relaes de trabalho;
explorao que favorea o bem-
estar dos proprietrios e dos
trabalhadores.
Para registrar esse conceito na Cons-
tituio Federal, foi necessrio travar
uma briga com a bancada do Centro
1
durante os trabalhos da Constituinte, en-
tre 1987 e 1988. Alm do artigo 186 e
de seus quatro incisos, necessrio ver o
artigo 184 para se chegar concluso de
que a Unio poder desapropriar as ter-
ras que no cumprem a funo social.
Os ruralistas insistem em argumen-
tar que as terras produtivas no podem
ser desapropriadas, porque o artigo 185
da Constituio Federal diz que so
insuscetveis de desapropriao as ter-
ras produtivas. Ocorre que, para fazer
uma terra produzir, o proprietrio po-
der desmatar e poluir o meio ambien-
te, reduzir o trabalhador condio
de escravo e, assim, alcanar os ndices de
produtividade e lucro.
Porm, no esse o esprito da Cons-
tituio Federal. A nossa Carta Magna
precisa ser lida e interpretada no seu
conjunto, e no em linhas, destacando
apenas o que interessa aos ruralistas.
Portanto, as terras que podem ser de-
sapropriadas e destinadas ao Plano Na-
cional de Reforma Agrria (PNRA) so
todas aquelas que no cumprem a fun-
o social. Essas tambm so as terras
que podem ser ocupadas para fns de
presso pela agilizao das desapro-
priaes. As terras produtivas, desde que
no cumpram com a funo social, po-
dem e devem ser ocupadas pelos movi-
mentos sociais.
A funo social da propriedade
um tema apaixonante e crucial para o
nosso futuro. Vejamos, agora, um pou-
co de sua histria.
O espao territorial fnito, limita-
do, e a terra como meio de produo
de alimentos, bens para o consumo,
produtos, ou reserva de mercado, mo-
radia, sempre foi fonte de controvrsia
e guerras.
A cultura popular dedicou grandes
momentos e festejos me Terra. Al-
guns povos comemoram o momento
do plantio, outros organizam festas na
colheita. Todos os povos, desde a tra-
dio indgena, passando pelas tribos
na frica, sociedades europeias, ame-
ricanas e asiticas, organizaram-se na
medida e nas possibilidades da produ-
o de alimentos retirados do solo e da
explorao de recursos naturais para a
produo social da vida.
369
F
Funo Social da Propriedade
O aumento populacional, a concen-
trao de pessoas em pequenos es-
paos, a ganncia de grandes grupos
empresariais foi gerando permanente
debate sobre a necessidade de se esta-
belecerem regras para o uso e a ocupa-
o das terras agricultveis.
O debate sobre a responsabilidade
social dos proprietrios de terras, den-
tro da Igreja e da teologia, nasceu com
a constatao de que a terra foi dada
em comum a todos os homens, e, por-
tanto, ningum poderia assenhorar-se
dos bens coletivos.
No fnal do sculo VI, a proprie-
dade privada j tinha conquistado seu
lugar na mente e nos coraes dos ho-
mens. A Igreja, embora no defendesse
a diviso geral dos meios de produo,
insistia na tese da funo social da pro-
priedade. O papa Gregrio Magno afr-
mava que a terra comum a todos
e condenava aqueles que acumulavam,
chegando a dizer que a concentrao
da propriedade causa da morte pela
fome e da pobreza generalizada (ver
Alves, 1995, p. 161-162).
A corrente jurdico-flosfca tem seu
incio com a Revoluo Francesa, e dela
recebe sua principal infuncia: a exalta-
o do indivduo e de sua liberdade.
Segundo os pensadores desse pero-
do, entre eles John Locke, o indivduo
progride pelo trabalho, e a propriedade
uma continuao da liberdade hu-
mana; portanto, sem propriedade no
existe liberdade.
O Cdigo Civil elaborado pela
burguesia aps a Revoluo Francesa,
tambm conhecido como Cdigo Na-
polenico, permitia ao proprietrio o
direito de dispor das coisas da maneira
mais absoluta possvel, evidenciando
a liberdade defendida pelos burgue-
ses logo aps sarem da opresso da
monarquia. Fbio Konder Comparato
(2000) afrma que o Cdigo Napole-
nico gerou o conceito de propriedade
como poder absoluto e exclusivo so-
bre coisa determinada (ibid., p. 133),
objetivando apenas a satisfao das
necessidades do seu titular, necessi-
dades individuais, sem nunca levar em
considerao a situao coletiva.
Orlando Gomes, professor catedr-
tico da Faculdade de Direito da Uni-
versidade da Bahia, considera Leon
Duguit o pai da ideia de que os direi-
tos s se justifcam pela misso social
para a qual devem contribuir (Gomes,
2000, p. 108), pois pensa o proprietrio
como um funcionrio a servio dos
interesses sociais.
A doutrina desenvolvida por Duguit
bateu forte na teoria individualista.
Contrariando as teses burguesas de que
o homem nasce s, isolado, indepen-
dente dos outros, e que sua liberdade e
sua propriedade so direitos subjetivos
e inalienveis, afrmou que os homens
nascem em sociedade, dela dependem
para a sua sobrevivncia e esto adstri-
tos s decises da coletividade.
Abaixo transcrevemos texto de
Duguit, verdadeiro clssico para a com-
preenso da extenso do pensamento
do jurista pai do conceito moderno
de funo social:
A propriedade deixou de ser o
direito subjetivo do indivduo e
tende a se tornar a funo social
do detentor da riqueza mobili-
ria; a propriedade implica para
todo detentor de uma riqueza
a obrigao de empreg-la para o
crescimento da riqueza social e
para a interdependncia social.
S o proprietrio pode executar
uma certa tarefa social. S ele
Dicionrio da Educao do Campo
370
pode aumentar a riqueza geral
utilizando a sua prpria; a pro-
priedade no , de modo algum,
um direito intangvel e sagrado,
mas um direito em contnua
mudana que se deve modelar
sobre as necessidades sociais s
quais deve responder. (Duguit
apud Gomes, 2000, p. 109)
A concepo burguesa individua-
lista da propriedade, entendida como
direito absoluto e exclusivo de seu
proprietrio, no resistiu s transfor-
maes ocorridas na sociedade a partir
de 1900, especialmente aps as duas
guerras mundiais.
Para socorrer o homem empobre-
cido e minorar o sofrimento imposto
pelo crescimento desordenado do capi-
talismo, o Estado liberal foi substitu-
do pelo Estado providncia ou Estado
social, que promove transformaes
necessrias para realizar justia social,
propiciando maior distribuio da ri-
queza produzida.
A primeira Constituio escrita a
considerar a funo social da proprie-
dade foi a do Mxico, elaborada em
1917, aps a revoluo comandada por
Emiliano Zapata; a Constituio mexi-
cana atende aos interesses do campe-
sinato e consagra o carter coletivo da
propriedade da terra.
A Constituio da Alemanha, conhe-
cida como Carta Poltica de Weimar,
publicada em 1919, recebeu forte infun-
cia da teoria de Duguit, constituindo
verdadeiro ponto inicial na consagra-
o da propriedade como funo so-
cial, quer dizer, propriedade como bem
que deve estar a servio da coletivida-
de. o que se infere do artigo 153 do
Cdigo Civil Alemo, que diz A pro-
priedade obriga, e do artigo 155, no
que diz respeito s propriedade rurais:
O possuidor da terra est obrigado,
frente comunidade, a trabalhar a terra
e a explorar o solo.
A Declarao Universal dos Direi-
tos Humanos, publicada logo aps os
horrores da Segunda Guerra Mundial,
reforou para o mundo ocidental a
ideia dos direitos humanos, expressan-
do o direito paz, justia e ao desen-
volvimento econmico e social.
Nas palavras de Flvia Piovesan,
a Declarao consolida a afrmao
de uma tica universal (1997, p. 155) e
planta as bases para a compreenso
dos direitos econmicos, sociais e cul-
turais
2
como direitos universais que de-
vem ser assegurados a todos para que
a pessoa no seja compelida, como l-
timo recurso, rebelio contra a tirania
e a opresso.
3
No caso brasileiro, em que pese
macia presena de latifundirios na
Constituinte de 1932, foi na Constitui-
o de 1934 que, pela primeira vez, a
propriedade no Brasil fcou condicio-
nada ao interesse social e coletivo (ver
art. 113, inciso 17). Os termos de seu
acolhimento foram ampliados e rede-
fnidos na Constituio de 1946, que
instituiu a possibilidade de justa dis-
tribuio da propriedade, com igual
oportunidade para todos (art. 147). J
o princpio da funo social da proprie-
dade foi originalmente incorporado
legislao brasileira na Constituio de
1967, inspirado no Estatuto da Terra
(de 1964). Mas foi somente na Cons-
tituio Cidad de 1988 que a funo
social da propriedade alcanou os con-
tornos distintos que tem hoje.
Antes da Constituio Federal de
1988, o Estatuto da Terra, lei ordin-
ria promulgada logo aps o golpe mi-
litar de abril de 1964, em resposta s
371
F
Funo Social da Propriedade
reivindicaes esposadas pelos lavra-
dores sem-terra organizados nas Ligas
Camponesas, teve o mrito de esmiu-
ar e estabelecer os requisitos e pres-
supostos do conceito da funo social
da propriedade.
Analisando a recente histria da fun-
o social da propriedade nas nossas
cartas magnas, verifcamos uma cres-
cente evoluo no conceito. Nunca,
porm, como agora, a questo assumiu
tamanha relevncia jurdica, posto que
o artigo 5 da Constituio Federal, nos
incisos XXII e XXIII, estabelece, em
passos sucessivos, a garantia do direito
de propriedade e a indispensabilidade de
que ela atenda a sua funo social. Alm
disso, a Constituio de 1988, sobretudo
no artigo 186 e seus incisos, estabeleceu
o contedo de funo social.
A propriedade privada dos meios
de produo, no nosso caso, a terra,
para o Estado um direito individual
oponvel a toda a coletividade, e o
cumprimento da sua funo social ,
ao mesmo tempo, uma obrigao para
o proprietrio
4
(por isso foi contem-
plada na ordem econmica), um direi-
to difuso da sociedade porque a co-
letividade necessita de alimentos, que
seja preservado o meio ambiente e
que sejam respeitadas as leis traba-
lhistas , e um direito coletivo dos
trabalhadores rurais sem-terra (por-
que possuem direito ao e interes-
se no assentamento em projetos de
Reforma Agrria).
O artigo 5, inciso XII da Consti-
tuio de 1988 assegurou a proprieda-
de, bem como o direito vida, liber-
dade, como direito fundamental do ser
humano. O inciso XIII do mesmo arti-
go estabeleceu que a propriedade aten-
der a sua funo social e, portanto, a
propriedade est assegurada desde que
cumpra sua funo social, porque esta
foi elevada categoria de direito fun-
damental. Complementando o regime
jurdico da propriedade, a Constituio
Federal atribuiu um contedo posi-
tivo funo social (Tepedino, 2000,
p. 125), no artigo 186 e incisos, dizen-
do que atender a funo social signifca,
simultaneamente, fazer um aprovei-
tamento racional e adequado, utilizar
adequadamente os recursos naturais
disponveis e preservar o meio ambien-
te, observar as disposies que regulam
as relaes de trabalho e exercer uma
explorao que favorea o bem-estar
dos proprietrios e dos trabalhadores.
A funo social da propriedade,
que fque claro desde logo, conforme
lio de Jos Afonso da Silva, no se
confunde com os sistemas de limitao
da propriedade (Silva, 1996, p. 273).
As limitaes dizem respeito ao exer-
ccio do direito; por sua vez, a funo
social diz respeito estrutura do di-
reito mesmo, propriedade (ibid.).
Isso quer dizer que a funo social
uma obrigao intrnseca ao direito de
propriedade, e no mera barreira ao
exerccio do direito de propriedade.
Outro ponto fundamental deste
tema em que medida e como deve
ser interpretada a posse da terra. Est
mais do que evidente que todo uso da
propriedade deve estar de acordo com
o conceito de funo estabelecido no
artigo 186 e incisos da Constituio
Federal; portanto, propriedade ru-
ral que no cumpra os requisitos da
funo social da propriedade no est
assegurada a proteo possessria pre-
vista na legislao infraconstitucional,
principalmente aquela proteo previs-
ta no Cdigo Civil.
A nica garantia legal reservada
propriedade rural que no cumpre
Dicionrio da Educao do Campo
372
sua funo social a indenizao em caso
de desapropriao, ou seja, no pode o
Poder Judicirio prestar tutela jurisdi-
cional de defesa da posse em relao
a imvel rural que no cumpre sua
funo social, sob pena de estender a
esse tipo de propriedade garantias di-
versas daquela nica prevista na Cons-
tituio Federal: indenizao em caso
de desapropriao.
Diante do texto constitucional e
dos superiores interesses difusos da
coletividade e dos interesses coletivos
dos trabalhadores rurais sem-terra,
possvel afrmar que a posse juridica-
mente protegida aquela que cumpre
com a funo social.
Portanto, quando estamos diante de
uma ocupao de terra promovida pelos
movimentos sociais que buscam pres-
sionar o Poder Pblico, tensionando
pela agilidade da Reforma Agrria, na
ao de reintegrao de posse, para
que se consiga uma liminar, deve ser
demonstrado e provado que aquela
rea de terra cumpre com a funo so-
cial, ou seja, que produz de acordo com
os ndices estabelecidos pelo Instituto
Nacional de Colonizao e Reforma
Agrria (Incra), que respeita a legisla-
o ambiental e as leis trabalhistas, e
que est sendo utilizada para benefciar
os trabalhadores e todos os que vivem
naquela regio.
Em que pese clareza da Cons-
tituio Federal e da Lei de Reforma
Agrria, o discurso jurdico e poltico
disseminado pelos meios de comunica-
o de massa, incorporado por grande
parte dos funcionrios pblicos, sejam
membros do Poder Judicirio ou do
Executivo, marcado pela ideologia
da interpretao individualista da lei,
na qual uma vrgula, um advrbio, ou
mesmo uma linha destoante entre um
pargrafo e um inciso permite ao intr-
prete manter o fagelo e a miserabili-
dade de grande parte da populao em
benefcio de meia dzia de propriet-
rios que utilizam as terras apenas para a
produo de gros, acar e lcool para
a exportao.
Cabe aos movimentos sociais a
tarefa de forar uma interpretao da
Constituio Federal de acordo com os
interesses coletivos e gerais da socie-
dade, obrigando o Estado a planejar e
a executar uma poltica agrcola capaz
de promover a produo de alimentos
limpos de venenos, saudveis e ecolo-
gicamente sustentveis, usando o tra-
balho humano de acordo com as regras
da Consolidao das Leis Trabalhistas
(CLT), dando propriedade da terra
uma funo maior, abandonando a no-
o individualista, e, assim, auxiliar na
erradicao das desigualdades sociais, da
pobreza, promovendo a solidariedade
e construindo uma verdadeira socieda-
de justa, na qual no haja tanta terra
abandonada e tantos homens e mulhe-
res sem terra.
Notas
1
O Centro foi uma aglutinao de deputados constituintes que pretendiam no se identif-
car com a esquerda nem com a direita. Na verdade, representava os interesses dos grandes
grupos econmicos e empresariais, de latifundirios e da grande mdia, e que, reunindo a
maioria dos deputados constituintes, conseguiu aprovar e incluir na Constituio Federal
muitos artigos contrrios aos interesses dos trabalhadores.
2
Artigo XXV 1. Toda pessoa tem direito a um padro de vida capaz de assegurar a si e a
sua famlia sade e bem-estar, inclusive alimentao, vesturio, habitao, cuidados mdicos
373
F
Funo Social da Propriedade
e os servios sociais indispensveis, o direito segurana, em caso de desemprego, doena,
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistncia em circuns-
tncias fora de seu controle.
3
Ver o prembulo da Declarao Universal dos Direitos Humanos.
4
Conforme a redao do artigo 170 da Constituio Federal, a ordem econmica, fundada
na valorizao do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fm assegurar a todos exis-
tncia digna, conforme os ditames da justia social.
Para saber mais
ALVES, F. Direito agrrio poltica fundiria no Brasil. Belo Horizonte: Del
Rey, 1995.
BERCOVICI, G. Constituio econmica e desenvolvimento. So Paulo: Malheiros, 2005.
COMPARATO, F. K. Direitos e deveres em matria de propriedade. In: STROZAKE,
J. (org.). A questo agrria e a justia. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
p. 130-147.
ESCRIVO FILHO, A. S. Uma hermenutica para o programa constitucional do trabalho
rural. So Paulo: Expresso Popular, 2011.
GOMES, O. Direitos reais. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
GRAU, E. R. A ordem econmica na Constituio de 1988. 10. ed. rev. atual. So Paulo:
Malheiros, 2005.
LARANJEIRA, R. Propedutica do direito agrrio. So Paulo: Edies LTr, 1975.
LYRA FILHO, R. O que direito. So Paulo: Brasiliense, [s.d.]. (Coleo Primeiros
Passos, 16).
MARS, C. F. A funo social da terra. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2003.
PINTO JNIOR, J. M.; FARIAS, V. A. Funo social da propriedade: dimenses ambiental
e trabalhista. Braslia: Nead, 2005.
PIOVESAN, F. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 2. ed. So Paulo:
Max Limonad, 1997.
SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 12. ed. So Paulo: Malheiros, 1996.
SODERO, F. P. Direito agrrio e reforma agrria. So Paulo: Livraria Legislao Brasi-
leira, 1968.
STROZAKE, J. A questo agrria e a justia. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
_______ (org.). Questes agrrias: julgados comentados e pareceres. So Paulo:
Mtodo, 2002.
TEPEDINO, G. O papel do Poder Judicirio na efetivao da funo social da pro-
priedade. In: STROZAKE, J. (org.). Questes agrrias: julgados comentados e parece-
res. So Paulo: Mtodo, 2002. p. 91-132.
Dicionrio da Educao do Campo
374
F
FUNDOS PBLICOS
Jos Marcelino de Rezende Pinto
Este verbete apresenta os princi-
pais temas do financiamento da edu-
cao no Brasil, no contexto da polti-
ca de fundos e seu impacto para uma
educao do campo de qualidade. No
Brasil, desde a Constituio Federal
de 1934, o financiamento da educao
baseia-se na destinao de um percen-
tual mnimo da receita de impostos
(vinculao) para a manuteno e de-
senvolvimento do ensino (Melchior,
1987). Em sua forma atual, este prin-
cpio encontra-se prescrito no artigo
212 da Constituio de 1988. A partir
de ento, foram introduzidos meca-
nismos de subvinculao por meio de
fundos (inicialmente, o Fundo de Ma-
nuteno de Desenvolvimento do En-
sino Fundamental e de Valorizao do
Magistrio Fundef, o qual foi subs-
titudo, a partir de 2007, pelo Fundo
de Manuteno e Desenvolvimento da
Educao Bsica e de Valorizao
dos Profi ssi onai s da Educao
Fundeb). Em cada estado e no Distrito
Federal, parte dos recursos j vincula-
dos ao ensino dos estados e munic-
pios carreada ao Fundeb e automa-
ticamente redistribuda na proporo
das matrculas das respectivas redes.
A Unio, a partir de 2010, contribui
com um complemento corresponden-
te a 10% dos recursos dos estados e
municpios ao Fundeb. Essa comple-
mentao destinada aos estados com
menores recursos disponveis por alu-
no. Com o Fundeb, houve tambm
um aperfeioamento dos mecanismos
de controle social dos recursos via
conselhos de acompanhamento e con-
trole social (Monlevade, 2007). No
obstante os avanos ocorridos nos
ltimos anos, em especial a partir da
Constituio de 1988, o sistema de fi-
nanciamento da educao ainda apre-
senta alguns problemas estruturais.
Em primeiro lugar, muito embora
as disparidades nos recursos dispon-
veis por aluno entre os diferentes esta-
dos tenham minorado com o Fundeb,
as diferenas ainda so grandes. Tendo
por base os dados estimados para 2011,
a razo entre o maior e o menor valor
por aluno do Fundeb (anos iniciais do
ensino fundamental urbano) de quase
duas vezes. Isso signifca que um aluno
do Maranho recebe, do Fundeb, qua-
se a metade do que o fundo disponi-
biliza para um estudante de Roraima,
por exemplo.
Em segundo lugar, o menor valor a
ser disponibilizado por aluno nos anos
iniciais do ensino fundamental urbano
ser de cerca de R$ 144,00/ms (2011)
e de R$ 166,00/ms nas escolas rurais,
quantia claramente insufciente para
garantir um padro mnimo de qualida-
de de ensino. Basta dizer que a mensa-
lidade de uma escola privada frequen-
tada por crianas da classe mdia de,
no mnimo, trs vezes esse valor. Esse
o valor/aluno estimado para os estados
de Alagoas, Amaznia, Bahia, Cear,
Maranho, Par, Paraba, Pernambuco,
Piau e Rio Grande do Norte. O princi-
pal efeito do subfnanciamento so os
baixos salrios dos professores. Estu-
do feito por Alves e Pinto (2011), com
base nos dados da Pesquisa Nacional
375
F
Fundos Pblicos
por Amostra de Domiclio do Instituto
Brasileiro de Geografa e Estatstica
(Pnad/IBGE) (Instituto Brasileiro de
Geografa e Estatstica, 2009), mostra
que os professores com formao de
nvel superior e que atuam no ensino
mdio recebem uma remunerao que
prxima daquela obtida pelos cabos e
soldados da polcia militar, caixas de
banco e tcnicos em contabilidade,
cerca de 40% menos do que rece-
bem engenheiros, advogados e eco-
nomistas, o que reduz a atratividade
da carreira.
Neste sentido, o pas ainda est
longe de ver cumprido o estatudo na
Constituio (ver o pargrafo 1 do ar-
tigo 211), que estabelece como papel
da Unio garantir equalizao de opor-
tunidades educacionais e padro mni-
mo de qualidade de ensino mediante
assistncia tcnica e fnanceira.
1
Outra
questo na qual ainda h muito no que
se avanar refere-se fscalizao dos
gastos com educao pelos Tribunais
de Contas. Como apontam os estudos
minuciosos feitos por Davies (2000),
ainda so inmeros os mecanismos de
burla vinculao feitos pelos entes
federados.
2
Mesmo considerando-se
as mudanas ocorridas na legislao
referente ao fnanciamento e a grande
expanso da receita tributria em re-
lao ao produto interno bruto (PIB)
ocorrida nos ltimos anos, anlise fei-
ta por Castro (2007) para o perodo
1995-2005 indica que os gastos com
educao no perodo, embora tenham
crescido em valores reais, mantiveram
sua participao em relao ao PIB es-
tabilizada no patamar de 4%.
Deste total, a educao superior
fica com cerca de 25%, e a educao
bsica, com 75%. Essa relativa esta-
bilidade nos gastos, em um contexto
de expanso da carga fiscal, ocorreu
principalmente porque a expanso
da receita tributria se deu por meio da
criao e majorao das contribuies
sociais e econmicas, sobre as quais,
ao contrrio dos impostos, no inci-
de a vinculao para o ensino (Pinto,
2000). Alm disso, houve o efeito da
desvinculao das receitas da Unio
(DRU), que reduzia a base da recei-
ta em relao a qual se afere o cum-
primento da vinculao, por parte do
governo federal. Felizmente, com a
aprovao da emenda constitucional
n
o
59/2009, a partir de 2011, a DRU
deixa de produzir efeito no que se re-
fere aos recursos para a educao.
Essa mesma emenda ampliou a es-
colaridade obrigatria para a faixa de 4
a 17 anos, a partir de 2016. Esse fato,
embora positivo, ressalta, mais uma
vez, o desequilbrio do pacto federa-
tivo na oferta educacional no pas,
uma vez que o fim da DRU dever
ampliar os recursos educacionais do
governo federal, enquanto a respon-
sabilidade imediata de atendimento na
faixa de 4 a 17 anos cabe aos estados
e municpios. Hoje, embora o gover-
no federal fique com cerca de 60% da
carga tributria lquida (j consideran-
do as transferncias constitucionais),
sua participao nos gastos pblicos
com educao (em todos os nveis)
inferior a 20%. Nesse sentido, a gran-
de expectativa para os prximos anos
a ampliao dos gastos pblicos
com educao. A I Conferncia Na-
cional de Educao (Conae), realizada
no incio de 2010, em seu documento
final, fixou como diretriz para o novo
Plano Nacional de Educao (PNE)
uma expanso de forma a atingir 7%
do PIB em 2011 e 10% do PIB em
2014, cabendo Unio a maior contri-
Dicionrio da Educao do Campo
376
buio neste crescimento. Contudo, o
projeto de lei n 8.035/2010, do Plano
Nacional de Educao 2011-2020, en-
viado pelo Executivo ao Congresso,
em desrespeito a essa diretriz, men-
ciona apenas a meta de 7% do PIB a
ser atingida somente em 2020. Alm
disso, e contrariamente s decises da
Conae, o projeto do Executivo amplia
os mecanismos de transferncias de
recursos pblicos para as instituies
privadas de ensino.
Custo alunoqualidade
Outro conceito fundamental para a
garantia do fnanciamento de uma edu-
cao de qualidade aprovado pela
Conae foi o do custo alunoqualidade
(CAQ). A fal ta de qual i dade um
problema que atinge a escola brasilei-
ra desde as suas origens. Em trabalho
pioneiro feito originalmente em 1889,
Almeida (1989) j relatava as mazelas
da educao pblica brasileira, atri-
buindo-as ao subfnanciamento e aos
baixos salrios dos professores. Du-
rante o sculo XX, o pas apresentou
um impressionante crescimento do
atendimento escolar nas diferentes fai-
xas etrias. Contudo, essa expanso foi
feita sem qualquer preocupao com a
garantia da qualidade. nesse contexto
que surge a demanda pelo direito a uma
escola pblica de qualidade para todos.
Desde 1988, a Constituio Federal j
estabelece, em seu artigo 206, como
principio, a garantia de padro de
qualidade. A Constituio, contudo,
avanou pouco na forma de viabilizar
esta norma, uma vez que o princpio
que regula o fnanciamento da educa-
o o dos recursos disponveis por
aluno, tendo por base os percentuais
mnimos vinculados.
No houve a preocupao em se
verifcar se os valores assim disponibi-
lizados garantiam um padro mnimo
de qualidade para o ensino oferecido.
Neste sentido, produziu-se um rico de-
bate sobre a relao entre o padro de
fnanciamento e a qualidade do ensino
que perdura at hoje.
3
Um passo im-
portante ocorreu com a alterao dada
ao pargrafo 1
o
do artigo 211 da Cons-
tituio pela emenda constitucional
n
o
14/96, a mesma que criou o Fundef.
Segundo a nova redao, cabe Unio,
em matria educacional, exercer fun-
o redistributiva e supletiva, de forma
a garantir equalizao de oportunidades
educacionais e padro mnimo de qualidade
de ensino mediante assistncia tcnica e
fnanceira aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municpios (grifos nossos).
Defne-se, assim, o princpio do custo
aluno-qualidade e a quem cabe garanti-
lo: Unio, em colaborao com os
estados e municpios. Porm, como
chegar ao valor do CAQ? A Lei de Di-
retrizes e Bases (LDB), em seu artigo
4, inciso IX, oferece um caminho ao
defnir padres mnimos de qualidade
de ensino como a variedade e quan-
tidade mnimas, por aluno, de insumos
indispensveis ao desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem.
Portanto, o caminho apontado pela le-
gislao o de que a qualidade de ensi-
no est associada aos insumos.
Embora essa correlao entre insu-
mos e qualidade parea natural, h um
grupo de pesquisadores, em especial
nos Estados Unidos, que a contesta.
4
Um segundo passo importante para
se atingir o CAQ foi dado com a apro-
vao do Plano Nacional de Educao
2001-2010, em 2001 (lei n
10.172). Essa
lei, que fxou diretrizes e metas para a
educao nacional na primeira dcada
377
F
Fundos Pblicos
deste sculo, arrolou um conjunto ex-
tremamente detalhado de insumos e de
condies de funcionamento que deve-
riam ser assegurados em todas as esco-
las do pas em suas diferentes etapas e
modalidades. Mais do que isso, o plano
fxou tambm os meios para se atingir
essas metas, ao determinar a ampliao
dos gastos pblicos com educao de
forma a atingir 7% do PIB. Contudo,
essa determinao, fundamental para
viabilizar o PNE, foi vetada pelo ento
presidente Fernando Henrique Cardoso.
Foi nesse contexto que a Campanha
Nacional pelo Direito Educao, em
2002, iniciou um movimento de mobili-
zao social para a construo do CAQ.
A ideia central norteadora do processo
foi: qual deve ser o recurso gasto por
aluno para se ter um ensino de qualida-
de? J a metodologia para a construo
do CAQ envolveu ampla participao.
Nesse sentido, foram organizadas of-
cinas de trabalho que contaram com a
presena de profssionais da educao,
de especialistas, de pais e alunos e de
gestores educacionais.
Nessas ofcinas, em coerncia com
a legislao, buscava-se defnir os insu-
mos que deveriam compor uma esco-
la com padres bsicos de qualidade.
Neste sentido, frmou-se o consenso
de que o que se discutiria seria um pon-
to de partida, um padro mnimo de
qualidade que deveria ser assegurado
a todas as escolas do pas, at por-
que os critrios de qualidade evoluem
com o tempo. Da surgiu o conceito
de custo aluno-qualidade inicial (CAQi),
entendido como um primeiro passo
rumo educao pblica de qualida-
de no Brasil (Carreira e Pinto, 2007).
Portanto, o conceito de qualidade que
norteou a proposta referenciou-se em
uma perspectiva democrtica e de qua-
lidade social. No se visa a uma escola
de qualidade para uma pequena elite de
crianas e jovens, mas para o conjunto
da populao brasileira. Parte-se tam-
bm do pressuposto de que a qualidade
um conceito em disputa, e que o pr-
prio processo de debat-la j um de
seus componentes. Buscou-se, ento,
a construo de escolas tpicas (cre-
che, pr-escola, anos iniciais do ensi-
no fundamental, anos fnais do ensino
fundamental, ensino mdio, anos ini-
ciais e fnais do ensino fundamental na
educao do campo), estabelecendo-se
padres de construo, equipamen-
tos, nmero de profssionais, padres
de remunerao, e nmero de alunos
por turma. Todos esses insumos foram
precifcados em valores de 2005, e as
tabelas podem ser obtidas no stio da
entidade.
5
Na proposta foram ainda
previstos recursos para que as escolas
possam desenvolver projetos especiais,
assim como recursos para a formao
profssional (de toda a equipe) e para
a administrao central dos sistemas
de ensino. A proposta da Campanha
Nacional pelo Direito Educao en-
tende ainda que, no que se refere a mo-
dalidades especfcas, como educao
de jovens e adultos, educao especial,
educao indgena, educao quilom-
bola, educao profssional e mesmo
educao do campo (para a qual foi fei-
ta uma proposta de CAQi), seriam ne-
cessrios estudos especfcos para uma
melhor defnio do respectivo CAQi.
A proposta sugere ainda a criao
de adicionais do CAQi como forma de
destinar mais recursos para as escolas
que atendam crianas em condies
de maior vulnerabilidade social. Final-
mente, em 5 de maio de 2010, a C-
mara de Educao Bsica do Conselho
Nacional de Educao aprovou a reso-
luo n 8/2010, que defniu o CAQi
Dicionrio da Educao do Campo
378
como referncia para a construo da
matriz de padres mnimos de qualida-
de para a educao bsica pblica no
Brasil. Os valores fxados, tendo por
base os percentuais do PIB per capita,
so os seguintes: 39% para as creches,
15,1% para as pr-escolas, 14,4% para
o ensino fundamental urbano de 1 a
4 sries (23,8% para o campo), 14,1%
para o ensino fundamental urbano de
5 a 9 sries (18,2% para o campo),
e 14,5% para o ensino mdio. A pro-
posta de deliberao associada a esta
resoluo, contudo, ainda no foi ho-
mologada pelo ministro da Educao,
um ano aps a sua aprovao.
Educao do campo
e seu financiamento
Se, como apontado anteriormente,
as escolas pblicas urbanas, de uma
maneira geral, no recebem recursos
que assegurem um padro mnimo de
qualidade de ensino, no campo, a si-
tuao dramtica. Isso ocorre por
uma conjuno negativa de fatores.
Em primeiro lugar, porque a maioria
dessas escolas encontra-se nas regies
mais pobres do pas (58% no Nordeste
e 18% na regio Norte, em 2009, nas
quais os valores por aluno propiciados
pelo Fundeb so menores). Em segun-
do lugar, porque elas se encontram
majoritariamente (85% em 2009) sob
administrao municipal, nvel de go-
verno que fca com a menor parte dos
recursos tributrios, como j observa-
do. E, fnalmente, porque as escolas do
campo, em sua quase totalidade, pos-
suem poucos alunos em 2006, 43%
das escolas rurais de ensino fundamen-
tal tinham apenas uma sala de aula, se-
gundo o censo do MEC (Brasil, 2006)
e, pela lgica da poltica de fundos,
escolas pequenas do prejuzo, pois
no possuem uma escala mnima de
custos. Assim, a ttulo de exemplo,
uma escola dos anos iniciais do ensino
fundamental do campo que tivesse 50
alunos teria, em mdia, 10 alunos por
turma; considerando o valor-aluno m-
nimo do Fundeb (2011) que recebido
por quase todos os estados e muni-
cpios da regio Nordeste, o recurso dis-
ponvel por turma seria insufciente at
mesmo para garantir o piso nacional
salarial para o docente. J em qualquer
escola urbana, a razo alunos/turma
seria, no mnimo, o dobro deste valor.
A sada para reduzir custos adota-
da pelas administraes so as turmas
multisseriadas. Alm disso, h um forte
estmulo para o fechamento de escolas
rurais. De 1977 a 2009, foram fecha-
das 65 mil escolas rurais somente no
ensino fundamental, uma reduo de
46%. Em seu lugar, incrementa-se o
transporte escolar para levar os estu-
dantes do campo para escolas urbanas
(2/3 dos alunos que moram na zona
rural so transportados para escolas
urbanas), nas quais vivenciam forte
preconceito e se intensifca o fracasso
escolar (Brancaleoni, 2002). O trans-
porte escolar, por sua vez, fnancia-
do pelo Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar (Pnate), mas
seus recursos so claramente insuf-
cientes. Levantamento feito pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep) nos munic-
pios (considerando nove meses) indi-
cou um custo mdio real de R$ 642,00/
ano por aluno, em 2004, enquanto o
valor anual previsto no Pnate por alu-
no para 2011 varia entre R$ 121,00 e
R$ 172,00. Alm disso, como, em geral,
o transporte terceirizado (67% do to-
tal, segundo o mesmo estudo do Inep)
379
F
Fundos Pblicos
e os contratos envolvem valores signi-
fcativos (so milhares de quilmetros
por dia no conjunto das linhas), abre-
se tambm um campo propcio para a
corrupo com fns eleitorais.
Com o objetivo de reverter esse
processo de fechamento das escolas da
zona rural, boa parte delas, na verda-
de, sem condies mnimas de funcio-
namento (Pereira, 2007), e compensar
o seu maior custo, existe um diferen-
cial no valor contabilizado por aluno
no Fundeb. Hoje, esse adicional de
20%, um avano em relao aos 2% do
Fundef, mas muito aqum ainda da di-
ferena real de custos. Estimativas fei-
tas para a realizao do CAQi apontam
para um adicional de, no mnimo, 65%
nos recursos para as escolas do cam-
po. Recentemente, graas em especial
ao dos movimentos sociais de luta
pela reforma agrria, observam-se al-
gumas experincias de escolas do cam-
po que conseguem oferecer condies
para um ensino de qualidade.
A rede federal de ensino de escolas
tcnicas e profssionais tambm oferece
um padro de excelncia para a rea, com
gastos por aluno cerca de quatro vezes
superiores ao valor mnimo do Fundeb.
Tendo por base as estimativas do CAQi,
o valor para garantir um padro inicial de
qualidade seria de R$ 4.500,00 por alu-
no/ano (escola projetada de 70 alunos)
para os anos iniciais do ensino funda-
mental, e de R$ 3.500,00 por aluno/ano
(escola projetada de 100 alunos) para os
anos fnais, em valores de 2010.
O grande desafo para o fnancia-
mento de uma escola do campo de qua-
lidade passa por achar o equilbrio en-
tre um nmero de alunos mnimo que
garanta uma escala de funcionamento
adequada e que, ao mesmo tempo, no
implique, para os alunos, longas jorna-
das para chegar at a escola. No caso
dos assentamentos de Reforma Agr-
ria, a situao de mais fcil soluo,
pois h um contingente relativamente
concentrado de famlias. A questo se
torna bem mais complexa para as re-
gies tomadas pelo latifndio (e que
so majoritrias), pois, nesses casos,
o nmero de famlias muito peque-
no para uma grande extenso de rea.
Assim, a luta por uma educao do
campo de qualidade passa necessaria-
mente pela luta por Reforma Agrria
e se d concomitantemente a esta. De
qualquer forma, nas regies nas quais
a densidade populacional baixa,
fundamental o desenvolvimento de
projetos pedaggicos de escolas de
qualidade, que, necessariamente, tero
de ter poucos alunos.
Considera do a obrigatoriedade cons-
titucional do ensino dos 4 aos 7 anos,
pode-se pensar em projetos de escola
do campo que englobem da pr-escola
ao ensino mdio, com uso criativo do
espao e do corpo docente e funcio-
nal, e que assegurem qualidade e um
custo-aluno compatvel com as metas
de gasto em relao ao PIB, fxadas ini-
cialmente pela Conferncia Nacional
de Educao, e readequadas por um
conjunto amplo de entidades da socie-
dade civil para o novo Plano Nacional
de Educao, em 7% do PIB at 2015,
e em 10% at 2020.
6
Notas
1
Sobre a timidez das polticas equalizadoras da Unio, recomendam-se os estudos de Arajo,
2007; Cruz, 2009; e Martins, 2009.
Dicionrio da Educao do Campo
380
2
No caso da Unio, recomenda-se o trabalho de Ximenes, 2009.
3
Ver, entre outros, Pinto, 1991; Mello, 1991; Mello e Costa, 1993; Monlevade, 1997;
Farenzena, 2005; Verhine e Magalhes, 2006; e Gouveia et al., 2006.
4
Sobre a discusso insumos versus qualidade, recomenda-se a leitura de Brooke e Soares,
2008.
5
Ver http://www.campanhaeducacao.org.br.
6
Ver http://www.campanha.org.br, http://www.cedes.org.br e http://www.anped.org.br.
Para saber mais
ALMEIDA, J. R. P. Histria da instruo pblica no Brasil: 1500 a 1889. So Paulo:
Educ; Braslia: Inep/MEC, 1989.
ALVES, T.; PINTO, J. M. R. Remunerao e caractersticas do trabalho docente no
Brasil: um aporte dos dados do Censo Escolar e da PNAD. Cadernos de Pesquisa,
2011. (No prelo).
AMARAL, N. C. Financiamento da educao superior: Estado versus mercado. So Paulo:
Cortez; Piracicaba: Unimep, 2003.
ARAJO, R. L. S. Financiamento da educao bsica no governo Lula: elementos de rup-
tura e de continuidade com as polticas do governo de FHC. 2007. Dissertao
(Mestrado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade de Braslia,
Braslia, 2007.
BRANCALEONI, A. P. L. Do rural ao urbano: o processo de adaptao de alunos mo-
radores de um assentamento rural escola urbana. 2002. Dissertao (Mestrado
em Educao) Faculdade de Filosofa, Cincias e Letras de Ribeiro Preto,
Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto, 2002.
BRASIL. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC). Censo escolar. Braslia: MEC/Inep, 2006.
BROOKE, N.; SOARES, J. F. (org.). Pesquisa em efccia escolar: origem e trajetrias. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2008.
CARREIRA, D.; PINTO, J. M. R. Custo aluno-qualidade inicial: rumo educao pblica
de qualidade no Brasil. So Paulo: Campanha Nacional pelo Direito Educao/
Global Editora, 2007.
CASTRO, J. A. Financiamento e gasto pblico na educao bsica no Brasil:
1995-2005. Educao & Sociedade, So Paulo, v. 28, n. 100, p. 857-876, out. 2007.
CRUZ, R. E. Pacto federativo e fnanciamento da educao: a funo supletiva e redistri-
butiva da Unio o FNDE em destaque. 2009. Tese (Doutorado em Educao)
Faculdade de Educao, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2009.
DAVIES, N. Verbas da educao: o legal x o real. Niteri: EdUFF, 2000.
FARENZENA, N. (org.). Custos e condies de qualidade da educao em escolas pblicas:
aportes regionais. Braslia: MEC/Inep, 2005.
381
F
Fundos Pblicos
GOUVEIA, A. B. et al. Condies de trabalho docente, ensino de qualidade e
custo-aluno-ano. RBAE, Porto Alegre, v. 22, n. 2, p. 253-276, jul.-dez. 2006.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Pesquisa nacional por amostra
de domiclio (Pnad). Rio de Janeiro: IBGE, 2009. Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_brasil_2009.pdf.
Acesso em: 14 set. 2011.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP). Transporte
escolar 2004. Relatrio de pesquisa. Braslia: MEC/Inep, 2004. (Mimeo.).
MARTINS, P. S. O fnanciamento da educao bsica por meio de fundos contbeis: estra-
tgia poltica para a equidade, a autonomia e o regime de colaborao entre os
entes federados. 2009. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao,
Universidade de Braslia, Braslia, 2009.
MELCHIOR, J. C. A. O fnanciamento da educao no Brasil. So Paulo: EPU, 1987.
MELLO, E. Os desafos do ensino pblico de qualidade para todos. Revista Brasileira
de Administrao da Educao, Braslia, v. 7, n. 1-2, p. 132-137, jan.-dez. 1991.
______; COSTA, M. Padres mnimos de oportunidades educacionais: uma propos-
ta. Revista Brasileira de Estudos Pedaggicos, Braslia, v. 74, p. 11-24, jan.-abr. 1993.
MONLEVADE, J. Educao pblica no Brasil: contos & de$conto$. Ceilndia: Idea, 1997.
______. Para entender o Fundeb. Ceilndia: Idea, 2007.
PEREIRA, A. C. S. Levantamento de indicadores de custo-aluno-qualidade para o ensi-
no fundamental em escolas do campo de municpios do Estado do Par. 2007. Relatrio
(Qualifcao de Mestrado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade
Federal do Par, Belm, 2007.
PINTO, J. M. R. Em busca de um padro mnimo de recursos por aluno no ensino
de 1 grau. Paideia, Ribeiro Preto, n. 1, p. 61-67, ago. 1991.
______. Os recursos para educao no Brasil no contexto das fnanas pblicas. Braslia:
Plano, 2000.
VERHINE, R. E.; MAGALHES, A. L. F. Quanto custa a educao bsica de qua-
lidade? Revista Brasileira de Administrao da Educao, Porto Alegre, v. 22, n. 2,
p. 229-252, jul.-dez. 2006.
XIMENES, S. B. A execuo oramentria da educao no primeiro mandato do
Governo Lula e suas perspectivas. In: NASCIMENTO, I. (org.). Financiamento da edu-
cao no Governo Lula: insumos para o debate. So Paulo: Campanha Nacional pelo
Direito Educao, 2009. p. 8-32.
383
G
G
GESTO EDUCACIONAL
Lisete R. G. Arelaro
A expresso gesto educacional
comeou a ser utilizada na educao
por volta dos anos 1980, em substitui-
o expresso administrao edu-
cacional, tradicionalmente utilizada
desde os anos 1930. Neste texto, uti-
lizaremos como sinnimas as duas ex-
presses. Elas englobam tanto a com-
plexidade da gesto de uma unidade
escolar quanto o conjunto das polticas
(pblicas ou privadas) em educao, ou
seja, discutem a concepo de gesto
educacional do ponto de vista hist-
rico, as responsabilidades das esferas
pblicas com relao ao direito social
educao no Brasil, o regime de co-
laborao que deve predominar entre
municpios, estados e governo federal,
e o processo de descentralizao para a
sua efetivao.
A palavra gesto significa o ato ou
efeito de gerir, de administrar, de di-
rigir. Ela foi introduzida com esse
sentido na rea educacional a partir
da teoria geral de administrao, que
tinha na organizao empresarial a sua
referncia e, em Frederick W. Taylor
(com sua obra Princpios de administra-
o cientfica) e Henri Fayol (com a obra
Administrao industrial e geral ), seus
autores principais.
Historicamente, a adoo generali-
zada de princpios da organizao em-
presarial nos estudos e nas prticas de
administrao dos sistemas educacio-
nais e das escolas partiu do pressupos-
to de que tais princpios eram automa-
ticamente aplicveis administrao/
gesto de qualquer instituio, inde-
pendentemente de sua natureza, seus
objetivos e de sua constituio social,
cultural ou educacional.
Em 1961, quando da realizao do
I Simpsio Brasileiro de Administra-
o Escolar, na Universidade de So
Paulo (USP), ocasio em que foi criada
a Associao Nacional de Professores
de Administrao Escolar (Anpae),
foi aprovado com voto contrrio de
Ansio Teixeira um documento em
que se afrmava:
A administrao escolar supe
uma flosofa e uma poltica di-
retoras preestabelecidas; con-
siste no complexo de processos
criadores de condies adequa-
das s atividades dos grupos que
operam na escola em diviso de
trabalho; visa unidade e eco-
nomia de ao, bem como ao
progresso do empreendimento.
O complexo de processos en-
globa atividades especfcas
planejamento, organizao, as-
sistncia execuo (gerncia),
avaliao de resultados (medi-
das), prestao de contas (rela-
trio) e se aplica a todos os
setores da empresa pessoal,
material, servios e fnancia-
mento. (Associao Nacional de
Professores de Administrao
Escolar, 1962, p. 5)
Dicionrio da Educao do Campo
384
Querino Ribeiro, um dos pioneiros
desses estudos no Brasil, considerava
que a administrao escolar e educa-
cional , embora apresentasse alguns
detalhes especfcos, correspondia a
uma das aplicaes da administrao
geral, pois seus aspectos, meios, tipos,
processos e objetivos eram semelhan-
tes. Para o autor, a administrao es-
colar deveria atender, primeiramente, a
uma flosofa e a uma poltica de educa-
o. No entanto, a gesto educacional
envolveria um complexo de processos
cientifcamente determinados que se
desenvolveria antes, durante e depois
das atividades escolares, visando ga-
rantir-lhes unidade e economia. Estes
processos seriam: 1) planejamento das
aes: a partir do exame cuidadoso da
realidade social, para determinar as ne-
cessidades e possibilidades do proces-
so de escolarizao; 2) organizao das
aes: anlise prvia das atividades que a
escola pode e deve realizar visando
atingir seus objetivos; 3) acompanha-
mento das aes: baseado num sistema
de relaes humanas que favorea a
responsabilidade e a colaborao, a fm
de manter a unidade indispensvel ao
processo de escolarizao e a economia
de rendimento; e 4) controle dos resul-
tados: com o objetivo de identifcar e
possibilitar a correo das defcincias
na execuo das aes.
Logo aps essa introduo na rea
educacional, uma nova teoria, a teo-
ria de sistemas, elaborada por Ludwig
von Bertalanffy, divulgada e implantada
durante a ditadura militar (1964-1985),
propunha como critrio de efcincia
da gesto educacional a elaborao de
planejamentos escolares com objetivos
claros, que pudessem ser traduzidos em
metas quantifcveis e ter seus resultados
avaliados por meio de medidas educa-
cionais. Assim, dado um input (insumo/
entrada de dados: o que eu quero atingir;
qual meu objetivo), dependeria exclusi-
vamente da boa escolha dos mtodos,
processos ou contedos a obteno do
output desejado, ou seja, do produto es-
perado. Essa abordagem sistmica exigia
que cada professor traduzisse seus obje-
tivos educacionais em metas, as quais
seriam atingidas com boas estratgias
de ensino, que pressupunham conte-
dos previamente defnidos e testados
com relao sua efcincia. Caso hou-
vesse recusa ou resistncia por parte de
professores, tticas de aprendizagem
motivacional deveriam ser empregadas,
assumindo o diretor/dirigente papel
de liderana do processo para garantir
a efccia do processo educacional. S
assim, a educao conseguiria realizar
seus objetivos.
No entanto, alguns trabalhos teri-
cos produzidos j no fnal da dcada de
1970 e nos anos 1980 foram marcados
pela crtica utilizao da empresa capi-
talista como fundamento da prtica ad-
ministrativa escolar e educacional. Essas
crticas atingiam no somente as produ-
es de Taylor e Fayol, mas tambm a
teoria do capital humano, de Theodore
Schultz, que considerava a educao um
investimento que gerava maior produ-
tividade e, em consequncia, melhores
condies de vida para os trabalhado-
res e para a sociedade em geral. Para
este autor, os conhecimentos obtidos
no processo de escolarizao formal
representariam o capital humano de
que cada trabalhador, de forma diferen-
ciada, se apropriaria. Era desta maneira,
ou seja, investindo neste capital, que
o desenvolvimento pessoal se dava ele
explicaria uma espcie de distino de
produtividade de cada trabalhador.
Saviani (2008) justifca ser esta a ra-
zo pela qual o perodo fcou conheci-
385
G
Gesto Educacional
do como tecnicista, pois, baseado na
neutralidade e inspirado nos princpios
de racionalidade, efcincia e produtivi-
dade, reordenava o processo educativo
e a gesto educacional, de modo a tor-
n-los objetivos e operacionais, porque
mensurveis. Uma das consequncias
previsveis era a tentativa de padroni-
zao da ao educativa, com base em
modelos de planejamento previamente
formulados por rgos centrais exte-
riores s instituies escolares e educa-
cionais. Segundo Saviani:
[...] na pedagogia tecnicista, o
elemento principal passa a ser a
organizao racional dos meios,
ocupando o professor e o aluno
posio secundria, relegados
que so condio de execu-
tores de um processo cuja con-
cepo, planejamento, coorde-
nao e controle fcam a cargo
de especialistas supostamente
habilitados, neutros, objetivos
e imparciais. (Saviani, 2008,
p. 382)
Para Vitor Paro, um dos autores
crticos da concepo de gesto em-
presarial na escola, importante con-
siderar que:
No contexto dessa concepo
dominante, comum atribuir-
se a todo e qualquer problema
uma dimenso estritamente ad-
ministrativa, desvinculando-o
do todo social no qual tm lugar
suas causas profundas, e enxer-
gando-o apenas como resultan-
te de fatores como a inadequada
utilizao dos recursos dispo-
nveis, a incompetncia das pes-
soas e grupos diretamente en-
volvidos, a tomada de decises
incompatveis com seu equacio-
namento e soluo, e outras ra-
zes que podem facilmente ser
superadas a partir de uma ao
administrativa mais apropriada.
(Paro, 2006, p. 125)
Ou seja, ao se aceitar a ordem ca-
pitalista como o tipo mais avanado de
sociedade, as diferenas econmicas,
polticas e sociais a existentes so vis-
tas no como consequncia necessria
da prpria maneira injusta e desigual
pela qual essa sociedade organizada,
mas como meras disfunes que,
como tais, podem ser adequadamente
resolvidas e superadas a partir da apli-
cao das regras jurdico-legais a tal or-
ganizao social.
A gesto educacional, no Brasil,
com a promulgao da Constituio
Federal de 1988 e da emenda constitu-
cional n 59/2009, visando garantir o
direito social educao, fcou distri-
buda, como responsabilidade das esfe-
ras pblicas, da seguinte forma:
Art. 211. A Unio, os estados,
o Distrito Federal e os muni-
cpios organizaro em regime
de colaborao seus sistemas
de ensino.
1 A Unio organizar o
sistema federal de ensino e
o dos territrios, financia-
r as instituies de ensino
pblicas federais e exerce-
r, em matria educacional,
funo redistributiva e su-
pletiva, de forma a garantir
equalizao de oportunida-
des educacionais e padro
mnimo de qualidade do
ensino mediante assistn-
cia tcnica e financeira aos
Dicionrio da Educao do Campo
386
estados, ao Distrito Federal
e aos municpios.
2 Os municpios atuaro
prioritariamente no ensino
fundamental e na educao
infantil.
3 Os estados e o Distrito
Federal atuaro prioritaria-
mente no ensino fundamen-
tal e mdio.
4 Na organizao de seus
sistemas de ensino, a Unio,
os estados, o Distrito Fede-
ral e os municpios defniro
formas de colaborao, de modo
a assegurar a universaliza-
o do ensino obrigatrio.
(Brasil, 2006, grifos nossos)
O pressuposto, portanto, que haja
colaborao entre as esferas pblicas,
com a distribuio de responsabilida-
des compatveis com as condies f-
nanceiras e populacionais de cada uma
das esferas pblicas. A Lei de Diretri-
zes e Bases da Educao Nacional (lei
federal n 9.394/1996) estabelece que:
Art. 10. Os estados incumbir-
se-o de:
[...]
II - defnir, com os municpios,
formas de colaborao na oferta
do ensino fundamental, as quais
devem assegurar a distribuio
proporcional das responsabili-
dades, de acordo com a populao a
ser atendida e os recursos fnanceiros
disponveis em cada uma dessas esfe-
ras do Poder Pblico. (Brasil, 2006,
grifos nossos)
Essa exigncia se faz necessria,
pois a maioria dos municpios bra-
sileiros de um total de 5.565 tem
grande desproporo de populao e
de rea geogrfca, sendo que cerca de
70% deles tm at 20 mil habitantes e,
em 250 deles, vive cerca de 75% da po-
pulao brasileira (Instituto Brasileiro
de Geografa e Estatstica, 2010).
Alm disso, os recursos dispon-
veis em cada uma das esferas pblicas
tambm condio para a efetivao
do direito educao, pois um indica-
dor da autonomia fnanceira municipal
ou estadual o percentual de recursos
prprios recolhidos por estas esferas
pblicas. Se elas dependem dos recur-
sos oriundos do Fundo de Participao
dos Municpios (FPM) ou dos Fundos
de Participao dos Estados (FPEs),
tem-se a indicao de que se trata de um
municpio ou estado pobre. Estima-se
que, em 2010, cerca de 75% dos mu-
nicpios dependiam do FPM, ou seja,
a maioria dos municpios do Brasil e,
em particular, os dos estados da regio
Nordeste, so pobres, necessitando de
aportes fnanceiros do governo federal,
uma vez que seus estados tambm so
considerados pobres em relao aos
estados das regies Sul e Sudeste.
Estas condies objetivas da so-
ciedade brasileira exigem que se ar-
ticule a gesto educacional visando
construo de um sistema nacional de
educao, reivindicado desde o processo
constituinte, que viabilizaria uma ao
cooperada entre as esferas pblicas,
tendo em vista o equilbrio do desen-
volvimento e do bem-estar em mbito
nacional (Brasil, 2006). O sistema na-
cional de educao garantiria diretrizes
educacionais comuns, estabelecidas a
partir de um Plano Nacional de Educa-
o (PNE), pactuadas entre as esferas
pblicas e a sociedade civil, luz dos
princpios da Constituio Federal de
1988, no seu artigo 206.
387
G
Gesto Educacional
No Brasil, pelo fato de as esferas
pblicas terem responsabilidades co-
muns na rea educacional, bem como
autonomia poltica, administrativa e
fnanceira, as divergncias poltico-
partidrias e a inexistncia de um pro-
jeto nacional pactuado de nao e de
desenvolvimento leva a que os entes
pblicos ajam de forma desarticulada,
fragmentada e com submisso s po-
lticas federais, sempre que isto sig-
nifcar a obteno de mais recursos
fnanceiros para o mbito municipal
e/ou estadual.
A Constituio props uma signi-
fcativa descentralizao das polticas
bsicas e, dentre elas, a da gesto edu-
cacional para os municpios, no con-
siderando, necessariamente, as condi-
es objetivas materiais, fnanceiras,
de pessoal dessa descentralizao,
gerando consequncias na qualidade
de ensino, com a deteriorao das con-
dies materiais das escolas, do ensino
e do trabalho dos professores. A cria-
o do Fundo de Manuteno e Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e
Valorizao do Magistrio (Fundef), em
1996, introduzindo a poltica de fundos
no fnanciamento da educao, foi um
grande estmulo para esta descentrali-
zao de responsabilidades em relao
oferta do ensino fundamental dos
estados para os municpios. Os munic-
pios tinham a iluso de que, assumindo
mais responsabilidades, contariam com
maior percentual de recursos fnancei-
ros. No foi isso o que ocorreu, e as
regies mais pobres do pas acabaram
assumindo mais responsabilidades nes-
ta etapa obrigatria de ensino.
As s i m, em 2009, do t ot al de
27.927.139 alunos matriculados no
ensino fundamental, nas redes pbli-
cas (federal, estadual ou municipal),
62,05% estavam sob responsabilidade
dos municpios, mesmo sendo estes o
ente pblico com menores recursos
fnanceiros (Brasil, 1996b, 2000, 2007
e 2009). importante observar, tam-
bm, outro fenmeno da gesto edu-
cacional no Brasil, que o da excessiva
urbanizao das escolas e do ensino.
Dos mais de 30 milhes de alunos do
ensino fundamental, somente cerca de
8% so alunos de escolas que no esto
localizadas em reas urbanas, ou seja,
so alunos que moram no campo. Os
dados (Brasil, 2009) tambm mostram
que esta uma poltica social que vem
sendo atendida pelo Estado brasileiro
com relativo sucesso, pois, na educao
bsica (educao infantil + ensino fun-
damental + ensino mdio), nas respec-
tivas modalidades (educao de jovens
e adultos, educao especial, educao
do campo, educao dos quilombolas
etc.), dos mais de 50 milhes de alunos
matriculados, 87% frequentam alguma
escola pblica estatal.
No entanto, uma das questes mais
polmicas da gesto educacional diz
respeito exigncia constitucional de
ela ser democrtica e, portanto, de en-
volver, como condio do exerccio da
democracia, a participao das comu-
nidades escolar e local, e da sociedade
civil organizada, nas decises relativas
s polticas e projetos educacionais,
num regime de corresponsabilidade.
Ela prev, tambm, a participao dos
profssionais da educao nos projetos
poltico-pedaggicos das instituies
de ensino.
Para o professor Paulo Freire,
adepto da democracia participativa, a
organizao democrtica necessita ser
falada, vivida e afrmada na ao, tal
como a democracia em geral (1996,
p. 102). Diz ele:
Dicionrio da Educao do Campo
388
A educao para e pela cidada-
nia democrtica no algo que
possa ser restringido escola e
aos atores escolares. [...] Trata-se
de uma inveno social que exi-
ge um saber poltico, gestando-
se na prtica de por ela lutar, a
que se junta a prtica de sobre
ela refetir. (1996, p. 146)
[...] uma construo que, ja-
mais terminada, demanda briga
por ela. Demanda engajamen-
to, clareza poltica, coerncia,
deciso. Por isso mesmo que
uma educao democrtica no
se pode realizar parte de uma
educao da cidadania e para
ela. (1997, p. 119)
preciso admitir que no pode
haver gesto educacional democrtica
se no se enfrentar a necessidade de
mudanas imediatas no aparelho pol-
tico administrativo-burocrtico, trans-
formando-o por meio de estruturas
mais democrticas e participativas que
permitam aes e decises mais aut-
nomas por parte das comunidades.
Mais uma vez, Paulo Freire quem
nos ensina que Ningum autnomo
primeiro, para depois decidir. decidindo
que se aprende a decidir (1996, p. 64).
Para saber mais
ASSOCIAO NACIONAL DE PROFESSORES DE ADMINISTRAO ESCOLAR (ANPAE).
Relatrio do I Simpsio Brasileiro de Administrao Escolar. So Paulo: Faculdade de
Filosofa, Cincias e Letras da Universidade de So Paulo, 1962.
BRASIL. Emenda Constitucional n 59, de 11 de novembro de 2009. Dirio Ofcial
da Unio, Braslia, 12 nov. 2009.
______. Lei n 9.349, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as diretrizes e bases
da educao nacional. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 23 dez. 1996a.
______. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC). INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANSIO TEIXEIRA (INEP). Sinopse estatstica 1996: Brasil,
Regies e Unidades da Federao. Braslia: Inep, 1996b. Disponvel em: http://
portal.inep.gov.br/web/guest/sinopse-estatistica-da-educacao-basica-1996.
Acesso em: 18 nov. 2011.
______. ______; ______. Sinopse Estatstica da Educao Bsica 2000: Brasil, Regies
e Unidades da Federao. Braslia: Inep, 2000. Disponvel em: http://portal.inep.
gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse. Acesso em: 18 nov. 2011.
______. ______; ______. Sinopse Estatstica da Educao Bsica 2007. Braslia: Inep,
2007. Disponvel em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-
sinopse. Acesso em: 18 nov. 2011.
______.______; ______. Sinopse Estatstica da Educao Bsica 2009. Braslia: Inep,
2009. Disponvel em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-
sinopse. Acesso em: 18 nov. 2011.
FAYOL, H. Administrao industrial e geral. 9. ed. So Paulo: Atlas, 1981.
389
G
Gesto Educacional
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessrios prtica educativa. So
Paulo: Paz e Terra, 1996.
______. Pedagogia da esperana: um reencontro com a pedagogia do oprimido.
So Paulo: Paz e Terra, 1997.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Perfl dos municpios
brasileiros 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponvel em: http://www.ibge.gov.
br/home/estatistica/economia/perflmunic/2009/munic2009.pdf. Acesso em:
18 nov. 2011.
PARO, V. H. Administrao escolar: introduo crtica. 14. ed. So Paulo: Cortez, 2006.
SAVIANI, D. Histria das ideias pedaggicas no Brasil. 2. ed. rev. e ampl. Campinas:
Autores Associados, 2008.
TAYLOR, F. W. Princpios de administrao cientfca. 7. ed. So Paulo: Atlas, 1981.
391
H
H
HEGEMONIA
Marcela Pronko
Virgnia Fontes
Originalmente uma categoria de
uso militar, o conceito de hegemonia
integra a tradio marxista e foi sis-
tematizado por Antonio Gramsci em
duas direes simultneas: para expli-
car as formas especfcas da produo
e organizao do convencimento em
sociedades capitalistas e para pensar as
condies das lutas das classes subal-
ternas. O conceito apreende a dinmi-
ca das lutas de classes sob a dominao
burguesa, explicando a produo da
conformidade social por meio da or-
ganizao e atuao da sociedade civil,
voltada para o convencimento, ao lado
da persistncia das formas coerciti-
vas do Estado burgus. Apresentare-
mos um brevssimo histrico dos usos
da categoria hegemonia, a fm de nos
dedicarmos cuidadosa formulao
conceitual de Gramsci. Para tanto,
indispensvel o conceito gramsciano
de Estado ampliado (sociedade civil +
sociedade poltica) de maneira a dar con-
ta dos permanentes confitos que envol-
vem a hegemonia, do seu alcance na to-
talidade da vida social e de suas formas
de produo.
O termo hegemonia, em sua ori-
gem grega, remetia a uma autoridade
militar exercendo a supremacia de uma
cidade-Estado no interior de uma con-
federao. Preservou, no sentido cor-
riqueiro, essa caracterstica de predo-
mnio militar e autoridade de um pas
sobre outro.
O termo se converter em concei-
to, com teor mais poltico do que mi-
litar, no interior da tradio marxista.
Embora empregado com sentidos algo
distintos, constituiu uma herana co-
mum aos revolucionrios russos, refe-
rindo-se explicitamente ao papel hege-
mnico do proletariado na necessria
aliana de classes com o campesinato.
Lenin consolidou o conceito incorpo-
rando a ela uma dupla dimenso: a im-
portncia da conscincia proletria de
que a hegemonia envolve a direo da
luta revolucionria e a exigncia de in-
tegrar a luta de todos os trabalhadores
e do povo explorado. J ento denun-
ciava a limitao dos corporativismos
(expressando apenas interesses imedia-
tos), atribuindo hegemonia a direo
poltica capaz de integrar o conjunto
dos explorados (Anderson, 1986, p. 18;
Buci-Glucksmann, 1999, p. 532-538).
Antonio Gramsci (1891-1937), jor-
nalista e pensador marxista italiano,
aprofundou e reformulou o conceito
de hegemonia. Inicialmente, utilizou-o
no sentido acima, referindo-se ao sis-
tema de alianas que a classe operria
deveria criar para derrubar o Estado
burgus (Bottomore, 2001, p. 177). A
contribuio fundamental de Gramsci,
sem abandonar o sentido acima, deri-
va do transbordamento de suas refe-
xes para as formas especfcas como,
nas sociedades capitalistas modernas,
a burguesia produz e reproduz sua
Dicionrio da Educao do Campo
392
dominao em processos de luta social.
Tomando como ponto de partida prin-
cipalmente a histria e a realidade da
Itlia do seu tempo, Gramsci observa
que uma classe mantm seu domnio
no simplesmente atravs de uma or-
ganizao especfca da fora, mas por
ser capaz de ir alm de seus interesses
corporativos estreitos, exercendo uma
liderana moral e intelectual (ibid.)
capaz de conformar o conjunto da so-
ciedade s formas de pensar, sentir e
agir da classe dominante. O conceito
de hegemonia adensava-se, alcanando
novo estatuto terico.
A contribuio gramsciana permi-
te compreender, ao mesmo tempo, as
tenses internas da classe dominante,
acirradas pelo aumento da concorrn-
cia no capitalismo imperialista, e as no-
vas condies colocadas para a luta de
classes, decorrentes do crescente pro-
cesso de socializao da poltica (con-
quista do sufrgio universal, organiza-
o de partidos populares de massas
etc.), o que produz uma mudana qua-
litativa na estruturao e na dinmica
das relaes de poder. Gramsci amplia
a concepo de Estado, estendendo-o
para alm da aparelhagem estatal (so-
ciedade poltica) e incorporando a ele
no que diz respeito sua funo de
dominao e de direo do conjunto
da sociedade , o papel decisivo das
organizaes que atuam na sociedade
civil. Assim, segundo Gramsci:
Por enquanto, podem-se fxar
dois grandes planos superes-
truturais: o que pode ser cha-
mado de sociedade civil (isto
, o conjunto de organismos
designados vulgarmente como
privados) e o da sociedade
poltica ou Estado, planos que
correspondem, respectivamen-
te, funo de hegemonia que
o grupo dominante exerce em
toda a sociedade e quela de do-
mnio direto ou de comando,
que se expressa no Estado e no
governo jurdico. (Gramsci,
2001, v. 2, p. 20-21)
Nesse sentido, na obra gramsciana,
no possvel separar o conceito de
hegemonia de uma concepo amplia-
da do Estado. Essa concepo supera,
ao mesmo tempo, tanto a compreen-
so do Estado como simples conjunto
de instrumentos de coero ou seja,
interpretando-o tambm como sistema
de instrumentos que produzem lide-
rana intelectual e consenso quan-
to a concepo da revoluo como
assalto ao aparelho de poder poltico-
coercitivo ou seja, pressupe a neces-
sidade de construo de uma contra-
hegemonia (Acanda, 2006).
Nessa concepo ampliada do Esta-
do, sociedade civil o espao principal
para o exerccio da funo hegemnica
e a arena privilegiada da luta de classes
(intra e entre as classes), pela atuao
dos chamados aparelhos privados de
hegemonia: organizaes nas quais se
elaboram e moldam as vontades e com
base nas quais as formas de dominao
se difundem, generalizando modalida-
des de convencimento adequadas ao
grupo ou frao dominante conven-
cimento que passa a ser, a partir de en-
to, tarefa permanente e fundamental
da burguesia para fortalecer a sua ca-
pacidade de organizar o consentimento
dos dominados, interiorizando as rela-
es e prticas sociais vigentes como
necessrias e legtimas. O vnculo or-
gnico entre sociedade civil e Estado
explica o carter molecular dessa domi-
nao que atravessa todos os espaos
sociais, educando o consenso, forjan-
393
H
Hegemonia
do um ser social adequado aos interes-
ses (e valores) hegemnicos (Fontes,
2006, p. 212).
Assim, o terreno da sociedade ci-
vil aparece como local de formulao
e consolidao dos projetos sociais e
de constituio das vontades coleti-
vas, por se confgurar como momen-
to organizativo e espao de mediao
entre o mbito da dominao direta (a
produo), mediante a organizao e o
convencimento, e o terreno da direo
geral e do comando sobre o conjunto
da vida social, por meio do Estado em
sentido estrito (sociedade poltica).
Dessa forma, a hegemonia, criada e
recriada numa teia de instituies, rela-
es sociais e ideias, , necessariamen-
te, como afrma Gramsci, uma relao
pedaggica, que se verifca no apenas
no interior de uma nao, entre as di-
versas foras que a compem, mas em
todo o campo internacional e mundial,
entre conjuntos de civilizaes nacio-
nais e continentais. (Gramsci, 2001,
v. 1, p. 399). No mbito nacional, essa
relao pedaggica se desenvolve no
seio do Estado, que assume o papel
de Estado educador, capaz de adaptar
o conjunto da sociedade a uma forma
particular de estar no mundo. Segun-
do Neves:
O Estado educador, como ele-
mento de cultura ativa, deve
servir para determinar a vontade
de construir, no invlucro da so-
ciedade poltica, uma complexa
e bem articulada sociedade civil,
em que o indivduo particular se
governe por si sem que, por isso,
esse autogoverno entre em con-
fito com a sociedade poltica,
tornando-se, ao contrrio, sua
normal continuao, seu com-
plemento orgnico. (2005, p. 26)
Mas quais so as formas especf-
cas de produo social da hegemonia
e da contra-hegemonia? Em primeiro
lugar, deve-se afrmar que essas for-
mas se defnem no processo de luta
que, pela prpria complexifcao das
sociedades capitalistas contemporne-
as, assume cada vez menos a forma de
um assalto frontal e direto a uma forta-
leza central da classe dominante, repre-
sentada pelo Estado (como na fgura
da guerra de movimento, da met-
fora militar empregada por Gramsci),
transformando-se fundamentalmente
numa guerra de posio, com o esta-
belecimento de inmeras trincheiras, o
que envolve uma extensa organizao
industrial, tcnica, de abastecimento e
de unifcao de massas humanas dis-
persas (Gramsci, 2001, v. 3, p. 72), de
forma a que essas trincheiras atuem
como espaos que combinam defesa e
ataque. Para fazer frente a tal tipo de
dominao, Gramsci destaca a necessi-
dade do avano progressivo das foras
em luta, num processo de consolidao
da direo intelectual e moral do con-
junto da sociedade.
A hegemonia nada tem de esttica
ou de mecnica. O crescimento inces-
sante de novas contradies na socie-
dade capitalista, tanto no interior das
fraes dominantes quanto entre as
classes sociais, resulta em equilbrios
sempre provisrios. Permanentes dispu-
tas hegemnicas alteram e recompem
as formas de dominao burguesa. A
soluo de tenses internas entre fra-
es de classe pode ocorrer pela cap-
tura para o interior da viso de mundo
dominante de segmentos expressivos
dos grupos subalternos (transformis-
mo). Da a extrema importncia, para
Gramsci, de que os trabalhadores cons-
truam organizaes de modo a garantir
uma prtica coerente, uma formulao
Dicionrio da Educao do Campo
394
intelectual que supere a fragmentao
do senso comum e, ao mesmo tempo,
integre a alta cultura, elevando-a e
disseminando-a para toda a humanida-
de, o que corresponde a uma direo
intelectual e moral dos trabalhadores
que os torne aptos a superar a diviso
em classes sociais, integrando todas as
classes subalternas.
Em segundo lugar, a hegemonia su-
pe, mas no se limita a, uma produo
discursiva, pois envolve o conjunto da
vida social em suas diferentes prticas.
Como aponta Williams, o conceito de
hegemonia v
[...] as relaes de domnio e
subordinao, em suas formas
como conscincia prtica, como
efeito de saturao de todo o
processo de vida no s de
atividade poltica e econmica,
no s de atividade social mani-
festa, mas de toda a substncia
de identidade e relaes vividas,
a uma tal profundidade que as
presses e limites do que se pode
ver, em ltima anlise, como sis-
tema econmico, poltico e cul-
tural, nos parecem presses e li-
mites de simples experincia e
bom senso. (1979, p. 113 )
Assim, a hegemonia no redutvel
ideologia, nem pode ser compreendida
como simples manipulao ou doutri-
nao. Constitui todo um conjunto de
prticas e expectativas sobre a totalidade
da vida, um sistema vivido de signif-
cados e valores constitutivo e consti-
tuidor que, ao serem experimentados
como prticas, parecem confrmar-se
reciprocamente (1979, p. 113).
O conceito de hegemonia recupera,
assim, o sentido de totalidade concreta,
porque remete experincia vivida dos
sujeitos, evidenciando seu carter mo-
lecular, introduzindo-se capilarmente
no dia a dia das relaes sociais. por
isso que Williams destaca que
[...] uma hegemonia vivida
sempre um processo. No , ex-
ceto analiticamente, um sistema
ou uma estrutura. um com-
plexo realizado de experincias,
relaes e atividades, com pres-
ses e limites especfcos e mu-
tveis. [...] [portanto] no existe
apenas passivamente como for-
ma de dominao. Tem de ser
renovada continuamente, re-
criada, defendida e modifcada.
(1979, p. 115)
Porm isso no signifca que ela
possa ser considerada absoluta. Se a
hegemonia uma relao, ela tambm
sofre uma resistncia continuada, limi-
tada, alterada, desafada por presses
que no so as suas prprias presses
(Williams, 1979, p. 115). Toda relao de
hegemonia pressupe, como possibili-
dade, a existncia de experincias, rela-
es e atividades contra-hegemnicas.
Isso porque a realidade de qualquer
hegemonia, no sentido poltico e cultu-
ral ampliado, de que, embora por de-
fnio seja sempre dominante, jamais
ser total e exclusiva (ibid., p. 116).
Em terceiro lugar, importante des-
tacar que, se o substrato fundamental
da hegemonia burguesa repousa sobre
o convencimento ou a adeso das gran-
des massas, ela no dispensa o exerc-
cio da coero. Marx e Engels (2007),
contrapondo-se aos argumentos libe-
rais, mostraram que o poder do Estado
no repousa apenas em seu visvel apa-
rato coercitivo, mas encontra suas razes
395
H
Hegemonia
fundamentais no processo de domina-
o de classes. Dessa forma, violncias
sociais constitutivas da existncia social
sob o capitalismo como o permanen-
te processo de expropriaes, o despo-
tismo da propriedade ou a naturaliza-
o de relaes histricas so veladas
pela aparente neutralidade e distan-
ciamento do Estado, que derivam do
fato de que
[...] toda nova classe social que
toma o lugar de outra que do-
minava anteriormente obri-
gada, para atingir seus fns, a
apresentar seu interesse como
o interesse comum de todos os
membros da sociedade, quer
dizer, expresso de forma ideal:
obrigada a dar s suas ideias
a forma da universalidade, a
apresent-las como as nicas ra-
cionais, universalmente vlidas.
(Marx e Engels, 2007, p. 48)
Por essa razo, Gramsci aborda
a hegemonia no terreno das relaes
de fora, o que inclui tambm as re-
laes militares, em sentido estrito ou
no sentido poltico-militar (Gramsci,
2001, v. 3, p. 40-44), e, embora desta-
cando o sentido fundamental do con-
vencimento, jamais esquece o papel
subjacente da coero na construo
da hegemonia burguesa. Em famosa
expresso, afrma que Estado
=
so-
ciedade poltica + sociedade civil, isto
, hegemonia couraada de coero
(ibid. p. 244). Para ele:
O exerccio normal da he-
gemonia, no terreno tornado
clssico do regime parlamentar,
caracteriza-se pela combinao
da fora e do consenso, que se
equilibram de modo variado,
sem que a fora suplante em
muito o consenso, mas, ao con-
trrio, tentando fazer com que
a fora parea apoiada no con-
senso da maioria, expresso pe-
los chamados rgos da opinio
pblica jornais e associaes ,
os quais, por isso, em certas
situaes, so artificialmente
multiplicados. (Gramsci, 2001,
v. 2, p. 95)
Chegamos assim ao quarto ponto
relativo aos processos de construo
da hegemonia. Como vimos acima, ela
se enraza nos processos de luta, sis-
tematizada em aparelhos privados de
hegemonia na sociedade civil; abran-
ge a totalidade concreta das formas de
ser social, atravessando as diferentes
prticas e envolvendo a prpria socia-
bilidade; e promove um consenso que
procura escamotear a violncia sobre
a qual se instaura. Para alm desses
elementos, Gramsci fez outra enorme
contribuio, ao aprofundar o conceito
de intelectual. Nos processos de conven-
cimento e de luta hegemnica, cabe pa-
pel fundamental aos intelectuais, consi-
derados no apenas como pensadores
ou escritores, mas como organizado-
res sociais e persuasores permanentes.
conhecida a crtica de Gramsci aos
que, compreendendo a diviso social
do trabalho, que ope o trabalho inte-
lectual (tarefas de elaborao) ao tra-
balho manual (tarefas de execuo),
simplesmente desconsideram o fato
de que todos os homens so intelec-
tuais. Gramsci procura apreender, nas
condies concretas do capitalismo do
sculo XX, a forma precisa pela qual
as ideias da classe dominante so, em
cada poca, as ideias dominantes, isto
, a classe que a fora material domi-
nante da sociedade , ao mesmo tempo,
Dicionrio da Educao do Campo
396
sua fora espiritual dominante (Marx e
Engels, 2007, p. 47). Nesse sentido, na
refexo gramsciana, os intelectuais no
so apenas elaboradores de ideias, mas
integram as foras sociais concretas em
luta, articulando-as s suas condies
materiais de existncia:
Todo grupo social, nascendo no
terreno originrio de uma funo
essencial no mundo da produo
econmica, cria para si, ao mes-
mo tempo, organicamente, uma
ou mais camadas de intelectuais
que lhe do homogeneidade e
conscincia da prpria funo,
no apenas no campo econmi-
co, mas tambm no social e pol-
tico: o empresrio capitalista cria
consigo o tcnico da indstria,
o cientista da economia polti-
ca, o organizador de uma nova
cultura, de um novo direito etc.
(Gramsci, 2001, v. 2, p. 15-16)
A hegemonia liga os diferentes mo-
mentos da vida social, unifcando-os
sob a direo de determinada frao da
classe dominante, uma vez que, sendo
permanentemente produzida na socie-
dade civil, ela se consolida na socieda-
de poltica, no domnio direto expresso
no Estado. A funo social preponde-
rante dos intelectuais exatamente a da
organizao e da conexo, ao favorecer
a converso das foras hegemnicas na
sociedade civil em formas de domnio
estatal e, assim, exercer uma pedagogia
do consenso extensvel a toda a socie-
dade. Vejamos como o prprio Gramsci
apresenta o papel dos intelectuais, na
articulao entre a hegemonia e o do-
mnio direto: Estas funes [hegemo-
nia e domnio estatal] so precisamente
organizativas e conectivas. Os intelec-
tuais so os prepostos do grupo do-
minante para o exerccio das funes
subalternas da hegemonia social e do
governo poltico (Gramsci, 2001, v. 2,
p. 20-21).
Em Gramsci, o conceito de hege-
monia assume dupla conotao. Na
primeira, indica a maneira pela qual os
trabalhadores precisam elaborar orga-
nizaes capazes de superar as limi-
taes corporativas ou limitadamente
jurdicas para assumirem as tarefas de
libertao da explorao e das diversas
formas de opresso social. Precisam,
pois, alar-se a um grau superior, inte-
lectual e moral, a partir do qual suas
prticas e suas formulaes orgnicas
permitam a plena socializao da exis-
tncia. A segunda conotao envolve a
primeira: no se trata apenas da expres-
so de uma vontade dos trabalhadores,
mas do enfrentamento das condies
efetivas, materiais e culturais, desenvol-
vidas pela prpria dominao de classes
sob o capitalismo, nas quais os proces-
sos de lutas conduziram a uma modif-
cao ampliao do Estado, resul-
tando em condies de luta complexas,
uma vez que transbordam o Estado em
sentido estrito e abrangem as mais va-
riadas manifestaes da vida social.
Para saber mais
ACANDA, J. L. Sociedade civil e hegemonia. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.
ANDERSON, P. As antinomias de Gramsci. So Paulo: Jorus, 1986.
BOTTOMORE, T. (org.). Dicionrio do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
397
H
Hidronegcio
BUCI-GLUCKSMANN, C. Hgmonie. In: BENSUSSAN, G.; LABICA, G. Dictionnaire cri-
tique du marxisme. Paris: PUF, 1999.
ENGELS, F. A origem da famlia, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro:
Vitria, [s.d.].
FONTES, V. Sociedade civil no Brasil contemporneo: lutas sociais e luta terica
na dcada de 1980. In: LIMA, J. C. F.; NEVES, L. M. W. Fundamentos da educao es-
colar do Brasil contemporneo. Rio de Janeiro: Escola Politcnica de Sade Joaquim
Venncio/Fiocruz, 2006.
GRAMSCI, A. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001. V. 1:
Introduo ao estudo da flosofa; V. 2: Os intelectuais e o princpio educativo; V.
3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a poltica.
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alem. So Paulo: Boitempo, 2007.
NEVES, L. M. W. (org.). A nova pedagogia da hegemonia. Estratgias do capital para
educar o consenso. So Paulo: Xam, 2005.
WILLIAMS, R. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
H
HIDRONEGCIO
Roberto Malvezzi
Hidronegcio , literalmente, o
negcio da gua, e tem bvia inspira-
o na expresso agronegcio. O ter-
mo surgiu da necessidade de se criar
uma expresso que abrigasse sob a
sua sombra todos os tipos de negcios
que hoje surgem a partir da gua.
O negcio da gua mltiplo, as-
sim como os seus usos e valores. Hoje,
negcio quando engarrafada, no ser-
vio de saneamento ambiental, no seu
intenso uso na irrigao, na pecuria,
na indstria, e assim por diante. O ne-
gcio da gua, at pouco tempo atrs,
era estimado como o mais promissor
deste incio de milnio.
Existe uma oligarquia internacio-
nal da gua. Essa oligarquia est priva-
tizando e mercantilizando a gua em
todo o planeta. Ela se subdivide em
vrios ramos, conforme o mltiplo
uso das guas. Esse fenmeno au-
mentou muito nos ltimos anos. Essa
oligarquia produz conhecimento, d
a direo do discurso, tem o poder
da narrativa, influencia a mdia e de-
termina a agenda mundial da gua.
Porm, tem enfrentado percalos que
no estavam em suas projees. Um
dos principais obstculos a resistn-
cia popular em vrias partes do mun-
do a qualquer princpio de mercantili-
zao e privatizao da gua.
O Brasil e o hidronegcio
O Brasil possui, segundo dados
mais recentes, 13,8% da gua doce dos
Dicionrio da Educao do Campo
398
rios do planeta (Brasil, 2003, p. 29).
Tem ainda grande abundncia de guas
subterrneas e o nico pas de dimen-
ses continentais em que chove sobre
todo o territrio nacional. Por todos
esses dados, considerado como a
maior potncia mundial em volume de
gua doce do planeta. Por razes b-
vias, as guas brasileiras so objeto de
cobia nacional e internacional.
A nova poltica mundial da gua
chegou ao Brasil na dcada de 1990 pe-
las mos do Banco Mundial. Uma srie
de estudos sobre as guas brasileiras
foi desenvolvida para diagnosticar a si-
tuao de nossas guas, resultando em
vrios volumes. Em 1997, foi promul-
gada a Lei Nacional de Recursos H-
dricos n
o
9.433, que instituiu o Sistema
Nacional de Recursos Hdricos e a Po-
ltica Nacional de Recursos Hdricos,
agora em franca implementao.
Porm, a lei, que tem sua ideologia
baseada no valor econmico da gua,
alm de outras contradies, tem o m-
rito de tentar disciplinar o uso de nos-
sas guas de forma racional, a partir
das bacias hidrogrfcas. Na sua con-
tradio interna, prope a gesto de-
mocrtica das guas, com participao
de toda sociedade. No Brasil, a mer-
cantilizao e privatizao da gua se
d pelo uso, mediante a outorga, posto
que constitucionalmente a gua um
bem pblico.
O Brasil tem a maior rede de bacias
hidrogrfcas do planeta, agrupadas em
12 regies hidrogrfcas por proximidade
geogrfca, semelhanas ambientais, so-
ciais e econmicas (Brasil, 2003, p. 29).
Essa questo essencial, porque a gua
um dos caminhos por onde entra o ca-
pital no campo, interferindo, ocupando e
remodelando o espao que antes era das
comunidades indgenas e tradicionais.
A forma como se ocupam os solos e
como se devasta a vegetao repercute
diretamente no assoreamento dos rios
e na contaminao dos corpos dgua.
As mltiplas faces do
hidronegcio
As possibilidades de transformar
a gua em negcio so to variveis
quanto seus mltiplos usos. Por isso, o
novo discurso da gua traz expresses
como valor econmico da gua, escas-
sez, privatizao, mercantilizao e ou-
tras adjetivaes que visam qualifc-la
como um produto entre outros.
Vejamos algumas das formas como
se materializa o hidronegcio.
Energia hdrica
A quase totalidade da energia eltri-
ca brasileira de origem hdrica. As cen-
tenas de barragens espalhadas pelo ter-
ritrio brasileiro so responsveis por
aproximadamente 90% da energia el-
trica consumida no Brasil. O processo
de construo dessas barragens impacta
violentamente o meio ambiente e as po-
pulaes atingidas. Agora, com a escas-
sez de energia, a construo de barra-
gens tornou-se ainda mais polmica.
O primeiro grande exemplo do que
no deve ser feito foi a barragem de
Sobradinho, no rio So Francisco, relo-
cando 72 mil pessoas e inundando qua-
tro cidades. Contudo, o mesmo modelo
adotado durante a ditadura civil-militar
prossegue em Jirau, Belo Monte e demais
projetos de hidreltricas em andamento.
A partir da experincia de Sobradinho,
os atingidos por barragens de outras
regies puderam organizar-se melhor
para defender seus interesses, inclusi-
399
H
Hidronegcio
ve, inviabilizando a construo de al-
gumas delas, principalmente na bacia
do rio Uruguai. dessa luta que sur-
ge o MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR
BARRAGENS (MAB), que ainda hoje en-
frenta a construo de barragens por
todo Brasil. O governo brasileiro no
investia em fontes alternativas de ener-
gia e sobrecarregava os rios brasileiros
com a construo das barragens; po-
rm, agora, investe em matrizes ainda
mais complexas, sobretudo nucleares e
termoeltricas. A energia elica, embo-
ra limpa do ponto de vista de emisso
de CO
2
, tem no mesmo modelo priva-
tizado, agredindo as comunidades tra-
dicionais que esto nos espaos mais
adequados para a expl orao dessa
matriz energtica.
A energia de origem hdrica que
move nosso pas um megarramo do
hidronegcio para empreiteiras, corpo-
raes tcnicas, indstria de turbinas,
geradoras e distribuidoras de energia.
Por consequncia, existe enorme dif-
culdade de implantar uma mistura de
outras fontes de energia, mais sustent-
veis, mais limpas, como a solar, a elica
e a de biomassa, dentro de um novo
modelo de produo e distribuio da
energia gerada.
Irrigao
A produo mundial de alimentos,
sobretudo de gros, no est alicerada
apenas na chamada REVOLUO VERDE
agora, na biotecnologia; est alicera-
da tambm na irrigao. Os dados mais
recentes informam que a irrigao res-
ponde por 70% da gua doce consu-
mida no mundo (Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor, s.d.). Hoje,
no planeta, h 1,5 bilho de hectares
ocupados com agricultura. Desses, 260
milhes so irrigados. Portanto, o pro-
cesso de irrigao produz um contras-
senso, isto , produz mais em menos
terra, porm, consome mais de 70% da
gua doce utilizada, competindo e con-
fitando com outros usos. Esse mtodo
de produo, portanto, tem necessaria-
mente um limite. Alm do mais, a Or-
ganizao das Naes Unidas (ONU)
afrma que cerca de 80 milhes de hec-
tares de um total de 260 milhes de
hectares das reas irrigadas, sobretudo
nas regies ridas e semiridas, esto sa-
linizados (United Nations, 2002, p. 7).
Hoje, da gua doce utilizada no
Brasil, 69% se destinam a irrigao
(Malvezzi e Revers, s.d.). Porm, o uso
crescente e compete diretamente com
os demais usos, principalmente o con-
sumo humano e a dessedentao dos
animais. No Brasil a irrigao est vol-
tada para a produo de gros e de fru-
tas para exportao, mas tambm de
cana irrigada para a produo de lcool
e acar. E soma-se irrigao a carci-
nicultura, ou seja, a criao de camaro
em cativeiro.
A soja tomou conta dos cerrados,
sobretudo no Oeste baiano. Ago-
ra migra para o Norte, na direo do
Araguaia e do Tocantins, e tambm
de Mato Grosso para Rondnia, sem-
pre em busca de gua. Hoje, o enten-
dimento que exportar gros, assim
como exportar carne, signifca, em l-
tima instncia, exportar gua. Criou-se
a expresso gua virtual para tradu-
zir essa gua incorporada ao processo
produtivo, porm sem visibilidade real
ou sem peso no custo do produto.
Mas a expresso no traduz a realida-
de, visto que seu uso efetivo. Seria
melhor conceitu-la como gua invi-
svel. Agora, com a implantao da
nova poltica, comea a cobrana pelo
Dicionrio da Educao do Campo
400
uso da gua, uma prtica ainda mais de-
safadora e cheia de contradies. Por
exemplo, as guas da transposio do
So Francisco criaro o maior mercado
de guas do Brasil, qui do mundo.
Produzir gros em territrio alheio
poupar gua no prprio territrio.
Tcnicas pesadas, como pivs centrais
e irrigao por sulco, consomem ain-
da mais gua do que a microasperso.
Essa a verdadeira disputa pela gua
que se materializa na transposio do
rio So Francisco. A humanidade ter
de rever seu consumo de gua para
irrigao. No existe gua para que
esse modelo de produo continue
ad infnitum.
A quantidade de gua para produzir
alguns alimentos escapa da imaginao
(Brasil, 2003, p. 10). Por exemplo, 1
quilo de arroz demanda 4.500 litros de
gua; um quilo de carne de gado de-
manda 20 mil litros de gua; um quilo
de trigo demanda 1.500 litros. No
por acaso que a agricultura demanda
em mdia 70% da gua doce utilizada
em todo o globo terrestre.
Enquanto isso, os pequenos agri-
cultores, principalmente dentro dos
assentamentos, s vezes no possuem
sequer gua de qualidade para beber.
Compreender que a gua, alm de um
direito humano fundamental para uso
domstico, um meio de produo to
indispensvel quanto a terra ainda
um salto de qualidade que o movimen-
to social apenas comea dar. Luta-se
pela terra, ainda no se luta pela gua
como meio de produo.
Existem iniciativas ainda incipientes
nessa direo, sobretudo no semirido,
com a captao de gua de chuva para
a chamada irrigao de salvao. Capta-
se a gua de chuva em reservatrios
pequenos, e usada nos momentos em
que falta a chuva para complementar
o perodo de germinao das plantas.
Dessa forma, poupa-se gua de chuva e
produzem-se alimentos sem investir nos
aquferos subterrneos ou nos rios. Essa
irrigao, aliada agricultura orgnica,
ecologicamente sustentvel e pode abrir
um novo horizonte na produo dos as-
sentamentos e da pequena agricultura.
Ainda mais: se a captao de gua
de chuva para a pequena irrigao vi-
vel no semirido, pode ser muito mais
em outras regies com maior ndice de
precipitao. No h motivos para que
os assentamentos fquem aguardando
apenas as chuvas, sem cooperar com
a natureza, sem armazenar essa gua
para os perodos de estiagem. O mo-
vimento social comea a dar os primei-
ros passos para assimilar o binmio
terragua como meio de produo
indissocivel e indispensvel. Nos dias
atuais, preciso fazer sempre a ressal-
va da mudana climtica e dos cenrios
funestos que se desenham para a agri-
cultura e para o prprio abastecimento
de gua potvel.
Carcinicultura
Outro ramo do hidronegcio, muito
mais especfco, a criao de ca-maro
em cativeiro. Segundo dados da Orga-
nizao das Naes Unidas para Agri-
cultura e Alimentao (FAO), a criao
de 1 quilo de camaro em cativeiro
consome de 50 a 60 mil litros de gua,
ou seja, aproximadamente 50 a 60 to-
neladas. Some-se criao de camaro
tambm a de peixes em cativeiro, assim
como a de ostras e de outros frutos do
mar. a chamada Revoluo Azul, a
aquicultura, quando se supunha que a
produo de alimentos iria se transferir
da terra para a gua.
401
H
Hidronegcio
Nessa perspectiva, o governo, pela
primeira vez na histria do Brasil, pri-
vatizou os espelhos dgua, atravs do
decreto n 2.869, de 9 de dezembro de
1998, que regulamenta a cesso de guas
pblicas para explorao da aquicultura
(Brasil, 1998). So reas que, antes aces-
sveis a todos os pescadores, agora esto
restritas ao uso das empresas. Portanto,
trata-se de outra forma de privatizar o
uso da gua, no s como elemento a
ser utilizado, mas como espao agora
apropriado por particulares.
O nvel de degradao ambiental ge-
rado por esse ramo do hidronegcio j
mostra seu impacto no plano mundial.
Alm de expulsar os pescadores tradi-
cionais dos mangues e provocar danos
ambientais fauna local, uma ativi-
dade que consome mais gua doce do
que a prpria irrigao. Essa atividade
econmica tem tomado conta de todo
o litoral nordestino, incrementado a ex-
portao e gerado uma elite empresarial
que se benefcia dela em detrimento das
comunidades tradicionais e do meio
ambiente em geral.
Saneamento ambiental
As empresas francesas Vivendi e
Suez fazem parte dessa lista. Aboca-
nham cerca de 40% do mercado de
gua existente, fornecendo servios de
recursos hdricos para mais de 110 mi-
lhes de pessoas. Existe ainda a RWE
alem, que acabou comprando a bri-
tnica Thames Water e a American
Water Works, a maior empresa privada
de servios de recursos hdricos dos
Estados Unidos. Normalmente essas
empresas se associ am a, ou com-
pram empresas locais, adotando um
novo nome de fantasia (Associao
gua Pblica, 2011).
Esse fenmeno seria impossvel
sem a convergncia das autoridades
pblicas com o setor privado. O Ban-
co Mundial, a Organizao Mundial do
Comrcio (OMC) e o Fundo Monetrio
Internacional (FMI) so os principais
organismos a servio dessa oligarquia
internacional da gua (Petrella, 2002).
Por meio da chamada condicionalida-
de cruzada, essa oligarquia impe a
privatizao e mercantilizao da gua
em troca de emprstimos. uma cor-
da posta no pescoo dos pases pobres
ou subordinados.
A poltica mundial que transfere os
servios de saneamento para o setor
privado d-se hoje principalmente pe-
las parcerias pblico-privadas (PPPs),
agora tambm lei no Brasil. mais um
servio pblico que passa a ser gerido
pelo setor privado e que se torna um
dos mais cobiados e lucrativos ramos
do hidronegcio.
gua engarrafada
Outro ramo fantstico do hidrone-
gcio a gua engarrafada. Hoje, em
mdia, a gua comprada em copo nos
bares sai por dois reais o litro, isto ,
praticamente o preo de um litro de
gasolina. As empresas que mais tra-
balham o ramo da gua engarrafada
mineral ou no so a Coca-Cola, a
Nestl e outras que vo se apoderando
desse ramo do hidronegcio.
Um dos exemplos da luta pela gua
engarrafada, mineral ou no, o que a
Nestl tem feito com os mananciais da
regio hidromineral de So Loureno,
Minas Gerais. Ao adquirir o direito de
lavra dessas guas, pressionou de tal
forma certos mananciais que acabou
por elimin-los. A partir da, a Nestl
adotou uma srie de procedimentos de
Dicionrio da Educao do Campo
402
desmineralizao de um tipo de gua,
inclusive de forma ilegal. O que se
revela mais a fundo nessa atitude
a relao puramente mercantil com a
gua. O hidronegcio, como qualquer
negcio, visa exclusivamente ao lucro.
A resistncia
Embora repita aqui uma refexo
j feita antes, importante ressaltar a
resistncia privatizao da gua que
existe em todo o planeta. Essa resis-
tncia tem difcultado a estratgia das
empresas, da OMC, do FMI e do Ban-
co Mundial. Um dos exemplos a re-
sistncia boliviana no ano 2000. A Lei
de guas, privatizando o servio em
Cochabamba, j estava aprovada. A
populao cercou a cidade e ela fcou
em estado de guerra. Uma pessoa foi
morta e vrias fcaram feridas. A bata-
lha urbana durou sete dias, mas a lei
de privatizao foi revogada. O bloco
social que se articulou em defesa da
gua foi fundamental para o acesso de
Evo Morales ao poder. Podem ser cita-
das tambm as resistncias de Tucumn
(Argentina), Vancouver (Canad), frica,
ndia e Brasil.
Nesse contexto, possvel lembrar
a reao da populao privatizao da
Empresa Baiana de gua e Saneamen-
to S.A. (Embasa), na Bahia, que contou
com forte participao da Igreja, obri-
gando o governo estadual a recuar de
sua deciso de privatizar os servios
de gua do estado. No Brasil, ainda,
vale recordar a reao ao projeto de lei
n
o
4.147 do governo federal, que pre-
tendia abrir caminhos para a privatiza-
o dos servios bsicos de abasteci-
mento e saneamento.
Mais do que uma poca de mudan-
as, estamos atravessando uma mudana
de poca. Nessa transio confitiva,
a disputa pela gua tornou-se um ele-
mento crucial. A defesa da gua como
bem comum tem forte apelo popular,
posto que um elemento vital e im-
prescindvel que est em disputa.
Para saber mais
ANTUNES, P. DE B. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Jris, 2000.
ASSOCIAO GUA PBLICA. O programa conjunto do PSD, PS e CDS para a privatizao
da gua. Lisboa: Associao gua Pblica, 2011. Disponvel em: http://resistir.
info/agua/programa_conjunto_psd_ps_cds.html. Acesso em 28 set. 2011.
BRASIL. Decreto n 2.869, de 9 de dezembro de 1998: regulamenta a cesso de
guas pblicas para explorao da aquicultura e d outras providncias. Dirio
Ofcial da Unio, Braslia, 10 dez. 1998. Disponvel em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/D2869.htm. Acesso em: 21 out. 2011.
______. Decreto n
o
24.643, de 10 de julho de 1934: decreta o Cdigo de guas.
Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 11 jul. 1934. Disponvel em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm. Acesso em: 7 maio 2011.
______. Lei n
o
4.771, de 15 de setembro de 1965: institui o novo Cdigo
Florestal. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 16 set. 1965. Disponvel em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm. Acesso em: 7 maio 2011.
403
H
Hidronegcio
______. Lei n
o
9.433, de 8 de janeiro de 1997: institui a Poltica Nacional de
Recursos Hdricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hdricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituio Federal, e altera o
art. 1 da lei n 8.001, de 13 de maro de 1990, que modifcou a lei n 7.990, de 28
de dezembro de 1989. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 9 jan. 1997. Disponvel em:
http://www.aneel.gov.br/cedoc/blei19979433.pdf. Acesso em: 7 maio 2011.
______. Lei n
o
9.984, 17 de julho de 2000: dispe sobre a criao da Agncia
Nacional de guas ANA, entidade federal de implementao da Poltica Nacional
de Recursos Hdricos e de coordenao do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hdricos, e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia,
18 jul. 2000. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9984.
htm. Acesso em: 7 maio 2011.
______. MINISTRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). SECRETARIA DE RECURSOS
HDRICOS. Plano Nacional de Recursos Hdricos. Braslia: Centro de Informao,
Documentao Ambiental e Editorao, 2003.
CRITAS BRASILEIRA; COMISSO PASTORAL DA TERRA (CPT). gua de chuva. 2. ed. So
Paulo: Paulinas, 2001.
______; ______. Bendita gua. Goinia: Terra, 2002.
COSTA, A. Introduo ecologia das guas doces. Recife: Imprensa Universitria da
UFRPE, 1991.
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). gua: um recurso cada
vez mais ameaado. So Paulo: Idec, [s.d.]. Disponvel em: http://www.idec.org.
br/biblioteca/mcs_agua.pdf. Acesso em: 21 out. 2011.
MALVEZZI , R. Mi l quat r ocent os e sessent a di as no Impri o do Sol . So Paul o:
Paulinas, 1985.
______. Semirido: uma viso holstica. 2. ed. Braslia: Confea, 2009.
______; REVERS, I. As perspectivas do uso da gua e dos solos no Brasil. Goinia:
Comisso Pastoral da Terra, [s.d.]. Disponvel em: http://www.mmcbrasil.com.br/
artigos/110809_agua_brasil.pdf. Acesso em: 28 set. 2011.
MORELLI, L. Grito das guas. Joinville: Letradgua, 2003.
NOVAES, W. A dcada do impasse: da Rio-92 Rio + 10. So Paulo: Estao
Liberdade/Instituto Socioambiental, 2002.
PETRELLA, R. O manifesto da gua. Petrpolis: Vozes, 2002.
PORTO-GONALVES, C. W. A globalizao da natureza e a natureza da globalizao.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2006.
REBOUAS, A. C. ET AL. guas doces no Brasil: capital ecolgico, uso e conservao.
So Paulo: Escrituras, 1999.
REZEK, J. F. Direito internacional pblico. 8. ed. So Paulo: Saraiva, 2000.
Dicionrio da Educao do Campo
404
SANTOS, M. Por uma outra globalizao. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.
UNITED NATIONS (UN). WATER, ENERGY, HEALTH, AGRICULTURE AND BIODIVERSI-
TY (WEHAB) WORKING GROUP. A Framework for Action on Agriculture. In: WORLD
SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WSSD). 2002, Joanesburgo. Anais
Joanesburgo: WSSD, 2002. Disponvel em: http://www.un.org/jsummit/html/
documents/summit_docs/wehab_papers/wehab_agriculture.pdf. Acesso em: 7
maio 2011.
405
I
I
IDOSOS DO CAMPO
Johannes Doll
O que signifca ser idoso do campo?
Envelhecer em uma estrutura familiar
ainda existente, acolhido pelas gera-
es mais novas e respeitado na comu-
nidade? Ou abandonado tanto pela so-
ciedade quanto pela famlia, na solido,
na pobreza, em condies precrias de
acesso ao sistema de sade, ao sistema
de transporte, a alguma forma de lazer?
Na verdade, existem diferentes formas
de envelhecer no campo, e, por isso, h
muitas velhices do campo. Durante os
ltimos cem anos, a sociedade brasilei-
ra se modifcou profundamente, e estas
mudanas tiveram um forte impacto
tambm no contexto rural. As pessoas
idosas de hoje vivenciaram essas mo-
difcaes e suas consequncias nas
prprias vidas. Esse desenvolvimento
histrico constituiu determinadas con-
dies de vida no campo sob as quais
os idosos se encontram hoje. Essas
mudanas referem-se no somente s
condies econmicas ou s condies
de vida tambm tiveram impacto nas
estruturas familiares e no papel que os
idosos exercem hoje nos seus contex-
tos familiar e comunitrio.
Quem idoso?
O processo de envelhecimento afe-
ta as pessoas em todas as suas esferas:
biolgica, psicolgica, social e espi-
ritual. Na parte biolgica,
1
existe um
processo de envelhecimento celular
que leva a uma srie de modifcaes
fsicas. A pele perde a sua elasticidade e
nela aparecem manchas. Os cabelos se
tornam mais fnos, fcam grisalhos pela
falta de pigmentao, ou simplesmen-
te caem. Observa-se uma diminuio
da massa muscular e um aumento da
gordura. Os diferentes rgos, como
o corao, o intestino, o pulmo etc.,
diminuem sua capacidade de funciona-
mento. Envelhecer no uma doena,
mas as modifcaes fsicas levam o
corpo a ter menos reservas e maiores
difculdades para se adaptar a novas
situaes ou a desafos especialmente
grandes. Por isso, o risco de contrair
uma doena aumenta. O processo de
envelhecimento depende, em parte,
da estrutura gentica, mas os aspectos
ambientais, como alimentao, esti-
lo de vida, tipo de trabalho, condies
de preveno da sade etc., tambm
infuenciam de forma signifcativa o
envelhecimento. importante cons-
tatar que estas mudanas podem ser
infuenciadas, at certo ponto, pelas
condies em que as pessoas vivem e
por seu estilo de vida, e que nem to-
das so irreversveis, o que chama-
mos de plasticidade no processo de
envelhecimento. Especialmente a mus-
culatura, mas tambm a capacidade
dos rgos podem ser influenciadas,
por exemplo, por atividades fsicas
adequadas. Assim, existem idosos em
condies de sade melhor do que
pessoas jovens.
O envelhecimento psicolgico se
refere principalmente s capacidades
cognitivas, como memria, inteligncia
Dicionrio da Educao do Campo
406
e formas de resoluo de problemas.
Durante muito tempo, acreditava-se
em um declnio natural e irreversvel
destas capacidades durante o proces-
so de envelhecimento. Pesquisas lon-
gitudinais que acompanharam grupos
de pessoas durante seu processo de
envelhecimento, s vezes por dca-
das, demonstraram que a manuteno
ou a perda das capacidades cogniti-
vas dependem muito mais de fatores
como escolaridade, profsso e sade
do que da idade calendria. Durante o
processo de envelhecimento, a maioria
destas capacidades tende a se manter
relativamente estvel, e certo declnio
se observa somente em idades bastan-
te avanadas, ou em caso de doenas.
Alm das capacidades cognitivas, as
emoes, convices, atitudes e estra-
tgias de enfrentamento tambm fa-
zem parte dos aspectos psicolgicos.
Estes dependem principalmente da
personalidade, de processos de apren-
dizagem durante a infncia e durante a
vida, mas tambm de aspectos culturais
presentes na comunidade e na socieda-
de. Em relao velhice, estes aspectos
tambm tendem a se manter estveis
durante o processo de envelhecimento,
podendo acentuar-se certas caracters-
ticas j existentes anteriormente. De
fato, a imagem da velhice e as atitudes
em relao aos idosos em certo con-
texto social tm forte infuncia sobre
a (auto)percepo e sobre o comporta-
mento de pessoas idosas.
As imagens da velhice remetem aos
aspectos sociolgicos do envelheci-
mento. A defnio de quem pode ser
considerado idoso depende principal-
mente de regras sociais; inclusive, ob-
serva-se uma diferena interessante en-
tre chamar outra pessoa de idosa e uma
pessoa se declarar idosa. Na pesquisa
Idosos no Brasil,
2
os mais jovens co-
locaram o incio da velhice, na mdia,
aos 66 anos e 3 meses, enquanto a ve-
lhice, para as pessoas com mais de 60
anos, comeava somente com 70 anos
e 7 meses (Neri, 2007). De fato, a idade
a partir da qual algum considerado
idoso uma conveno social. Nos pa-
ses industrializados, usada geralmente
a idade de 65 anos, que se estabeleceu
com base nas regras de aposentadoria.
Como o processo de envelhecimento
em pases em desenvolvimento mais
acelerado pelas condies precrias em
que grande parte da populao vive,
a II Assembleia Mundial de Envelhe-
cimento, em Madri, em 2001, estabe-
leceu o limite de 60 anos para chamar
algum de idoso. No Brasil, o Estatuto
do Idoso de 2003 acolheu a proposta
de 60 anos. Como se pode perceber,
a defnio legal do limite da velhice
somente uma conveno, e no cor-
responde necessariamente percepo
dos prprios idosos.
A velhice, tanto na delimitao et-
ria quanto em relao ao signifcado
desta faixa etria, uma construo
social que se baseia na ideia de uma
idade produtiva e uma idade ps-pro-
dutiva. Por isso, existe uma srie de
eventos sociais que tm relaes com
o imaginrio da velhice. Alm da apo-
sentadoria, j mencionada, e que afeta
principalmente os homens, h, para as
mulheres, a menopausa e o fato de se
tornarem avs.
Em relao ao signifcado atribudo
velhice, observa-se uma mudana sig-
nifcativa durante os ltimos cinquenta
anos, o que Debert (1999) chama de
reinveno da velhice. De fato, durante
muito tempo, existiam poucas pessoas
idosas, e a representao da velhi-
ce era vinculada a uma fase no mais
produtiva, ao desgaste, ao declnio que
apela principalmente caridade para
407
I
Idosos do Campo
assegurar as condies mnimas de
sobrevivncia. Nesta perspectiva, as
famlias eram chamadas a acolherem
seus velhos, que se retiravam aos seus
aposentos, enquanto os velhos de-
samparados eram acolhidos nos asilos.
Com o aumento da expectativa de vida
e do nmero de pessoas idosas, esta re-
presentao demonstrou no ser mais
sufciente, e comeou a luta para uma
nova imagem da velhice. Refexos disso
so observados nas pesquisas geronto-
lgicas que questionam a imagem da
velhice como poca de declnio e apre-
sentam dados que indicam a possibi-
lidade de uma velhice ativa, produtiva
e autodeterminada. No trabalho com
pessoas idosas, surgem propostas edu-
cacionais, como as universidades para a
terceira idade, e, em consonncia com
estas mudanas, evita-se chamar os ve-
lhos de velhos, procurando-se outras
determinaes, como terceira idade,
idoso ou at eufemismos como me-
lhor idade ou idade de ouro.
Percebe-se tambm a necessidade
de diferenciar este suposto grupo de
idosos, que abrange desde pessoas com
60 anos at pessoas com mais de 100
anos. Entre as classifcaes, encontra-
se a diferenciao entre idosos jovens
(terceira idade) e idosos idosos (quarta
idade), que se vincula idade calendria
(jovens: 60-75 anos; velhos: 75 anos e
mais), mas que tambm serve para des-
crever, por um lado, a imagem positiva
da velhice pessoas sem maiores pro-
blemas de sade, curtindo a liberdade
tardia, desfrutando as possibilidades
desta fase , e, por outro, a imagem ne-
gativa perda das capacidades fsicas e
cognitivas, fragilidade, dependncia.
Resumindo, as pessoas idosas
constituem um grupo altamente he-
terogneo, marcado por processos di-
ferentes de envelhecimento, nos quais
aspectos biolgicos, psicolgicos e
sociais interagem de forma complexa
e diferenciada.
Marcas na histria dos
idosos do campo de hoje
Durante os ltimos cem anos, o
meio rural sofreu mudanas profundas,
e as pessoas idosas do campo de hoje
vivenciaram estas mudanas na prpria
pele, obviamente em formas e graus
diferentes, dependendo das situaes
particulares. De fato, a origem de uma
srie de problemas em relao ao cam-
po vem da prpria histria do Brasil,
como aponta Delgado:
A sociedade que se forja no
Brasil depois da Abolio car-
rega no seu mago duas ques-
tes mal resolvidas do sculo
anterior: as relaes agrrias
arbitradas pelo patriciado rural,
mediante Lei de Terras (1850),
profundamente restritiva ao
desenvolvimento da chamada
agricultura familiar; e uma lei
de libertao dos escravos que
nada regula sobre as condies
de insero dos ex-escravos na
economia e na sociedade ps-
Abolio. (2004, p. 16)
Esta herana histrica, junto com
um processo rpido de industrializa-
o e uma abertura ao mercado in-
ternacional, modifcou a sociedade
brasileira durante o sculo XX e, de
forma especial, o meio rural. Entre
os acontecimentos de profundo im-
pacto para as pessoas idosas de hoje,
gostaramos de destacar dois aspectos:
o xodo rural e a introduo de uma
aposentadoria rural.
Dicionrio da Educao do Campo
408
Enquanto, no Brasil, na metade
do sculo XX, a maioria da populao
ainda vivia no campo 63,8%, em
1950, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografa e Estatstica
(IBGE) (2003) , no incio do sculo
XXI, somente uma pequena parcela
ainda reside no meio rural 15,64%,
em 2010, tambm segundo dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografa
e Estatstica, 2010).
Esta transformao aconteceu por
causa de um processo migratrio de
dimenses gigantescas que levou, so-
mente entre os anos 1960 e 1980, 27
milhes de pessoas a abandonarem
seus lugares no campo. Este processo,
conhecido como xodo rural, com-
plexo, e nele podem observar-se ra-
zes, destinos, fases e populaes mi-
gratrias diferentes. Entre as principais
razes que expulsaram a populao
rural do seu espao esto mudanas na
produo agrcola, como mecanizao
e forte uso de insumos, e a consequente
perda de espao, de competitividade e
de emprego de uma grande parte da
populao rural, especialmente dos
produtores familiares e de subsistncia
(Delgado, 2004).
Um segundo fator foi o processo de
industrializao, que atraiu boa parte
da populao rural para as cidades na
busca de supostas melhores condies
de vida. Alm destes dois fatores prin-
cipais, h desastres climticos, difceis
condies de vida no campo (sade,
educao, lazer), mas, tambm, a falta
de perspectivas ou espaos.
Em relao aos grupos populacio-
nais, observa-se hoje a sada princi-
palmente dos jovens e das mulheres,
deixando no campo uma populao
masculina e envelhecida (Camarano e
Abramovay, 1999; Froehlich e Rauber,
2009). Tendo em vista que so princi-
palmente as mulheres que cuidam dos
membros mais velhos da famlia, esse
deslocamento pode criar problemas:
quem cuidar dos homens idosos no
futuro, quando precisaro de ajuda? Re-
sumindo, pode-se dizer que:
[...] com a modernizao no
campo houve um agravamen-
to das condies de vida dos
agricultores familiares, ou seja,
o empobrecimento e o endivi-
damento de grande parte dos
agricultores e, tambm, o des-
locamento significativo da po-
pulao rural para os centros
urbanos. Os agricultores que
permaneceram no campo lu-
tam para conseguir produzir e
manter a qualidade de vida da
sua famlia e o seu bem-estar.
(Godoy et al., 2010, p. 2)
O xodo rural teve um impacto
especialmente problemtico para a
populao idosa: muitos daqueles que
fcaram no campo no s perderam
seu trabalho e sua forma de existn-
cia, mas tambm perderam amigos e
familiares que mudaram para a cidade,
principalmente as geraes mais novas
e as mulheres (Camarano e Abramovay,
1999). Por outro lado, surgiu, a partir
da Constituio de 1988, um novo ele-
mento que agora favoreceu os idosos,
com impactos interessantes e no espe-
rados: a aposentadoria rural.
J existia, desde 1972, o Programa
de Assistncia ao Trabalhador Rural/
Fundo de Assistncia e Previdncia do
Trabalhador Rural (Prorural/Funrural),
com benefcios precrios e limitados.
A partir da Constituio de 1988, com
sua previso de universalizao do
409
I
Idosos do Campo
atendimento aos idosos, foi implanta-
do um sistema de aposentadoria rural,
incluindo trabalhadores formais e in-
formais, com efetiva aplicao a par-
tir de 1992, com as seguintes normas
(Delgado, 2004):
equiparao de condies de a)
acesso para homens e mulheres;
reduo do limite de idade b)
para aposentadoria por idade
(60 anos para homens e 55 anos
para mulheres);
introduo de um piso de apo- c)
sentadoria e penses em um sa-
lrio mnimo.
Este novo sistema teve profundo
impacto na situao econmica dos
idosos rurais e de suas famlias. A in-
cluso dos trabalhadores informais
ampliou rapidamente a abrangncia do
benefcio no meio rural, levando algu-
ma forma de benefcio a mais de 80%
da populao idosa rural (Delgado,
2004). Alm da diminuio da pobreza
e da pobreza extrema entre os idosos e
de uma maior igualdade entre homens
e mulheres, por meio das aposentado-
rias, penses e benefcios, chegaram s
mos dos idosos recursos fnanceiros
que revitalizaram a agricultura fami-
liar. Em mais de 40% das proprieda-
des rurais combinaram-se a fgura do
aposentado com a do responsvel pelo
estabelecimento rural. Desta forma, o
seguro previdencirio se tornou o prin-
cipal instrumento de suporte da pol-
tica agrria para apoiar a agricultura
familiar (ibid.)
[...] os benefcios rurais esto
desempenhando um papel im-
portante na reduo da pobreza
e na melhoria da distribuio de
renda dos idosos. Esto afetan-
do a composio dos arranjos
familiares, a estrutura produtiva
e a economia familiar rural. Fa-
mlias com trs ou mais geraes
tm crescido no meio rural bra-
sileiro. Uma outra consequncia
o maior empoderamento do
idoso dentro da sua famlia, em
particular das mulheres. O pa-
pel tradicional do idoso mudou
de dependente para provedor.
As mulheres foram as maio-
res beneficirias dos avanos
na seguridade social. (Beltro,
Camarano e Mello, 2004, p. 1)
A vida do idoso do
campo de hoje
Cabe, de novo, destacar as diferen-
as que existem dentro desta popula-
o. Uma destas mltiplas facetas o
fato de que cada vez mais vivem no
campo idosos que no esto envolvi-
dos com a agricultura, seguindo uma
tendncia que pode ser observada tam-
bm em outros pases (Delgado, 2004;
Anjos e Caldas, 2005).
Outro aspecto importante que o
processo do envelhecimento popula-
cional tambm est presente no cam-
po. Mesmo que, no campo, a queda da
taxa de natalidade tenha acontecido
mais tarde e de modo menos intenso
do que no contexto urbano, e mesmo
com condies de vida em geral mais
precrias, o nmero de pessoas idosas
e muito idosas est aumentando rapi-
damente tambm no meio rural. Es-
tudos sobre a situao de sade dos
muito idosos do campo revelam que o
perfl das doenas remete s condies
de vida e de trabalho do campo, sendo
Dicionrio da Educao do Campo
410
o reumatismo um dos mais mencio-
nados (Morais, Rodrigues e Gerhardt,
2008). Um dos desafos em relao a
este grupo so os cuidados geralmente
necessrios na idade avanada. Como
so normalmente as mulheres que
cuidam dos idosos, isso complica a
situao onde o xodo rural deixou uma
populao masculinizada e envelhecida,
sobrecarregando as remanescentes.
Apesar de muitas mudanas nas l-
timas dcadas e considerando as dife-
renas existentes entre elas, podemos
confrmar ainda alguns aspectos impor-
tantes da vida dos idosos do campo. O
primeiro a relao do idoso do campo
com o trabalho. De fato, o trabalho
um fator importante de identifcao
e constituio da pessoa, envolvendo
relaes com a sociedade, relaes com
o ambiente e relaes consigo mesmo.
Em estudos qualitativos sobre a iden-
tifcao do idoso do campo com seu
trabalho, estas relaes fcam evidentes
(Machado et al., 2006), e so confrma-
das por dados estatsticos que demons-
tram que a grande maioria dos idosos
do campo, mesmo aposentados, con-
tinua trabalhando (Beltro, Camarano
e Mello, 2004). Neste contexto, o tra-
balho pode assumir diferentes signif-
cados, especialmente para as mulheres
idosas: sofrimento, orgulho, submis-
so, participao social, aprendizagem.
Representa, porm, principalmente, a
resistncia velhice e s imagens nega-
tivas da mesma. Trabalhando, a pessoa
idosa confrma ainda sua presena nes-
te mundo; porm, nem sempre existe
espao para seus conhecimentos, sua
experincia e sua vontade de autorrea-
lizao (Machado et al., 2006).
A religiosidade faz parte do coti-
diano de grande parte dos idosos do
campo, que mantm suas crenas, seus
valores pessoais, sua espiritualidade,
sua cultura. Esta manuteno da reli-
giosidade pode ser interpretada como
resposta incapacidade de lidar com
questes penosas, como sofrimento,
fracasso, dor e morte. Pode, tambm,
ser vista como a disposio para o mis-
terioso, o sobrenatural, a f na vida
humana (Sommerhalder e Goldstein,
2006). Assim, os idosos podem tornar
-se testemunhas de um tipo de vida
movido por uma certa espiritualidade,
ligada sua cultura, ao seu trabalho,
sua vida.
Notas
1
Para maiores detalhes sobre o envelhecimento biolgico, ver, por exemplo, Hayfick, 1997
e Jeckel-Neto, 2006.
2
Para esta pesquisa, foram entrevistadas 1.608 pessoas entre 16 e 59 anos, e 2.136 pessoas
com 60 anos e mais, escolhidas por amostra probabilstica em 204 municpios de todas as
regies do Brasil. Desta forma, trata-se de uma das poucas grandes pesquisas representati-
vas sobre os idosos no Brasil. Ela foi realizada pela Fundao Perseu Abramo, em parceria
com o Servio Social do Comrcio (Sesc) de So Paulo, e os seus resultados foram publica-
dos e analisados por especialistas em Neri, 2007.
Para saber mais
ANJOS, F. S. dos; CALDAS, N. V. O futuro ameaado: o mundo rural face aos
desafos da masculinizao, do envelhecimento e da desagrarizao. Ensaios
FEE, Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 661-694, jun. 2005.
411
I
Idosos do Campo
BELTRO, K. I.; CAMARANO, A. A.; MELLO, J. L. Mudanas nas condies de vida dos
idosos rurais brasileiros: resultados no esperados dos avanos da seguridade ru-
ral. In: CONGRESSO DA ASSOCIAO LATINA AMERICANO DE POPULAO (ALAP),
1. Anais... Caxambu: Alap, 2004. Disponvel em: http://www.alapop.org/2009/
images/PDF/ALAP2004_288.PDF. Acesso em: 4 maio 2011.
CAMARANO, A. A.; ABRAMOVAY, R. xodo rural, envelhecimento e masculinizao no
Brasil: panorama dos ltimos cinquenta anos. Rio de Janeiro: Ipea, 1999.
DEBERT, G. G. A reinveno da velhice: socializao e processos de reprivatizao do
envelhecimento. So Paulo: Edusp, 1999.
DELGADO, G. O setor de subsistncia na economia e na sociedade brasileira: gnese hist-
rica, reproduo e confgurao contempornea. Braslia: Ipea, 2004.
______; CARDOSO JUNIOR, J. C. O idoso e a previdncia rural no Brasil: a ex-
pe-rincia recente da universalizao. In: CAMARANO, A. A. (org.). Os novos idosos
brasileiros: muito alm dos 60? Rio de Janeiro: IPEA, 2004. p. 293-319.
FROEHLICH, J. M.; RAUBER, C. da C. Dinmica demogrfca rural na regio cen-
tral do Rio Grande do Sul: xodo seletivo e masculinizao. In: CONGRESSO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAO E SOCIOLOGIA RURAL
(SOBER), 47. Anais... Porto Alegre: Sober, 2009. Disponvel em: http://
www.sober.org.br/palestra/13/744.pdf. Acesso em: 4 maio 2011.
GODOY, C. M. T. et al. Juventude rural, envelhecimento e o papel da aposentadoria no meio
rural: A realidade do municpio de Santa Rosa/RS. In: CONGRESSO DA SOCIEDA-
DE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAO E SOCIOLOGIA RURAL (SOBER), 48.
Anais... Campo Grande: Sober, 2010. Disponvel em: http://www.sober.org.br/
palestra/15/714.pdf. Acesso em: 4 maio 2011.
HAYFLICK, L. Como e por que envelhecemos. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo 2010. Rio de
Janeiro: IBGE, 2010. Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/censo2010. Acesso em: 13 maio 2011.
______. Estatsticas do sculo XX. Rio de Janeiro: IBGE, 2003. Disponvel em:
http://www.ibge.gov.br/seculoxx. Acesso em: 13 maio 2011.
JECKEL-NETO, E. A.; CUNHA, G. L. da. Teorias biolgicas do envelhecimento. In:
FREITAS, E. V. de et al. (org.). Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006. p. 13-22.
MACHADO, C. L. B. et al. Envelhecimento: conhecendo a vida de homens e mu-
lheres do campo. In: CALDART, R. S.; PALUDO, C.; DOLL, J. (org.). Como se formam os
sujeitos do campo? Idosos, adultos, jovens, crianas e educadores. Braslia: Pronera,
2006. p. 31-50.
MORAIS, E. P.; RODRIGUES, R. A. P.; GERHARDT, T. E. Os idosos mais velhos no
meio rural: realidade de vida e sade de uma populao do interior gacho. Texto
& Contexto Enfermagem, Florianpolis, v. 17, n, 2, p. 374-383, abr.-jun. 2008.
Dicionrio da Educao do Campo
412
Disponvel em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
07072008000200021. Acesso em: 14 set. 2011.
NERI, A. L. (org.). Idosos no Brasil: vivncias, desafos e expectativas na terceira
idade. So Paulo: Perseu Abramo/Edies Sesc-SP, 2007.
SANTOS, J. L. F. et al. O meio rural e a origem do idoso: a sade e a morte na cidade
(resultados do estudo Sabe 2000-2006). In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS
POPULACIONAIS, 17. Anais... Caxambu: Abep, 2010. Disponvel em: http://www.
abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/tema_4/abep2010_2181.pdf.
Acesso em: 4 maio 2011.
SOMMERHALDER, C.; GOLDSTEIN, L. L. O papel da espiritualidade e da religiosidade
na vida adulta na velhice. In: FREITAS, E. V. de et al. (org.). Tratado de geriatria e
gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p. 1.307-1.315.
I
INDSTRIA CULTURAL E EDUCAO
Manoel Dourado Bastos
Miguel Enrique Stedile
Rafael Litvin Villas Bas
De acordo com Theodor Adorno,
em ensaio de 1967, a expresso inds-
tria cultural (IC) foi utilizada pela pri-
meira vez na obra Dialtica do esclareci-
mento, escrita por ele e Max Horkheimer
e publicada em 1947. Naquele ensaio,
intitulado Rsum sobre indstria cul-
tural, ele comenta que, nos rascunhos
do livro, o termo por eles utilizado era
cultura de massas, mas eles optaram
por substitu-lo por indstria cultu-
ral, para deslig-lo desde o incio do
sentido cmodo dado por seus defen-
sores: o de que se trata de algo como
uma cultura que brota espontaneamen-
te das prprias massas, da forma que
assumiria, atualmente, a arte popular
(Adorno, 2001, p. 21).
Professores atuantes na Univer-
sidade de Frankfurt, na Alemanha,
Adorno e Horkheimer concluram o
livro quando estavam exilados nos
Estados Unidos, por conta da ascenso
de Hitler ao poder em 1933. Confron-
tados com a vitria da revoluo na
Rssia, com as derrotas das revolues
na Alemanha e na Hungria, e com a as-
censo do fascismo e do nazismo ao
poder na Itlia e na Alemanha, os auto-
res se perguntaram: por que, tendo as
condies tcnicas para a emancipao,
o indivduo no o faz?
No livro, o captulo A indstria cul-
tural: o esclarecimento como mistifca-
o das massas busca uma resposta para
essa questo, a partir de uma ampla argu-
mentao sobre a forma de operao e as
consequncias da indstria cultural. Com
base no argumento dos autores, podemos
reconhecer que a IC uma dinmica ca-
racterstica do novo momento histrico
gerado pelo declnio da hegemonia ingle-
sa, pelo aparecimento da grande empresa
capitalista, pelo incio da fase imperialista
413
I
Indstria Cultural e Educao
do capitalismo e por uma nova organiza-
o do capital fnanceiro.
Ou seja, tratava-se do processo de
concentrao e centralizao de capital
chamado por diferentes correntes mar-
xistas de capitalismo monopolista.
Portanto, a IC se consolidou historica-
mente entre o fnal do sculo XIX e o
incio do sculo XX, com o desenvolvi-
mento do modelo fordista de produo
e os novos termos de extrao de mais-
valia e acumulao de capital.
O principal aspecto da IC est na
articulao mercadolgica entre cultu-
ra, arte e divertimento tendo em vista a
perpetuao da dominao do sistema
produtivo sobre o trabalhador tambm
em seu tempo livre. A diverso o
prolongamento do trabalho sob o capi-
talismo tardio (Adorno, 2001, p. 33).
Em outros termos, trata-se do feti-
chismo da mercadoria encobrindo os
fundamentos da extrao de mais-valia
no capitalismo monopolista. Ao con-
solidar a diverso como mercadoria, a
IC assenta os termos da dominao
social do capitalismo no sculo XX.
preciso levar em conta o carter
histrico do estilo algo incisivo e fata-
lista de Adorno, obviamente justifcvel
pelo perodo de perspectiva totalitria
to evidente para ele: a vitria dos alia-
dos contra o Eixo na Segunda Guerra
Mundial, longe de anunciar a liberdade,
expunha a nova confgurao da domi-
nao: a da mercantilizao da vida, dos
sentidos e sentimentos, sob a fachada
da democracia liberal. Observando a
um contexto de dominao totalitria,
Adorno no reconhece nenhuma bre-
cha na diverso. De qualquer modo,
reconhecendo que a diverso no um
espao fechado em favor do capital,
devemos considerar tais argumentos
como fundamentais para compreender
a IC como um aparelho que dissemina
e consolida a pedagogia do consumo (o ca-
rter publicitrio da cultura).
A submisso absoluta de arte, cul-
tura e diverso aos parmetros da din-
mica da troca capitalista de mercado-
rias depende de uma compreenso de
que a determinao da superestrutura
ideolgica pela base econmica defne-
se pelas contradies entre foras pro-
dutivas e relaes de produo, confor-
me as afrmaes de Karl Marx (2003)
no Prefcio de 1859 Contribuio
crtica da economia poltica. Seguindo os
argumentos de Adorno e Horkheimer,
podemos afrmar que a IC uma re-
duo imediata e absoluta da superes-
trutura ideolgica aos fundamentos
da base econmica pelos termos do
valor de troca. Tendo isso em vista, a
compreenso atual do conceito de in-
dstria cultural exige necessariamen-
te sua articulao com o conceito de
HEGEMONIA. So conceitos que se articu-
lam e que se sustentam um ao outro, de
forma complementar.
A utilizao poltica da categoria
hegemonia remonta a uma apropria-
o do termo militar pela Revoluo
Russa, reelaborado conceitualmente por
Antonio Gramsci. Da mesma forma
que Adorno, a motivao de Gramsci
era entender o fracasso das revolues
na Alemanha e na Itlia, e a ascenso
do nazifascismo como movimento po-
ltico com adeso das massas operrias
e camponesas. Assim como os intelec-
tuais alemes, Antonio Gramsci de-
senvolveu seu conceito de hegemonia
com base nos mesmos pressupostos de
Marx a respeito da determinao da su-
perestrutura pela base.
Assim, hegemonia , para Gramsci,
a capacidade de direo de uma classe
sobre as demais, por meio da coero
Dicionrio da Educao do Campo
414
(fora) e do consentimento (ideias). E
na esfera da sociedade civil que se en-
contram os aparelhos privados de he-
gemonia, responsveis por construrem
consensos e naturalizarem as relaes
de dominao de uma classe sobre as
demais. neste campo que atuam tanto
a educao quanto a indstria cultural.
Partindo disto, Raymond Williams
(1979) observa que o conceito de he-
gemonia inclui e ultrapassa o conceito
de cultura. Isso porque compreende
que na cultura devem ser reconhecidas
as formas de domnio e subordinao
presentes numa sociedade dividida em
classes. Assim, hegemonia compreen-
dida como todo um conjunto de prti-
cas e expectativas sobre a totalidade da
vida, um sistema vivido de signifcados
e valores constitutivo e constituidor.
Conforma, assim, um senso da realida-
de para a maioria das pessoas na socie-
dade, um senso de realidade absoluta
(ibid., p. 113).
A construo desta realidade ab-
soluta ocorre por meio da ao de
aparelhos de hegemonia, como os meios de
comunicao e as escolas, que padro-
nizam o sentido e o papel de sujeitos
e grupos sociais na vida e na histria.
Esses aparelhos conferem coerncia ao
pensamento e aos valores da classe do-
minante, pautados nos interesses dela e
no estmulo ao consumo e ao mercado
capitalista, com o objetivo de torn-los
os pensamentos e valores (a cultura) de
toda a sociedade. A concentrao dos
meios de comunicao de massa, que
permite a construo do carter alie-
nador e opressivo da indstria cultural,
criou um processo popular pelo seu al-
cance e um processo antipopular pelos
interesses a que presta conta.
A ao da IC procura converter
toda a populao em consumidores
passivos, fabricando e estimulando um
desejo pelo consumo aparentemente de-
mocrtico, como se estivesse acessvel a
todas as classes, quando, na verdade,
inacessvel para a maior parte da popu-
lao. Os produtos da IC so carrega-
dos de valores e mensagens que reafr-
mam a necessidade e o funcionamento
do sistema capitalista, ao mesmo tempo
que estimulam permanentemente a sa-
tisfao pelo consumo de mercadorias
que no correspondem satisfao das
necessidades bsicas de sobrevivncia
(casa, comida, escola etc.). uma es-
tratgia engenhosa de articulao entre
coero e consentimento, na medida
em que o indivduo (ou mesmo classes
inteiras) se reconhece naquilo que, na
verdade, lhe limita a autonomia.
Segundo In Camargo Costa (2006,
p. 4-7), os valores bsicos que per-
meiam essas representaes hegemni-
cas so a livre iniciativa ( que chamam
liberdade), a concorrncia (de todos
contra todos), e a ao individual (cada
um por si) na busca desenfreada de suces-
so e celebridade. O sucesso se traduz na
capacidade de consumo, igualmente
desenfreado, e se confrma pela osten-
tao dos bens consumidos. Porm,
segundo Costa, a propriedade privada
dos meios de produo e a explorao
do trabalho alheio nunca aparecem
como o fundamento do espetculo. Na
falta desta informao bsica, a grande
massa dos consumidores da informa-
o produzida pela indstria cultural
compra a mentira de que bastam a au-
toconfana, o esforo individual e os
prprios mritos para se qualifcar
corrida pelo sucesso (ibid.).
Para isso, o contedo da produ-
o cultural, mesmo quando apresenta
aspectos particulares da organizao
social capitalista, torna impossvel, nos
415
I
Indstria Cultural e Educao
seus prprios termos, qualquer hipte-
se de argumentao crtica ao capitalis-
mo como formao social.
No Brasil, a IC se desenvolveu
como aparelho de hegemonia na d-
cada de 1930. a partir dessa dcada
que o sistema de radiodifuso ganha
importncia, com a compreenso de
seu alto poder de propaganda pelo
governo Getlio Vargas, que enalte-
cia suas aes, a partir de 1935, por
meio da transmisso do Programa
Naci onal (posteri or mente, Hora do
Brasil). Simultaneamente, o sistema de
radiodifuso foi ganhando corpo com
a instalao da Rdio Nacional, no
Rio de Janeiro, em 1936, e da Rdio
Tupi, em So Paulo, no ano seguinte.
Assim, programas musicais e de varie-
dades cumpriam papel semelhante ao
da propaganda poltica, fossem seus
contedos pautados pela exaltao na-
cional ou no.
A organizao desse aparato ra-
diofnico, atrelada aos diversos meios
de diverso j difundidos nas dcadas
anteriores, estava diretamente relacio-
nada com os desdobramentos polticos
da poca. A disputa hegemnica em
jogo na Revoluo de 1930 e no golpe
que instituiu o Estado Novo em 1937
estava pautada no pacto agroindustrial,
ou seja, por um rearranjo pela manu-
teno do Brasil como pas agroexpor-
tador sem, contudo, que se colocassem
entraves atividade industrial.
A contrapartida na luta de classes
se deu com a construo dos sindicatos
e a defnio da Consolidao das Leis
do Trabalho (CLT). Assim, de um lado
estava a classe dominante, revigorada
por um pacto poltico-econmico de
amplo alcance, aproveitando as crises
econmicas internacionais favorveis
ao mercado interno e substituio de
importaes; no outro, davam-se dis-
putas e alianas na luta pela formao
de uma classe trabalhadora organizada
e com fora poltica.
A partir do Golpe Militar de 1964,
a IC como aparelho hegemnico ganha
uma nova infexo. O golpe a resolu-
o pela fora do impasse estabelecido,
na sociedade do perodo, entre um pro-
jeto nacional-desenvolvimentista com
brechas para o avano de conquistas
sociais e a manuteno da subordinao
do pas aos interesses do capital interna-
cional no contexto da Guerra Fria.
A resoluo pela fora implicava
o sufocamento e a extino imediata
dos movimentos sociais em especial
as Ligas Camponesas, alvo de primei-
ra hora e das experincias contra-
hegemnicas de educao popular em
perspectiva emancipatria, que tra-
balhavam de forma coesa e produti-
va as esferas da cultura, da educao,
da economia e da poltica, como, por
exemplo, a proposta da PEDAGOGIA
DO OPRIMIDO, eixo principal do Movi-
mento de Cultura Popular de Pernam-
buco (MCP), coordenado por Paulo
Freire durante o governo estadual de
Miguel Arraes, e os Centros Populares
de Cultura (CPCs), que se espalharam
por mais de doze capitais do pas me-
diante a parceria entre a Unio Nacio-
nal dos Estudantes (UNE) e artistas e
movimentos sindicais e camponeses.
Alm disso, essa resoluo exigia ainda
a subordinao e a aceitao de uma
nova etapa do ciclo de modernizao
conservadora. Principalmente no cam-
po, com o estmulo ao xodo rural, o
fnanciamento estatal rpida mecani-
zao das grandes propriedades, o uso
intensivo de agrotxicos (a REVOLUO
VERDE), o pacto da classe dominante
estabelecido na dcada de 1930 ganhou
Dicionrio da Educao do Campo
416
novos contornos. No toa este pro-
cesso coincide com o fortalecimento
do mercado publicitrio brasileiro, por
meio de altos investimentos na conso-
lidao de um sistema de televiso de
abrangncia nacional. Todos estavam a
servio da construo da identidade de
um pas sem contradies, harmnico,
cordial, uma potncia em crescimen-
to, revelia do pas real.
A presena da TV nos lares de
grande parte dos brasileiros, por todo
o territrio, estimulada a partir da d-
cada de 1970 e alcanando seu pice
nas dcadas seguintes, forjou uma
imagem de pas til para o regime mi-
litar e eficiente para o cumprimento de
mais um ciclo de modernizao con-
servadora. A promessa do pas gran-
de, inserido no concerto das naes,
no era sustentvel diante do acirra-
mento da segregao sociorracial, e a
contradio no tardou a se manifes-
tar por ocasio da crise do petrleo de
1973, que abalou as bases econmicas
do milagre brasileiro.
Movimento idntico ocorreu na edu-
cao, especialmente por meio dos con-
vnios entre o Ministrio da Educao
brasileiro e a Agncia dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional
(Usaid, do ingls United States Agency for
International Development), os chamados
acordos MECUsaid. Estes tinham por
objetivo implantar o modelo escolar norte-
americano, desde o ensino primrio ao
universitrio, da formao dos profes-
sores ao material didtico, com vista
educao tecnicista e s demandas do
mercado. Destaque-se, desses convnios,
o acordo de 1966 entre a Usaid, o Minis-
trio da Agricultura brasileiro e o Con-
selho de Cooperao Tcnica da Aliana
para o Progresso (Contap) para treina-
mento de tcnicos rurais.
Nesse contexto, incluem-se ainda
a reforma universitria, a criao das
disciplinas de Educao Moral e Cvi-
ca e Estudos dos Problemas Brasilei-
ros, e de programas como o Projeto
Rondon criado num seminrio cha-
mado Educao e Segurana Nacio-
nal (!) e o Movimento Brasileiro de
Alfabetizao (Mobral), que buscava
contrapor-se experincia de educa-
o popular e alfabetizao do mtodo
Paulo Freire.
Assim, educao, comunicao e
cultura estavam a servio de um pro-
jeto de destruio ou cooptao dos
projetos contra-hegemnicos anteriores
ao golpe, mas estava a servio, princi-
palmente, da construo do iderio de
um pas-potncia no qual a democracia
seria garantida pelo acesso ao consumo,
e no aos direitos.
Da se explica a adeso acrtica da
escola brasileira aos padres hegem-
nicos da indstria cultural. Aps a var-
redura que a ditadura brasileira operou
sobre as propostas de educao po-
pular que se pautavam pela formao
no sentido emancipatrio, subjetivo,
coletivo e estrutural, o mpeto mercan-
til se fez presente no universo escolar,
mediante a enxurrada de metodologias
modernizantes, que tomavam por si-
nnimo educao e capacitao
tcnica para o mercado de trabalho.
Gruschka ressalta que a chave de an-
lise dos vnculos entre a IC e a escola
no est primeiramente na questo do
ensino e da aprendizagem, mas na sis-
temtica subsuno da educao eco-
nomia (2008, p. 174). Segundo Pucci,
[...] se analisada do ponto de
vista do sistema, a indstria cul-
tural plenamente educativa, se
preocupa com o enforme inte-
417
I
Indstria Cultural e Educao
gral da concepo de vida e do
comportamento moral dos ho-
mens no mundo de hoje; se vis-
ta a partir dos pressupostos da
teoria crtica, a indstria cultural
marcadamente deformativa.
(2003, p. 17).
A relao alienada com os meios
de comunicao hegemnicos con-
sequncia do processo de insero
na modernidade pela via exclusiva
do consumo, mediante o desconhe-
cimento generalizado dos modos de
produo, das tcnicas e das intenes
polticas dos meios de comunicao
de massa.
A presena mais visvel da IC em
sala de aula pode ser aferida pelo uso
do audiovisual como material pedag-
gico. Ferramenta essencial de polticas
modernizantes, como a educao
distncia, ou simplesmente um verda-
deiro alvio para ocupar o planeja-
mento de aulas do educador submetido
a cargas horrias excessivas, o uso do
audiovisual tem sido estimulado per-
manentemente por meio de canais de
televiso pblicos ou privados voltados
para a educao, ou, ainda, por variadas
distribuies de kits, de origem tam-
bm pblica ou privada.
A escola brasileira no considera
a linguagem audiovisual como uma
dimenso necessria de letramento,
que carece de aprendizado dos cdi-
gos, dos procedimentos tcnicos de
edio, dos planos. O status do audio-
visual na escola de suporte parale-
lo ao ofcio de professor, que pode
substituir aulas vagas, complementar
explicaes e suprir a demanda por
entretenimento (Pranke, 2011). A IC
legitimada por supostamente cum-
prir papel formativo, enquanto ades-
tra sensibilidades para o universo do
consumo de imagens e mercadorias.
Sem formao que lhes permita a cr-
tica aos padres estticos hegemni-
cos, estudantes e professores ficam
suscetveis a toda ordem de impulsos
e manobras de legitimao da ordem
da classe dominante.
Tal como em outras linguagens a
literatura, por exemplo , somos educa-
dos para ver o contedo de uma obra,
e no a forma como este contedo
construdo e representado. na forma,
na maneira como o contedo da obra
de arte organizado, que se manifesta o
contedo social em que ela foi gerada.
Portanto, a anlise da obra de arte pres-
supe necessariamente desmont-la de
sua aparncia, compreendendo as im-
plicaes sociais e histricas que deter-
minam sua forma, pressupe analis-la
no pelo perodo histrico a que ela se
refere, mas pelo perodo histrico em
que ela foi produzida.
Para alm do audiovisual, a IC se
faz presente na escola por outros meios,
por exemplo, o negcio dos materiais
pedaggico-didticos, sujeito a forte
lobby das editoras empenhadas na ven-
da de seus produtos, cuja consequn-
cia, para os estudantes, , segundo
Medrani e Valentim, o reforamento
positivo para o consumismo desenfrea-
do de mercadorias capazes de promo-
ver a identifcao e adequao sociais
(2002, p. 79), em detrimento da anli-
se crtica da funo do material did-
tico em si.
Pelo vis da Educao do Campo, a
contestao do modo de produo do
agronegcio, como forma de combate
matriz hegemnica da produo de
alimentos e do uso da terra como mer-
cadoria, encontra na esfera da cultura
seu correspondente na demanda pelo
Dicionrio da Educao do Campo
418
combate s formas da indstria cultu-
ral, conforme sinaliza Damasceno:
O agronegcio est para a agri-
cultura camponesa assim como a
indstria cultural est para a cul-
tura popular. Tanto agronegcio
quanto indstria cultural desen-
volvem-se a partir da explorao
e empobrecimento dos valores
culturais e dos bens naturais, e,
assim, vo eliminando todas as
formas de sociabilidades possi-
bilitadoras de uma convivncia
harmoniosa e justa entre seres
humanos e natureza. (S.d., p. 6)
Agronegcio e IC so, portanto,
partes indissociveis do modo de pro-
duo hegemnico.
No campo das providncias, o pri-
meiro passo reconhecer a IC e suas
formas como um problema a ser pen-
sado e combatido. A formao em sen-
tido emancipatrio pressupe um pro-
cesso de acumulao esttica, a partir
do legado artstico que formalizou as
contradies do processo social. Esse
processo cumulativo gera novos par-
metros de fruio e de conscincia dos
dilemas da experincia brasileira, peri-
frica, colonizada, contraditria. A edu-
cao para percepo das estruturais
formais pode se contrapor infun-
cia inconsciente da ideologia.
A educao brasileira deve, por-
tanto, proporcionar meios crticos de
percepo da mediao que a indstria
cultural estabelece entre indivduo e
mundo, entre vida e realidade. A rei-
fcao da experincia social e a mer-
cantilizao da vida encontram na IC
um dos pressupostos do modo de pro-
duo hegemnico. A formao, nor-
teada pela chave emancipatria, deve
no apenas reconhecer o problema,
mas encontrar os termos contraditrios
da questo que permitam sua superao.
Nesse aspecto, os aparelhos de educao
devem ir alm da condio de oferta de
acesso aos bens culturais, posio que
gira em falso sobre o eixo da ideologia, e
transformar esses aparelhos em espaos
de produo cultural, de socializao
dos meios de produo, e de compreen-
so crtica de nossos dilemas.
Para saber mais
ADORNO, T. Rsum sobre indstria cultural. Revista Memria e Vida Social: Histria
e Cultura Poltica, v. 1, maio 2001.
______; HORKHEIMER, M. Dialtica do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
CANDIDO, A. O direito literatura. In: ESCOLA NACIONAL FLORESTAN FERNANDES
(ENFF) (org.). Literatura e formao da conscincia. Guararema: Escola Nacional
Florestan Fernandes, 2007. (Cadernos de Estudos, 2)
COSTA, I. C. Prefcio. In: COLETIVO NACIONAL DE CULTURA (org.). Teatro e transfor-
mao social. So Paulo: Cepatec/FNC/Minc, 2006. p. 4-7.
DAMASCENO, L. Agronegcio e indstria cultural: mercantilizao e homogeneiza-
o da vida e da arte. (Mimeo.), [s.d.]. Disponvel em: http://pt.scribd.com/
doc/61275854/INDUSTRIA-CULTURAL-E-AGRONEGOCIO. Acesso em:
26 set. 2011.
419
I
Infncia do Campo
GRUSCHKA, A. Escola, didtica e indstria cultural. In: DURO, F. A.; ZUIN, A.;
VAZ, A. F. (org.). A indstria cultural hoje. So Paulo: Boitempo, 2008.
MARX, K. Contribuio crtica da economia poltica prefcio de 1859. So Paulo:
Martins Fontes, 2003.
MEDRANO, E. M. O.; VALENTIM, L. M. S. A indstria cultural invade a escola brasilei-
ra. In: ______. Indstria cultural e educao: refexes crticas. Araraquara: JM, 2002.
MELLO, M. Gramsci e a disputa das ideias da classe trabalhadora. Jornal Sem Terra,
out. 2010.
PRANKE, I. E. A utilizao do audiovisual pela Escola Estadual de Ensino Mdio Joceli
Corra e suas implicaes. 2011. Tese (Graduao em Licenciatura em Educao do
Campo) Convnio UnB/Iterra, Veranpolis, 2011.
PUCCI, B. Indstria cultural e educao. In: ______. Indstria cultural e educao:
ensino, pesquisas, formao. Araraquara: JM, 2003.
WILLIAMS, R. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
I
INFNCIA DO CAMPO
Ana Paula Soares da Silva
Eliana da Silva Felipe
Mrcia Mara Ramos
Na ltima dcada, a infncia dei-
xou de ser tratada como um conceito
singular. Decorre da a exigncia de
falar de infncias e no da infncia,
reconhecendo-se a pluralidade de pr-
ticas culturais e de modos de vida que
confguram a vida das crianas em dife-
rentes contextos sociais, geogrfcos e
polticos. Essa forma de compreenso
da infncia aponta para a impossibili-
dade de estabelecermos uma trajetria
ideal-tpica capaz de englobar todas
as infncias, de dissolv-las em enqua-
dramentos conceituais margem dos
contextos sociais e culturais em que se
encontram e das transaes/relaes
que realizam. Como parte do mesmo
movimento, reconhece-se que o uso
de categorias generalizantes (crianas
pobres e ricas, africanas e europeias,
brancas e negras, do campo e da ci-
dade, entre outras), embora limitante,
serve para demarcar a existncia de
condies materiais e simblicas que
diferenciam as crianas segundo a clas-
se social, a etnia, a raa e o gnero a
que pertencem e a regio do mundo
onde vivem. Portanto, as diferenas
estruturais incidem diretamente na di-
ferena cultural das crianas.
Feitos estes reparos, pode-se afr-
mar que as crianas do campo inscre-
vem-se, como todas as crianas, em
relaes sociais complexas, na medida
em que participam da simultaneidade
de tempos sociais que constitui o
Dicionrio da Educao do Campo
420
mundo global. Elas so sujeitos que
atuam no mundo e so afetados por
ele. Assim, falar de infncia do campo,
das crianas concretas que o habitam,
inexoravelmente falar de sujeitos do
mundo, integrados a lugares, e sujeitos
que a globalizao uniu, partilhando
de seus dramas e tragdias, realidades
e fantasias.
Contraditoriamente, elas esto inclu-
das e excludas, uma vez que so parte de
grupos socioculturais submetidos a
processos distintos de acesso a bens
materiais e imateriais, e implicados em
lgicas de diferenciao atravessadas
por relaes de poder e dominao.
Os direitos da criana
A distribuio desigual da riqueza
material e simblica produz um quadro
de resultados sociais e educacionais ex-
tremamente desfavorvel para as crian-
as do campo.
A violao de direitos sociais pe
em questo uma legislao avanada,
mas ainda de baixa efetividade. Essa le-
gislao, contudo, serve de instrumen-
to de luta em favor das crianas como
sujeitos de direito, e tem se materializa-
do no campo sob vrias perspectivas.
Como todas as crianas, os meninos
e meninas do campo so juridicamente
constitudos como sujeitos de direitos,
o que equivale a dizer que possuem to-
dos os direitos humanos, fundamentais
para qualquer pessoa, que devem ser
reconhecidos e efetivados pela socie-
dade e pelo Estado. Direito vida, ao
lazer, educao, sade, integridade
fsica e moral, convivncia familiar e
comunitria, por exemplo, compem
o rol dos chamados direitos de proteo
infncia. Garantidos na Constituio
Federal e no Estatuto da Criana e do
Adolescente, so marcos para a inser-
o das crianas brasileiras no mundo
dos direitos humanos, num movimen-
to de reconhecimento daquilo que as
iguala em suas condies gerais. Ao
mesmo tempo, legislaes especfcas,
materializadas em leis, decretos e reso-
lues voltados a grupos particulares,
na maioria das vezes resultado da luta
organizada desses mesmos grupos,
compem esse sistema de proteo com
vistas ao combate s desigualdades que
caracterizam a realidade das crianas.
Esse sistema orienta-se pelo princpio
da equidade e da justia social, e pre-
tende promover a visibilidade dos gru-
pos de crianas que se diferenciam por
suas fliaes e identidades territoriais,
tnico-raciais, religiosas, lingusticas e
de gnero.
Assim, o processo de construo
da cidadania das crianas do campo
construdo no embate entre a realidade
plural, geralmente desigual, e os instru-
mentos legais conquistados e dispon-
veis para as crianas flhas de agriculto-
res familiares, extrativistas, pescadores
artesanai s, ri bei ri nhos, assentados
e acampados da Reforma Agrria,
trabalhadores sem-terra, quilombolas
e caiaras.
A desigualdade no que se refere
efetivao de direitos um grande obs-
tculo ao processo de democratizao
do pas. Para a maioria das crianas
que habitam o campo, faltam alguns
elementos bsicos, porm essenciais,
ao projeto moderno. A educao, por
exemplo, dessas ausncias mais pro-
fundas. A escola rural, quando exis-
te, acontece com uma infraestrutura
precria e uma visvel desqualifca-
o profssional, derivada claramente
do abandono do Estado, com pouco
ou nenhum investimento e defnio
421
I
Infncia do Campo
de polticas pblicas. Esses processos
recriam as imagens hegemnicas de
campo e sua ruralidade como lugar
de atraso e de invisibilidade dos su-
jeitos, e fortalece a ideia de desenvol-
vimento vinculada cidade. Quando
referido ao campo, o desenvolvimento
aparece atrelado ao agronegcio, con-
trapondo-se s possibilidades da agri-
cultura familiar e camponesa.
Se os direitos sociais so diaria-
mente violados nas mais diversas reas,
fato verificado pelas estatsticas ofi-
ciais, mais difcil ainda de concretizar
so os chamados direitos de participao.
Esses direitos, que aparecem nas legis-
laes de modo menos enftico do que
os direitos de proteo, inscrevem-se
no processo histrico de socializao
do poder nas sociedades ocidentais,
e compem um dos ltimos direitos
conquistados pelas crianas. Este fato
expressa um componente pouco visi-
bilizado nas discusses das desigual-
dades e dos processos de dominao
que fundam a sociedade ocidental: a
dominao etria ou geracional. So-
mada s dominaes de classe, de gne-
ro, tnico-raciais, lingustica e religio-
sa, a dominao etria caracterizada
por uma tradio que: valoriza e se or-
ganiza em torno daquele que produz
economicamente; educa e disciplina
por meio de prticas punitivas; estabe-
lece a autoridade pelo uso da fora f-
sica; e destina criana o lugar do su-
balterno, reduzindo-a a objeto da ao
dos adultos.
Os direitos de participao efeti-
vam-se nas prticas dirias quando as
infncias so ouvidas sobre seus de-
sejos, suas opinies e seus cotidianos.
Existem hoje vrios programas volta-
dos s crianas que intencionalmente
buscam promover a participao in-
fantil no cotidiano e nos processos de
deciso sobre suas vidas.
No caso das crianas do campo, se
as violaes de grande parte dos direi-
tos de proteo so gritantes, o mes-
mo no pode ser dito, a priori, sobre
os direitos de participao, dado que os
processos de socializao das crianas
so heterogneos. As crianas do cam-
po se integram s prticas familiares e
cotidianas de modos diferenciados. A
incurso nas brincadeiras das crian-
as do campo demonstra como essas
prticas perpassam suas formulaes
de mundo, as quais revelam que a re-
lao com a terra, o rio, a produo de
alimentos e a criao de animais, por
exemplo, so vivenciadas pelas crianas
na condio de partcipes de processos
de produo e manuteno da vida
e da comunidade.
Essa participao social e cotidia-
na se d de modo diferenciado para as
crianas do campo; no caso daquelas
moradoras nos territrios rurais em
que h organizao coletiva, por exem-
plo, em torno dos movimentos sociais,
verifcam-se prticas que efetivamente
promovem formas e criam situaes,
atividades e instrumentos para que a
criana exera sua participao poltica
na sua comunidade. A possibilidade ou
no do exerccio dos direitos de parti-
cipao evidencia o lugar e os papis
que so destinados e ocupados pelas
crianas do campo. Avanar as legisla-
es processo importante, mas mais
importante ainda construir relaes
cotidianas com as crianas que no as
excluam da construo social como su-
jeitos histricos e de direitos.
Um exemplo so as crianas Sem
Terrinha do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST),
cuja identidade vai sendo forjada e
Dicionrio da Educao do Campo
422
construda na luta da sua prpria orga-
nizao: a luta pelo direito de ter escola
no acampamento ou assentamento, de
participar dos encontros e dos ncleos
infantis; pensados para as prprias
crianas, como tambm a sua auto-
organizao a partir da coletividade. Os
encontros estaduais de Sem Terrinha
at 1996 levavam o nome de Congresso
Infanto-Juvenil, mas foi no primeiro
Congresso Infantil Estadual de So
Paulo, com o lema Reforma Agrria,
uma luta de todos e dos Sem Terrinha
tambm, e depois do Manifesto dos
Sem Terrinha ao povo brasileiro, que
as crianas passaram a assumir o nome
de Sem Terrinha. A partir do ano de
1997, em todo o Brasil, os encontros re-
gionais e estaduais passaram a se chamar
Encontro e Jornada dos Sem Terrinha.
O espao de coletividade das crian-
as do campo se constitui na partici-
pao no trabalho, nas atividades po-
lticas, culturais e religiosas, na criao
de espaos ldicos, na luta pelos direi-
tos que tm signifcao para a comu-
nidade e para as crianas, intervindo
do jeito delas e com suas presenas nas
atividades que compartilham com os
adultos. Do coletivo em que as crian-
as esto inseridas e das relaes que
esse coletivo estabelece socialmente,
resultam aprendizagens que fortalecem
a conscincia do direito vida, ao tra-
balho, escola, participao poltica e
do direito de viver plena e dignamente
o tempo da infncia.
Certamente, tal experincia muito
mais densa e profunda quando as crian-
as esto integradas a movimentos so-
ciais, especialmente aqueles que reco-
nhecem a importncia da sua insero
poltica, ldica e cultural. A participao
na vida pblica e a sua insero na es-
fera poltica so marcas de singularida-
de de parcelas signifcativas de crianas
do campo.
Alm do direito de participao po-
ltica e cultural, o direito brincadei-
ra visto como aquele que permite e
garante criana o tempo da infncia.
importante compreender como esse
tempo da infncia vem sendo vivido
pelas crianas e como se efetiva em
suas prticas o direito de brincar.
O direito de brincar um direito
universal. Entretanto, h formas dis-
tintas de exerc-lo, de efetiv-lo, para o
que concorre a materialidade do lugar
e, por sua vez, os signifcados e valo-
res que ele assume. Nas suas formas de
brincar, a historicidade das crianas se
faz constitutiva desse fazer.
No campo, o brincar articula tem-
pos distintos, formas de vida que com-
binam a novidade e a tradio. Nos
lugares em que a espacialidade dissol-
veu, pelos equipamentos disponveis
(rdio, DVD, televiso, entre outros),
as fronteiras campocidade, formas de
sociabilidade miditica so apropria-
das. Contudo, elas no substituem as
formas de sociabilidade que requerem
a presena e o encontro com o outro
nos quintais, nos espaos de produo
da vida em comum.
Nas muitas variaes de brinca-
deiras tradicionais, como pique (pique
alto, cola, esconde, lata), amarelinha,
bandeirinha, queimada, bola de gude,
bola de meia, passa anel, cai no poo,
cabo de guerra, entre outras, atualizam-
se formas tradicionais de brincar, vin-
culando a criana com o seu grupo, sua
comunidade e humanidade, ao mesmo
tempo que produzem novos signifca-
dos, compartilhados pelas crianas su-
jeitos de brincadeiras e de histria.
Da mesma forma, modos contem-
porneos de entretenimento dos quais
423
I
Infncia do Campo
as crianas participam, como os que
incluem desenhos animados, seriados,
telenovelas, musicais, entre outros, no
anulam formas da tradio, passadas
de gerao a gerao, especialmente no
campo, como a contao de histrias.
Adultos contam histrias fantsticas
para crianas, crianas contam para
seus grupos etrios e, nesta experin-
cia, partilham significados da cultura
local. O conceito de campo integrado a
prticas e smbolos do mundo global
importante para retir-lo da esfera
do extico, supostamente protegido
por uma unidade cultural articulada
pela fora da tradio. Contudo, se
no h isolamento, no h, igualmen-
te, formas de vida indiferenciadas, dis-
solvidas na grande aldeia global. Na
relao mundolugar, globalespec-
fico, h uma dialtica de constituio
do pensar, do fazer e do brincar, que
fazem de todas as realidades, realida-
des complexas.
A relao com o brincar um ele-
mento que permite estabelecer distin-
es, situar os sujeitos no mundo, e
por isso pode-se dizer que, em relao
s crianas do campo, a brincadeira se
realiza, tambm, com o que elas produ-
zem com os recursos disponveis, pro-
cesso que liga a brincadeira criao.
Isso se d no interior de uma materiali-
dade social e cultural que no pode ser
secundarizada. fato que a crescente
industrializao do brinquedo e o con-
sumo de brinquedos que dispensam a
atividade artesanal reduzem a possibili-
dade da experincia da inveno. fato
ainda que, quanto maior o poder de
consumo, indissocivel do aumento
da renda, maior a procura pelo brin-
quedo pronto, que adquire valor de
superioridade sobre aquilo que se faz
com as prprias mos.
Considerando o estgio de desen-
volvimento econmico e social da
maioria da populao que vive no
campo, uma dimenso que adquire o
brincar o seu vnculo com a terra e
com a gua. Os recursos naturais so
investidos na prtica de brincar porque
integram a paisagem material do cam-
po e so sua feio predominante, da
qual os sujeitos se apropriam, material
e simbolicamente, na medida em que
signifcam, de modo particular, a sua
relao com ela. Nessa confgurao, a
cachoeira, o riacho, a mina dgua pos-
sibilitam a criao de espaos ldicos
que podem ser experimentados de di-
ferentes formas por crianas e adultos.
O barro permite criar/representar per-
sonagens, brinquedos, alimentos, ani-
mais; o milharal permite que as famlias
camponesas se renam na experincia
do trabalho coletivo e que as crianas
realizem atividades simblicas e ma-
teriais com o produto da terra, trans-
formando o imaginrio em inveno (o
brinquedo) e a inveno em imaginao,
pela experincia do brincar. Elos que a
modernidade dissolveu, como o vnculo
entre trabalho e ludicidade, ludicidade
e criao/experimentao, mantm-se
atados nos lugares em que o projeto ci-
vilizatrio por ela idealizado se realizou
apenas parcialmente.
A construo da identidade
e da diferena
No campo, a criana ocupa espaos
partilhados e constri sua referncia
e identidade na relao com as ativi-
dades de seu grupo social. As formas
de sociabilidade resultam dos modos de
produo dessa relao, que, pela con-
vivncia densa, no implicam a sepa-
rao entre adultos e crianas. Se no
Dicionrio da Educao do Campo
424
possvel reparti-las e reuni-las em
espaos especficos, isoladas do mun-
do adulto, por sua vez no esto in-
terditados a elas os espaos que lhes
permitem praticar a sua alteridade
com o seu grupo geracional. Esses
espaos no so dados, so produ-
zidos pelas crianas, nas demar-
caes do territrio que elas prprias
estabelecem e conquistam. As crian-
as podem ser atuantes na elaborao
de prticas, regras e conhecimen-
tos de que se apropriam em diferen-
tes contextos sociais, de forma que
a participao comunitria e a par-
ticipao nos grupos de idade no
se opem: complementam-se. Em
quaisquer das possibilidades, neces-
srio garantir s crianas o direito de
elaborar e expressar a sua experincia
no mundo. A autonomia para organi-
zar processos e gerir conflitos im-
portante, especialmente na atividade
de brincar.
Esse horizonte deve ser consi-
derado como campo de lutas con-
correntes. A brincadeira, as relaes
afetivo-familiares e a educao foram
pautadas como direitos secundrios
no processo histrico de formao
da infncia em geral, e da infncia do
campo em particular. Para as crianas
pobres, ao longo da formao da so-
ciedade brasileira, a responsabilidade
de contribuir no trabalho para a ga-
rantia da sobrevivncia familiar foi
incorporada desde a mais tenra idade.
No h como dissociar a histria da
infncia do silncio e da represso,
da violncia e do trabalho produtivo
precoce, da interdio do direito de
brincar, criar e conhecer.
Em tempos de menor ou maior
afirmao de direitos, as crianas en-
contraram margens de produo his-
trico-cultural. Essa produo inse-
parvel do mundo material e cultural,
das relaes sociais, das formas de
sociabilidade predominantes, enfim,
do estgio de desenvolvimento social,
econmico e tecnolgico da sociedade
em que vivem.
Considerando-se as formas estru-
turais de formao do campo brasilei-
ro, pode-se falar de infncia do campo
para confgurar uma identidade que
comum a todas as crianas, sejam elas
de assentamento, Sem Terrinha, ribei-
rinhas, quilombolas, extrativistas, entre
outras. A desigualdade uma faceta
deste comum que partilham; a igual-
dade de direitos o horizonte tico-
social de transformao.
Sob a agenda da diferena cultural
que mobiliza o Ocidente, a desigual-
dade perde a centralidade como con-
dio humana que precisa ser superada
quando a diferena se assenta na se-
parao entre o material (a economia)
e o simblico (a cultura). Assim sen-
do, a poltica da diferena produz um
discurso despolitizador quando deixa
de reconhecer que as desigualdades
materiais criam diferenas, da mesma
forma que as diferenas culturais le-
gitimam as desigualdades e ocultam
o seu processo de produo. A ideia
essencializada da diferena, que retira
de sua problemtica a sua dimenso
histrica e social, um obstculo
transformao das condies assim-
tricas e hierrquicas em que vivem
os diferentes.
No horizonte de um projeto his-
trico emancipatrio, a ideia de in-
fncias do campo, em vez de infncia
do campo, pode alargar o horizonte
tico-poltico pelo qual as identifica-
es sociais so apreendidas. Articu-
lando num mesmo conjunto a materia-
425
I
Infncia do Campo
lidade da vida, a cultura e a identidade,
a diversidade deixa de ser a fora que
atua para legitimar a excluso; ela pas-
sa a alargar o sentido da experincia
humana no mundo, da qual as crianas
do campo so parte.
Para saber mais
ARENHART, D. Infncia, educao e MST: quando as crianas ocupam a cena.
Chapec: Argos, 2007.
ARIS, P. Histria social da criana e da famlia. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
BARKER, G. Outra infncia possvel? In: INSTITUTO PROMUNDO. Prticas familiares
e participao infantil a partir da viso das crianas e adultos: um estudo exploratrio na
Amrica Latina e no Caribe. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008. p. 7-11.
BRASIL. Estatuto da criana e do adolescente. So Paulo: Columbus, 1990.
CALDART, R. S.; PALUDO, C.; DOLL, J. (org.). Como se formam os sujeitos do campo? Idosos,
adultos, jovens, crianas e educadores. Braslia: Pronera/Nead, 2006.
CARVALHO, R. S. de. Participao infantil: refexes a partir da escuta de crianas de
assentamento rural e de periferia urbana. 2010. Dissertao (Mestrado em Psico-
logia) Faculdade de Filosofa, Cincias e Letras de Ribeiro Preto, Universidade
de So Paulo, Ribeiro Preto, 2010.
CASTRO, L. R. de. Crianas e jovens na construo da cultura. Rio de Janeiro: NAU/
Faperj, 2001.
COHN, C. Antropologia da criana. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
FELIPE, E. da S. Entre campo e cidade: infncias e leituras entrecruzadas. 2009. Tese
(Doutorado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 2009.
LEFBVRE, H. A revoluo urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
MARTINS, J. de S. A sociabilidade do homem simples. So Paulo: Contexto, 2008.
NOGUEIRA, A. L. H. Sobre condies de vida e educao: infncia e desenvolvi-
mento humano. Horizontes, v. 24, n. 2, p. 129-138, jul.-dez. 2006.
QUINTEIRO, J.; CARVALHO, D. C. de (org.). Participar, brincar e aprender: exercitando os
direitos da criana na escola. Araraquara: Junqueira & Marin; Braslia: Capes, 2007.
RAMOS, M. M. A infncia do campo: o trabalho coletivo na formao das crianas
sem-terra. 2010. Monografa (Licenciatura em Educao do Campo) Faculdade
de Educao, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.
RENAUT, A. A libertao das crianas: contribuio flosfca para uma histria da
infncia. Lisboa: Piaget, 2002.
RIZZINI, I. Pequenos trabalhadores do Brasil. In: PRIORE, M. Del (org.). Histria
das crianas no Brasil. 2. ed. So Paulo: Contexto, 2000. p. 376-406.
Dicionrio da Educao do Campo
426
ROSEMBERG, F. Crianas e adolescentes na sociedade brasileira e a Constituio de
1988. In: OLIVEN, R. G.; RIDENTI, M.; BRANDO, G. M. (org.). Constituio de 1988
na vida brasileira. So Paulo: Hucitec, 2008. p. 296-333.
SILVA, A. P. S.; PASUCH, J. (org.). Orientaes curriculares para a educao infantil do cam-
po. Braslia, 2010. Disponvel em: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=
1096&id=15860&option=com_content&view=article. Acesso em: 11 set. 2011.
TEIXEIRA, S. R. dos S. A construo de signifcados nas brincadeiras de faz-de-conta por
crianas de uma turma de educao infantil ribeirinha da Amaznia. 2009. Tese (Douto-
rado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) Instituto de Filosofa e Cincias
Humanas, Universidade Federal do Par, Belm, 2009.
VASCONCELOS, V.; SARMENTO, M. J. (org.). Infncia (in)visvel. Araraquara: Junqueira
& Marin, 2007.
I
INTELECTUAIS COLETIVOS DE CLASSE
Roberto Leher
Vania Cardoso da Motta
A expresso intelectuais coletivos
de classe no foi desenvolvida como
conceito, nem pretendemos faz-lo no
mbito deste verbete. No entanto, enten-
demos que possvel buscar elementos
para discutirmos essa noo conside-
rando os seguintes aspectos contidos no
conceito de intelectual de Gramsci: 1) o
intelectual na sociedade moderna, bur-
guesa, difere daquele tradicionalmente
reconhecido como pessoa dotada de um
nvel cultural elevado, do tipo tradicio-
nal e vulgarizado do intelectual [...] dado
pelo literato, pelo flsofo, pelo artista,
que se veem como os verdadeiros in-
telectuais (Gramsci, 2000a, p. 53); 2) o
intelectual moderno est relacionado
capacidade de organizar e dirigir a so-
ciedade em geral, em todo o seu comple-
xo organismo de servios, at o organis-
mo estatal, tendo em vista a necessidade
de criar as condies mais favorveis
expanso da prpria classe (ibid., p. 15);
3) a abordagem gramsciana do intelec-
tual no subjetiva, mas sim, coletiva:
so os intelectuais como massa e no
como indivduos cuja funo produ-
zir e difundir ideologias que o interes-
sam; 4) o intelectual supe a funo de
hegemonia, tendo em vista o carter
de classe e a perspectiva de organizar e
dirigir uma vontade social coletiva.
Indagando se os intelectuais so
um grupo autnomo e independente,
ou cada grupo social tem uma sua pr-
pria categoria especializada de intelec-
tuais (Gramsci, 2002a, p. 15), Gramsci
amplia o conceito de intelectual de-
monstrando sua funo poltico-social,
conservadora ou transformadora, num
determinado bloco histrico (organi-
cidade entre a estrutura e a superes-
trutura de determinada formao
histrico-social.).
427
I
Intelectuais Coletivos de Classe
Gramsci compreende que qualquer
grupo social que nasce de uma funo
essencial no mbito da produo econ-
mica forma seu grupo orgnico e cria
para si [...] uma ou mais camadas de in-
telectuais que lhe do homogeneidade e
conscincia da prpria funo, no ape-
nas no campo econmico, mas tambm
no social e poltico (2000a., p. 15).
Ao recusar a identifcao do inte-
lectual na sociedade burguesa com os
intelectuais tradicionais, Gramsci criti-
ca a concepo de intelectual como su-
jeito altamente escolarizado. Por isso, o
erro metodolgico de distinguir as ati-
vidades intelectuais das atividades ma-
nuais em qualquer trabalho fsico,
mesmo no mais mecnico e degrada-
do, existe um mnimo de qualifcao
tcnica, isto , um mnimo de atividade
intelectual criadora (Gramsci, 2000a,
p. 18) tem enormes consequncias
polticas, pois, ao contrrio da crena
difundida pelos setores dominantes,
os trabalhadores, individual e coletiva-
mente, podem ser organizadores, diri-
gentes e protagonistas da hegemonia
dos subalternos: Todos os homens
so intelectuais (ibid.). Caso contr-
rio, no poderia haver luta de classes
protagonizada de modo autnomo
pela classe trabalhadora.
Quando Gramsci afrma que no
existe o gorila amestrado de Taylor
e que toda atividade manual possui in-
trinsecamente uma atividade intelectual
criadora ou que no se pode separar
o homo faber do homo sapiens (Gramsci,
2000a, p. 53), ele no est se referindo
ao mbito restrito da capacidade inte-
lectual que uma determinada atividade
produtiva exige. Para o pensador sardo:
Todo homem, fora de sua profsso,
desenvolve uma atividade intelectual
qualquer, ou seja, um flsofo, um
artista, um homem de gosto, participa
de uma concepo do mundo, possui
uma linha consciente de conduta mo-
ral (ibid.). Nessa perspectiva, continua
Gramsci, este homem contribui assim
para manter ou para modifcar uma con-
cepo do mundo, isto , para suscitar
novas maneiras de pensar (ibid.).
Outro erro metodolgico pleno de
signifcado poltico a dissociao das
atividades intelectuais do conjunto geral
das relaes sociais. Observa Gramsci
que, no mundo moderno, tendo em vis-
ta o sistema democrtico-burocrtico
criado, foram elaboradas imponentes
massas, mas nem todas justifcadas
pelas necessidades sociais da produ-
o, e sim pelas necessidades polti-
cas do grupo fundamental dominante
(Gramsci, 2000a, p. 22). Isto , nem to-
dos estariam diretamente relacionados
s necessidades imediatas da dinmica
produtiva, mas comporiam outros se-
tores relativos reproduo social. Tal
colocao nos remete afrmao ante-
rior: todos os homens so intelectuais,
seguida da frase: mas nem todos os
homens tm na sociedade a funo de
intelectuais (ibid., p. 18).
Nesse sentido, a relao dos inte-
lectuais com o mundo da produo no
imediata, mas mediatizada, em di-
versos graus, por todo o tecido social,
pelo conjunto das superestruturas, do
qual os intelectuais so precisamente os
funcionrios (Gramsci, 2000a, p. 20)
ou os prepostos do grupo dominante
para o exerccio das funes subalternas
da hegemonia social e do governo pol-
tico (ibid.). Isto , os intelectuais tm
a funo organizativa da hegemonia
social (sociedade civil) e do domnio
estatal (sociedade poltica).
A burguesia nascente formou seus
grupos sociais fundamentais na produ-
Dicionrio da Educao do Campo
428
o, como tambm formou seus qua-
dros de intelectuais orgnicos para
operarem na sociedade poltica e na
sociedade civil, confgurando o que se-
ria o bloco histrico burgus (unidade
entre o estrutural e o superestrutural
ou tico-poltico: direo intelectual
e moral mais controle do aparato do
Estado), alm de desencadear mecanis-
mos voltados para cooptar os intelec-
tuais tradicionais, isto , aqueles per-
tencentes velha sociedade. Discorre
Gramsci: Uma das caractersticas mais
marcantes de todo grupo que se desen-
volve no sentido do domnio sua luta
pela assimilao e pela conquista ide-
olgica dos intelectuais tradicionais
(Gramsci, 2000a, p. 17). Da a tese de
que os intelectuais no so um grupo
social autnomo, pois, com graus dis-
tintos de autonomia, possuem a funo
de produzir maior homogeneidade e
organicidade na classe a que se encon-
tram vinculados por meio de sua pr-
pria hegemonia poltico-cultural.
Ao introduzir seus estudos sobre a
flosofa da prxis, Gramsci, no cader-
no 10 dos Cadernos do Crcere, indagan-
do sobre o que o homem, discorre
que o homem deve ser compreendido
como um bloco histrico de elemen-
tos puramente subjetivos e individuais
e de elementos de massa e objetivos ou
materiais (Gramsci, 1999, p. 406) re-
lacionados, ativamente, entre si. Nessa
perspectiva, afrma que a transforma-
o do mundo exterior, isto , das rela-
es sociais, passa pelo fortalecimento
e pelo desenvolvimento de si mesmo.
Entretanto, considera uma iluso e
um erro supor que o melhoramento
tico seja puramente individual (ibid.),
pois a sntese desses elementos que
constitui a individualidade individual,
porm essa sntese no se realiza e nem
se desenvolve sem uma atividade para
fora, transformadora das relaes ex-
ternas, desde aquela com a natureza e
com os outros homens em vrios n-
veis, nos diversos crculos em que vive,
at a relao mxima, que abarca todo
o gnero humano (ibid.).
Parafraseando Gramsci, manter ou
modifcar uma concepo do mundo,
suscitar novas maneiras de pensar, trans-
formar o mundo exterior e as relaes
gerais signifca fortalecer e desenvolver
a si mesmo, mas tambm consolidar
uma vontade coletiva nacional-popular.
O conceito de vontade coletiva
nacional-popular ou vontade social
coletiva de Gramsci est estreitamente
ligado ao de reforma intelectual e mo-
ral, ou seja, questo da hegemonia,
da atividade prtica, poltica, correspon-
dendo s necessidades objetivas histri-
cas. Para Gramsci, preciso tambm
defnir a vontade coletiva e a vontade
poltica em geral no sentido moderno,
a vontade como conscincia operosa
da necessidade histrica, como pro-
tagonista de um drama histrico real e
efetivo (Gramsci, 2000a, p. 18).
Para ele, os fatos econmicos em
si no so o mximo fator da hist-
ria, e sim o homem. Mas os homens
em relao entre si, a sociedade dos
homens, desenvolvendo nessa relao
que se estabelece nos contatos e dos
entendimentos entre si uma vontade
social coletiva fundada na compreen-
so crtica e na adequao dos fatos
econmicos sua vontade, num movi-
mento tal que essa vontade se torne
o motor da economia, a plasmadora
da realidade objetiva, a qual vive, e se
move, e adquire o carter de matria
telrica em ebulio, que pode ser di-
rigida para onde a vontade quiser, do
modo como a vontade quiser (Gramsci
apud Coutinho, 2009, p. 33).
429
I
Intelectuais Coletivos de Classe
Coutinho (2009) chama ateno
para o fato de que, desde a sua juven-
tude, Gramsci ressaltava o papel central
da vontade na construo de uma nova
ordem social e poltica. E identifca
na sua formulao de vontade social
coletiva a infuncia do neoidealismo
de Croce e de Gentile, principalmente,
do subjetivismo de Rousseau e do ob-
jetivismo de Hegel, mas destaca que
Gramsci os superou dialeticamente
no sentido de conservar, mas tambm
de levar a um patamar superior a
concepo de vontade geral ou uni-
versal tanto de Rousseau quanto de
Hegel (ibid., p. 34). Coutinho destaca
na formulao de Gramsci sobre vontade
a identifcao com a prxis poltica,
nos aspectos concretos e racionais,
marcada por uma dupla determinao,
a articulao dialtica entre teleologia
e causalidade e entre os momentos
subjetivos e objetivos da prxis hu-
mana, na qual a vontade coletiva
protagonista de um real e efetivo dra-
ma histrico, momento ontologica-
mente constitutivo da realidade social
(ibid., p. 36). A vontade social coletiva deve
ser teleologicamente planejada a par-
tir de, e tendo em conta, as condies
causais postas objetivamente pela reali-
dade histrica (ibid., p. 35). Somente
em alguns aspectos a vontade coletiva
criao ex-novo, uma vez que tam-
bm conscincia operosa da necessi-
dade histrica (ibid.).
Para Coutinho: A vontade cole-
tiva continua tendo um papel impor-
tante na construo da ordem social,
no mais como plasmadora da rea-
lidade, mas sim, como um momento
decisivo que se articula com as de-
terminaes que provm da realidade
objetiva, particularmente das relaes
sociais de produo (2009, p. 34).
Outro importante destaque feito por
Coutinho (2009), ao desenvolver so-
bre O conceito de vontade coletiva
em Gramsci, refere-se ao papel do
prncipe moderno na construo da
vontade coletiva nacional-popular.
A concepo de intelectual em
Gramsci congruente com a catego-
ria intelectuais coletivos de classe,
pois a funo do intelectual no est
encarnada em um indivduo, mas
numa coletividade organizada e dirigente.
So os intelectuais como massa e no
como indivduos que o interessavam.
Sua formulao de que a funo dos
intelectuais de produzir e difundir
ideologias se realizaria pela via do
Estado (Estado burgus educador)
ou do partido poltico revolucionrio,
o moderno prncipe, responsvel
pela formao de uma vontade coletiva
nacional-popular, nos impe um desafio.
Seria, hoje, o partido poltico revo-
lucionrio o responsvel pela forma-
o de novos quadros de intelectuais
e da vontade nacional-popular que
encaminhe um processo de superao
da ordem burguesa e formao de um
novo bloco histrico? Qual o sentido
de partido para Gramsci?
Ao trazer a fgura do prncipe mo-
derno para a sua poca, baseando-se
em Maquiavel, Gramsci afrma que o
ator poltico, o lder carismtico, no
mais o indivduo, mas o partido pol-
tico. Para o autor dos Cadernos, a tarefa
do moderno prncipe seria anunciar e
organizar a reforma intelectual e mo-
ral, a vontade social coletiva, pro-
cessos estreitamente articulados com
sua concepo de hegemonia. Nesse
sentido, o partido
1
seria, ao mesmo
tempo, o organizador e a expresso
ativa e atuante de uma nova vonta-
de nacional-popular superior e total de
Dicionrio da Educao do Campo
430
civilizao moderna. E que esses dois
pontos fundamentais vontade social
coletiva e reforma intelectual e moral
deve fazer parte da constituio da
estrutura do trabalho do partido.
(Gramsci, 2000b, p. 18).
O partido no mero organismo
corporativo, mas um organismo poltico,
catrtico e universalizante que supe-
ra os interesses egostico-passionais
ou econmico-corporativos em di-
reo consolidao do momento
tico-poltico da conscincia poltica
coletiva, que se constitui na unidade
entre fns econmicos e polticos e inte-
lectual e moral posta no plano univer-
sal. O momento tico-poltico para
Gramsci (2000b) a fase que assinala
a passagem das correlaes de fora
do mbito corporativo para o univer-
sal, da esfera da estrutura para a das
superestruturas complexas, inserindo-
se numa luta frontal contra as ideolo-
gias anteriormente predominantes e na
irradiao da nova cultura em todo o
tecido social. Isto , num confronto
pela hegemonia de um grupo social
fundamental sobre uma srie de grupos
subordinados (Gramsci, 2000b, p. 18).
O partido deve operar e dirigir a
grande poltica, que compreende as
questes ligadas fundao de novos
Estados, luta pela destruio, pela
defesa, pela conservao de determi-
nadas estruturas orgnicas econmico-
sociais (Gramsci, 2000b, p. 21). Cabe
ao partido elaborar de modo homo-
gneo e sistemtico uma vontade co-
letiva nacional-popular, em mediao
com os vrios organismos particulares
das classes subalternas. Nesse sentido,
para Gramsci (2000b), o partido enga-
jado na edifcao da hegemonia dos
subalternos tem de buscar a incorpo-
rao ativa das demandas de outras fra-
es, desde que no comprometam a
agenda poltico-estratgica fundamen-
tal. No caso italiano, sustenta Gramsci:
Qualquer formao de uma vontade
coletiva nacional-popular impossvel
se as grandes massas dos camponeses
cultivadores no irrompem simultanea-
mente na vida poltica (ibid., p. 19).
Para Gramsci, a reforma intelec-
tual e moral encontra seu ponto mais
alto na flosofa da prxis, a ativi-
dade terico-prtica que proporciona
a todos a possibilidade de compreen-
der e decidir a respeito do mundo em
que se vive. E essa nova inteligibilida-
de consiste na formao e na difuso de
uma nova racionalidade, de um es-
prito crtico e de uma sensibilidade
que critica qualquer explicao mtica
do mundo e recusa todo princpio de
autoridade absoluto e pr-constitudo
(Semeraro, 2001).
Trabalhando de modo criativo
as teorias de Marx, Gramsci pde se
apropriar do materialismo histrico
para tornar pensvel um perodo hist-
rico cuja sociedade civil era mais com-
plexa. Em sua poca, as foras sociais
que se apontavam como revolucion-
rias estavam organizadas em sindicatos
e em partidos polticos, possuam apa-
relhos privados de hegemonia, tais
como jornais e revistas, com a funo
de difundir uma nova racionalidade, e
j tinham conquistado o sufrgio uni-
versal. Foram as condies postas ob-
jetivamente pela realidade histrica que
o permitiram superar dialeticamente as
concepes de Estado, de sociedade
civil e de hegemonia, e ampliar a viso
de intelectual.
Nesse sentido, a tarefa de buscar
elementos para defnir a funo pol-
tica e social dos intelectuais coletivos de
classe numa perspectiva revolucionria,
431
I
Intelectuais Coletivos de Classe
implica identifcar as foras polticas
postas objetivamente na atual realidade.
Para Gramsci, as foras polticas re-
ferem-se ao grau de homogeneidade,
de autoconscincia e de organizao
alcanado pelos vrios grupos sociais
(Gramsci, 2000b, p. 40) e correspon-
dem aos momentos da conscincia
poltica coletiva. Nesses momentos de
conscincia poltica coletiva, Gramsci
identifca trs estgios:
O primeiro mais elementar
o econmico-corporativo; [...]
sente-se a unidade homognea
do grupo profssional e o dever
de organiz-la, mas no ainda a
unidade do grupo social mais
amplo. Um segundo momen-
to aquele em que se atinge a
conscincia da solidariedade de
interesses entre todos os mem-
bros do grupo social, mas ainda
no campo meramente econmi-
co. J se pe neste momento a
questo do Estado, mas apenas
na obteno de uma igualdade
poltico-jurdica com os grupos
dominantes, j que se reivindica
o direito de participar da legisla-
o e da administrao e mesmo
de modifc-las, de reform-las,
mas nos quadros fundamentais
existentes. Um terceiro momen-
to aquele em que se adquire a
conscincia de que os prprios
interesses corporativos, em seu
desenvolvimento atual e futuro,
superam o crculo corporativo,
de grupo meramente econmi-
co, e podem e devem tornar-se
os interesses de outros grupos
subordinados. Esta a fase mais
estritamente poltica, que assi-
nala a passagem ntida da estru-
tura para a esfera das superes-
truturas complexas. (Gramsci,
2000b, p. 40-41)
Com Gramsci, identifcamos a con-
dio da conscincia de classe neces-
sria como aquela capaz de operar a
superao do momento econmico
corporativo pelo tico-poltico (pas-
sagem da conscincia ingnua para a
conscincia crtica) pela mediao
do momento catrtico. A conscincia de
classe inaugura a possibilidade de vi-
venciar e constituir novas formas
de ser (ainda que as relaes sociais de
produo capitalistas no tenham
sido superadas). Nessa perspectiva,
preciso operar um duplo movimento
de anlise: o grau de homogeneidade, de
autoconscincia e de organizao al-
canado pelos vrios grupos sociais
em determinada conjuntura, e como
essas foras polticas esto se colocan-
do objetivamente nessa realidade no
plano da estratgia poltica.
Tomando essas refexes, podemos
sinalizar que o sentido de intelectuais
coletivos de classe, numa perspectiva de
superao da ordem, insere a funo
organizadora e dirigente de uma nova
cultura que se realizaria coletivamen-
te, tendo em vista uma conscincia de
classe para si.
Isso requer processos de autofor-
mao da classe. O partido tem de
ser, ele mesmo, um espao educativo
capaz de garantir a formao terico-
prtica sobretudo do marxismo; con-
tudo, como Gramsci alertou sobre as
universidades populares italianas do f-
nal dos anos 1920, a formao socialista
no pode ser baseada em uma pedago-
gia jesutica, plena de assimetrias entre
os que ensinam e os que aprendem
e, tampouco, difundir dogmas como se
Dicionrio da Educao do Campo
432
fossem conhecimentos crticos capazes
de elevar a experincia da luta econmico-
corporativa para a perspectiva universal
da classe para si. As experincias dos
movimentos sociais latino-americanos,
como os zapatistas, a Coordenao
Nacional dos Povos Indgenas do
Equador e o Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra no Brasil, que
vm constituindo espaos formativos
prprios, capazes de assegurar formao
de seus prprios intelectuais, indicam
que a formao dos intelectuais coletivos
dos trabalhadores est em movimento.
Nota
1
As aspas na palavra partido tm a inteno de destacar as aspas que o prprio Gramsci
utiliza nos trechos em que discute o tema.
Para saber mais
COUTINHO, C. N. O conceito de vontade coletiva em Gramsci. Katl, Florianpolis,
v. 12, n. 1, p. 32-40, jan.-jun. 2009.
GRAMSCI, A. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1999. V. 1:
Introduo ao estudo da flosofa, a flosofa de Benedetto Croce.
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000a. V. 2:
Os intelectuais. O princpio educativo. Jornalismo.
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000b. V. 3:
Maquiavel. Notas sobre o Estado e a poltica.
SEMERARO, G. Anotaes para uma teoria do conhecimento em Gramsci. Revista
Brasileira de Educao, n. 16, p. 95-104, jan.-abr. 2001.
433
J
J
JUDICIALIZAO
Jadir Anunciao de Brito
O termo judicializao refere-
se ampliao das interferncias do
Poder Judicirio nos assuntos e deci-
ses sobre quais valores tico-morais,
interesses sociais, polticos e econmi-
cos so interpretados e admitidos como
direitos pela Constituio. A judicia-
lizao caracterizada por processos
institucionais (processos, conciliaes
e mediaes judiciais) e no institucio-
nais (manifestaes discursivas na m-
dia do Judicirio). Nesses processos, o
Poder Judicirio especialmente o Su-
premo Tribunal Federal (STF) subs-
tituiu, por um lado, a sociedade civil
organizada e os seus mecanismos de
democracia direta (plebiscito, referen-
do e deliberaes da iniciativa popu-
lar de leis) e, por outro, as instituies
polticas da democracia representativa
(Poder Legislativo ou Poder Judicirio)
nos debates e decises sobre os valores
tico-morais, direitos e polticas pbli-
cas que so compatveis com a Consti-
tuio Federal do Brasil.
A judicializao tambm uma re-
presentao social que naturaliza no
imaginrio das relaes sociais e pol-
ticas um papel ativo e hegemnico do
Poder Judicirio, como um superpoder
que tudo resolve, em detrimento da au-
tonomia da sociedade civil e das suas
organizaes sociais. Esta representa-
o social constri uma ideologia que
naturaliza uma hegemonia do Poder
Judicirio particularmente do STF
por meio de um papel ativo, interventi-
vo, como nica ou ltima arena decis-
ria e legtima na resoluo de confitos
sociais e polticos, em temas cuja re-
percusso social demandaria decises
exercidas por mecanismos da demo-
cracia direta ou representativa.
O papel ativo e hegemnico do
Poder Judicirio pode ser identificado,
por exemplo, no julgamento do STF
que declarou a inconstitucionalidade
da vigncia da Lei da Ficha Limpa
para as eleies de 2010. importan-
te lembrar que essa lei decorreu de um
projeto de lei de iniciativa popular para
o qual foram coletadas mais de 1,3 mi-
lhes de assinaturas a seu favor, o que
correspondeu a 1% dos eleitores bra-
sileiros. Esse projeto foi entregue ao
Congresso Nacional em 2009 e aprova-
do, tratando-se de uma lei de natureza
poltica. O STF foi acionado e decidiu
quais eram os direitos polticos vlidos
para as eleies de 2010, mesmo em
detrimento da natureza de reforma po-
ltica de alada tipicamente legislativa
e/ou dos mecanismos da democracia
direta que a temtica da Lei da Ficha
Limpa envolvia. Os outros exemplos
do papel ativo e hegemnico foram a
demarcao da reserva indgena Raposa
Serra do Sol; a questo sobre a quem
pertence a suplncia parlamentar, se
aos partidos ou s coligaes; a Lei da
Biossegurana, que permite a pesqui-
sa em clulas-tronco embrionrias, cujo
mrito envolve um debate tico-moral
sobre o incio da vida; e o direito de
greve dos servidores pblicos.
A hegemonia e o papel ativo do Po-
der Judicirio de decidir sobre temas
Dicionrio da Educao do Campo
434
de grande interesse poltico e social,
afastando o Poder Legislativo, o Poder
Executivo ou a sociedade civil por meio
dos mecanismos da democracia direta,
pode ser chamado de judicializao da
poltica ou ativismo judicial.
O ativismo judicial ou a judiciali-
zao da poltica representa riscos ao
funcionamento da democracia brasilei-
ra, seja pela transferncia de poderes
decisrios da sociedade civil e de ou-
tros poderes para o Judicirio, seja pela
ampliao da interveno e da hegemo-
nia judicial nas relaes sociais. O risco
democrtico identifcado pelo cercea-
mento das liberdades de pensamento e
de manifestao poltica da sociedade
civil organizada instituies sociais,
movimentos sociais, organizaes do
terceiro setor, partidos polticos e ou-
tros poderes , pela ascenso do Judi-
cirio sobre os poderes Legislativo e
Executivo, e pelas limitaes ao exerc-
cio decisrio da soberania popular.
Contextos de surgimento
da judicializao da poltica
e do ativismo judicial
O ativismo judicial ou judicializao
da poltica tambm caracterizado
como modo de concretizao de direi-
tos, pela expanso das suas atribuies
em decorrncia das omisses do Poder
Legislativo na regulamentao da Cons-
tituio ou da administrao pblica
em assegurar a implementao de direi-
tos e a execuo de polticas pblicas.
Assim, nesta tica, o aumento da atua-
o do Poder Judicirio seria a forma
de sanar a omisso estatal em dar efe-
tividade Constituio. Segundo esse
conceito, o Judicirio atuaria, quando
provocado, nos casos de falta de regu-
lamentao da Constituio e/ou nos
casos de garantia das polticas pblicas.
O ativismo, nesse contexto, seria uma
experincia positiva, como foi o caso
da Suprema Corte concretizou direitos
civis nos Estados Unidos, que concre-
tizou, nos anos 1960, direitos civis dos
afro-americanos para o acesso escola
e aos empregos pblico e privado. Esse
ativismo judicial americano conside-
rado um paradigma na argumentao
de defesa do papel ativo do Judici-
rio nas relaes sociais e nas decises
polticas brasileiras.
Uma das causas da judicializao
da poltica pode ser identifcada no
efeito adverso da ampliao do catlo-
go de direitos individuais e sociais nas
constituies, e no acesso justia para
a sua concretizao, por meio da am-
pliao das jurisdies individuais, co-
letivas e constitucionais, para a defesa
de direitos fundamentais individuais e
sociais no mbito do Poder Judicirio.
O processo de ampliao do acesso
justia foi estabelecido nas constitui-
es europeias posteriores Segunda
Guerra Mundial quando da constru-
o formal do modelo do Estado
de bem-estar social ou do Estado de
direito democrtico, no qual o direito
passa a ter um papel central nas rela-
es sociais e polticas, e o Poder Ju-
dicirio institucionalizado como seu
principal garantidor.
O Estado de bem-estar social do
ps-guerra caracterizado pela cons-
titucionalizao das demandas sociais
e por um modelo de Constituio diri-
gente que, dentre outras caractersticas,
contm um projeto poltico de trans-
formao social associado ampliao
dos mecanismos de acesso justia. Ao
longo dos anos, as crises econmicas e
polticas do capitalismo, o modelo do
Estado de direito democrtico, na sua
435
J
Judicializao
vertente jurdica do Estado social,
entra em crise, sobretudo pela inef-
ccia dos seus direitos sociais e pelo
aumento das desigualdades sociais. O
modelo do Estado de direito democr-
tico que formalmente assegura a par-
ticipao da sociedade civil e de suas
instituies democrticas representa-
tivas em decises polticas fundamen-
tais, por meio do acesso justia ou
dos mecanismos da democracia direta
e representativa, reduzido e substi-
tudo pelo denominado Estado juiz
(de origem alem), no qual cada vez
mais o Poder Judicirio se sobrepe
aos outros poderes, especialmente o
Legislativo, e soberania popular nas
decises sociais e polticas. A judicia-
lizao da poltica emerge do Estado
juiz, transcorrendo pela transferncia
de atribuies do Executivo, do Legis-
lativo e da soberania popular para os
magistrados e tribunais, para que esses
efetivem, revisem e concretizem direi-
tos e polticas pblicas constitucionais.
No Brasil, a exemplo dos Estados
europeus, os processos de judicializa-
o podem ser considerados uma con-
sequncia adversa tanto das conquistas
de direitos constitucionais pela socie-
dade civil organizada quanto do papel de
guardio principal desses direitos atri-
budo ao Poder Judicirio. Outra cau-
sa o perfl de Constituio dirigente
adotado pelo Brasil 1988, que continha
um projeto de transformao da socie-
dade por meio de um conjunto de re-
formas econmica, poltica, urbana,
agrria, educacional, dentre outras
inseridas nas normas constitucionais.
A prpria Constituio, ante a possi-
bilidade da inefccia das suas normas
constitucionais por omisses do
Poder Legislativo ou do Poder Executivo
na regulamentao de direitos, ou na
elaborao e execuo de polticas p-
blicas estabeleceu garantias proces-
suais e polticas para que a sociedade
civil tivesse um maior acesso justia,
com o fm de assegurar a concretizao
de direitos. Embora o perfl de Consti-
tuio dirigente no Brasil venha se mo-
difcando por emendas constitucionais
de vis neoliberal, e o acesso justia
no alcance a maioria da populao ex-
plorada e marginalizada do Brasil, os
processos da judicializao das relaes
sociais e da poltica so crescentes. As
garantias processuais constitucionais
ocasionaram, como resultado adverso
aos seus fns, a ampliao de uma cres-
cente convocao do Poder Judicirio,
em diversas instncias, para decidir
quais reivindicaes tm fundamen-
tos constitucionais. No contexto do
constitucionalismo brasileiro, a judicia-
lizao pode ser identifcada, por um
lado, como a ampliao das demandas
judiciais, por meio do crescimento do
acesso justia, para que o Judicirio
garanta a aplicao de direitos previs-
tos na Constituio que, em face das
omisses estatais do Executivo e do
Judicirio, no produzem efccia nas
relaes sociais ou no funcionamento
das instituies polticas.
A judicializao da poltica e da vida
social no se reduz ao grande volume
de processos judiciais que, nos ltimos
vinte anos, chegaram ao Poder Judici-
rio com os mais variados temas das re-
laes sociais. A judicializao fun-
damentalmente um problema poltico,
por se tratar do hiperdimensionamento
das atribuies do Poder Judicirio,
que, diante das demandas judiciais da
prpria sociedade, cada vez mais deci-
de sobre temas que envolvem valores
ticos, morais, culturais, sociais, eco-
nmicos, polticos e jurdicos, mesmo
Dicionrio da Educao do Campo
436
sem legitimao democrtica outorga-
da pela soberania popular. A defesa de
um papel ativo do Judicirio diante das
omisses legislativas e administrati-
vas relativas efetividade de direitos
sustentada por ministros do STF, sen-
do fundada no denominado princ-
pio contramajoritrio. Para eles, esse
princpio asseguraria direitos consti-
tucionais expressos em valores tico-
morais, vises de vida cultural e inte-
resses sociais e econmicos, mediante
o reconhecimento de reivindicaes
de grupos vulnerveis, integrados por
minorias tnicas, sexuais e culturais.
importante destacar que a defesa de
direitos para minorias no pode justi-
fcar a transferncia do poder decisrio
da democracia direta ou representativa
para o Poder Judicirio, sob pena de
srios riscos democracia criao
de um superpoder institucional hege-
mnico sobre os demais poderes e
soberania popular.
O estudo da judicializao da po-
ltica tambm deve considerar o papel
ativo do Poder Executivo na criao de
normas por meio do regime das me-
didas provisrias, cujo uso crescente
retira do Poder Legislativo e da ini-
ciativa popular da lei o poder poltico
decisrio sobre a criao de direitos,
aumentando a convocao do Poder
Judicirio para controlar a constitucio-
nalidade dessas normas criadas pelo
Poder Executivo.
O Poder Judicirio intervm de
forma hegemnica nas relaes da vida
social e da poltica por meio da judicia-
lizao da poltica. Porm, alm desta
realidade, verifca-se outra, denominada
politizao do Poder Judicirio, uma
hegemonia discursiva, que teoricamen-
te estaria alm dos processos judiciais.
A politizao do Poder Judicirio a
infuncia discursiva desse poder sobre
a opinio pblica, repercutindo espe-
cialmente na atuao da sociedade ci-
vil organizada em movimentos sociais,
partidos polticos e nas instituies so-
ciais formadoras da opinio pblica. A
politizao do Poder Judicirio se d
formalmente fora dos processos judi-
ciais, no seio da sociedade, por meio do
uso da mdia, para que os magistrados
e chefes de tribunais faam discursos e
expressem opinies acerca de temas
que esto em processo de discusso na
sociedade ou em processos judiciais.
Porm, na verdade, essa politizao
tambm envolve os processos judiciais,
sobretudo aqueles cujos confitos en-
volvem litgios econmicos e sociais
entre o capital e o trabalho, ou disputas
por reconhecimento de direitos socio-
culturais entre grupos vulnerveis e as
elites conservadoras.
Movimentos sociais e
judicializao da poltica
O estudo do papel dos movimentos
sociais na Assembleia Constituinte e nas
lutas pela concretizao da Constituio
de 1988 relevante para a compreenso da
judicializao poltica e das relaes so-
ciais no Brasil. Os movimentos sociais
foram protagonistas da construo de
uma agenda de reformas polticas, so-
ciais e econmicas, inserida no texto
constitucional de 1988 como um proje-
to de transformao social.
Ao longo dos 23 anos de vigncia
da Constituio de 1988, a hegemonia
da globalizao econmica do neolibe-
ralismo, por meio de organismos fnan-
ceiros internacionais como o Fundo
Monetrio Internacional (FMI), o Ban-
co Mundial e o Banco Internacional
para Reconstruo e Desenvolvimento
437
J
Judicializao
(Bird), dirigiu as reformas neoliberais
nas constituies de pases latino-
americanos. As reformas constitucio-
nais neoliberais favoreceram a reprodu-
o e a ampliao do capital no Brasil,
com a reduo das reformas sociais e
econmicas ao combate desigualdade
e s discriminaes.
A agenda das reformas constitucio-
nais neoliberais foi enfrentada pelos
movimentos sociais de formas distin-
tas. De um lado, houve a opo pela
resistncia e a insurgncia direta, na
cidade e no campo, para a garantia das
reformas sociais. Por outro, deu-se a or-
ganizao de movimentos sociais pelos
eixos de luta: transformao da explo-
rao de classes e das discriminaes
pelo direito; construo de uma cultura
de direitos; e reconhecimento de direi-
tos e de sua efetividade judicial para a
transformao social. Nesses eixos de
atuao, a luta de transformao social
deixou cada vez mais a arena poltica e
foi dirigida para o palco institucional
do Poder Judicirio. Assim, o direito
fundamentalmente seus mecanismos
processuais passa a ter, para esses
segmentos dos movimentos sociais, um
papel central nas resolues de confi-
tos com as elites do capital. A opo
pelo direito como meio de transfor-
mao, em muitos casos, ocorreu em
detrimento da diminuio do papel da
poltica das mobilizaes e organiza-
es sociais populares, das lutas de re-
sistncia e da insurgncia direta para
a defesa da agenda das reformas sociais
e econmicas. Esses eixos de atuao
produziram agendas com maiores de-
mandas de aes judiciais individuais,
aes judiciais coletivas e aes de con-
trole de constitucionalidade no STF.
A opo de alguns movimentos so-
ciais de privilegiarem o direito polti-
ca produziu um efeito adverso aos seus
fns, tendo contribudo para acentuar
a judicializao poltica e das relaes
sociais. Como exemplo, podemos ci-
tar as lutas contra as privatizaes e as
reformas da previdncia ocorridas nos
ltimos governos federais, nas quais os
movimentos sociais e sindicatos foram
protagonistas da chamada guerra de
liminares. Nesses e em outros casos,
as lutas por reformas sociais saem do
campo da poltica e cada vez mais so
transferidas para o direito, ou seja,
para o Judicirio. Por sua vez, as ins-
tituies representantes do capital no
Brasil, cada vez mais, tambm optam
pela transferncia da resoluo dos
seus interesses da arena poltica para a
jurisdicional, face da notria politiza-
o do Judicirio dirigida para a cons-
titucionalizao da reforma neoliberal
da Constituio.
A superao do modelo do Estado
juiz como nico e ltimo meio de re-
soluo dos confitos sociais e polticos
em torno da interpretao e da aplica-
o da Constituio demanda da socie-
dade civil organizada, especialmente
dos setores populares, a capacidade
poltica de reapropriar dos mecanis-
mos do exerccio da soberania popular
da democracia direta e representativa.
O foco desse processo a utilizao
de meios normativos j estabelecidos,
para que a ltima palavra decis-
ria nas discusses constitucionais de
grande repercusso tico-moral, polti-
ca, econmica e social, e nas disputas
por reformas e garantias de direitos
no Brasil no seja exclusivamente do
Poder Judicirio, mas sim das institui-
es representativas da soberania po-
pular. Outro caminho para a supera-
o da judicializao da poltica passa
pela reafrmao social dos limites das
Dicionrio da Educao do Campo
438
atribuies entre os poderes Executivo,
Legislativo e Judicirio, e no arranjo da
democracia constitucional, para que
no se d a hegemonia de um poder
institucional sobre o outro.
O enfrentamento da superao des-
se processo no ocorre exclusivamente
no plano procedimental ou objetivo
com novas tcnicas processuais , uma
vez que a judicializao tambm
uma representao social, na forma
de uma ideologia, que cria um imagi-
nrio social da hegemonia do Poder
Judicirio como nico e ltimo garan-
tidor da Constituio em detrimento
dos outros poderes e da soberania po-
pular. Finalmente, a superao da judi-
cializao da poltica, das omisses dos
poderes Legislativo e Executivo, e do
avano das reformas constitucionais
neoliberais demanda a reafrmao da
soberania popular nas lutas populares
emancipatrias em defesa da concreti-
zao das reformas socioeconmicas,
da efetividade dos direitos e das pol-
ticas pblicas redistributivas e de reco-
nhecimento, ainda presentes na Cons-
tituio, asseguradoras de justia social
e de dignidade humana para os grupos
marginalizados no Brasil.
Para saber mais
ARANTES, R. B. Judicirio e poltica no Brasil. So Paulo: Idesp, 1997.
BARROSO, L. R. Judicializao, ativismo judicial e legitimidade democrtica. Revista
Atualidades Juridicas, Revista Eletrnica da Ordem dos Advogados do Brasil, n. 4,
p. 1-29, jan.-fev. 2009. Disponvel em: http://www.oab.org.br/editora/revista/
users/revista/1235066670174218181901.pdf. Acesso em: 12 set. 2011.
BURGOS, M. B.; VIANNA, L. W.; SALLES, P. M. Dezessete anos de judicializao da
poltica. Cadernos Cedes, Rio de Janeiro, n. 8, p. 1-71, dez. 2008.
CARVALHO, A. B. DE. Teoria e prtica do direito alternativo. Porto Alegre: Sntese, 1998.
CAPELLETTI, M. Juzes legisladores? Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999.
CARVALHO, E. R. DE. Em busca da judicializao da poltica no Brasil: aponta-
mentos para uma nova abordagem. Revista de Sociologia e Poltica, Curitiba, n. 23,
p. 115-126, nov. 2004.
GARAPON, A. O juiz e a democracia. Rio de Janeiro: Revan, 2001.
GOHN, M. G. Teoria dos movimentos sociais. 4. ed. So Paulo: Loyola, 2004.
HALIS, D. DE C. A supremacia judicial em debate: ativismo, fabricao de decises
e democracia. Direito, Estado e Sociedade, v. 9, n. 24, p. 32-66, jan.-jun. 2004.
MARSHALL, W. Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism. University
of Colorado Law Review, n. 73, p. 1.217-1.255, 2002.
SANTOS, B. S. (org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia partici-
pativa. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
SOUZA JUNIOR, J. G. Movimentos sociais e prticas instituintes de direito: pers-
pectivas para a pesquisa sociojurdica no Brasil. In: ORDEM DOS ADVOGADOS DO
439
J
Juventude do Campo
BRASIL (OAB). CONSELHO FEDERAL. 170 anos dos cursos jurdicos no Brasil. Braslia:
Comisso de Ensino Jurdico do Conselho Federal da OAB, 1997.
VALLE, V. R. L. do (org). Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Curitiba:
Juru, 2009.
VIANNA, L. W. et al. A judicializao da poltica e das relaes sociais no Brasil. Rio de
Janeiro: Revan, 1999.
WOLKMER, A. C. Introduo ao pensamento jurdico crtico. 4. ed. So Paulo: Saraiva, 2002.
J
JUVENTUDE DO CAMPO
Elisa Guaran de Castro
Jovem um termo usado pelo sen-
so comum, pelo campo acadmico e
mesmo em espaos polticos desde o
sculo XIX, inicialmente em uma con-
cepo geracional que opunha jovens
e velhos, ou jovens e adultos. No final
do sculo XX e neste incio do sculo
XXI, vem ocorrendo um grande im-
pulso no debate sobre a juventude. En-
tretanto, muitos trabalhos tratam a ju-
ventude como categoria autoevidente
ou autoexplicativa, como se a concep-
o de juventude fosse consensual,
utilizando idade e/ou comportamento
como definies metodolgicas. Essa
concepo de juventude retomada,
nos anos 1990, tanto pelo campo aca-
dmico quanto pelas polticas sociais.
Muitas dessas construes carregam
um olhar em que a juventude pass-
vel de uma definio universalizante,
tais como definies da categoria com
base em elementos fsicos/psicol-
gicos, como faixa etria, mudan-
as fsico-biolgicas e/ou comporta-
mentais; defnies substancializadas/
adjetivadas da categoria; e definies
que associam juventude e jovem a deter-
minados problemas sociolgicos e/ou
a agentes privilegiados de transforma-
o social.
Um primeiro caminho para a anli-
se desse debate resgatar algumas das
defnies mais recorrentes e a prpria
crtica a essas concepes, como ve-
remos a seguir. Flitner (1967) observa
que, j em estudos do sculo XIX, a
idade aparece como uma forma de iden-
tifcao privilegiada. Idade juvenil sur-
giu como uma defnio recorrente que
se referia a um perodo ps-puberdade,
entre 15 e 17 anos, e a um limite que
terminava com a entrada no que seria
defnido como mundo adulto. A identi-
fcao de uma populao como jovem
por meio de um corte etrio aparece
de forma mais clara em pesquisas da
dcada de 1960. O corte etrio de 15 a
24 anos, adotado por organismos inter-
nacionais como a Organizao Mun-
dial da Sade (OMS) e a Organizao
das Naes Unidas para a Educao, a
Cincia e a Cultura (Unesco), procura
homogeneizar o conceito de juventude
com base nos limites mnimos de en-
trada no mundo do trabalho, reconhe-
cidos internacionalmente, e nos limites
mximos de trmino da escolarizao
Dicionrio da Educao do Campo
440
formal bsica (ensino bsico e mdio).
O recorte de juventude com base em
uma faixa etria especfca pautado
pela defnio de juventude como pe-
rodo de transio entre a adolescncia
e o mundo adulto. Essa concepo se
estabelece como a mais recorrente a
partir da Conferncia Internacional so-
bre Juventude, realizada em Grenoble,
em 1964 (ver Weisheimer, 2004).
A classifcao que defne jovem
mediante limites mnimos e mximos
de idade amplamente discutida. Para
Levi e Schmitt (1996), em Histria da
juventude, a idade como classifcadora
transitria e s pode ser analisada
em uma perspectiva histrica de lon-
ga durao. O recorte etrio permite
pesquisas quantitativas em larga escala
e a defnio de pblicos-alvo de po-
lticas pblicas. Atualmente, o recorte
utilizado pelo poder pblico e por or-
ganismos internacionais o de 15 a 29
anos. No entanto, devem-se observar
os limites destas defnies e questio-
nar a naturalizao da associao entre
juventude e uma faixa etria especfca
(Castro, E. G., 2010).
O debate sobre juventude, princi-
palmente a partir das dcadas de 1980
e 1990, trouxe o olhar da diversidade.
Para alm dos cortes etrios, ou apesar
deles, no se fala mais em juventude,
mas em juventudes (Novaes, 1998). Sem
dvida, um caminho que contribuiu
para fugirmos de um olhar homogenei-
zante. Helena Abramo (2007) nos traz,
por exemplo, a importante refexo so-
bre a associao entre juventude, edu-
cao e lazer, como uma construo
socialmente informada. Para a autora,
essa seria uma concepo que trata a
juventude como aqueles que esto em
processo de formao e que ainda no
tm responsabilidades, principalmen-
te por no estarem inseridos no mer-
cado de trabalho. Com isto, se exclui
o jovem das classes trabalhadoras da
concepo de juventude. Esta uma
contribuio importante para perce-
bermos juventude como construo
social (Castro, E. G., 2009).
Uma construo recorrente a que
associa juventude a uma concepo ine-
rentemente transformadora (Margulis,
1996), ou associada a um problema so-
cial, como os textos que utilizam ter-
mos como delinquncia juvenil para
retratar determinados indivduos que
teriam em comum a idade e uma forma
de se comportar. E diversos estudos
tratam juventude a partir do problema
do aumento da violncia.
1
Nestas duas
perspectivas, jovem carrega caracters-
ticas que defnem determinados indiv-
duos a priori.
Contudo, outra leitura comum
atravessa o debate sobre juventude:
juventude como um perodo da vida,
uma transio para a vida adulta. Ju-
ventude uma categoria transitria e,
como experincia individual, como
identidade social ou, ainda, identidade
poltica ela pode assumir contornos
mais perenes. O peso da transitorie-
dade aparece como uma marca re-
corrente nas definies e percepes
sobre juventude nos mais diferentes
cenrios e contextos.
Podemos afirmar que juventude
uma categoria social que posicio-
na aqueles assim identifcados em um
espao de subordinao nas relaes
sociais. Paradoxalmente, jovem asso-
ciado a futuro e a transformao social.
Pode-se afrmar que o olhar para de-
terminados indivduos, informado pela
ideia de que esto numa fase de transi-
o do ciclo de vida, ou mesmo biol-
gico, transfere, para aqueles que assim
441
J
Juventude do Campo
so identifcados, a imagem de pes-
soas em formao, incompletas, sem
vivncia, sem experincia, indivduos
ou grupo de indivduos que precisam
ser regulados, encaminhados. Isso tem
implicaes no apenas na difculdade
de se conseguir o primeiro emprego
mas tambm na deslegitimao da sua
participao em espaos de deciso
(Castro, E. G., 2010).
Juventude , sem dvida, mais do
que uma palavra. Ao acionar juventude
como forma de defnir uma populao,
um movimento social ou cultural, ao
usar a palavra jovem para defnir al-
gum ou para se autodefnir, estamos,
tambm, acionando formas de clas-
sifcao que implicam relaes entre
pessoas e entre classes sociais, relaes
familiares e relaes de poder.
O termo juventude rural e o uso
de correlatos como jovem rural, jo-
vem campons, jovem do campo
j era utilizado, como apontou Flitner
(1968), no sculo XVIII, como em um
estudo de Pestalozzi sobre populaes
camponesas. Desde o sculo XX, em
trabalhos sobre a famlia campone-
sa, o termo individualizado jovem
campons, ou simplesmente jovem,
vem sendo acionado com frequncia
para designar flhos de camponeses
que ainda no se emanciparam da au-
toridade paterna geralmente solteiros
que vivem com os pais.
Um tema associado juventude
rural a migrao no sentido do
fuxo de populaes para centros ur-
banos , seja como estratgia familiar
de reproduo e manuteno da pro-
priedade familiar, seja como forma de
ruptura com a autoridade paterna. A
sucesso e a transferncia da proprie-
dade da terra, herana patrimonial da
famlia, segue padres como o mino-
rato ou a primogenitude (o flho mais
novo ou o mais velho o herdeiro pre-
ferencial), dentre outras formas, como
estratgias para manter a pequena pro-
priedade familiar indivisvel e evitar
que se pulverize. Nesse processo, seria
comum que jovens flhos de campo-
neses migrassem para a cidade, con-
tando, em alguns casos, com pequenas
compensaes (bens ou capital) por
abdicarem da parte da propriedade que
lhes caberia como herana. No entan-
to, essa sada do campo poderia estar
associada no aceitao do controle
paterno (Castro, E. G., 2009).
Os jovens esto indo embora! Essa
expresso sintetiza uma imagem do jo-
vem do campo no Brasil. A juventude
do campo constantemente associada
ao problema da migrao do campo
para a cidade. Contudo, fcar ou
sair do meio rural envolve mltiplas
questes em que a categoria jovem
construda e seus signifcados, disputa-
dos. A prpria imagem de um jovem
desinteressado pelo campo contribui
para a invisibilidade da categoria como
formadora de identidades sociais e,
portanto, de demandas sociais.
Mais recentemente, no fnal da d-
cada de 1990 e incio do sculo XXI, a
juventude rural, os jovens campo-
neses, os jovens agricultores fami-
liares ganharam impulso como temas
privilegiados em diversas pesquisas. Os
jovens so fortemente associados mi-
grao, mas, nesse caso, menos como
estratgia familiar, e mais como um
problema de desinteresse pela vida
rural, gerando uma descontinuidade
da vida no campo e da produo fa-
miliar. Se essas pesquisas confrmam o
deslocamento dos jovens, outros fatores
complexifcam a compreenso desse fe-
nmeno, como veremos a seguir.
Dicionrio da Educao do Campo
442
Caracterizao da juventude
do campo
No Brasil, segundo os dados do
Censo 2010 (Instituto Brasileiro de
Geografa e Estatstica, 2010), temos
cerca de 8 milhes de jovens morando
em regies rurais. Diversos estudos, no
Brasil e em outros pases, apontam para
a tendncia da sada, nos dias atuais,
de jovens do campo rumo s cidades.
2
O que torna a questo foco do de-
bate atual o contexto da poltica
de Reforma Agrria
3
que vem sendo
implementada no Brasil desde 1985.
Nesse caso, autores como Abramovay
et al. (1998) apontam para a reverso
no quadro de migrao do campo para
a cidade provocada pelo assentamento
em massa de famlias no meio rural.
Porm, segundo o autor, essa reverso
estaria comprometida pelo xodo dos
jovens. Essa situao seria agravada
pela tendncia de migrao maior en-
tre as jovens, provocando o que ele de-
nominou masculinizao dos campos
(Castro, E. G., 2008).
De fato, segundo os dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografa e Estatstica
(IBGE), no Brasil, se existe certo equi-
lbrio entre a populao jovem mascu-
lina e feminina na faixa etria de 15 a
29 anos (49,1% e 50,9%, respectiva-
mente), o mesmo no se observa com a
populao jovem do campo (53,2% de
homens para 46,8% de mulheres nes-
sa faixa etria); o desequilbrio ainda
maior na faixa etria de 15 a 17 anos
(55 % e 45%, respectivamente) (Insti-
tuto Brasileiro de Geografa e Estats-
tica, 2010).
No entanto, a percepo, quase tr-
gica, do total desinteresse dos jovens
pelo campo confrontada por mani-
festaes de organizaes de juven-
tude rural, cada vez mais presentes
no cenrio nacional. Juventude hoje
uma categoria acionada para organizar
aqueles que assim se identifcam nos
movimentos sociais do campo. Nos
anos 2000, observamos um intenso
processo organizativo dos jovens tan-
to nos movimentos sindicais como a
Confederao Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura (Contag) e a Fe-
derao Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar
(Fetraf) quanto nos movimentos que
fazem parte da Via Campesina Brasil
como o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), o Movimento
dos Pequenos Agricultores (MPA), o
Movimento de Mulheres Camponesas
(MMC) e o Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB). Organizaes j
consolidadas tambm ganharam visibi-
lidade, como a Pastoral da Juventude
Rural. A maioria dos movimentos so-
ciais formalizou, por volta do ano 2000,
alguma instncia organizativa. Portan-
to, a presena cada vez mais massiva de
organizaes de juventude aponta para
um fenmeno em movimento.
Embora esse tipo de articulao
no seja uma novidade juventude
rural, juventude camponesa, ao longo
da histria e em muitos pases, foram
categorias ordenadoras de organiza-
es de representao social , hoje
testemunhamos uma reordenao des-
sas categorias. Em comum, trata-se de
uma juventude que ainda se confronta
com preconceitos das imagens urba-
nas sobre o campo. Esses jovens se
apresentam longe do isolamento, dia-
logam com o mundo globalizado e rea-
frmam sua identidade como trabalha-
dores, pequenos produtores familiares
lutando por terra e por seus direitos
como trabalhadores e cidados. Assim,
443
J
Juventude do Campo
jovem da roa, juventude campone-
sa, jovem agricultor familiar so cate-
gorias aglutinadoras de atuao polti-
ca. Essa reordenao da categoria vai
de encontro imagem de desinteresse
dos jovens pelo meio rural. Apesar des-
sa movimentao, esse novo ator
pouco conhecido e ainda muito negli-
genciado pelas pesquisas sobre o tema
juventude (Castro, E. G., 2008).
Mas qual a importncia de aprofun-
darmos a compreenso sobre a juven-
tude do campo? E em que medida isso
contribui para aprofundarmos o deba-
te sobre educao do campo?
evidente que os problemas enfren-
tados pelos jovens so antes de tudo
problemas enfrentados pela pequena
produo familiar, como as difceis
condies de vida e de produo. Nesse
contexto, algumas difculdades atingem
de forma mais direta os jovens do campo
(Castro, E. G., 2005): h consenso
nas pesquisas quanto s difculdades
enfrentadas pelos jovens no campo,
principalmente de acesso escola e ao
trabalho (Instituto Cidadania, 2004;
Carneiro, 2005; Brasil, 2005; Castro,
E. G., 2005). As demandas apresenta-
das por essa juventude organizada nos
movimentos sociais do campo revelam
muito sobre como esses jovens se per-
cebem. Se, por um lado, reforam ques-
tes consideradas especfcas, como o
difcil acesso terra para os/as jovens
do campo, por outro, constroem essas
demandas no contexto de transforma-
o social da prpria realidade do cam-
po. Mas a demanda recorrente em pau-
tas protocoladas no governo federal e
em eventos organizados pela juventude
rural (ver Castro, E. G., et al., 2009) o
acesso permanente educao pblica
com um contedo terico-pedaggico
que dialogue com a realidade do campo.
Pesquisas ajudam a compreender
o porqu dessa demanda. Em estudo
sobre a educao em assentamentos
(Brasil, 2005), essas dificuldades se
confirmam como nacionais. De 2,5
milhes de entrevistados, 26% tm
entre 16 e 30 anos; se somarmos este
nmero populao com menos de
15 anos, ampliamos o percentual para
um universo de 64%. Desses, 38,8%
frequentam escolas (987.890), sendo:
48,4% estudantes do primeiro segmen-
to do ensino fundamental (represen-
tando 95,7% da populao com idade
para estar matriculada nestas sries);
28,5% do segundo segmento do ensi-
no fundamental; e apenas 8% do en-
sino mdio e profissionalizante. Dos
que tm at 18 anos e esto fora da es-
cola, 45% estudaram at o 5 ano do
ensino fundamental e 14% no estuda-
ram. O 6 ano do ensino fundamental
marcado por uma evaso significa-
tiva. Segundo o Ministrio da Educa-
o (Brasil, 2005), uma das principais
razes para o abandono da escolariza-
o a dificuldade de acesso s esco-
las a partir desse ano e, em especial,
do ensino mdio. De fato, a maioria dos
assentamentos tem escolas de 2 ao
5 ano do ensino fundamental, enquan-
to os demais anos tero de ser cursados
em reas urbanas. Dos que estudam na
cidade, 40% frequentam escolas loca-
lizadas a 15 km de sua residncia. Se
ampliarmos para aqueles que estudam
a 6 km ou mais, temos 77% dos es-
tudantes. Dentre os principais moti-
vos para crianas e adolescentes (7 a
14 anos) abandonarem a escola, 31%
responderam que a escola muito lon-
ge. Esse dado no seria problemtico
no fossem as condies de acesso aos
estabelecimentos de ensino. A Pesqui-
sa Nacional da Educao na Reforma
Agrria (Pnera) (Brasil, 2005) mos-
Dicionrio da Educao do Campo
444
trou que, de um total de mais de 5.500
assentamentos pesquisados em todo o
pas, em 87,8% deles o acesso feito por
estradas de terra. O principal meio de
transporte utilizado para ir escola
percorrer o trajeto a p para 57%,
seguido de apenas 27% com acesso a
transporte escolar. Apesar desse qua-
dro lastimvel, a escolarizao apare-
ceu como muito valorizada.
4
Entre os
entrevistados pela Pnera, 97% discor-
dam que os filhos que trabalham na
roa no precisam de estudos (ibid.,
p. 126), e 70% esperam que a maioria
dos jovens do assentamento entre na
universidade (ibid., p. 124).
Assim, fcar ou sair do campo
mais complexo do que a leitura da atra-
o pela cidade e nos remete anli-
se de juventude como uma categoria
social-chave pressionada pelas mudan-
as e crises da realidade no campo, e
para a qual a educao do campo tor-
nou-se uma questo estratgica.
Notas
1
A associao entre jovem e delinquncia foi muito recorrente em pesquisas nas reas
de psicologia e sociologia realizadas na Alemanha (ver Flitner, 1968). Nos Estados Unidos,
a Escola de Chicago privilegiava temas como delinquncia e criminalidade, nos quais o
jovem aparece como um personagem em destaque ( ver Coulon, 1995). No Brasil, a Unesco
vem fnanciando, desde a dcada de 1990, pesquisas que analisam a juventude a partir de
enfoques que privilegiam questes como violncia, cidadania e educao. Fazem parte desse
esforo trabalhos como o de Castro, M. G. et al., 2001.
2
Ver Deser, 1999; Abramovay et al., 1998; Carneiro, 1998; Majerov, 2000; e Jentsch e
Burnett, 2000.
3
A principal expresso dessa poltica de reforma agrria o Plano Nacional de Reforma
Agrria, centrado em uma poltica de assentamentos rurais e regularizao fundiria em
reas de confitos. Ver o portal do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio: http://www.
mda.gov.br/portal/.
4
Essa tambm foi a impresso colhida na pesquisa Perfl da Juventude Brasileira (Abramo
e Branco, 2005). Os dados sobre juventude rural (669 entrevistados, representando 19% da
amostra total) foram analisados por Maria Jos Carneiro (2005), que revela semelhanas entre
o perfl de jovens rurais e urbanos nas quais o acesso escolarizao apareceu em destaque.
Para saber mais
ABRAMO, H. W. Consideraes sobre a tematizao social da juventude no Brasil. In:
FVERO, O.; SPSITO, M. P.; CARRANO, P.; NOVAES, R. R. (org.) Juventude e contempora-
neidade. Braslia: Unesco/Mec/Anped, 2007. p. 73-90. Disponvel em: http://unes-
doc.unesco.org/images/0015/001545/154569por.pdf. Acesso em: 11 set. 2011.
______; BRANCO, P. P. M. (org.). Retratos da juventude brasileira. So Paulo: Perseu
Abramo/Instituto Cidadania, 2005.
ABRAMOVAY, R. et al. Juventude e agricultura familiar: desafos dos novos padres
sucessrios. Braslia: Unesco, 1998.
BOURDIEU, P. A juventude apenas uma palavra. In: ______. Questes de sociologia.
Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. p. 112-121.
445
J
Juventude do Campo
BRASIL. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC); INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANSIO TEIXEIRA (INEP). Pesquisa Nacional da Educao na
Reforma Agrria (PNERA). Braslia: MEC/Inep/MDA/Incra/Pronera, 2005. Dis-
ponvel em: http://www.lepel.ufba.br/PNERA.pdf. Acesso em: 11 set. 2011.
______. MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRRIO (MDA). Portal do desenvolvimento
agrrio. Disponvel em: http://www.mda.gov.br/portal/. Acesso em: 11 set. 2011.
CARNEIRO, M. J. Juventude rural: projetos e valores. In: ABRAMO, H. W.; BRANCO,
P. P. M. (org.). Retratos da juventude brasileira. So Paulo: Perseu Abramo/Instituto
Cidadania, 2005. p. 73-87.
______. O ideal rurbano: campo e cidade no imaginrio de jovens rurais. In:
TEIXEIRA DA SILVA, F. C.; SANTOS, R.; COSTA, L. F. (org.). Mundo rural e poltica:
ensaios interdisciplinares. Rio de Janeiro: Campus, 1998. p. 95-117.
CASTRO, E. G. Juventude rural mais que uma palavra uma problematizao da
construo de categorias sociais. In: MOREIRA, J. R.; BRUNO, R. (org.). Interpretaes,
estudos rurais e poltica. Rio de Janeiro: Edur/Mauad, 2010. p. 61-94.
______. Juventude. In: ALMEIDA, H. B. de; SZWAKO, J. (org.). Diferenas, igualdades.
So Paulo: Berlindis e Vertecchia, 2009. p. 194-226.
______. Os jovens esto indo embora? Relaes de hierarquia e disputa nas cons-
trues da categoria juventude rural. In: COSTA, S.; SANGMEISTER, H.; STECKBAUER,
S. (org.). O Brasil na Amrica Latina: interaes, percepes, interdependncias.
So Paulo: Annablume, 2008. p. 311-336.
______. Entre fcar e sair: uma etnografa da construo social da categoria jo-
vem rural. 2005. Tese (Doutorado em Antropologia Social) Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
______ et al. Os jovens esto indo embora? Juventude rural e a construo de um ator
poltico. Rio de Janeiro: Edur/Mauad, 2009. V. 1.
CASTRO, M. G. et al. (org.). Cultivando vida, desarmando violncias: experincia em
educao. Braslia: Unesco,/Brasil Telecom/Fundao Kellogg/Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, 2001.
COULON, A. A Escola de Chicago. Campinas: Papirus, 1995.
FLITNER, A. Os problemas sociolgicos nas primeiras pesquisas sobre a juventu-
de. In: BRITTO, S. (org.). Sociologia da juventude. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. V. 1:
Da Europa de Marx Amrica Latina de hoje, p. 37-67.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo 2010. Rio de
Janeiro: IBGE, 2010. Disponvel em: http://www.censo2010.ibge.gov.br/. Aces-
so em: 23 set. 2011.
INSTITUTO CIDADANIA. Projeto Juventude. So Paulo: Instituto Cidadania, 2004. Dis-
ponvel em: http://www.icidadania.org/projeto-juventude-20032004/. Acesso
em: 11 set. 2011.
Dicionrio da Educao do Campo
446
JENTSCH, B.; BURNETT, J. Experiences of Rural Youth in the Risk Society: The Transi-
tion from Education to Employment. In: CONGRESSO MUNDIAL DE SOCIOLOGIA RURAL,
10. Anais... Rio de Janeiro: International Rural Sociology Association (Irsa), 30 de
julho a 5 de agosto de 2000.
LEVI, G.; SCHMITT, J. Introduo. In: ______. Histria da juventude. So Paulo: Com-
panhia das Letras, 1996. V. 1.
MAJEROV, V. Future of Youth in Czech Countryside. In: CONGRESSO MUNDIAL DE
SOCIOLOGIA RURAL, 10. Anais... Rio de Janeiro: International Rural Sociology
Association (Irsa), 30 de julho a 5 de agosto de 2000.
MARGULIS, M. La juventud es ms que una palabra. Buenos Aires: Biblos, 1996.
NOVAES, R. R. Juventude/juventudes? Comunicaes Iser, v. 17, n. 50, p. 8-22, 1998.
WEISHEIMER, N. Estudos sobre os jovens rurais do Brasil: mapeando o debate acadmi-
co. Braslia: MDA/Nead, 2005.
447
L
L
LATIFNDIO
Leonilde Servolo de Medeiros
O termo latifndio, de origem la-
tina, era usado na Roma Antiga para
referir-se s extenses de terra contro-
ladas pela aristocracia, e passou a ser
utilizado para designar grandes pro-
priedades de terra em geral.
A origem do latifndio
no Brasil
No Brasil, a origem dos latifndios
encontra-se no sistema de colonizao.
Interessada em que sua colnia se vol-
tasse para a produo de bens para o
comrcio exterior, a Coroa Portuguesa
recorreu concesso de sesmarias, sis-
tema j utilizado em Portugal e regu-
lamentado desde o sculo XIV. Quem
as recebia, supostamente pessoas com
recursos fnanceiros, tinha o compro-
misso de cultiv-las, sob pena de perda
da concesso. Na histria brasileira, a
doao de sesmarias e a implantao de
grandes unidades voltadas para a pro-
duo e a exportao (principalmente
de cana-de-acar) foram acompanha-
das pela tentativa de escravizar a popu-
lao indgena. Como essas iniciativas
se frustraram, buscou-se solucionar o
problema da mo de obra com a vin-
da de escravos africanos. Assim, fcou
como uma de suas marcas o trabalho
forado para o dono da terra.
Contudo, tambm vinha para o
Brasil, em busca de melhora de suas
condies, uma populao mais pobre,
principalmente masculina, que chegan-
do aqui se apossava, sem qualquer au-
torizao real, de pores de terras e
acabava se miscigenando populao
indgena, passando a constituir um
vasto contingente de mestios ou ca-
boclos. Esses posseiros, muitas vezes,
eram expropriados pelas grandes uni-
dades produtivas, em busca de terras
para sua expanso. A populao mais
pobre podia tambm obter autorizao
para viver dentro das grandes unidades
produtivas, como agregados ou mora-
dores de favor.
Com a independncia do Brasil,
foi extinto o regime de sesmarias, e
durante alguns anos o pas fcou sem
lei que regulasse as concesses de
terras. Com a aprovao da Lei de Ter-
ras (lei n 601, de 18 de setembro de
1850), esse quadro se modifcou. Por
meio dela, foram legitimadas as reas
anteriormente concedidas sob a forma
de sesmarias, bem como as posses. No
caso da posse, a regularizao dependia
da comprovao de uso com atividades
agrcolas e de existncia de moradia ha-
bitual. Ficou ainda estabelecido que as
demais terras, transformadas em terras
devolutas do Estado, s poderiam ser
obtidas por compra.
Essa legislao consagrou o regime
de uso de terra que vinha da colnia:
predomnio de grandes unidades, com
uso abundante de mo de obra (escrava
num primeiro momento, livre no fnal
do sculo XIX), voltadas para cultivos
destinados ao mercado externo caf,
ento principal produto da pauta de
exportaes e carro-chefe da econo-
Dicionrio da Educao do Campo
448
mia nacional, cana-de-acar, algodo
e outros , ou para a pecuria exten-
siva, no caso de terras no utilizadas
pela agricultura de exportao e mais
distantes dos portos. Essas proprie-
dades eram marcadas tambm pelo po-
der dos grandes proprietrios, poder
que se estendia aos que habitavam seus
arredores e aos municpios, por meio
do controle das Cmaras.
Os debates em torno do
latifndio
Essas grandes propriedades passa-
ram a ser denominadas latifndios, em
especial por seus crticos, e o termo as-
sumiu ao longo do tempo um carter
eminentemente poltico.
Nos anos 1920, no bojo dos deba-
tes sobre a constituio da identidade
nacional, a importncia da industriali-
zao etc., o tenentismo, movimento
liderado por jovens ofciais do Exrci-
to engajados no debate sobre os des-
tinos da nao, chamava ateno para
a relao existente entre o sistema la-
tifundirio, o coronelismo e o controle
poltico dos eleitores e do voto pelos gran-
des proprietrios (Santa Rosa, 1963). Para
pelo menos uma parcela dos tenentes,
o latifndio era tido como a principal
razo do atraso poltico do Brasil e sua
extino era importante para a democra-
tizao dos processos eleitorais. No
entanto, os integrantes do movimento
divergiam quanto s medidas para eli-
min-lo, como mostra a polmica entre
Juarez Tvora e Lus Carlos Prestes no
incio dos anos 1930, por ocasio da
ruptura desse ltimo com o tenentis-
mo (Carone, 1973, p. 346-365). A par-
tir da, intensifcou-se um debate (que
j havia ganhado espao pblico por
ocasio das discusses sobre a reorga-
nizao do Brasil aps a Abolio da
Escravatura) em torno da necessidade
de uma Reforma Agrria, poltica desti-
nada a fazer desaparecer o latifndio por
meio de uma ampla distribuio de terras.
A proposta do segmento dos tenentes que
fazia uma crtica radical ao latifndio, no
entanto, no vingou.
Nos anos 1950, o tema voltou a
ganhar flego no bojo de intensas dis-
cusses sobre a necessidade de desen-
volvimento e industrializao. Nesse
momento, o termo latifndio conso-
lidou o sentido que ganhara anterior-
mente como sinnimo de monoplio da
terra, atraso tecnolgico e relaes
de trabalho marcadas pela dependncia
pessoal e pela explorao. Tornou-se o
smbolo de um atraso que deveria ser
superado, quer fosse lido como expres-
so do capitalismo (Caio Prado Jr.) ou
da presena de restos feudais (Alberto
Passos Guimares), como mostra
Moacir Palmeira (1984).
Com efeito, para alm dos enfren-
tamentos tericos sobre o signifcado
do latifndio como forma de caracte-
rizar o momento vivido pela formao
social brasileira, o que marcou o pero-
do foi a construo social da fgura do
latifndio como emblema mtico que
sintetizava um conjunto de normas,
atitudes e comportamentos atualizados
pelo conjunto dos proprietrios rurais,
respaldados pelo poder local (Novaes,
1997, p. 51). contra essa fgura que se
voltaram as organizaes que falavam
em nome dos trabalhadores do cam-
po (associaes de lavradores, Ligas
Camponesas e, j no incio dos anos
1960, sindicatos), propondo a Reforma
Agrria, uma legislao trabalhista e a
regulamentao das formas de acesso
temporrio s terras, como o caso da
parceira e do arrendamento.
449
L
Latifndio
A definio legal de latifndio
Aps o golpe militar de 1964, o ter-
mo latifndio, no entanto, ganhou uma
defnio legal, por fora do Estatuto
da Terra (lei n 4.504, de 30 de novem-
bro de 1964), lei que, pela primeira vez,
estabeleceu os parmetros da Reforma
Agrria no Brasil.
O Estatuto da Terra classifcou os
imveis rurais em quatro categorias, de
acordo com o seu tamanho em termos
de mdulos rurais (unidade de medida,
em hectares, que buscava exprimir a
interdependncia entre a dimenso, a
situao geogrfca dos imveis rurais
e a forma e as condies do seu apro-
veitamento econmico):
minifndios: propriedades com rea
inferior a um mdulo rural e, portan-
to, incapazes, por defnio, de pro-
ver a subsistncia do produtor e de
sua famlia;
latifndios por explorao: imveis
com rea de 1 a 600 mdulos, manti-
dos inexplorados em relao s possi-
bilidades fsicas, econmicas e sociais
do meio em que se encontravam, com
fns especulativos, ou que fossem ina-
dequadamente explorados;
latifndios por extenso: aqueles
com rea superior a 600 mdulos,
independentemente do tipo e carac-
tersticas da produo nela desen-
volvida;
empresas: imveis com rea de 1 a
600 mdulos, caracterizados por n-
veis de aproveitamento do solo e por
uma racionalidade na explorao com-
patveis com os padres regionais.
O documento ainda defnia que a pro-
priedade da terra desempenhava inte-
gralmente a sua funo social quando,
simultaneamente: a) favorecia o bem-
estar dos proprietrios e dos trabalha-
dores que nela labutavam, assim como
de suas famlias; b) mantinha nveis sa-
tisfatrios de produtividade; c) assegu-
rava a conservao dos recursos natu-
rais; d) observava as disposies legais
que regulam as justas relaes de tra-
balho entre os que a possuem e aqueles
que a cultivam. Alm disso, regulamen-
tou os contratos de arrendamento e parce-
ria, relaes que sempre foram confitivas
no meio rural e que foram constitutivas da
defnio socialmente vigente de latifn-
dio (Medeiros, 2002).
O objetivo da Reforma Agrria era,
segundo essa lei, a gradual extino de
minifndios e latifndios, considera-
dos fontes de tenso social no campo.
J a empresa, que poderia inclusive ser
uma propriedade de carter familiar,
tornava-se o modelo ideal de imvel e
de uso da terra. O caminho para que
o latifndio se convertesse em empre-
sa seria a desapropriao (prevista so-
mente em casos de existncia de ten-
so social), a tributao progressiva e
medidas de apoio tcnico e econmico
produo.
Com isso, alguns dos termos que ha-
viam se politizado no debate do incio dos
anos 1960 ganharam o status de categorias
legais, com critrios relativamente preci-
sos de defnio. Essa categorizao cris-
talizou o estigma que pesava tanto sobre
o latifndio quanto sobre o minifndio
e estabeleceu como meta sua progressi-
va extino, em nome de um padro de
racionalidade da explorao agrcola con-
siderada como o ideal a ser atingido (a em-
presa rural).
O Estatuto da Terra previu as condi-
es institucionais que possibilitavam a de-
sapropriao por interesse social e a trans-
formao do latifndio em empresa. No
rearranjo de foras polticas que se seguiu
Dicionrio da Educao do Campo
450
ao Golpe de 1964 e com o peso que, nessa
articulao poltica, tiveram os interesses
ligados aos grandes proprietrios de terra,
a opo dos governos militares foi pelo
incentivo modernizao tecnolgica das
grandes propriedades, com incentivos fs-
cais e crdito farto e barato. As limitaes
no tamanho de terras (at 3.000 hectares)
a serem concedidas sem autorizao do
Senado Federal viraram letra morta. A ca-
tegoria latifndio por extenso foi esque-
cida e foram dados incentivos no s sua
transformao tecnolgica, como tambm
se criaram condies favorveis para que
essa forma de propriedade se viabilizasse
nas regies de fronteira agrcola, por meio
de concesses de terras pblicas e demais
polticas de incentivo produo.
Esses estmulos atraram tambm
grandes empresas do setor industrial e
fnanceiro para o meio rural, interessadas
na especulao com a terra. Com esse tipo
de poltica, a ideia de criao de uma clas-
se mdia rural deixou de ser relevante. Da
mesma forma, perdeu-se de vista que a
defnio de empresa no poderia ser feita
apenas pelas suas caractersticas produti-
vas, mas tambm pelo respeito legislao
trabalhista e pela preservao ambiental,
condio para que o imvel cumprisse
a sua funo social, segundo o Estatuto
da Terra.
Ao longo das transformaes que im-
plicaram a modernizao tecnolgica das
atividades agropecurias mecanizao
em larga escala, introduo de insumos
qumicos, aumento de produtividade,
agroindustrializao, reduo drstica da
populao rural em relao urbana e
expanso da fronteira agrcola , as con-
dies de trabalho no meio rural se de-
terioraram, bem como as condies de
reproduo da propriedade familiar. O
rpido processo de modernizao trouxe
consigo a expropriao de parcela sig-
nifcativa dos trabalhadores que viviam
no interior das fazendas (como colonos,
moradores, parceiros e arrendatrios). As
grandes empresas que compraram ou ob-
tiveram concesses de terras nas reas de
fronteira buscavam expulsar os posseiros
que l viviam e restringir as dimenses
dos territrios ocupados por grupos ind-
genas, ampliando o campo de confito. A
isso se somava outra dimenso: o avan-
o sobre novas reas e a reocupao
das antigas com tecnologias de ponta
para a produo de exportao, com
a concomitante devastao da vegeta-
o nativa, seja da Mata Atlntica, do
Cerrado ou da Floresta Amaznica.
Em resultado, os confitos por terra e
por direitos se ampliaram, permanecendo
o latifndio como smbolo de relaes de
explorao e opresso. No que se refere
s pequenas propriedades, em especial no
sul do pas, o endividamento causado pelo
esforo de acompanhar a modernizao
levou muitos pequenos proprietrios a
vender suas terras, facilitando ainda mais
a concentrao fundiria.
Com suas organizaes fortemente
reprimidas, a prpria luta dos camponeses
por direitos fcava extremamente limitada.
No incio dos anos 1980, o latifndio ain-
da se mantinha como um emblema mti-
co (Novaes, 1997), mas j correspondia
a um novo modelo de produo. Contra
ele se voltavam todas as organizaes que
representavam os trabalhadores rurais o
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS
SEM TERRA (MST), a Confederao dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag),
o Conselho Nacional dos Seringueiros
(CNS) etc. e as entidades que lhes da-
vam apoio, com destaque para a COMISSO
PASTORAL DA TERRA (CPT) (ver SINDICA-
LISMO RURAL).
A proposta de um Plano Nacional de
Reforma Agrria (PNRA), apresentada
451
L
Latifndio
logo no incio da Nova Repblica, voltava-
se fundamentalmente contra o latifndio
e, com base numa leitura desapropria-
cionista do Estatuto da Terra, procurava
extirp-lo. A apresentao da proposta
de plano resultou em forte reao dos
proprietrios de terra, e no daqueles
dos rinces mais distantes, onde su-
postamente estaria o latifndio, mas
dos setores mais modernizados, que
tinham uma face de empresa (a mo-
dernidade tecnolgica) e outra face do
latifndio tradicional (desrespeito aos
direitos dos trabalhadores e preser-
vao ambiental).
Ao longo dos debates em torno
do PNRA, ganhou flego a nfase na
negociao com os proprietrios, em
lugar da desapropriao, eliminando-
se a conotao punitiva que as desa-
propriaes tinham no plano. Parale-
lamente, desenvolveu-se a crtica aos
imveis mantidos com fns meramente
especulativos e tambm uma polmi-
ca a respeito da defnio do que era
imvel produtivo (portanto, no
passvel de desapropriao). Na reda-
o fnal do PNRA (e nos documentos
subsequentes), fcou preservado todo
imvel rural que estivesse em produ-
o, entendendo-se por produo at
mesmo a existncia de um projeto de
aproveitamento ou, ainda, a explorao
de parte do imvel. Com isso, frmou-
se uma tendncia a reduzir a funo
social da propriedade a ndices de pro-
dutividade, deixando em segundo pla-
no os demais elementos que, segundo
o Estatuto da Terra, compunham a sua
defnio. Enquanto categoria legal,
o latifndio foi sendo ressignifcado.
Tambm se inverteu a leitura contida
no Estatuto da Terra, que dava prio-
ridade na desapropriao aos imveis
que tivessem alta incidncia de arren-
datrios ou parceiros. Nesse caso, des-
de que os proprietrios cumprissem os
princpios legais reguladores dos con-
tratos, no se fariam desapropriaes.
Criavam-se, assim, condies para a
revalorizao dessas formas de explo-
rao da terra que se mostravam, de
h muito, geradoras de confito e que
sempre tiveram a marca da precria uti-
lizao e do absentesmo patronal, tra-
o caracterstico do que se considerava
at ento como latifndio.
A Constituio de 1988
e seus resultados
Os pontos centrais dos debates
em torno do PNRA mantiveram-se na
pauta da Assembleia Nacional Cons-
tituinte de 1988. O produto final im-
plicou uma tenso entre as ideias de
produtividade e de funo social. A
Constituio de 1988 afirma que a
propriedade deve atender sua fun-
o social (art. 5, XXIII), com uma
definio explcita do que se entende
por tal, inspirada no Estatuto da Ter-
ra: aproveitamento racional, utilizao
adequada dos recursos naturais dis-
ponveis e preservao do meio am-
biente, observncia das disposies
que regulam as relaes de trabalho
e explorao que favorea o bem-
estar dos proprietrios e trabalhado-
res. Tambm tornou insuscetvel de
desapropriao para fins de Reforma
Agrria a pequena e a mdia proprie-
dades rurais. O mais significativo, no
entanto, foi a insero de um artigo
determinando que a propriedade pro-
dutiva no poderia ser desapropriada.
A Constituio foi regulamentada
pela Lei Agrria, como conhecida a
lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Essa lei definiu que a propriedade que
Dicionrio da Educao do Campo
452
no cumprisse a sua funo social era
passvel de desapropriao; manteve
os critrios constitucionais para defi-
nio da funo social; estabeleceu que
as terras rurais pblicas (de domnio
da Unio, dos estados ou dos munic-
pios) passariam a ser destinadas prefe-
rencialmente execuo da Reforma
Agrria; confirmou o banimento dos
termos da lei da categoria latifndio,
substituda por um critrio menos po-
litizado, o do tamanho, calculado em
mdulos fiscais, unidade expressa em
hectares e fixada para cada municpio,
considerando o tipo de explorao
predominante, e a renda obtida com
ela, e outras exploraes existentes
no municpio que, embora no pre-
dominantes, fossem significativas em
funo da renda ou da rea utilizada.
Segundo essa definio, as proprie-
dades com at 4 mdulos fiscais eram
consideradas pequenas, aquelas com
4 a 15, mdias e as com rea acima
de 15 hectares, grandes propriedades.
E somente a grande propriedade seria
passvel de desapropriao, desde que,
seguindo os preceitos constitucionais,
no fosse produtiva. Com isso, a pos-
sibilidade de desapropriao de terras
passava a ficar na dependncia de in-
terminveis processos administrativos
e judiciais.
O latifndio hoje
A progressiva modernizao da
agricultura brasileira conferiu novo sig-
nificado ao termo latifndio. Se ele re-
mete ainda ao significado original,
relacionado ao tamanho do imvel, o
fato que as caractersticas da proprie-
dade da terra no Brasil passaram por
mudanas importantes. O processo
produtivo se modernizou (deslocando
o atraso tecnolgico que estava na raiz
de muitos debates em torno da pro-
priedade da terra nas dcadas de 1950
e 1960), mas no foram modernizadas as
relaes de produo pelo contrrio,
multiplicam-se as denncias sobre
formas de trabalho degradantes e
muito menos desapareceu a violncia,
outra caracterstica da definio de la-
tifndio cunhada nos anos 1950-1960.
No que se refere dimenso ambien-
tal, presente na definio de empresa
constante do Estatuto da Terra, o es-
tmulo produo e ocupao de
novas reas resultou numa profunda
degradao dos solos e da vegetao
nativa, colocando inclusive em ameaa
as nascentes.
A agricultura se articulou aos com-
plexos agroindustriais (CAIs) e tor-
nou-se parte de um complexo sistema
hoje denominado de agronegcio, o
qual, para se reproduzir, necessita de
grande disponibilidade de terras, quer
pela exigncia de escala produtiva
imposta pelo patamar tecnolgico,
quer para que sirvam de estoque, s
vezes por longos perodos, espera
do momento propcio para serem co-
locadas em produo.
Caindo em desuso por causa da
perda progressiva de sua fora polti-
ca, o termo latifndio tem sido cada
vez mais substitudo nos embates po-
lticos por agronegcio, palavra mais
abrangente, que remete proprieda-
de da terra, mas principalmente s
complexas articulaes agropecuria/
indstria que determinam hoje, inclu-
sive, os parmetros do funcionamento
do mercado fundirio.
453
L
Legislao Educacional do Campo
Para saber mais
CARONE, E. O tenentismo. So Paulo: Difel, 1973.
MEDEIROS, L. S. de. Movimentos sociais, disputas polticas e Reforma Agrria de mercado
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora da UFRRJ, 2002.
NOVAES, R. R. De corpo e alma: catolicismo, classes sociais e confitos no campo.
Rio de Janeiro: Graphia, 1997.
PALMEIRA, M. Os anos 60: reviso crtica de um debate. In: ANAIS DO SEMINRIO
REVISO CRTICA DA PRODUO SOCIOLGICA VOLTADA PARA A AGRICULTURA. So
Paulo: Associao dos Socilogos do Estado de So Paulo, 1984.
SANTA ROSA, V. Que foi o tenentismo? Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1963.
(Segunda edio do livro O sentido do tenentismo.)
SILVA, L. O. Terras devolutas e latifndio: efeitos da lei de 1850. Campinas: Editora
da Unicamp, 1996.
L
LEGISLAO EDUCACIONAL DO CAMPO
Mnica Castagna Molina
No decorrer da construo das
prticas e do iderio da Educao do
Campo, esse movimento conquista im-
portantes marcos legais que contribuem
para o fortalecimento das lutas pela de-
mocratizao do direito educao dos
sujeitos camponeses. Este verbete trata
do contedo que se logrou inserir nas
legislaes especfcas execuo da
Educao do Campo, bem como obje-
tiva contribuir para a refexo sobre seu
signifcado e seu processo de constru-
o como elementos integrantes da tra-
de campopoltica pblicaeducao.
Marilena Chau (1989, p. 20) des-
taca que a positivao de um direito
refere-se necessidade profunda de se
estabelecer ou reafrmar a compreen-
so coletiva de determinados valores
para o conjunto da sociedade. A au-
tora enfatiza que a prtica de declarar
direitos os inscreve nos mbitos social
e poltico, e requer o reconhecimento
de todos sobre estes, exigindo, por-
tanto, consentimento social e poltico
para sua efetivao. Conquistar este
consentimento representa simultanea-
mente avano e desafo para a manu-
teno destes direitos, entendendo-os,
tambm, em permanente processo de
instituio e destituio, relacionado
s foras presentes nas relaes sociais
em dado perodo histrico.
Conforme debate apresentado no
verbete POLTICAS PBLICAS, a ao
do Estado para garantir direitos so-
ciais requer estratgias de interveno
na sociedade, por meio de programas
que deem materialidade a estes direi-
tos. Sua reafrmao nos marcos legais
Dicionrio da Educao do Campo
454
supraconstitucionais legitima e expli-
cita a organizao das aes a serem
executadas pelo Estado.
O contedo dessas l egi sl aes,
conquistadas mediante o protagonismo
dos movimentos sociais camponeses,
tem dispositivos teis s necessrias
disputas a serem feitas nos diferentes
nveis de governo, seja no federal, seja
nas instncias estaduais e municipais,
muito vezes mais refratrias garantia
dos direitos, em razo da maior apro-
priao destes espaos de poder pelas
oligarquias locais.
Ao mesmo tempo que se conquis-
tam avanos que garantem legitimida-
de para as experincias inovadoras em
curso, fecham-se escolas no meio rural
cada vez com mais frequncia no pas,
fato decorrente do confronto de proje-
tos e fnalidades de uso do campo. O
estabelecimento das disposies legais
passo importante na exigncia do direi-
to educao dos povos do campo, mas
insufciente para a sua garantia. Somente
a luta coletiva do campesinato e de seus
aliados tem condies de fazer valer os
direitos positivados. necessrio forte
trabalho da sociedade civil organizada,
e do prprio Ministrio Pblico, para
pressionar os responsveis do Poder
Executivo, nas diferentes instncias de
governo, a garantir a oferta da educao
escolar a fm de materializar este direito
para os camponeses. A existncia dos
marcos legais conquistados ferramen-
ta importante nessa luta.
Merecem destaque neste verbete
alguns dispositivos legais conquis-
tados que reconhecem as condies
necessrias para que a universalidade
do direito educao se exera respei-
tando as especifcidades dos sujeitos
do campo: as Diretrizes Operacionais
para a Educao Bsica nas Escolas do
Campo (Doebec n 1 e n 2, de 2002 e
2008 respectivamente), expedidas pela
Cmara de Educao Bsica (CEB),
do Conselho Nacional de Educao
(CNE); o parecer n 1, de 2006, tam-
bm expedido pela CEB, que reconhe-
ce os dias letivos da alternncia; e, mais
recentemente, o decreto n 7.352, de
2010, que dispe sobre a Poltica Na-
cional de Educao do Campo e sobre
o PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAO
NA REFORMA AGRRIA (PRONERA).
Alm destas normatizaes espec-
fcas, so tambm instrumentos legais
imprescindveis execuo da garantia
do direito educao escolar dos po-
vos do campo os marcos legais defni-
dos na Constituio Federal de 1988.
Nela, a educao integra o rol dos di-
reitos sociais fundamentais, e o deta-
lhamento das obrigaes do Estado na
sua oferta encontra-se nos artigos 205
e seguintes, que tratam das condies e
garantias do DIREITO EDUCAO nos
diferentes nveis e modalidades.
Aliado aos dispositivos da Consti-
tuio Federal, est tambm defnida
na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lei
n
o
9.394/1996, nos seus artigos 23, 26
e 28, a especifcidade do campo no que
diz respeito ao social, cultural, poltico
e econmico. No caput do artigo 28 da
LDB, encontra-se a garantia do direito
dos sujeitos do campo construo de
um sistema de ensino adequado sua
diversidade sociocultural, requerendo
das redes as necessrias adaptaes de
organizao e metodologias, e currcu-
los que contemplem suas especifcida-
des. Tal caput dispe que: Na oferta da
educao bsica para a populao ru-
ral, os sistemas de ensino promovero
as adaptaes necessrias sua adequa-
o s peculiaridades da vida rural e de
cada regio (Brasil, 1996).
455
L
Legislao Educacional do Campo
Alm desta determinao geral con-
tida no artigo 28, h tambm o detalha-
mento de como podem ser respeitadas
estas especifcidades para garantia do
direito educao, explicitadas nos in-
cisos de I a III deste artigo, e que dis-
pem respectivamente sobre a garantia
de: contedos curriculares e metodo-
logias apropriadas s reais necessidades
e interesses dos alunos da zona rural;
organizao escolar prpria, incluindo
a adequao do calendrio escolar s
fases do ciclo agrcola e s condies
climticas; adequao natureza do
trabalho na zona rural.
De acordo com o parecer que
acompanha as Diretrizes Operacionais
para a Educao Bsica nas Escolas do
Campo, a Educao do Campo tem
um signifcado que incorpora os espa-
os da foresta, da pecuria, das minas
e da agricultura, mas os ultrapassa ao
acolher em si os espaos pesqueiros,
caiaras, ribeirinhos e extrativistas
(Brasil, 2001). A intencionalidade da
defnio apresentada que a garantia
do direito educao que propugna
considere a incorporao dos diferen-
tes sujeitos que garantem suas condi-
es de reproduo social a partir do
trabalho ligado diretamente natureza,
assim como defnem as diretrizes, ao
afrmar que, nesse sentido, mais do
que um permetro no urbano, um
campo de possibilidades que dinami-
zam a ligao dos seres humanos com
a prpria produo das condies da
existncia social e com as realizaes da
sociedade humana (ibid).
No artigo 3 das Doebec (Brasil,
2002 e 2008), reafrma-se a obrigato-
riedade de o poder pblico garantir
a universalizao do acesso da popu-
lao do campo educao bsica.
Tambm como resultante da presena
dos movimentos sociais nas audincias
pblicas que antecederam a elaborao
das diretrizes, em seus artigos 5, 7,
8 e 9, legitimam-se possibilidades de
alteraes na organizao do trabalho
pedaggico, na organizao curricu-
lar, e nos tempos educativos a serem
vivenciados na construo da ESCOLA
DO CAMPO.
As determinaes constantes nas
diretrizes que estabelecem as obriga-
es do poder pblico so ferramentas
importantes na luta poltica para a sua
materializao, alm dos dispositivos
que determinam a obrigatoriedade do
oferecimento da educao infantil e
das sries iniciais nas prprias comu-
nidades rurais, o que tem sido fagran-
temente descumprido pelos sistemas
municipais de ensino. O artigo 6 da
Doebec de 2002 dispe que o Poder
Pblico, no cumprimento das suas
responsabilidades com o atendimento
escolar e luz da diretriz legal do re-
gime de colaborao entre a Unio, os
estados, o Distrito Federal e os muni-
cpios, proporcionar educao infantil
e ensino fundamental nas comunidades
rurais (Brasil, 2002).
Outro aspecto a se destacar das
diretrizes refere-se incorporao em
suas determinaes de princpios fun-
dantes da Educao do Campo no que
se refere s prticas de gesto da es-
cola, que devem ser compartilhadas,
tal como disposto no artigo 10
o
, que
estabelece que a gesto dever cons-
tituir mecanismos que possibilitem
estabelecer relaes entre a escola, a
comunidade local, os movimentos so-
ciais, os rgos normativos do sistema
de ensino e os demais setores da so-
ciedade (Brasil, 2002). A relao da
escola do campo com a comunidade
ponto nevrlgico de sua estruturao
Dicionrio da Educao do Campo
456
e da garantia de sua identidade como
tal. A insero desta prescrio nos
marcos legais, com a explicitao nas
diretrizes da presena dos movimentos
sociais no seu interior, de vital im-
portncia para a materializao desta
identidade, e est mais esclarecida no
verbete ESCOLA DO CAMPO.
A construo desta proposta de
escola do campo, com suas especifci-
dades no que diz respeito relao de
produo de conhecimento e de ino-
vaes na organizao do trabalho pe-
daggico, se faz acompanhar nas dire-
trizes pelas exigncias de formao de
educadores prprios para o exerccio
da funo docente no campo, tal como
exigem os movimentos sociais. No ar-
tigo 12 das Doebec de 2002, determi-
na-se que a formao dos educadores
para a Educao do Campo se faa de
acordo com o disposto nos artigos 12,
13, 61 e 62 da LDB, exigindo-se ainda
a incorporao, nestes processos for-
mativos, do estudo sobre a diversidade
cultural e os processos de transforma-
o existentes no campo brasileiro, e
o respeito ao efetivo protagonismo
das crianas, dos jovens e dos adultos
do campo na construo da qualidade
social de vida individual e coletiva
(Brasil, 2002).
Este protagonismo no s tem ga-
rantido a inovao nas prticas peda-
ggicas em curso, como tambm tem
feito avanar o reconhecimento le-
gal destas inovaes, tanto assim que
se destaca, como aspecto central do
decreto n
o
7.352, de 2010, o fato de
este ter alado a Educao do Campo
poltica de Estado, superando os li-
mites existentes decorrentes do fato
de sua execuo dar-se apenas por
meio de programas de governo, sem
nenhuma garantia de permanncia e
continuidade. Alm da importncia de
enfatizar a Educao do Campo como
poltica de Estado, relevante destacar,
do conjunto dos artigos que compem
o decreto n
o
7.352/2010, o que se con-
venciona chamar de esprito da lei,
ou seja, o que constitui o pilar estrutu-
rante, os objetivos principais de deter-
minado diploma legal.
No caso do referido decreto, en-
contra-se, como sua funo principal, a
obrigatoriedade de o Estado brasileiro
instituir formas de ampliar e qualifcar
a oferta da educao bsica e superior
aos sujeitos do campo. Tais determi-
naes esto presentes em diferentes
artigos e incisos deste diploma legal.
Assim, pode-se afrmar que o objetivo
principal do decreto n
o
7.352/2010 a
instituio de aes do Estado brasilei-
ro que visem promover concretamente
a materializao do direito educa-
o escolar para os camponeses. Cabe
ressaltar que o prprio artigo 1
o
, que
estabelece os fns da poltica nacional,
institui que esta destina-se amplia-
o e qualifcao da oferta da Edu-
cao Bsica e Superior s populaes
do campo (Brasil, 2010).
Aspecto relevante deste decreto
que institui a Poltica Nacional de Edu-
cao do Campo est contido no reco-
nhecimento jurdico, materializado por
este diploma legal, tanto da universa-
lidade do direito educao quanto da
obrigatoriedade do Estado de promover
intervenes que atentem para as espe-
cifcidades necessrias ao cumprimento
e garantia desta universalidade.
H que se destacar, nesse diplo-
ma legal, a incorporao do reconhe-
cimento das especifcidades sociais,
culturais, ambientais, polticas e eco-
nmicas do modo de produzir a vida
no campo. O inciso I do pargrafo 1
o
457
L
Legislao Educacional do Campo
do referido decreto traz no s extensa
lista de tipifcao das populaes do cam-
po (agricultores familiares, extrativis-
tas, pescadores artesanais, ribeirinhos,
assentados e acampados da Reforma
Agrria, quilombolas, caiaras, povos
da foresta e caboclos), como reco-
nhece, contidas nesta categoria, outras
populaes no explicitadas no corpo
da lei, que produzam suas condies
materiais a partir do trabalho no meio
rural (Brasil, 2010).
Tambm se destaca a importncia
do acolhimento, no referido decre-
to, da concepo de escola de campo,
defnindo como suas caractersticas
identifcadoras no s a localizao em
territrio rural, mas tambm reconhe-
cendo como tais as escolas que no se
situam neste espao, mas que atendem
predominantemente populaes do campo,
conforme explicitao desta categoria
feita no inciso I do pargrafo 1
o
, ante-
riormente comentado.
O decreto n
o
7.352, no caput do arti-
go 3
o
, reconhecendo esta especifcida-
de, determina que caber Unio criar
e implementar mecanismos com o ob-
jetivo de superar as defasagens histri-
cas de acesso educao escolar pelas
populaes do campo (Brasil, 2010),
desenvolvendo polticas especficas
para enfrentar os problemas mais gra-
ves e persistentes, entre eles: reduzir os
indicadores de analfabetismo; fomen-
tar polticas de educao de jovens e
adultos; garantir condies de infraes-
trutura bsica para as escolas (energia
eltrica, gua potvel e saneamento); e
promover nelas a incluso digital .
A exigncia de polticas afrmati-
vas para essas situaes d-se funda-
mentada em estatsticas que expem a
absurda privao do direito educao
escolar no campo (polticas estas que
no lograram ainda aes proporcio-
nais magnitude do problema). Dentre
elas, destacam-se a taxa de analfabetis-
mo da populao de 15 anos ou mais,
que apresenta um patamar de 23,3% na
rea rural, trs vezes superior quele da
zona urbana, que se encontra em 7,6%;
a escolaridade mdia da populao de
15 anos ou mais que vive na zona rural,
que de 4,5 anos, enquanto, no meio
urbano, na mesma faixa etria, de 7,8
anos; as condies de funcionamento
das escolas de ensino fundamental, que
so extremamente precrias, pois 75%
dos alunos so atendidos em escolas
que no dispem de biblioteca; 98%,
em escolas que no possuem laborat-
rio de cincias; e 92%, em escolas que
no possuem acesso internet (Molina,
Oliveira e Montenegro, 2009, p. 4).
Estes indicadores expem a urgen-
te necessidade da adoo de polticas
afrmativas para o enfrentamento des-
tas privaes, em funo das variadas
consequncias que geram ao negar o
desenvolvimento amplo e integral no
s desses indivduos, mas tambm das
comunidades rurais s quais perten-
cem. O fato de este decreto determinar
que o Estado conceba, e execute, pol-
ticas especfcas para acelerar a supres-
so das histricas defasagens no direito
educao dos povos do campo fun-
damenta-se na compreenso sustenta-
da por estudiosos das polticas pblicas
(por exemplo, Kerstenetzky) que defen-
dem que, para restituir a grupos sociais
o acesso efetivo a direitos universais
formalmente iguais, que, por diversos
fatores histricos, no foram garanti-
dos na prtica, faz-se necessria uma
interveno do Estado com progra-
mas afrmativos especfcos para enfren-
tar estas desigualdades. Pois, conforme
Kerstenetzky, sem ao poltica e
Dicionrio da Educao do Campo
458
programa direcionados especifcamen-
te aos grupos sociais que foram histo-
ricamente excludos do acesso aos di-
reitos (2005, p. 8), estes direitos no
se materializaro de fato. preciso,
portanto, que o Estado promova aes
que supram as defasagens histricas
acumuladas na fruio dos mesmos.
Kerstenetzky enfatiza que esses pro-
gramas e aes afrmativas comple-
mentariam polticas pblicas universais,
afeioando-se sua lgica, na medida
em que diminuiriam as distncias que
normalmente tornam irrealizvel a no-
o de igualdades de oportunidades
embutidas nesses direitos (ibid., p. 8).
No artigo 4
o
do referido decreto,
e em seus nove incisos, que tratam da
educao infantil educao superior,
reafrma-se que, para garantir a am-
pliao e a qualifcao da oferta da edu-
cao bsica e superior aos povos do
campo (Brasil, 2010), a Unio apoiar
tcnica e fnanceiramente os estados
e municpios, em seus respectivos siste-
mas para a implantao de programas
especfcos que objetivem maximizar a
oferta dos diferentes nveis de ensino
aos povos do campo. Encontra-se, ain-
da, no inciso IX, pargrafo 1
o
, do arti-
go 4
o
, dispositivo que determina que a
Unio aloque recursos especfcos para
aes nas reas de Reforma Agrria. O
decreto tambm dispe, em seu artigo
4
o
,
inciso V, o apoio da Unio cons-
truo, reforma, adequao e am-
pliao das escolas do campo.
Alm disso, o decreto determina o
apoio da Unio aos sistemas de ensino
para a formao especfca de educado-
res do campo, no inciso VI do artigo
4
o
. Ele tambm explicita, no artigo 5
o
, a
legitimidade e a necessidade dessas po-
lticas especfcas de formao, ao dis-
por, no caput deste artigo, que a for-
mao de professores para a Educao
do Campo observar os princpios e
objetivos da Poltica Nacional de For-
mao de Profssionais do Magistrio
da Educao Bsica (Brasil, 2010),
reconhecendo, no pargrafo nico
do mesmo artigo, que a formao de
professores do campo poder ser feita
concomitantemente atuao profs-
sional, de acordo com metodologias
adequadas, inclusive a pedagogia da al-
ternncia, e sem prejuzo de outras que
atendam s especifcidades da Educao
do Campo, e por meio de atividades de
ensino, pesquisa e extenso (ibid). O
estabelecimento deste dispositivo con-
sagra tambm importante vitria do
movimento da Educao do Campo,
pois torna perene a obrigao do Esta-
do de garantir a oferta de polticas espe-
cfcas de formao de educadores nas
instituies pblicas de ensino supe-
rior, consolidando, porm, estratgia de
oferta diferenciada que no inviabilize a
continuidade destes sujeitos no campo.
Considera-se como uma concreta
possibilidade de expanso da educao
superior aos sujeitos do campo a conso-
lidao de sua oferta com base na alter-
nncia. Embora a alternncia fosse co-
mum na oferta da educao bsica, em
funo da antiga experincia das escolas
famlias agrcolas (EFAs) no Brasil, no
havia acmulo anterior relevante desta
modalidade de oferta na educao su-
perior. Este acmulo conquistou-se a
partir dos cursos do Pronera, que, ao
garantir o acesso educao superior
para os sujeitos do campo em diferen-
tes reas do conhecimento com seus
cursos de Pedagogia da Terra, Histria,
Cincias Agrrias, Geografa, Artes,
Direito, Agronomia, Comunicao, En-
fermagem, entre outros foi consoli-
dando a possibilidade e exequibilidade
dessa modalidade de oferta.
459
L
Legislao Educacional do Campo
pela importncia histrica, e
pelos acmulos produzidos na lti-
ma dcada, que o decreto que institui
a Poltica Nacional de Educao do
Campo reconhece e legitima o Progra-
ma Nacional de Educao na Reforma
Agrria como elemento integrante des-
ta poltica de Estado. O Pronera tem
viabilizado o acesso educao formal
a centenas de jovens e adultos das re-
as de Reforma Agrria. No fossem as
estratgias de oferta de escolarizao
adotadas pelo programa, pautadas nas
prticas j acumuladas pelos movimen-
tos, entre as quais se destaca a alternn-
cia, com a garantia de diferentes tem-
pos e espaos educativos, estes jovens
e adultos no teriam se escolarizado
por causa da impossibilidade de per-
manecer, por seguidos perodos, nos
processos tradicionais de educao, o
que necessariamente os impediria de
conciliar o trabalho e a escolarizao
formal. O Pronera tem se tornado,
efetivamente, uma estratgia de de-
mocratizao do acesso escolariza-
o para os trabalhadores das reas
de Reforma Agrria no pas, em dife-
rentes nveis de ensino e reas do
conhecimento. O decreto, portanto,
ao instituir o Pronera como poltica
de Estado, faz este reconhecimento
e, dispe, do 11
o
ao 17
o
artigos sobre
mecanismos para a sua consolidao,
reafirmando seus objetivos, benefici-
rios, estratgias de funcionamento e
condies de oferta, financiamento
e gesto.
Para saber mais
BRASIL. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC). Parecer CEB/CNE n 3/2008.
Braslia: MEC, 2008. Disponvel em: portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2008/
pceb003_08.pdf. Acesso em: 4 jan. 2012.
______. ______. Resoluo CNE/CEB n 1, de 3 de abril de 2002: institui Diretrizes
Operacionais para a Educao Bsica nas Escolas do Campo. Braslia: MEC/
CNE/CEB, 2002.
______. ______. Parecer CEB/CNE n 36/2001. Braslia: MEC, 2001. Disponvel
em: portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/EducCampo01.pdf. Acesso em: 4 jan.
2012.
______. ______. Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as Diretrizes e
Bases da Educao Nacional. Braslia: MEC, 1996.
______. PRESIDNCIA DA REPBLICA. Decreto n
o
7.352, de 4 de novembro de 2010:
dispe sobre a Poltica Nacional de Educao do Campo e sobre o Programa Nacio-
nal de Educao na Reforma Agrria. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 4 nov. 2010.
CHAU, M. Direitos humanos e medo. In: FESTER, A. C. R. (org.). Direitos humanos
e... So Paulo: Brasiliense, 1989. p. 15-35.
KERSTENETZKY, C. L. Polticas sociais: focalizao ou universalizao. Niteri:
Universidade Federal Fluminense, out. 2005. (Texto para discusso, n. 180).
MOLINA, M. C.; OLIVEIRA, L. L. N. A.; MONTENEGRO, J. L. Das desigualdades aos direi-
tos: a exigncia de polticas afrmativas para a promoo da equidade educacional
no campo. Braslia: CDES/Sedes, 2009.
Dicionrio da Educao do Campo
460
L
LEGITIMIDADE DA LUTA PELA TERRA
Jos Carlos Garcia
O Brasil sempre se caracterizou
pela grande concentrao de riqueza.
E, historicamente, boa parte desta ri-
queza esteve representada pela terra.
Desde a formao do Brasil colonial,
com as capitanias hereditrias e a pos-
terior doao de sesmarias pela Coroa,
a propriedade da terra sempre foi muito
concentrada no Brasil (ver ESTRUTURA
FUNDIRIA, LATIFNDIO e QUESTO
AGRRIA). Diz-se que foi brasileiro um
dos maiores latifndios jamais forma-
dos em todo o mundo, o pertencente
famlia Garcia Dvila, com cerca de
300 mil km
2
de extenso, rea trs ve-
zes maior do que Portugal. Por isso, a
questo agrria desde muito cedo este-
ve no centro das lutas de emancipao
no Brasil, fossem elas abolicionistas,
republicanas ou separatistas, e atraves-
sou os sculos at os dias atuais como
o caso de movimentos to dspares
e importantes quanto a Revoluo
Farroupilha, a Sabinada, a Balaiada, a
Cabanagem ou a Revolta de Canudos,
e que redundaram em organizaes
como as Ligas Camponesas, as Unies
de Lavradores e Trabalhadores Agrco-
las do Brasil (Ultabs) ou o antigo Mo-
vimento dos Agricultores Sem Terra
(Master), j no sculo XX, interrompi-
das pelo Golpe de 1964.
Pode-se falar em legitimidade da
luta pela terra sob vrias formas. Aqui
falaremos rapidamente sobre algumas
delas e sua articulao com o Estado
democrtico de direito. Pressupe-se,
portanto, uma defnio mnima do que
queremos dizer com esta expresso.
Fundamentalmente, podemos concei-
tuar Estado democrtico de direito
como o Estado nacional dotado de uma
Constituio que organiza e limita o
poder e o seu exerccio, e que submete
formalmente este exerccio observn-
cia de regras jurdicas socialmente esta-
belecidas por meio de procedimentos
democrticos que traduzam a sobera-
nia popular. Os juristas portugueses
Gomes Canotilho e Vital Moreira (1991,
p. 82) sustentam que trs elementos ca-
racterizam esse Estado: juridicidade, no
sentido de submisso do poder poltico
ao sistema legal como forma de evitar
o arbtrio; constitucionalidade, no sen-
tido de que o Estado deve ser dotado
de uma Constituio com pretenso de
supremacia sobre o restante do sistema
legal (elemento que precisaria ser rela-
tivizado para abranger a Inglaterra, por
exemplo); e direitos e liberdades fundamen-
tais, previstos e assegurados pela Cons-
tituio e pelo sistema legal, de modo
a preservar a autonomia dos cidados
perante os poderes pblicos. Trata-se
de um conceito (e de uma formao so-
cial concreta, que por aproximao lhe
corresponde) historicamente constru-
do a partir dos movimentos revolucio-
nrios burgueses dos sculos XVIII e
XIX e que foi desenvolvendo-se nos
intensos confitos sociais, ideolgicos e
blicos do sculo XX.
No Brasil, faz-se constantemente
um questionamento sobre as formas
radicais de luta pela terra, em especial
sobre as ocupaes de terras improdu-
tivas ou de prdios pblicos pertencen-
461
L
Legitimidade da Luta pela Terra
tes a rgos direta ou indiretamente
ligados poltica de Reforma Agrria,
bem como aos acampamentos em beira
de estrada, em reas prximas quelas
cuja desapropriao se pretende.
Os acampamentos j eram utiliza-
dos como forma de presso pela Re-
forma Agrria mesmo antes do Gol-
pe de 1964, e a sua recuperao se fez
desde a retomada das mobilizaes no
campo, no incio da fase terminal da di-
tadura militar. Veja-se o exemplo hist-
rico de Nonoai, nos anos 1978 e 1979,
e o acampamento de Encruzilhada
Natalino, por volta de 1981, ambos no
Rio Grande do Sul.
Mais complexa a situao de outros
modos de luta pela terra que envolvem
ocupao de terras e/ou prdios p-
blicos, comumente apresentados pela
mdia como exemplos do radicalismo
e do carter antidemocrtico dos mi-
litantes pela Reforma Agrria. Nesses
casos, h, evidentemente, uma tenso
entre a prtica dos ocupantes e a forma
como o sistema jurdico tende a anali-
sar estas mesmas prticas. Aqui, as ten-
dncias conservadoras de interpretao
do sistema jurdico se expressam desde
a tentativa de imputao dos militantes
envolvidos na prtica de crimes como
esbulho possessrio (Cdigo Penal,
art. 161, pargrafo 1, inciso II), dano
(Cdigo Penal, art. 163), furto (Cdigo
Penal, art. 155), roubo (Cdigo Penal,
art. 157) e formao de quadrilha ou
bando (Cdigo Penal, art. 288), at
efeitos mais brandos, mas igualmente
relevantes, como o previsto pela lei
n 8.629/1993, artigo 2, pargrafo 6,
com a redao da medida provisria
n
o
2.183-56/2001: proibio e realiza-
o de vistorias pelo Instituto Nacio-
nal de Colonizao e Reforma Agrria
(Incra) por dois anos nos locais ocu-
pados por movimentos em defesa da
Reforma Agrria. O fundamento dessa
norma, alm da evidente fnalidade de
inibir as ocupaes, que elas impe-
dem a manuteno da produtividade da
rea ao no permitir que os seus pro-
prietrios a explorem adequadamente.
Na verdade, pode-se dizer que o
simples fato de serem adotadas ocupa-
es de prdios pblicos ou de terras
improdutivas como forma de pressio-
nar pela Reforma Agrria no neces-
sariamente implica a prtica de crime
de esbulho. Este tipo penal exige,
para sua confgurao, que a terra seja
ocupada por pessoas que pretendem,
por meio dessa ocupao, t-la para
si como se fosse sua (como diz a lei,
para apropriar-se). No entanto, no
caso de ocupaes de terra para Refor-
ma Agrria, o que se pretende que o
presidente emita um decreto desapro-
priatrio e que se inicie um processo
de desapropriao para fns de Refor-
ma Agrria, o que por si s pressupe
um ato do governo e um processo
judicial. No h interesse em fcar na
terra ocupada seno com a obteno
da desapropriao e o posterior as-
sentamento a ocupao apenas um
meio de presso (ainda mais se o que
se ocupar no for diretamente a terra,
mas um prdio do Incra, por exemplo).
O mesmo se diga de furto e roubo,
crimes que pressupem que a pessoa
que os pratica deseje fcar com a coisa
para si, ou a subtraia para outra pessoa.
E bando e quadrilha s so possveis
quando a reunio de pessoas se faz
com a fnalidade de praticar crimes, e
no com a inteno de pressionar pela
Reforma Agrria.
Isto no quer dizer que, durante
uma ocupao, crimes no possam ser
cometidos por algum ou alguns dos
Dicionrio da Educao do Campo
462
indivduos envolvidos: possvel que
alguns pratiquem dano, ou que agridam
fsicamente algum na rea ocupada,
ou at mesmo que algum, contra-
riando as orientaes do movimento,
aproveite-se da ocupao para furtar
algo para si. Em qualquer destes casos,
todavia, deve ser feita apurao de res-
ponsabilidade individual, observando-
se o devido processo legal, visto que
organizar um grupo para uma manifes-
tao pela Reforma Agrria no pode
jamais ser comparado a organizar um
arrasto numa grande cidade.
A reao geral do Estado brasilei-
ro s ocupaes de reas pretendidas
para Reforma Agrria ou de prdios
pblicos, por outro lado, no deve ser
compreendida como algo monoltico,
fechado, uniforme. Ainda que a his-
tria do Estado brasileiro seja efeti-
vamente uma histria de excluso, de
manuteno de privilgios das elites e
de preservao das condies dadas de
poder (como, alis, da natureza de to-
dos os Estados), h igualmente tenses
internas, contradies, modificaes
de entendimento que oscilam ora no
sentido de ampliar a represso, ora no de
contemplar a legitimidade dos movi-
mentos. Em qualquer caso, evidente-
mente, no se deve esperar tolerncia
com atos de violncia contra a pessoa,
ainda que a histria demonstre que a
maior parte das vtimas da violncia no
campo, especialmente as fatais, so os
camponeses e militantes da Reforma
Agrria, como evidenciam as estats-
ticas da COMISSO PASTORAL DA TERRA
(CPT).
1
Mesmo neste caso, entretan-
to, parece que a tradicional lenincia
do Estado com os crimes praticados
contra pequenos agricultores pobres
comea a ser substituda por iniciativas
que pretendem pelo menos minorar o
quadro geral de impunidade, como
o caso de iniciativa do Conselho Na-
cional de Justia, em julho de 2011, de
organizar mutiro para julgar aes pe-
nais correlatas a estas matrias.
2
Em termos mais gerais, desvincu-
lados da uma abordagem apenas jur-
dica, pode-se avaliar a legitimidade de
qualquer movimento social e das estra-
tgias e tticas por ele adotadas a partir
de vrios critrios. A seguir, faremos
referncia a trs.
Legitimidade vinculada a um projeto
concreto e alternativo de sociedade (Marx):
muitas vezes, a questo da luta pela
terra apresentada de forma vincula-
da luta pela construo de uma outra
sociedade, alternativa sociedade ca-
pitalista. Com possveis contradies
e limitaes, estes projetos costumam
ser globalmente chamados de socialismo.
O uso dessa expresso ao longo do
tempo, entretanto, torna-a bastante
abrangente: no comeo do sculo XX,
socialismo, socialdemocracia e comu-
nismo eram basicamente expresses
sinnimas, e, sob estas denominaes,
vrios partidos operrios foram cons-
trudos, especialmente na Europa (in-
clusive, por exemplo, o que viria a ser
posteriormente o Partido Bolchevique,
ou Partido Comunista Russo, origi-
nalmente chamado Partido Operrio
Socialdemocrata Russo). Desde a vo-
tao dos crditos de guerra pelo Par-
lamento Alemo (Reichstag) em 1914,
e da posterior ciso internacional do
movimento operrio, socialismo passou
genrica e tendencialmente a designar
os setores socialdemocratas, que no
defendiam uma ruptura com a socie-
dade capitalista, e sim avanos pontuais
nas condies de vida dos trabalha-
dores (inclusive no campo), enquanto
comunistas passaram a ser designadas
463
L
Legitimidade da Luta pela Terra
as organizaes que haviam rompido
com a socialdemocracia e defendiam
estratgias de ruptura com o capita-
lismo, em geral por via revolucionria,
e muito comumente referenciadas na
Revoluo Russa de 1917, dirigida por
Lenin e Trotski.
A literatura socialista/comunista
do incio do sculo XX, principalmen-
te de orientao marxista, considerava
em geral que a classe portadora de uma
alternativa global ao capitalismo era o
proletariado, especialmente o operaria-
do fabril urbano, mas que a luta pelo
poder dos trabalhadores envolveria
uma aliana estratgica com o campesi-
nato da a centralidade das bandeiras
relativas Reforma Agrria e distri-
buio de terra para os partidos e orga-
nizaes com esta orientao (o lema
dos revolucionrios russos de 1917 era
Po, paz e terra). No entanto, a ideia
de uma disperso do acesso proprie-
dade da terra de forma individual para
milhes de camponeses expressava uma
contradio, ainda que considerada ne-
cessria, com as bandeiras comunistas,
pois implicava a multiplicao da for-
ma burguesa de propriedade individual
sobre a terra. Para a socialdemocracia,
a luta pela terra no se conformava
como um aspecto de uma aliana es-
tratgica do proletariado urbano com
o campesinato posto que no havia
revoluo a construir e sim como a
generalizao de formas mais avana-
das de vida por parte dos trabalhadores
em geral, nas cidades e no campo.
Nesse sentido, pode-se dizer ge-
nericamente que a compreenso mais
limitada da luta pela terra na concep-
o socialdemocrata, na medida em
que no envolvia uma ruptura revolu-
cionria com a ordem estabelecida, se-
ria, em tese, mais compatvel com o Es-
tado democrtico de direito, envolven-
do processos mais graduais de acesso
terra, de forma mais restrita legalidade
vigente. Entretanto, esta afrmao ,
sem dvida, passvel de crtica, pois
o prprio desenvolvimento do conceito
de Estado democrtico de direito pas-
sou, para algumas correntes tericas e
grupos polticos, a permitir mesmo
a discusso sobre os limites de uma so-
ciedade baseada no mercado portanto, a
ideia de um conceito de propriedade ru-
ral compatvel com esta transformao
social no poderia ser a princpio barra-
da em uma sociedade democrtica.
De qualquer modo, a concepo de
luta pela terra que se vincula a um proje-
to concreto de sociedade, com conte-
do previamente defnido e globalmen-
te alternativo ao capitalismo, mantm
evidentes tenses com o conceito de
Estado democrtico de direito na me-
dida em que no descarta, em algumas
de suas variantes, o uso de meios no
legais, eventualmente violentos, para a
consecuo de seus objetivos. A reivin-
dicao de sua legitimidade, portanto,
ser sempre potencialmente bipartida:
ela ser legtima do ponto de vista dos
militantes que a apoiam e que defendem
outra forma de organizao social, mas
poder ou no ser reconhecida como
legtima por uma ordem social base-
ada em uma legalidade cujas estruturas
so pensadas para viabilizar e reproduzir
o mercado e as relaes sociais de tipo
mercantil. A reivindicao de legitimi-
dade, de qualquer maneira, no ter um
apelo universal, no sentido de que seja
coerente com o desenvolvimento de v-
rias concepes sociais possveis, mas
depender da posio concreta de cada
um em relao s foras sociais em luta.
Legitimidade vinculada legalidade
(Weber): o que se disse anteriormente
Dicionrio da Educao do Campo
464
j evidencia o carter central que a le-
galidade apresenta para o conceito de
legitimidade nas sociedades modernas.
O socilogo alemo Max Weber foi
um dos primeiros pensadores a evi-
denciar de forma expressa e minuciosa
os mecanismos pelos quais as socie-
dades contemporneas buscam legiti-
mar o poder e sua distribuio social
por meio da legalidade ou, dito de
outra forma, a reconhecer e pensar o
papel central que o direito desempenha
na legitimao das ordens sociais mo-
dernas. Para ele, as sociedades pr-
modernas baseavam suas estruturas de
legitimao em elementos mgicos ou
sobre-humanos (como a origem divina
do poder), concluso que obtm estu-
dando vrias sociedades, e no apenas
as europeias. Segundo Weber, a tran-
sio para a modernidade implica um
desencantamento do mundo, um processo de
racionalizao em que o homem e a ra-
zo humana passam a fgurar no centro
da legitimao do poder. Com o poder
desvinculado de sua origem mgica ou
religiosa, torna-se necessrio encon-
trar um fundamento racional para ele,
e este elemento de racionalidade se ex-
pressa por meio de mecanismos jurdi-
cos que abrangem boa parte da vida em
sociedade: eleies, direitos subjetivos,
como os de livre manifestao, de li-
berdade religiosa, de greve, etc.
Neste contexto, as sociedades mo-
dernas tendem a equiparar (ou, pelo
menos, a aproximar em grande medida)
os conceitos de legitimidade e de lega-
lidade reivindicaes populares so
legtimas quando canalizadas mediante
mecanismos institucionais e ampliam
sua legitimidade quando acolhidas por
normas jurdicas e medidas administra-
tivas, ou, pelo menos, quando se mos-
tram em geral compatveis com este
quadro normativo. Ainda que esta li-
nha da anlise possa parecer em certa
medida conservadora, por aproximar
legitimao de legalidade, note-se que
no foi outra a estratgia principal
adotada pelos movimentos sociais no
Brasil no processo de democratiza-
o, e, principalmente, de elaborao
da Constituio de 1988. Diga-se de
passagem, com razovel sucesso, tanto
que esta ocupao permanente de es-
paos na Constituinte forou a reestru-
turao dos setores conservadores no
chamado Centro. Apesar de vrios
recuos determinados pela atuao dos
setores conservadores, esta estratgia
de legitimao constitucional das lutas
sociais fxou em termos bastante am-
plos e razoveis na Constituio Fede-
ral o dever do Estado de implantar um
programa nacional de Reforma Agrria
(art. 184 a 191 da Constituio), e mui-
tas das reivindicaes dos movimentos
sociais de sem-terras no pas so arti-
culadas no como meras pretenses de
fato, mas como exerccios de direito
no que, inclusive, esto certas.
Essa perspectiva nos abre, portan-
to, outra forma de olhar para as pre-
tenses de luta pela terra pelos mo-
vimentos populares em geral, na qual
a legitimao da luta em si est dada
pelo prprio texto constitucional. Tan-
to assim que os setores mais conser-
vadores, h poucos anos, tendiam a
criticar mais os mtodos de luta pela
terra do que a reivindicao do direito
em si. Esta realidade mudou no ltimo
perodo, com o desenvolvimento do
agronegcio e a consequente disputa
por reas de plantio e por apoio eco-
nmico e poltico do governo, quando
se passou a articular publicamente um
discurso que questiona a legitimidade
da luta pela Reforma Agrria em si
465
L
Legitimidade da Luta pela Terra
como algo anacrnico, velho, superado
pela histria.
Alm disso, como nesta perspec-
tiva h um vnculo entre legitimidade
e legalidade no qual a primeira de-
corrente da segunda, a justia tende a
ser encarada como mera aplicao da
legalidade. Esta concluso potencial-
mente problemtica, pois a resposta ju-
rdica que se expressa como legalidade,
em nome da celeridade processual e da
satisfao da opinio pblica, corre o
risco de pretender que qualquer deci-
so legal seja aceita como legtima. O
Poder Judicirio, nessa perspectiva,
como portador da deciso legal, encon-
tra legitimidade na sua funcionalidade,
ou seja, no fato de dar respostas legais,
liquidando, extinguindo ou resolvendo
legalmente os processos, no impor-
tando a qualidade desta deciso ou se
ela gera justia social.
Legitimidade vinculada a um projeto
processual de democracia (Habermas): outra
forma possvel de visualizar o tema da
legitimidade da luta pela terra no Es-
tado democrtico de direito pode ser
encontrada em concepes procedi-
mentais de democracia, que entendem
no consistir ela um projeto com um
contedo prvio defnido e com fns e
objetivos predeterminados, mas sim,
um projeto aberto de incluso e par-
ticipao sociais em que o conjunto de
homens e mulheres, participando ativa-
mente das defnies das normas que
orientam o funcionamento da socieda-
de, estabelecem autonomamente estes
fns, objetivos e contedos. Vrios au-
tores defendem verses diferentes des-
tes modelos, como poderamos impro-
priamente cham-los, mas um dos mais
infuentes , sem dvida, o pensador
alemo Jrgen Habermas.
Habermas constri sua teoria de
sociedade baseado em vrios outros
autores fundamentais do pensamen-
to ocidental (inclusive Marx e Weber,
citados neste verbete rapidamente, mas
tambm Kant e Wittgenstein, dentre
outros). Para ele, as sociedades con-
temporneas tornaram-se extrema-
mente complexas e j no podem ser
limitadas noo de Estados-nao
homogneos, com povos com mesma
origem tnica e identidades culturais
e tradies comuns. A pluralidade de
etnias, religies e referenciais tico-
morais da derivados, alm da gene-
ralizao das formas democrticas de
sociedade, fazem que os processos
de composio das diferenas e ten-
ses sociais inevitveis nestes cenrios
ocorram por meio de procedimentos
democrticos de discusso e apresen-
tao dos melhores argumentos na es-
fera pblica. Todos aqueles que sero
potencialmente atingidos pelas normas
jurdicas tm o direito de participar ati-
vamente de seu debate e de sua apro-
vao, seja diretamente (em processos
eleitorais, referendos, plebiscitos), seja
indiretamente, por meio de manifesta-
es pblicas e debates que formam
a opinio pblica. E em muitos casos
nos quais certos grupos de pessoas po-
dem no obter a ateno da mdia ou
espao na opinio pblica, Habermas
entende ser perfei tamente poss vel
que estes grupos pratiquem atos de
protesto de grande envergadura, inclu-
sive atos de desobedincia civil e de
contestao aberta s ideias da maioria,
desde que o faam por meios no vio-
lentos e como um apelo rediscusso
do tema e a novas deliberaes.
Ainda que neste enfoque a questo
da legitimidade das aes dos movi-
mentos sociais em geral (e, portanto,
Dicionrio da Educao do Campo
466
tambm da luta pela terra) igualmente
se refra, em boa medida, ao tema da
legalidade (herdado de Weber), aqui,
as condies de legitimidade da pr-
pria legalidade so colocadas em xeque,
porque apenas normas jurdicas que te-
nham sido aprovadas em procedimen-
tos dos quais os interessados possam
ter tido efetivamente oportunidade de
participao (ainda que, obviamente,
seus interesses e reivindicaes no te-
nham sido necessariamente atendidos)
tero plena legitimidade. Por outra par-
te, a possibilidade de questionar uma
norma jurdica, ou uma poltica de go-
verno, , por defnio, permanente,
porque inerente ao Estado democrtico
de direito, o que signifca que o conte-
do destas normas ou destas polticas
pode ser constantemente objeto de cr-
tica de grupos, movimentos sociais ou
indivduos e, a qualquer momento, ser
objeto de rediscusso na sociedade
sempre por meios no violentos,
baseados nos melhores argumentos e
no convencimento recproco de todos.
Muitas vezes, estas posies so
criticadas como irrealistas ou exagera-
damente otimistas, porque nem sempre
as pessoas em geral, e os polticos pro-
fssionais em particular, so sinceras no
uso pblico de seus argumentos: muitas
vezes algum tem um interesse que no
deseja que os outros conheam e de-
fende uma determinada proposta que o
benefcia com base em outros argumen-
tos, de modo a convencer a maioria.
Habermas no desconsidera esse fato,
nem pressupe que a deliberao conte
apenas com pessoas de elevado carter
tico e que sejam sempre inteiramente
sinceras em seus argumentos; o que ele
sustenta que, ao argumentar em p-
blico, aquele que defende uma proposta
se vincula aos seus argumentos, e pode
ser cobrado por todos os demais quan-
to coerncia destes argumentos com
a realidade, ou mesmo quanto s suas
prprias aes, e eventualmente ser
responsabilizado por isso; e, por outra
parte, os outros participantes na deli-
berao podem no ser convencidos
pelas razes apresentadas pelo partici-
pante que tenta dissimular suas razes.
No muito difcil verifcar que, em
qualquer destas concepes, possvel uma
chave conservadora ou progressista de
leitura sobre as questes de legitimi-
dade da luta pela terra. O que fca eviden-
te, entretanto, que mesmo concepes
mais liberais sobre a sociedade, basea-
das na propriedade privada dos meios
de produo e na diviso da sociedade
em classes sociais, no podem, em tese,
conviver com nveis exageradamente
concentrados de propriedade e poder
sua autocompreenso terica, ou seja, a
forma como esses projetos de mundo
se veem, e tentam justifcar-se democra-
ticamente, exige a ampliao do acesso
propriedade e a disperso dos meios
de poder poltico e social, sob pena de
fcar inteiramente comprometida a ideia
de democracia. Mesmo sob o capitalis-
mo, conceitos mnimos de democracia
somente podem existir quando o aces-
so terra, ao emprego e a nveis de sa-
lrio e de consumo dentro dos padres
de dignidade humana estejam presentes.
Entretanto, como o capitalismo s eco-
nomicamente possvel com a constante
expanso do mercado e da concentrao
de capital, gera-se uma contradio es-
sencial entre democracia e capitalismo,
minando as bases da liberdade humana
uma tenso que acompanha as prprias
origens do liberalismo em suas vertentes
econmica e poltica.
Por sua vez, sociedades autodenomi-
nadas socialistas, baseadas na proprie-
dade estatal dos meios de produo,
dentre os quais a terra, e em mecanis-
467
L
Legitimidade da Luta pela Terra
mos ultracentralizados e burocratizados
de planejamento e gesto social, no ge-
raram melhores frutos, historicamente
tendendo a formas policiais de Estado,
supresso de liberdades de manifesta-
o e de organizao e ao enfraqueci-
mento de formas autnomas de mobili-
zao: comumente, as foras populares
foram substitudas por burocracias en-
casteladas no Estado e na direo de
um partido nico que se confundia com
este Estado, dominando inteiramente
a produo e a distribuio dos bens
essenciais e, com isto, benefciando a
si mesmas em detrimento da maioria
da populao.
A equao entre propriedade, li-
berdade, democracia e legitimidade
sempre se mostrou, portanto, extre-
mamente complexa, e no encontrou,
at o presente momento, uma solu-
o hi stri ca sati sfatri a. Somente
a manuteno da l uta e da auto-
organizao popular e a ampliao per-
manente dos espaos democrticos e
de incluso social podero ser capazes
de encontrar solues provisrias,
sempre imperfeitas e precrias, para
este dilema o que aumenta a res-
ponsabilidade dos militantes por um
outro mundo, livre de toda forma de
opresso, explorao e excluso.
Notas
1
Ver http://www.cptnacional.org.br.
2
Ver http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15203-justica-faz-mutirao-para-julgar-crimes-no-para.
Para saber mais
BOTTOMORE, T. (org.). Dicionrio do pensamento marxista. 2. ed. Rio de Janeiro:
Zahar, 1988.
CANOTILHO, J. J. G.; MOREIRA, V. Fundamentos da Constituio. Coimbra: Coimbra
Editora, 1991.
GARCIA, J. C. De sem-rosto a cidado: a luta pelo reconhecimento dos sem-terra como
sujeitos no ambiente constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
______. O MST entre desobedincia e democracia In: STROZAKE, J. J. (org.).
A questo agrria e a justia. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 148-173.
HABERMAS, J. Direito e democracia entre faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997. 2 v.
HANSEN, G. L. Modernidade, utopia e trabalho. Londrina: Cefl, 1999.
LENIN, V. I. O Estado e a revoluo. 3. ed. Lisboa: Avante, 1983.
______. Teses de abril. So Paulo: Acadmica, 1987.
MARX, K. Crtica del Programa de Gotha. Moscou: Progresso, 1979.
______; ENGELS, F. Manifesto comunista. 16. ed. So Paulo: Paz e Terra, 2006.
WEBER, M. Economa y sociedad. Mxico, D. F.: Fondo de Cultura Econmica, 1996.
Dicionrio da Educao do Campo
468
L
LICENCIATURA EM EDUCAO DO CAMPO
Mnica Castagna Molina
Lais Mouro S
A licenciatura em Educao do
Campo uma nova modalidade de
graduao nas universidades pbli-
cas brasileiras. Esta licenciatura tem
como objetivo formar e habilitar
profissionais para atuao nos anos
finais do ensino fundamental e m-
dio, tendo como objeto de estudo e
de prticas as escolas de educao b-
sica do campo.
A organizao curricular desta gra-
duao prev etapas presenciais (equi-
valentes a semestres de cursos regula-
res) ofertadas em regime de alternncia
entre tempo escola e tempo comuni-
dade, tendo em vista a articulao in-
trnseca entre educao e a realidade
especfca das populaes do campo.
Esta metodologia de oferta intenciona
tambm evitar que o ingresso de jo-
vens e adultos na educao superior re-
force a alternativa de deixar de viver no
campo, bem como objetiva facilitar
o acesso e a permanncia no curso dos
professores em exerccio.
Apesar de a compreenso de edu-
cao contida nas prticas e na ela-
borao terica que tem estruturado
o conceito de Educao do Cam-
po estender-se para alm da dimen-
so escolar, reconhecendo e valorizan-
do as diferentes dimenses formativas
presentes nos processos de reprodu-
o social nos quais esto envolvidos
os sujeitos do campo, parte relevante
deste movimento tem se dado em tor-
no da luta pela reduo das desigual-
dades no direito educao escolar no
territrio rural.
A luta pela garantia do direito
educao escolar para os campone-
ses passa pela criao de escolas no
campo; pelo no fechamento das exis-
tentes; pela ampliao da oferta dos
nveis de escolarizao nas escolas
que esto em funcionamento; e, prin-
cipalmente, pela implantao de uma
poltica pblica de formao de educa-
dores do campo. Durante esta ltima
dcada, nos encontros locais, regionais
e nacionais de Educao do Campo,
sempre constou como prioridade dos
movimentos sociais a criao de uma
poltica pblica de apoio formao de
educadores do prprio campo.
Como consequncia das demandas
apresentadas pelos movimentos so-
ciais e sindicais, no documento fnal da
II Conferncia Nacional de Educa-
o do Campo, realizada em 2004, o
Ministrio da Educao (MEC), por
meio da Secretaria de Educao Con-
tinuada, Alfabetizao, Diversidade e
Incluso (Secadi), instituiu, em 2005,
um grupo de trabalho para elaborar
subsdios a uma poltica de formao
de educadores do campo. Os resulta-
dos produzidos neste grupo de traba-
lho transformaram-se no Programa de
Apoio s Licenciaturas em Educao
do Campo (Procampo).
O projeto poltico-pedaggico que
deu incio implantao desta nova
modalidade de graduao nas univer-
sidades pblicas brasileiras teve sua
organizao efetiva em 2007, a partir
das orientaes contidas no docu-
469
L
Licenciatura em Educao do Campo
mento aprovado por aquele grupo de
trabalho no mbito da Secadi (Brasil,
2011), composto por representantes
dos movimentos sociais e sindicais,
representantes das universidades e tc-
nicos do Ministrio da Educao, no
qual foram explicitados os motivos que
deram causa sua criao (Molina e S,
2011). Entre os principais elementos
para o estabelecimento desta poltica,
apresentamos, resumidamente, aqueles
que fundamentam a necessidade de o
Estado estabelecer:
aes afrmativas que possam aju- 1)
dar a reverter a situao educacional
hoje existente no campo, especial-
mente no que se refere precria e
insufciente oferta da educao nos
anos fnais do ensino fundamental
e do ensino mdio;
polticas de expanso da rede de 2)
escolas pblicas que ofertem edu-
cao bsica no e do campo, com
a correspondente criao de alter-
nativas de organizao curricular e
do trabalho docente que viabilizem
uma alterao signifcativa do qua-
dro atual, de modo a garantir a im-
plementao das Diretrizes Opera-
cionais para a Educao Bsica nas
Escolas do Campo;
formao consistente do educador 3)
do campo como sujeito capaz de
propor e implementar as transforma-
es poltico-pedaggicas neces-
srias rede de escolas que hoje
atendem populao que trabalha
e vive no e do campo.
organizao do trabalho pedaggi- 4)
co, especialmente para as escolas de
educao fundamental e mdia do
campo, destacando-se como aspec-
tos importantes atuao educativa
em equipe e a docncia multidisci-
plinar por reas do conhecimento.
Antes de instituir-se ofcialmente, o
Procampo teve sua proposta formativa
executada com base em experincias pi-
loto desenvolvidas por quatro institui-
es pblicas de ensino superior: Uni-
versidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Universidade de Braslia
(UnB) na primeira turma, em parceria
com o Instituto Terra (Iterra) , Univer-
sidade Federal da Bahia (Ufba) e Uni-
versidade Federal de Sergipe (UFS).
A partir destas experincias, a
Secadi ampliou a possibilidade de
execuo dessa graduao, lanando
editais pblicos, nos anos de 2008 e
2009, para todas as instituies que
desejassem concorrer sua oferta.
Como decorrncia deste processo,
em 2011, 30 instituies universit-
rias ofertam a Licenciatura em Edu-
cao do Campo, abrangendo todas
as regies do pas.
Apesar da diversidade de projetos
pedaggicos atualmente em curso nes-
tas instituies, alguns pontos bsicos
podem ser destacados, tendo em vista
os princpios defnidos em sua materia-
lidade de origem.
Na execuo desta licenciatura, de-
ve-se partir da compreenso da neces-
sria vinculao da Educao do Cam-
po com o mundo da vida dos sujeitos
envolvidos nos processos formativos. O
processo de reproduo social destes
sujeitos e de suas famlias ou seja, suas
condies de vida, trabalho e cultura no
podem ser subsumidos numa viso de
educao que se reduza escolarizao.
A Educao do Campo compreende
os processos culturais, as estratgias de
socializao e as relaes de trabalho vi-
vidas pelos sujeitos do campo, em suas
lutas cotidianas para manterem esta
identidade, como elementos essenciais
de seu processo formativo.
Dicionrio da Educao do Campo
470
Ao organizar metodologicamente o
currculo por alternncia entre tempo
escola e tempo comunidade, a propos-
ta curricular do curso objetiva integrar
a atuao dos sujeitos educandos na
construo do conhecimento necess-
rio sua formao de educadores, no
apenas nos espaos formativos escola-
res, mas tambm nos tempos de pro-
duo da vida nas comunidades onde
se encontram as ESCOLAS DO CAMPO.
Com baese neste contexto, os prin-
cpios que regem as prticas formativas
propostas pela Licenciatura em Educa-
o do Campo tm como fundamento
as especifcidades do perfl de educador
que se intenciona formar em conjunto
com os movimentos sociais e sindicais
participantes deste processo histrico,
que tm caminhado no sentido de uma
formao de educadores que estejam
aptos a atuar para muito alm da edu-
cao escolar.
Pela prpria compreenso acumu-
lada na Educao do Campo da centra-
lidade dos diferentes tempos e espaos
formativos existentes na vida do cam-
po, nas lutas dos sujeitos que a vivem
e que se organizam para continuar ga-
rantindo sua reproduo social neste
territrio, a ao formativa desenvolvi-
da por estes educadores deve ser capaz
de compreender e agir em diferentes
espaos, tempos e situaes.
Este perfl de educador do campo
que os movimentos demandam exi-
ge uma compreenso ampliada de seu
papel, uma compreenso da educa-
o como prtica social, da necessria
inter-relao do conhecimento, da es-
colarizao, do desenvolvimento, da
construo de novas possibilidades
devida e permanncia nesses territ-
rios pelas lutas coletivas dos sujeitos
do campo; pretende-se formar educa-
dores capazes de promover profunda
articulao entre escola e comunidade.
Esta compreenso articula as trs
dimenses do perfl de formao que
se quer garantir na licenciatura em
Educao do Campo: preparar para a
habilitao da docncia por rea de co-
nhecimento, para a gesto de processos
educativos escolares e para a gesto de
processos educativos comunitrios.
Estas trs formaes esto inter-
relacionadas e decorrem da prpria
concepo de Educao do Campo
que conduz esta graduao. Entre os
desafos postos execuo desta li-
cenciatura, encontra-se o de promover
processos, metodologias e posturas
docentes que permitam a necessria
dialtica entre educao e experincia,
garantindo um equilbrio entre rigor
intelectual e valorizao dos conheci-
mentos j produzidos pelos educandos
em suas prticas educativas e em suas
vivncias socioculturais.
Desta maneira, busca-se desenca-
dear processos formativos que oportu-
nizem aos estudantes desta licenciatura
a apropriao dos mtodos e estrat-
gias de trabalho da produo cientfca,
com o rigor que lhe caracterstico,
sem, contudo, reforar nestes futuros
educadores o preconceito, a recusa e a
desvalorizao de outras formas de pro-
duo de conhecimento e de saberes.
Uma de suas principais caractersti-
cas, como poltica de formao de edu-
cadores do campo, centra-se na estrat-
gia da habilitao de docentes por rea
de conhecimento para atuao na educa-
o bsica, articulando a esta formao
a preparao para gesto dos processos
educativos escolares e para gesto dos
processos educativos comunitrios.
A habilitao de docentes por rea
de conhecimento tem como um dos
471
L
Licenciatura em Educao do Campo
seus objetivos ampliar as possibilidades
de oferta da educao bsica no campo
especialmente no que diz respeito ao
ensino mdio, pensando em estratgias
que maximizem a possibilidade de as
crianas e os jovens do campo estuda-
rem em suas localidades de origem.
Alm do objetivo de ampliar as
possibilidades de oferta da educao
bsica, h que se destacar a intencio-
nalidade maior da formao por rea
de conhecimento de contribuir com a
construo de processos capazes de
desencadear mudanas na lgica de uti-
lizao e de produo de conhecimen-
to no campo. A ruptura com as tradi-
cionais vises fragmentadas do proces-
so de produo de conhecimento, com
a disciplinarizao da complexa reali-
dade socioeconmica do meio rural na
atualidade, um dos desafos postos
Educao do Campo.
Por isso, uma das inovaes da
matriz curricular a organizao dos
componentes curriculares em quatro
reas do conhecimento: Linguagens
(expresso oral e escrita em Lngua
Portuguesa, Artes, Literatura); Cincias
Humanas e Sociais; Cincias da Natu-
reza e Matemtica; e Cincias Agrrias.
Trata-se da organizao de novos espa-
os curriculares que articulam compo-
nentes tradicionalmente disciplinares
por meio de uma abordagem amplia-
da de conhecimentos cientfcos que
dialogam entre si a partir de recortes
complementares da realidade. Busca-
se, desse modo, superar a fragmenta-
o tradicional que d centralidade
forma disciplinar e mudar o modo de
produo do conhecimento na univer-
sidade e na escola do campo, tendo em
vista a compreenso da totalidade e da
complexidade dos processos encontra-
dos na realidade.
No debate sobre a formao por
reas de conhecimento, deve-se com-
preender a noo de disciplina como
referida a um campo de trabalho que se
delimita com base em um objeto de
estudo. Deve-se tambm considerar que
suas fronteiras so relativamente mveis,
em funo de transformaes histricas
nos paradigmas cientfcos, e em fun-
o dos processos de fuso ou interao
entre campos disciplinares diferentes.
O futuro docente precisa ter garan-
tido em sua formao o domnio das
bases das cincias a que correspon-
dem s disciplinas que compem a sua
rea de habilitao. Mas sua formao
no pode fcar restrita s disciplinas
convencionais da lgica segmenta-
da predominante nos currculos tanto da
educao bsica quanto da educao
superior. Ela deve incluir a apropria-
o de conhecimentos que j so fruto
de esforos interdisciplinares de cria-
o de novas disciplinas, para que es-
ses sujeitos possam se apropriar de
processos de transformao da produ-
o do conhecimento historicamente
j conquistados.
Porm, no caso da proposta de
formao por reas, no so as disci-
plinas o objetivo central do trabalho
pedaggico com o conhecimento. Este
trabalho se dirige a questes da realida-
de como objeto de estudo, tendo como
base a apropriao do conhecimento
cientfco j acumulado.
Colocam-se, ento, indagaes epis-
temolgicas sobre a prpria concepo
de conhecimento, de cincia e de pes-
quisa. Indaga-se de que forma o traba-
lho pedaggico pode garantir o movi-
mento entre apropriao e produo do
conhecimento e a articulao entre co-
nhecimento e processo formativo
como um todo. Busca-se um vnculo
Dicionrio da Educao do Campo
472
permanente entre o conhecimento que
a cincia ajuda a produzir e as ques-
tes atuais da vida. Os fenmenos da
realidade atual precisam ser estudados
em toda a sua complexidade, tal como
existem na realidade, por meio de uma
abordagem que d conta de compreen-
der totalidades nas suas contradies,
no seu movimento histrico.
Para um debate mais aprofundado
sobre a especifcidade da questo das
reas em relao ao currculo, convm
considerar duas possibilidades no ex-
cludentes. As reas podem ser pensadas
como forma de organizao curricular
e como mtodo de trabalho pedag-
gico. Organizar o currculo por reas
(em vez de por disciplinas) no implica
necessariamente negar o trabalho pe-
daggico disciplinar. Por outra parte,
podemos ter um currculo organiza-
do por meio de disciplinas e realizar
um trabalho pedaggico desde as reas
do conhecimento e a partir de prticas
interdisciplinares.
Nesta dupla entrada, as reas po-
dem ser tratadas como uma forma de
organizao curricular que se refere
especialmente organizao do traba-
lho docente, relacionada a um modo
de agrupar os contedos de ensino;
ou as reas podem ser tratadas como
uma lgica de organizao do estu-
do, uma forma de trabalho pedaggico
(didtica) que, embora possa continuar
considerando os chamados saberes dis-
ciplinares, no centra o trabalho peda-
ggico nas disciplinas.
A discusso especfca da formao
por rea se coloca tanto em relao
educao bsica (nas escolas do campo)
quanto no que diz respeito aos proces-
sos de formao dos educadores. No
momento atual, a formao dos do-
centes para atuao por rea no pode
prescindir do estudo das disciplinas
tais como elas aparecem nos currculos
escolares. Isto se deve necessidade
de que os educadores compreendam a
mediao necessria com a organiza-
o curricular que vo encontrar nas
escolas concretas, tenham ferramentas
conceituais para participar de novos
desenhos curriculares e se assumam
como construtores das alternativas
de desfragmentao.
Nesse processo, fundamental um
trabalho articulado dos professores das
disciplinas com as novas possibilidades
pedaggico-didticas que essa forma
de trabalho docente gera. medida
que se avance na formao de educa-
dores nesta perspectiva, ser possvel
superar a necessidade de ter na esco-
la um docente para cada disciplina, o
que muitas vezes tem inviabilizado a
expanso do ensino mdio e, tambm,
dos anos fnais do ensino fundamental
no campo.
A formao desses docentes deve
incluir principalmente o estudo das
prprias questes da atualidade, em
particular as questes fundamentais
da realidade do campo brasileiro hoje,
a fm de que possam ter referncia de
contedo e de mtodo para pensar
em uma escola que integre o traba-
lho com o conhecimento aos aspec-
tos mais signifcativos da vida real de
seus sujeitos.
1
Trata-se, portanto de uma mudan-
a radical na organizao do traba-
lho docente tanto no nvel superior
quanto na educao bsica, o que d
sentido proposta da Licenciatura em
Educao do Campo, na perspectiva
de comprometer-se com mudanas
tanto no processo formativo dos edu-
cadores quanto na gesto das institui-
es educadoras.
473
L
Licenciatura em Educao do Campo
Desde o incio do movimento da
Educao do Campo, expressa-se a
necessidade de forjar um perfil de
educador que seja capaz no apenas
de compreender as contradies so-
ciais e econmicas enfrentadas pelos
sujeitos que vivem no territrio rural,
mas tambm de construir com eles pr-
ticas educativas que os instrumentali-
zem no enfrentamento e na superao
dessas contradies.
Deve-se ainda considerar o papel
positivo que as polticas afrmativas
de direitos desempenham no interior da
universidade pblica, ao trazerem a
presena da diversidade e da singulari-
dade da juventude rural, por meio dos
cursos de formao de educadores do
campo. Alm do impacto causado na re-
lao com estudantes de outras origens
sociais e na reorganizao do sistema
docente e acadmico da universidade,
os estudantes de origem rural carregam
o desafo que a eles colocado pelos
seus movimentos sociais e comuni-
dades de origem, no sentido de respon-
der ao esforo coletivo que os trouxe
at a universidade como protagonistas
de uma luta histrica por direitos.
Outros desafos que se colocam
realizao do curso so:
relao no hierrquica e transdisci- 1)
plinar entre diferentes tipos e mo-
dos de produo de conhecimento;
nfase na pesquisa, como processo 2)
desenvolvido ao longo do curso e
integrador de outros componentes
curriculares;
humanizao da docncia, superan- 3)
do a dicotomia entre formao do
educador e formao do docente;
viso de totalidade da educao bsica; 4)
abordagem da escola nas suas re- 5)
laes internas e com o contexto
onde ela se insere.
Considerando, assim, o fato de que
a Licenciatura em Educao do Campo
nasce da participao direta dos mo-
vimentos sociais na sua concepo,
pode-se afrmar que ela se enquadra
no movimento contra-hegemnico de
transformao das polticas pblicas
de educao no Brasil. Assim como o
Estado, a universidade tambm um
espao em disputa. Disputam-se o co-
nhecimento, a pesquisa e as ideologias.
A educao superior um locus privile-
giado deste embate terico e prtico.
O embate entre um projeto nacio-
nal prprio e um projeto dependente e
subordinado teve refexos na universi-
dade pblica brasileira, que perdeu sua
hegemonia e autonomia. A universi-
dade pblica se apresenta como espa-
o contraditrio, em que se constro-
em ideologias e hegemonias e, como
tal, pode ser estimulada a funcionar
como interventora ou construtora de
uma nova realidade social. Para tanto,
ela precisa romper com as limitaes
impostas pela formao profssional
para o mercado de trabalho, priorizar
a formao humana e se colocar como
agente participativo na construo de
um novo projeto.
Uma das intencionalidades marcan-
tes da mobilizao e entrada dos mo-
vimentos dos camponeses na luta pelo
direito educao disputar o espao
acadmico de produo do saber, afr-
mando seu papel contra-hegemnico
no debate sobre o desenvolvimento
do pas e o lugar do campo nesse
novo projeto.
Trata-se de um movimento que
se prope a superao das tendncias
dominantes nas polticas de educao
para o meio rural no Brasil. As polticas
pblicas de educao sempre se pauta-
Dicionrio da Educao do Campo
474
ram na dicotomia entre o campo e a ci-
dade, e nunca atenderam s necessidades
e especifcidades dos povos do campo,
especialmente no tocante forma-
o de professores. Somente com o avan-
o das lutas dos trabalhadores do campo,
esta situao comeou a mudar, resul-
tante do protagonismo dos movimentos
sociais na disputa pela concepo de um
projeto de educao e de campo que se
afnem com um projeto de desenvolvi-
mento emancipatrio para o pas.
Nota
1
Para uma discusso sobre a questo da formao por reas de conhecimento, ver Caldart,
2010, p. 127-154.
Para saber mais
ANTUNES-ROCHA, M. I.; MARTINS, A. A. (org.). Educao do Campo desafos para a
formao de professores. Belo Horizonte: Autntica, 2009.
BRASIL. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC). Minuta do Projeto da Licenciatura Ple-
na em Educao do Campo. In: MOLINA, M. C.; S, L. M. (org.). Licenciaturas
em Educao do Campo: registros e refexes a partir das experincias piloto. Belo
Horizonte: Autntica, 2011.
CALDART, R. S. Licenciatura em Educao do Campo e projeto formativo: qual
o lugar da docncia por rea? In: ______ et al. (org.). Caminhos para transformao
da escola: refexes desde prticas da Licenciatura em Educao do Campo. So
Paulo: Expresso Popular, 2010. p. 127-154.
MOLINA, M. C.; S, L. M. A licenciatura em Educao do Campo da Universidade
de Braslia: estratgias poltico-pedaggicas na formao de educadores do cam-
po. In: ______; ______ (org.). Licenciaturas em Educao do Campo: registros e refe-
xes a partir das experincias piloto. Belo Horizonte: Autntica, 2011. p. 35-61.
475
M
M
MSTICA
Ademar Bogo
Mstica termo compreendido no
estudo das religies como adjetivo de
mistrio, assimilado por meio da expe-
rincia da prpria vivncia espiritual.
Contudo, nos estudos das cincias da
religio e na flosofa da linguagem, po-
de-se compreender que a mstica, em
suas manifestaes subjetivas, ultrapas-
sa o espectro do sagrado e introduz-se
na vida social e na luta poltica, numa
clara aproximao da conscincia do
fazer presente com a utopia do futuro.
Na atualidade, h pelo menos trs pos-
sibilidades de explicaes das manifes-
taes das experincias msticas:
a) Pelas religies as experincias
religiosas, desde a Antiguidade,
tratam a mstica como espiritua-
lidade. Nessas experincias, ela
aparece como atitudes pelas quais
o ser social se sente parte, ligado e
re-ligado ao todo que o cosmos
(Boff, 2000).
A persistncia na reproduo
das mesmas atitudes ticas, du-
rante a toda vida na prtica social
de seres individuais ou de sujeitos
coletivos, conforma a experincia do
fazer como parte do movimento da
continuidade da vida e da histria.
em nome da continuidade que
o sujeito social crente se prope a
fazer enormes e dolorosos sacrif-
cios, sempre consciente de que a sua
contribuio para o projeto utpico
deve ser dada de forma to intensa
que ultrapasse os comportamentos
dos seres sociais em geral.
A linguagem, para este tipo de
experincia simblica, se encarna
por meio do etos. Este etos recobre
no s a dimenso verbal, mas tam-
bm o conjunto de determinaes
fsicas e psquicas (Maingueneau,
2008, p. 17), e serve como instru-
mento para interligar o perto e o
longe, o fsico e o temporal.
A mstica, neste entendimento,
a espiritualidade que acolhe e se
expressa por meio da experincia
do mistrio vivido concretamente.
Ela d sentido continuidade do
existir como mediao para a realiza-
o do projeto real e metafsico. Por
esta razo, o contemplativo torna-se
refexivo da prtica insurgente.
b) Pelas cincias polticas as revela-
es subjetivas no entendimento das
cincias polticas so compreendi-
das como expresses do carisma
que h em cada ser social. As quali-
dades particulares ou habilidades
prprias de cada indivduo so co-
locadas a servio da coletividade e
tornam-se contribuies identifca-
das com cada tipo de sujeito.
As qualidades particulares, que
diferenciam um indivduo de outro
no fazer concreto, revelam que, na
subjetividade, impossvel desven-
dar os mistrios das habilidades
carismticas que fazem os indivduos
assumirem funes de liderana,
ocuparem o seu tempo com questes
superiores aos interesses comuns da
coletividade, correrem riscos por
Dicionrio da Educao do Campo
476
insistirem em destacar-se e colocar-
se frente dos processos de mu-
danas, quando milhares de sujeitos
como ele no o fazem.
A dedicao e o empenho em
desencadear processos que ofere-
cem melhorias vida social, bem
como a busca por descobertas, se-
jam elas empricas, literrias, flos-
fcas ou cientfcas, elevam as possi-
bilidades de se alcanar a dignidade
e a emancipao humanas.
As qualidades individuais dife-
renciadas, em nosso tempo, cons-
tituem o potencial da dinmica das
relaes sociais que se combinam e
articulam para a realizao de obje-
tivos comuns. A modernidade diz
respeito emergncia do indivduo,
com singularidade, discernimento,
afirmao, atividade, autocons-
cincia, luta, ambio, derrota ou
iluso (Ianni, 2000, p. 194); mas
esse indivduo nada pode ser se
no interligar a sua independncia
obrigatoriedade da convivncia so-
cial, colocando disposio as suas
habilidades particulares.
c) Pelos movimentos populares pela
fundamentao flosfca, os movi-
mentos populares compreendem a
mstica como expresses da cultu-
ra, da arte e dos valores como parte
constitutiva da experincia edif-
cada na luta pela transformao da
realidade social, indo em direo ao
topos, a parte realizvel da utopia.
A linguagem das atitudes verbais
e no verbais dos movimentos popu-
lares expressa o que so e o que
querem estes sujeitos das mudan-
as sociais. Fundamentalmente, os
movimentos camponeses, a partir
do fnal do sculo XX, compreen-
deram que a totalidade do projeto
das mudanas sociais no se realiza
apenas pela fora e pela intelign-
cia os sentimentos e a afetividade
tambm fazem parte do projeto
e no podem ser ignorados. A sub-
jetividade de cada um torna-se
objetividade no processo que efeti-
va a antecipao da utopia.
pela compreenso de que a
cultura tudo aquilo que a coleti-
vidade pensa, faz, sente e imagina
repetidamente que os movimentos
populares tornam concreto o abstra-
to, por meio da objetivao da prvia
ideao, quando uma das alternativas
imaginadas assumida e realizada. O
abstrato um pensamento transfor-
mado em desejo de v-lo realizado
no concreto pelo esforo militante.
Antecipa aquilo que dever vir a ser
ao mesmo tempo que est sendo
(Bogo, 2010, p. 219).
O sujeito poltico integrado a
um projeto de mudanas sociais o
mesmo sujeito social. Estes sujeitos
no se dissociam pelo simples fato
de que ningum se desfaz daquilo
que , e nem pode deixar em casa,
enquanto sai para a luta, caracters-
ticas e valores culturais que so pr-
prios da produo social que proje-
tou tal sujeito. A mstica est no
sujeito como o calor est no corpo
que o mantm quente o sufcien-
te, proporcionando-lhe vitalidade
e satisfao.
A diversidade de relaes sociais, po-
lticas, ticas e culturais se sustenta sobre
a base do pertencimento a coletividades
que expressam, desde o aparecimento
da sociedade de classes, a memria das
tradies insurgidas, interrompidas pela
violncia do poder dominante, contra a
continuidade da dominao. Uma a uma
477
M
Mstica
essas tradies retornam pelo registro da
memria militante, que no esquece nem
abandona as geraes que lutaram no pas-
sado, mesmo no as tendo conhecido.
Compreende-se que nas formas
de conscincia (histrica, poltica, re-
ligiosa, ecolgica etc.) que se revela a
qualidade da existncia dos grupos
e das classes sociais que fizeram os
movimentos populares acreditarem
que um ser que trabalha, convive,
luta e transforma tem de considerar
como parte deste compartilhar, a t-
tica, a fora, o sacrifcio a dor, etc. e,
ao mesmo tempo combinar o nimo,
a vontade, a disposio, a alegria e o
prazer de fazer o belo e o melhor para
a humanidade.
A mstica na militncia
Se qualquer ser humano melhor
do que a melhor abelha, porque conse-
gue antecipar em sua mente aquilo que
vai fazer depois (Marx, 1996), por
que nem todos os seres humanos ex-
pressam tais capacidades e muitos omi-
tem-nas, mesmo sabendo que as tm?
A mstica na militncia como a
fora de germinao que existe dentro
das sementes. Assim como saem da
dormncia as gmulas das sementes,
despertam os militantes para a hist-
ria como sujeitos conscientes de suas
funes sociais. Descobrem as poten-
cialidades das mudanas adormecidas
nos contextos sociopolticos e des-
vendam, na penumbra dos processos,
possibilidades de agregar elementos
diferenciadores que impulsionam as
mudanas sociais.
Os riscos e perigos empunhados
pelas foras contrrias so obstculos
constantes a serem enfrentados e ultra-
passados. Porm, a fora que oprime e
ameaa tambm instiga o seu contr-
rio: a reao para o crescimento.
A areia, que com a ajuda da gua
mistura e dissolve o cimento, torna-se,
com o calor do sol, parte da velha rea-
lidade e base do novo concreto que
sustenta belas construes com as
formas e os contornos desejados pelo
projeto arquitetnico.
A violncia que intimida tambm
a escola para a resistncia. O carisma
da militncia se manifesta na diversi-
dade do empenho de cada sujeito para
fazer o belo.
A criatividade que surpreende o ini-
migo surge das prticas mais simples,
originadas na inspirao de produzir o
novo. Assim, as lutas, que formam os fa-
tos lembrados pelas datas, e descritos,
associados aos lugares, como cenrios
artsticos articulados, tambm produ-
zem os sujeitos individuais e coletivos.
A fonte que sacia a sede tambm
o espelho que refete a imagem, como
ocorreu com Orgenes, revelando a
beleza de cada militante, que arranca,
com o esforo coletivo, a prpria au-
toestima. Nomes e apelidos tornam-se
conhecidos e representam mais do que
identidades, irrompem como sinni-
mo de segurana, confana e lealdade,
como exemplo de conduta e de nimo.
No fazer coletivo, destacam-se lideran-
as, projetam-se cantadores, poetas e
animadores, como se fossem variedades
novas de sementes em germinao que
desconheciam o potencial que traziam
em si mesmas. Dessa forma, a pol-
tica vira arte e a arte ganha funo
poltica nas aes e eventos.
na luta transformadora feita com
arte que o ser social se reinventa e se
exterioriza, expondo-se de outra ma-
neira que ainda no era aparentemente
Dicionrio da Educao do Campo
478
conhecida, para fazer surgir a nova e
bela sociedade na qual viver. por
meio da arte que o indivduo se auto-
produz: se o homem s pode se rea-
lizar saindo de si mesmo projetando-
se fora, isto , objetivando-se, a arte
cumpre com este papel de humani-
zao do prprio homem (Snchez
Vzquez, 1968, p. 57). Gostar e lutar
pelo belo um princpio que se tor-
na um dever. Acima de tudo, fazer o
belo transformador torna-se hbito
com o mais puro sentir e com o mais
profundo querer.
Com a mstica, os tempos das lutas
ganham outras dimenses. Se o tempo
produtivo mede-se pela produtividade
material, o tempo da luta se mede pela
espera e pela preparao das vitrias.
A espera militante nunca tempo per-
dido: preparao. A futura me que
cuida da gestao no perde nem ganha
tempo, apenas prepara o nascimento.
Sabe que no pode ter pressa, nem
abandonar o processo em andamen-
to. Sendo assim, quando chega a sua
hora, um momento novo pelo qual
viveu. a prvia-ideao objetivada na
prtica (Lessa, 2007, p. 38).
Sendo assim, os longos anos de
espera pela terra, acampados sob
barracas de lona, nunca significaram
perda, mas ganho, em formao, em
conscincia e organizao popular.
Perde tempo quem abandona a luta;
ganha, quem persiste no lugar em que
se faz sujeito.
A mstica o nimo para enfrentar
as difculdades e sustentar a solidarie-
dade entre aqueles que lutam. A msti-
ca no somente ajuda a transformar os
ambientes e cenrios sociais; acima de
tudo, impulsiona e provoca mudanas
por fora e por dentro dos sujeitos, tal
qual o fazem as frutas, que, ao cresce-
rem, ganham a massa que lhes d vo-
lume e, ao mesmo tempo, por dentro,
abrigam a formao das sementes.
Sem a mstica, no haveria hist-
ria militante. As massas perderiam a
esperana logo no incio e deixariam
escapar a energia do combate, da re-
sistncia e da persistncia. As lideran-
as se corromperiam e se aliariam aos
criminosos assim que vislumbrassem
alguns privilgios.
Na mstica militante, a organizao
um instrumento indispensvel. Os
tempos passados ensinam que, desor-
ganizados e dispersos, os povos no
tm fora, nimo ou condies de en-
frentar os criadores da violncia. Ao
contrrio, quando se adota uma postu-
ra ativa no mundo, a vida consciente
sempre ao: atuo mediante o ato,
a palavra, o pensamento, o sentimen-
to; vivo, venho a ser atravs do ato
(Bakhtin, 2000, p. 154).
A organizao se eleva em vista da
causa que ganha forma no projeto, tal
qual um edifcio: antes da construo,
somente os engenheiros e os arquite-
tos sabem como ser. A planta dese-
nhada de difcil leitura e, por isso,
todos sabem que, pelo esforo huma-
no, crescer no local um edifcio; mas
a fora para que ele acontea est com
os construtores, que desejam ver a
obra pronta e se empenham para rea-
lizar tal acontecimento. A mstica no
est no projeto, mas nos sujeitos que
o constroem.
A mstica necessita de perspectivas;
precisa do olhar no horizonte, no lu-
gar em que fca a utopia que instiga a
aproximao dos passos das cansativas
marchas, para se afastar tanto quanto
avanara. O projeto o condutor da
marcha que liga a distncia histrica
479
M
Modernizao da Agricultura
do passado perspectiva do futuro do
apaixonado fazer presente.
A conscincia do dever militante
a sabedoria que afasta a ignorncia e a
ingenuidade das relaes socais e po-
lticas. As relaes humanas entre ho-
mens e mulheres so apreendidas na
pertena cotidiana organizao e no
fazer do prprio destino.
Os movimentos populares tiveram,
desde o fnal do sculo XX, a ousadia
de assumir a mstica, dando a ela um
contedo prprio. Por organizarem-
se sem manuais, nasceu com eles uma
nova conscincia e um novo jeito de
ser sujeitos sensveis na histria com
uma mstica que impede que sejam des-
trudos facilmente.
A mstica neste caminhar mais do
que o alimento do caminhante; tambm
a fome que no deixa parar nem dormir
enquanto no se chega ao lugar desejado.
O sujeito da histria j no vive mais para
si, mas para a sua coletividade presente e
para aquela que ainda ir nascer.
Para saber mais
BAKHTIN, M. Esttica da criao verbal. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
BOFF, L. Etos mundial: um consenso mnimo entre os humanos. Braslia:
Letraviva, 2000.
BOGO, A. Identidade e luta de classes. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
IANNI, O. Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
2000.
LESSA, S. Para compreender a ontologia de Lukcs. 3. ed. Iju: Editora Uniju, 2007.
MAINGUENEAU, D. A propsito do ethos. In: MOTTA, A. R.; SALGADO, L. Ethos
discursivo. So Paulo: Contexto, 2008. p. 11-29.
MARX, K. O capital. 15. ed. So Paulo: Bertrand Brasil, 1996. V. 1.
SNCHEZ VZQUEZ, A. As ideias estticas de Marx. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1968.
M
MODERNIZAO DA AGRICULTURA
Paulo Alentejano
Nas ltimas dcadas, a agricultura
brasileira sofreu profundas transforma-
es envolvendo os mais diversos as-
pectos, como relaes de trabalho, pa-
dro tecnolgico, distribuio espacial
da produo, relaes intersetoriais
com a formao do complexo agroin-
dustrial ou dos complexos agroindus-
triais , insero internacional e padro
de interveno estatal.
Dicionrio da Educao do Campo
480
Este processo de modernizao
da agricultura brasileira foi concebido
e planejado como contraponto s
propostas de Reforma Agrria gesta-
das no mbito da esquerda brasilei-
ra ao longo dos anos 1950-1960. De
acordo com os defensores da moder-
nizao, seria possvel desenvolver
plenamente a capacidade produtiva
da agricultura brasileira sem distribui-
o da terra, contrariamente ao que
defendiam os partidrios da Reforma
Agrria, para quem a democratizao
da terra era condio indispensvel
para o prprio desenvolvimento da
agropecuria brasileira.
1
Embora aes modernizantes iso-
ladas j se evidenciassem desde os anos
1950 na agricultura brasileira, s pos-
svel falar de um processo de moderni-
zao aps o Golpe de 1964 e a instau-
rao da ditadura, pois foi a partir da
que uma srie de aes coordenadas
foram empreendidas para impulsionar
tal processo. Assim, a modernizao
da agricultura brasileira no pode ser
compreendida sem a induo do Esta-
do, pois ele criou as condies para a
internalizao da produo de mqui-
nas e insumos para a agricultura, um
sistema de pesquisa e extenso voltado
para impulsionar o processo de moder-
nizao e as condies fnanceiras para
viabilizar este processo.
A essncia dessa modernizao tcnica
da agricultura brasileira que nega a neces-
sidade da Reforma Agrria uma aliana
do grande capital agroindustrial com a
grande propriedade fundiria, sob o gene-
roso patrocnio fscal, fnanceiro e patri-
monial do Estado (Associao Brasileira
de Reforma Agrria, 2007, p. 3-4).
A modernizao da agricultura bra-
sileira acompanha o movimento de difu-
so da REVOLUO VERDE pelo mundo,
seja na acepo ideolgica que contra-
pe a modernizao Reforma Agr-
ria, seja na acepo prtica da utilizao
crescente de mquinas, insumos qumi-
cos e sementes melhoradas, que faz do
Brasil, nos dias de hoje, o maior con-
sumidor mundial de agrotxicos. Este
modelo agrcola produz uma radical in-
verso do princpio tradicional que re-
gia a agricultura, isto , sua adaptao
diversidade ambiental e sua vinculao
a regimes alimentares diversifcados.
Ao contrrio, o que se tem agora uma
agricultura padronizada que se impe
diversidade ambiental, artifcializando
os ambientes e adequando-os ao pa-
dro mecnico-qumico da agricultura
moderna, ao mesmo tempo em que
impe a todos os povos um padro ali-
mentar que atende aos interesses das
grandes corporaes agroindustriais.
O processo de modernizao da
agricultura s foi possvel com a im-
plantao de um sistema de pesquisa,
assistncia tcnica e extenso rural que
forneceu as bases para a difuso do
novo padro produtivo. De um lado, a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuria (Embrapa), fundada em 1972,
desenvolveu uma srie de pesquisas
voltadas para a adaptao de varieda-
des s condies climticas e pedol-
gicas brasileiras, das quais o principal
exemplo foi a adaptao da soja ao
cerrado. De outro, tcnicos agrcolas,
agrnomos, veterinrios e extensionis-
tas rurais, formados segundo os cno-
nes da Revoluo Verde, difundiram as
modernas tcnicas entre os agriculto-
res. Em 1974, o governo federal criou a
Empresa Brasileira de Assistncia Tc-
nica e Extenso Rural (Embrater) para
uniformizar tais prticas de assistncia
tcnica e extenso rural.
481
M
Modernizao da Agricultura
Para a difuso deste moderno pa-
dro produtivo, foi de importncia
central a criao do Sistema Nacional
de Crdito Rural (SNCR) em 1965
pois ele viabilizou a compra de m-
quinas e insumos pelos agricultores ,
alm da criao, entre 1955 e 1959,
de uma srie de fundos para estimu-
lar a indstria de fertilizantes, adu-
bos e outros insumos qumicos para
a agricultura.
Os efeitos e a amplitude da moder-
nizao so alvo de profundas discr-
dias. Para alguns autores, ela genera-
lizada, enquanto, para outros, restrita
e limitada. Alguns consideram que os
produtores modernizados indepen-
dentemente do fato de serem peque-
nos, mdios ou grandes proprietrios
sero benefciados quando compara-
dos aos no modernizados. Outros re-
lativizam tal afrmao, afrmando que
alguns pequenos produtores pioraram
de condio ao se modernizar, e que,
acima de tudo, tal constatao descon-
sidera os inmeros produtores que no
conseguiram acompanhar o processo
de modernizao. Ressalte-se que a
modernizao tambm se concentrou
basicamente em alguns produtos volta-
dos para o mercado externo ou para a
transformao agroindustrial, e atingiu
principalmente certas regies (Sudeste,
Sul e Centro-Oeste).
O que inegvel que a moderni-
zao produziu a ampliao da concen-
trao da propriedade, da explorao
da terra e da distribuio regressiva da
renda, ou seja, ampliou a desigualdade
no campo brasileiro, ao permitir que os
grandes proprietrios se apropriassem
de mais terras e de mais riqueza em de-
trimento dos trabalhadores rurais, den-
tre os quais avanou a proletarizao e
a pauperizao.
Transformadas em ativo fnanceiro
com a vinculao do crdito subsidia-
do propriedade da terra, dando ori-
gem ao processo de territorializao do
grande capital, as terras valorizaram-se
signifcativamente, tornando-se em ob-
jeto de especulao. Com isso, no ape-
nas houve expressiva expulso de mo-
radores, parceiros e posseiros, como
se verifcou uma crescente difculdade
para que os pequenos agricultores ad-
quirissem terras. Isto, alm de difcul-
tar a reproduo ampliada da famlia
camponesa, contribuiu para acentuar o
movimento migratrio do campesinato
rumo fronteira, alm de forar parce-
las expressivas das famlias de agriculto-
res a apelar para o assalariamento tem-
porrio como forma de complementar
renda, dada inclusive a impossibilidade
de ampliar as terras sob seu controle.
Neste sentido, cabe destacar que uma
das caractersticas mais marcantes dos
trabalhadores rurais brasileiros moder-
nos, sejam eles proprietrios ou no,
a profunda mobilidade espacial. Esta
se verifca no apenas pela migrao de
camponeses em busca de terras livres
ou baratas nas regies menos ocupa-
das e desenvolvidas, mas tambm pe-
la migrao temporria realizada por
proletrios e semiproletrios rurais em
busca de trabalho, dado que a crescen-
te especializao regional da produo
difculta a obteno de trabalho numa
mesma regio durante mais do que os
parcos meses de colheita.
A modernizao gerou ainda pro-
fundas transformaes nas relaes
de trabalho, com o avano das relaes de
assalariamento, principalmente o tem-
porrio, em detrimento das formas de
trabalho familiar subordinadas direta-
mente grande propriedade (colonato,
parceria e formas congneres).
Dicionrio da Educao do Campo
482
Todo esse processo de moderniza-
o implicou ainda o crescente contro-
le das transnacionais do agronegcio
sobre a agricultura brasileira seja pela
determinao do padro tecnolgico
(sementes, mquinas e agroqumicos),
seja pela compra/transformao da
produo agropecuria (grandes tra-
ders, agroindstrias). Do ponto de vista
do padro tecnolgico, os processos
mais notrios atualmente dizem res-
peito difuso das sementes transg-
nicas pelas grandes empresas do setor
(como Monsanto, Bayer, Syngenta, que
tambm so as grandes produtoras de
agroqumicos), mas tambm so dig-
nos de nota a ampliao da presena
das transnacionais na comercializao
e o processamento industrial da produ-
o agropecuria, sobretudo pelas em-
presas ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus,
que, inicialmente, concentravam sua
atuao no ramo de cereais, mas tm se
expandido para outros ramos, sobretu-
do o sucroalcooleiro.
Pesquisas recentes (Paulin, 2011)
indicam que a participao do capital
externo no agronegcio aumentou de
31%, em 1990, para 44%, em 2010.
As grandes corporaes estrangei-
ras j controlam 51% dos embarques
de soja e 37% dos de carne suna, e,
agora, voltam-se para o acar e o
lcool. Estas corporaes concentraram
sua atuao, num primeiro momento,
na comercializao; posteriormente,
avanaram sobre o processamento agro-
industrial e, s mais recentemente,
vm atuando diretamente na produo
agropecuria, tanto que o percentual
de recursos externos neste segmento
de apenas 4%.
Um aspecto que no pode ser ne-
gligenciado ao se analisar o impacto
da modernizao o ideolgico. A
modernizao no imposta apenas
pelo mercado, mas tambm pelos
meios de comunicao, pela ao do
extensionismo rural, da propaganda
etc. Esta imposio ideolgica da mo-
dernizao passa pelo convencimen-
to do agricultor no que diz respeito
superioridade das formas modernas
de produzir em relao s tradicio-
nais, e seu impacto expressivo, por-
que, alm de reforar a expropriao
econmica, representa uma forma de
expropriao do saber, pois torna os
camponeses dependentes, uma vez
que no mais dominam as tcnicas e
os processos produtivos.
O carter socialmente excludente
destas transformaes que moderniza-
ram signifcativamente o setor levou de-
nominao deste processo como moder-
nizao dolorosa (Silva, 1982), mo-
dernizao desigual (Gonalves Neto,
1997), ou, mais generalizadamente,
modernizao conservadora.
Assim, o que resulta do processo
de modernizao uma agricultura
subordinada s grandes corporaes
agroindustriais e ao capital financei-
ro e que beneficia cada vez menos os
camponeses e trabalhadores do cam-
po em geral e que tampouco contri-
bui para a soberania alimentar. Ao
contrrio, como nos lembra Delgado
(2010), a modernizao conservadora
da agricultura brasileira foi construda
base de devastao e violncia, sob
pata de boi, esteira de trator e rifle de
jaguno (ibid., p. 1). E isso revela a
face colonial dessa modernizao.
Nota
1
Para um maior detalhamento dessa polmica, ver, entre outros, Gonalves Neto, 1997 e
Palmeira e Leite, 1998.
483
M
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC Brasil)
Para saber mais
ASSOCIAO BRASILEIRA DE REFORMA AGRRIA (ABRA). Qual a questo agrria
atual? Reforma Agrria, v. 34, n. 2, jul.-dez. 2007.
DELGADO, G. C. A questo agrria e o agronegcio no Brasil. In: CARTER, M.
(org.). Combatendo a desigualdade social : o MST e a reforma agrria no Brasil. So
Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 81-112.
GONALVES NETO, W. Estado e agricultura no Brasil: poltica agrcola e modernizao
econmica brasileira 1960-1980. So Paulo: Hucitec, 1997.
SILVA, J. G. da. Modernizao dolorosa. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
PALMEIRA, M.; LEITE, S. Debates econmicos, processos sociais e lutas polticas.
In: COSTA, L. F. C. C.; SANTOS, R. (org.). Poltica e reforma agrria. Rio de Janeiro:
Mauad, 1998. p. 92-165.
PAULIN, I. Terra estrangeira. Revista Veja, So Paulo, p. 139, 18 maio 2011.
M
MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS
(MMC BRASIL)
Conceio Paludo
Vanderleia Laodete Pulga Daron
A luta das mulheres vem de longe
e, na atualidade, possvel dizer que
est presente na maioria esmagadora
dos pases. No Brasil no diferente:
em todos os perodos da nossa hist-
ria possvel verificar a presena das
mulheres na luta pelos direitos da ci-
dadania, pelo reconhecimento do e no
trabalho, pela igualdade de tratamen-
to, enfim, na luta contra a explorao,
a opresso, a discriminao e a violn-
cia, com iniciativas que envolveram
e envolvem tanto o espao pblico
quanto o privado (Teles, 1993). Foi a
partir dessas lutas que viabilizaram
a teorizao sobre as relaes sociais
de gnero e sobre o feminismo que
foram se constituindo movimentos e
entidades ou instituies feministas.
Aqui, vamos tratar especificamente do
Movimento de Mulheres Camponesas
(MMC Brasil).
Um movimento de
mulheres autnomo
Foi nos anos 1980 que ressurgi-
ram, no Brasil, as lutas populares e a
constituio dos chamados movimen-
tos sociais populares. Tiveram papel
importante nesse processo a Teologia
da Libertao, os Centros de Educao
Popular, a teoria de base socialista e os
inmeros ativistas e militantes sociais
(Sader, 1986).
No bojo desse movimento, em dife-
rentes estados da Federao, principal-
Dicionrio da Educao do Campo
484
mente com a contribuio da COMISSO
PASTORAL DA TERRA (CPT), do sindica-
lismo rural combativo e da Pastoral da
Juventude, foram se constituindo dife-
rentes movimentos de mulheres traba-
lhadoras rurais, assim como os demais
movimentos do campo.
As lutas centrais do que hoje conhece-
mos como movimento das mulheres cam-
ponesas, nesse incio de processo, diziam
respeito ao reconhecimento e valorizao
das trabalhadoras rurais: reconhecimen-
to da profsso, aposentadoria, salrio-
maternidade, sindicalizao e participa-
o poltica (Movimento de Mulheres
Camponesas, 2004).
Em 1995, como consequncia do
fortalecimento dos movimentos de mu-
lheres autnomos nos estados, da insti-
tuio de comisses de mulheres na or-
ganicidade dos movimentos do campo (e
da cidade) e da necessidade de ampliao
e unifcao das lutas, foi criada a Articu-
lao Nacional de Mulheres Trabalhado-
ras Rurais (ANMTR), que reunia as mu-
lheres dos movimentos autnomos, da
CPT, do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), da Pastoral da
Juventude Rural (PJR), do MOVIMENTO
DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB),
de alguns sindicatos de trabalhadores ru-
rais e, no ltimo perodo, do MOVIMENTO
DOS PEQUENOS AGRICULTORES (MPA).
Esse processo de articulao dos
movimentos de mulheres e das mulhe-
res de movimentos mistos foi marcado
por acampamentos estaduais e nacio-
nais e por mobilizaes. A continuida-
de da luta encaminhou para a demarca-
o de datas histricas e importantes,
como o 8 de maro, Dia Internacional
da Mulher, e o 12 de agosto, morte de
Margarida Alves, dia de luta contra a
violncia no campo, pela ampliao
dos direitos previdencirios, pela sa-
de pblica, por um novo projeto de
agricultura, pela Reforma Agrria, pela
campanha de documentao e pela for-
mao poltica (Movimento de Mulheres
Camponesas, 2004).
O passo seguinte foi a fundao
do movimento nacional, em 2003,
no I Congresso, que aconteceu de-
pois de vrias atividades nos grupos
de base, municpios e estados, e com a
realizao do curso nacional (de 21 a
24 de setembro de 2003), que contou
com a presena de 50 mulheres, vin-
das de 14 estados, representando os
movimentos autnomos (Movimen-
to de Mulheres Camponesas, 2004,
p. 2). Nesse encontro foi decidido que
o nome do movimento seria Movi-
mento de Mulheres Camponesas.
O congresso, que teve como mar-
co Fortalecer a luta, em defesa da
vida, todos os dias, contou com a
participao de mais de 1.200 mulhe-
res, representando os movimentos au-
tnomos de 16 estados do Brasil. A
misso do MMC Brasil foi definida
nos seguintes termos:
[...] a libertao das mulheres tra-
balhadoras de qualquer tipo de
opresso e discriminao. Isso
se concretiza na organizao, na
formao e na implementao
de experincias de resistncia
popular, onde as mulheres sejam
protagonistas de sua histria.
Nossa luta pela construo de
uma sociedade baseada em no-
vas relaes sociais entre os se-
res humanos e destes com a na-
tureza. (Movimento de Mulheres
Camponesas, 2004, p. 5)
Quanto aos princpios, foi defi-
nido que o MMC um movimento
485
M
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC Brasil)
autnomo, democrtico e popular,
classista, construtor de novas relaes
de igualdade; um movimento de luta e
socialista, para o qual os seres huma-
nos tm o direito de viver com digni-
dade e igualdade.
A luta central do MMC contra o
modelo neoliberal e machista e pela
construo do socialismo. Com base
nesses princpios, so definidas as se-
guintes bandeiras: projeto popular de
agricultura, ampliao dos direitos so-
ciais, participao poltica da mulher
na sociedade e projeto popular para
o Brasil.
Na organicidade defnida, h um pa-
pel importante das direes e coordena-
es nacional e estaduais e, tambm, dos
grupos de base, porque nos grupos e
com os grupos que o movimento se
mantm forte e se renova: o espao
de formao, organizao e preparao
para as lutas que garantir os direitos
das mulheres, possibilitando o exerccio
da libertao (Movimento de Mulheres
Camponesas, 2004, p. 10).
Nesse processo, tambm houve a
unifcao dos smbolos (bandeira, cha-
pu de palha, leno e a cor lils), e foi
defnida a organicidade do movimento.
Na perspectiva do fortalecimento
e massifcao da luta, o MMC Brasil
integra a VIA CAMPESINA e se articula
com as Mulheres da Via Campesina.
Tambm se articula com movimentos
internacionais, como a Coordenao
Latino-Americana das Organizaes
do Campo (Cloc).
Para o MMC, constituir um movi-
mento nacional e autnomo, de mu-
lheres camponesas se justifca, entre
outros elementos, pela convico de
que a libertao da mulher obra
da prpria mulher, fruto da organiza-
o e da luta (Movimento de Mulheres
Camponesas, 2004, p. 3).
Eixos de resistncia, de
luta e autodefinies
H muita diversidade entre os mo-
vimentos autnomos que constituem
o MMC. Mesmo assim foi possvel, no
congresso de fundao, a reafrmao
da luta do movimento em dois grandes
eixos: o de gnero (feminista) e o de
classe (popular). Somos mulheres que
lutamos pela igualdade nas relaes e
pertencemos classe das trabalhadoras
e trabalhadores (Movimento de Mu-
lheres Camponesas, 2004, p. 2).
Nesse mesmo momento histrico
da constituio do MMC Brasil, mais
um elemento importante da identidade
explicitado. O movimento faz a dis-
cusso da categoria de campons que
compreende a unidade produtiva cam-
ponesa centrada no ncleo familiar ,
a qual, por um lado, se dedica produ-
o agrcola e artesanal autnoma, com
o objetivo de satisfazer as necessidades
familiares de autossustento, e, por
outro, comercializa parte de sua pro-
duo para garantir recursos necess-
rios compra de produtos e servios
que no produz. Neste sentido, mu-
lher camponesa aquela que, de uma
ou de outra maneira, produz o alimen-
to e garante a subsistncia da famlia
(Movimento de Mulheres Camponesas,
2004, p. 3). So as pequenas agricul-
toras, pescadoras artesanais, quebra-
deiras de coco, extrativistas, arrenda-
trias, meeiras, ribeirinhas, posseiras,
boias-frias, diaristas, parceiras, sem-
terras, acampadas e assentadas, assala-
riadas rurais e indgenas. A soma e a uni-
fcao destas experincias camponesas,
e a participao poltica da mulher,
Dicionrio da Educao do Campo
486
legitimam e confrmam, no Brasil,
o nome de Movimento de Mulhe-
res Camponesas.
A autodefnio caminha na dire-
o do fato de que elas so mulheres
camponesas que lutam pela igualdade
de gnero e de classe. Nas Deliberaes
do MMC Brasil (Movimento de Mulhe-
res Camponesas, 2004), isso fca mais
do que evidente.
Outro elemento pode ser destacado
como opo do movimento no atual
momento histrico brasileiro: a luta
por um projeto de agricultura campo-
nesa, preservando a tica feminista,
em contraposio ao agronegcio. As
campanhas das sementes crioulas, dos
alimentos saudveis, as experincias de
produo agroecolgica e as inmeras
lutas contra os agrotxicos e o deserto
verde explicitam esse direcionamento
do MMC (Movimento de Mulheres
Camponesas, 2007).
A argumentao segue as anlises
de que as desigualdades de gnero,
assim como o desenvolvimento e o
subdesenvolvimento, o arcaico e o mo-
derno, a concentrao de capitais e a
explorao/expropriao do trabalho
so elementos constitutivos da lgica
do capitalismo, e que preciso travar a
luta nos dois planos (Mszros, 2002).
Uma das contribuies importan-
tes que o MMC traz a necessidade de
romper com as formas de naturalizao
das desigualdades, pois o ncleo ideo-
lgico que naturaliza as desigualdades
sociais, econmicas, culturais, polticas,
de classe e das relaes sociais de gne-
ro e de raa/etnia o mesmo que na-
turaliza a lgica perversa de destruio
da natureza. Nesta concepo, tanto a
natureza quanto os seres humanos so
apenas meio e instrumento a servio
dos interesses do capital.
Para o MMC Brasil, na atualida-
de brasileira, o projeto de agricultura
camponesa ou um novo projeto de
desenvolvimento do campo, assim
como a continuidade da luta pela Re-
forma Agrria, possibilitam congregar
esforos na direo da resistncia. Isso
envolve a luta de gnero articulada com
a de classe e a defesa da vida, em to-
das as suas dimenses (Movimento de
Mulheres Camponesas, 2007).
De acordo com o movimento, a
sua luta central contra o modelo
capitalista e patriarcal, e pela cons-
truo de uma nova sociedade com
igualdade de direitos. Nesse sentido,
o MMC assume como principal ban-
deira de luta o Projeto de Agricultura
Camponesa Ecolgico, com uma pr-
tica feminista, fundamentado na de-
fesa da vida, na mudana das relaes
humanas e sociais e na conquista
de direitos.
1
Alm desse direcionamento, o MMC
luta pela ampliao dos direitos sociais
e dos espaos de participao das mu-
lheres na sociedade. O conjunto dessas
lutas de resistncia tem como horizon-
te a construo de um projeto popular
para o Brasil.
A formao
O Movimento de Mulheres Cam-
ponesas realiza a formao poltica de
seus quadros e tem participado com
educandas em cursos formais promo-
vidos por organizaes da Via Cam-
pesina. Tambm participa em cursos
no formais promovidos por diversos
movimentos do campo e outras orga-
nizaes com as quais se identifca. H
tambm a conscincia de que a educa-
o um direito e da sua importncia
para os trabalhadores.
487
M
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC Brasil)
Em conversas informais realizadas
com dirigentes do movimento, perce-
be-se que a identificao entre forma-
o poltica no MMC e Educao do
Campo assume as propostas de Paulo
Freire e da educao popular, e da edu-
cao dirigida a um pblico especfi-
co: camponeses e camponesas. Igual-
mente, a formao poltica no MMC
se identifica com a crtica do papel
da educao na sociedade capitalista.
Para o movimento, no h uma for-
ma nica ou modo nico de educao.
A escola no o nico lugar em que
ela acontece. O ensino escolar no a
nica prtica educativa, e o professor
profissional no o seu nico prati-
cante. A educao existe de forma di-
ferente em diversos pases. Ela existe
em cada povo, at entre povos que se
submetem a outros povos que usam
a educao como um recurso a mais
para a dominao.
Atravs de trocas sem fm, a
educao ajuda a explicar e, s
vezes, a ocultar e inculcar a ne-
cessidade da existncia de uma
ordem. Pensando que age[m]
por si prprio[s], de modo livre
e em nome de todos, os educa-
dores imaginam que servem ao
saber e a quem ensinam, mas
podem estar servindo a quem
o constituiu professor, a fm de
us-lo para manter a ordem so-
cial. (Movimento de Mulheres
Camponesas do Rio Grande do
Sul, s.d., p. 2)
Para o MMC, a luta na sociedade
sempre foi em torno de deter poder
e saber, a diferena a servio de
quem e de qual projeto esto o saber
e o poder (ibid., p. 2). Assim, para
o movimento:
a educao popular um processo
coletivo e permanente de socializa-
o, reconstruo e produo de
conhecimentos que capacita os(as)
participantes a perceberem critica-
mente a realidade socioeconmica,
poltica e cultural com a inteno
de transform-la;
esse processo permite a apropriao
crtica dos fenmenos socioculturais
e a compreenso de suas razes e
contradies, o que ajuda no enten-
dimento dos momentos e de todo o
processo da luta de classes;
isso acontece porque a educao
popular viabiliza a conscincia crti-
ca, que contribui para a superao
de diferentes formas de alienao,
permitindo a anlise/descoberta do
real, assim como as possibilidades
de criao de estratgias de inter-
veno; e
possibilita a qualifcao das mulhe-
res para que se tornem sujeitos pro-
tagonistas do seu prprio processo
de construo humana e de outro
projeto de sociedade (Movimento
de Mulheres Camponesas do Rio
Grande do Sul, s.d.).
Para o MMC, a concepo de edu-
cao popular concebe a educao/
formao como processo dialtico de
socializao, reconstruo e criao
do conhecimento em uma socieda-
de de classes. O processo educativo/
formativo, nessa concepo, deve arti-
cular a formao com a organizao e
a luta dos trabalhadores(as).
A formao que o prprio movi-
mento desenvolve um dos instru-
mentos valiosos, quando usada com
intencionalidade e sistematicidade,
na luta contra a alienao que serve
para desmontar o sistema de domi-
nao e conscientizar as pessoas para
Dicionrio da Educao do Campo
488
construrem uma alternativa popular.
O MMC considera que o processo for-
mativo deve estar articulado com a luta
concreta e com a organizao dos gru-
pos na base. A formao, como a educa-
o formal, no um processo neutro,
serve a uma causa determinada e deve
contribuir para que os grupos tenham
claras as suas convices, a sua misso e
o seu plano concreto de atuao.
Por meio da articulao com a Via
Campesina, o MMC Brasil participa, com
estudantes, de alguns cursos conveniados
com universidades. Nesse sentido, assu-
me a perspectiva da educao do campo
e a compreende como identifcada con-
cepo da educao popular.
A prxis do Movimento de Mulhe-
res Camponesas, embora sujeita s con-
tradies, revela-se portadora de uma
dinmica educativa e de uma mstica
libertadora/emancipatria, ambas im-
bricadas no eixo gnero, classe, proje-
to de agricultura camponesa e pro-
jeto popular, que se constitui na
prpria identidade do MMC. Assim,
com base assentada em princpios e
valores comprometidos com a mstica
do projeto popular, libertador e eman-
cipatrio das mulheres e das classes
populares, elas buscam enfrentar a
realidade de forma organizada para
transform-la. As mulheres campone-
sas do MMC desenvolvem processos
educativos de cuidado com as vrias
formas de vida, centrados no acolhi-
mento, na constituio de vnculos
tambm afetivos, na escuta e no res-
peito, no dilogo e na conscientizao,
como base das novas relaes.
Nota
1
Ver http://www.mmcbrasil.com.br.
Para saber mais
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 37. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.
MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS (MMC BRASIL). Deliberaes do MMC Brasil.
Braslia: MMC Brasil, 2004.
______. Documento poltico da campanha de produo de alimentos saudveis. Braslia:
MMC Brasil, 2007.
MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS DO RIO GRANDE DO SUL (MMC/RS).
Documento da Escola da Mulher. [s.l]: MMC/RS, [s.d.].
MSZROS, I. Para alm do capital. So Paulo: Boitempo/Editora Unicamp, 2002.
SADER, E. Quando novos personagens entram em cena: experincias e lutas dos trabalha-
dores na Grande So Paulo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
TELES, M. A. de A. Breve histria do feminismo no Brasil. So Paulo: Brasiliense, 1993.
489
M
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
M
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB)
Eduardo Luiz Zen
Ana Rita de Lima Ferreira
O Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) um movimento so-
cial brasileiro que rene populaes tra-
dicionais, como ribeirinhos, pescadores,
indgenas, quilombolas, trabalhado-
res rurais, camponeses proprietrios
de terras ou no, e populaes urbanas
afetadas de alguma forma pela constru-
o de barragens. Nasce como reao
ao tratamento dado aos atingidos por
barragens pelas empresas construtoras,
governos e proprietrios desses empreen-
dimentos, mas representa tambm uma
fora de transformao social, pois sua
ao por um novo modelo energtico,
dentro de um projeto popular para o
Brasil, ultrapassa os territrios em que
se constroem as barragens. Constitui-se
como um movimento autnomo, de
massa, com forte caracterstica po-
pular, alm de manter uma organiza-
o horizontal e dinmica, com pouca
estruturao burocrtica.
No se trata de uma organizao
associativa. O reconhecimento e a le-
gitimidade do MAB perante a socie-
dade e o Estado se estabelecem de
acordo com a quantidade de pessoas
que mobiliza em suas aes, por sua
capacidade de constituir alianas com
outras organizaes e pela clareza das
propostas que defende. Estes aspectos,
que determinam seu peso poltico, re-
fetem-se numa cultura organizacional
que valoriza as lutas concretas locais e
nacionais, em detrimento da manuten-
o de estruturas institucionais.
O MAB possui uma viso extre-
mamente crtica em relao ao modelo
atual do setor energtico brasileiro. ,
por excelncia, um movimento am-
biental, em defesa dos rios, da vida e
da natureza, e cultural, na resistncia de
populaes tradicionais e do modo
de vida dos ribeirinhos brasileiros.
Trata-se de um movimento de luta
por direitos bsicos que evoluiu para
o questionamento ao sistema poltico e
econmico como um todo, objetivando
transformaes profundas, capazes
de garantir condies dignas de vida a
seus integrantes.
A construo de barragens traz con-
sequncias negativas para as regies
em que so construdas, tanto pelo
alagamento de grandes reas quanto
pelos desvios de rios e barramentos,
que diminuem a vazo em alguns tre-
chos. O paredo que transforma rios
em lagos retm sedimentos e nutrien-
tes, impede a migrao e reproduo
de espcies de peixes, modifica a fauna
aqutica e inviabiliza a atividade pes-
queira por longos anos. H destrui-
o de florestas e terras agricultveis,
e milhares de pessoas so expulsas
de seus territrios e perdem a fonte de
sustento ligada ao rio e s reas alaga-
das. Ao mesmo tempo, contingentes de
migrantes atrados pela construo da
obra alteram repentinamente o perfil
demogrfico das regies atingidas, so-
brecarregando os servios pblicos e
a infraestrutura local.
Apesar de todos os impactos nega-
tivos, poucas aes de mitigao so
efetivadas. As mais comuns so re-
paraes em dinheiro apenas aos
Dicionrio da Educao do Campo
490
proprietrios legalmente reconhecidos
de terras e benfeitorias que sero ala-
gadas. Mesmo nesses casos, o valor
das indenizaes, calculado pelos seto-
res de patrimnio da prpria empresa
construtora, segue a lgica do menor
custo possvel, na qual se aplica inclu-
sive a depreciao dos materiais das
construes, ou seja, difcilmente com
o dinheiro recebido algum consegue
reconstruir sua vida em outro lugar
com condies similares.
Esta realidade advm de uma vi-
so da tecnocracia e do Judicirio, na
qual as reparaes de impactos sociais
de hidreltricas so sinnimas de ava-
liao patrimonial e imobiliria indi-
vidual por proprietrio, e somente da
rea alagada. L no existem famlias,
no existem comunidades, no existem
relaes econmicas, sociais, culturais;
existem, to somente, benfeitorias e
propriedades. Esta realidade, presente
nas empresas do setor eltrico, Vainer
(2003) designa de estratgia territorial pa-
trimonialista. Estratgia territorial por-
que seu objetivo nuclear a limpeza
do territrio, uma perspectiva de for-
a de ocupao; e estratgia patrimo-
nialista porque apenas reconhece, nes-
te territrio, propriedades.
Quando o governo concede auto-
rizao para a construo de uma bar-
ragem num determinado local, decreta
como de utilidade pblica a rea que
ser alagada. A partir da, o governo se
retira e a empresa construtora fca com
o caminho livre para atuar e defnir
quem so os atingidos por barragens,
quais so os seus direitos, e qual o ta-
manho das reparaes que sero distri-
budas. O nus da prova num processo
de desapropriao por interesse social
cabe ao desapropriado, que precisa pro-
var seu direito por vias judiciais, e no
ao construtor, que visto pelo poder
pblico como o detentor de direitos.
As barrancas dos rios brasileiros tm,
historicamente, servido de refgio para
diversas populaes tradicionais, pois,
pelo seu terreno acidentado, geralmente
l que o latifndio avana menos e l
que se concentra uma grande quantidade
de camponeses, trabalhadores sem-terra,
posseiros, arrendatrios, meeiros, comu-
nidades indgenas e quilombolas, justa-
mente as populaes mais vulnerveis
ao das empresas.
Esta situao dos atingidos por
barragens s poderia resultar em re-
sistncia, manifestando-se, seja em
carter individual, diante da eminente
expropriao, seja coletivamente, na
forma de confito social. Estabelece-
se uma correlao de foras entre os
atingidos e as empresas construtoras
de barragens. Quanto maior a resis-
tncia, quanto maior a organizao,
menores so as chances de as empresas
ignorarem os atingidos, e melhores so
as condies para reparaes e garan-
tia de direitos. A cada conquista dos
atingidos, como o direito a reassenta-
mento e indenizaes justas, abrem-se
precedentes para que outros atingidos
tenham as mesmas garantias.
Histria
Nos anos 1970, se intensifcou no
Brasil a construo de barragens. O
contexto do milagre econmico da
ditadura militar aumentou a demanda
por energia, e a crise do petrleo verif-
cada a partir de 1973 incentivou a busca
por fontes energticas mais baratas. O
Brasil optou por aproveitar seu enorme
potencial hdrico, resultado da existn-
cia de muitos rios extensos e caudalosos.
Essa conjuntura acelerada de constru-
491
M
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
o de barragens, somada ao contexto
da abertura poltica, fez forescer orga-
nizaes locais de atingidos por barra-
gens, como organizaes autnomas
ou integradas a sindicatos de trabalha-
dores rurais, pastorais sociais e orga-
nizaes no governamentais (ONGs).
As organizaes de atingidos nas bar-
ragens de Sobradinho e Itaparica, no
rio So Francisco, de Tucuru, no rio
Tocantins, de Itaipu, no rio Paran, e
de It e de Machadinho, na bacia do rio
Uruguai, foram as de maior destaque
nesse perodo.
A difculdade de obter conquistas
em lutas isoladas fez que se intensi-
ficassem os contatos entre as diversas
organizaes pelo pas. A evidncia
das contradies em que esto envol-
vidos e a dificuldade de obter qual-
quer conquista mediante a luta isolada
levou os atingidos a perceber que, alm
da resistncia no seu rio, deveriam se
confrontar com o modelo energtico
como um todo. O reconhecimento m-
tuo dos atingidos como partcipes de
uma luta comum, o contato com o mo-
vimento sindical em efervescncia em
todo o pas na dcada de 1980 e a ao
organizadora dos setores progressistas
da Igreja Catlica so todos elementos
que passam a fomentar o sentimento
por uma maior organizao dos atingi-
dos por barragens no Brasil.
Em maro de 1991, com a reali-
zao do I Congresso Nacional dos
Trabalhadores Atingidos por Barra-
gens, fundado o Movimento dos
Atingidos por Barragens. Para marcar
este acontecimento, o dia da plenria
final do I Congresso, 14 de maro, foi
estabelecido como Dia Nacional de
Luta contra as Barragens, celebrado,
desde ento, em todo o pas. Durante
os anos 1990, o MAB se desenvolveu
como um espao nacional de articu-
lao das lutas regionais e de troca
de experincias. Cada grupo local ou
regional manteve sua autonomia pol-
tica, organizacional e financeira, alm
de identidade prpria e estratgias de
ao independentes da organizao
nacional, ora na forma de movimentos
de massa, ora na forma de comisses,
grupos ou assessorias jurdicas, ora de
maneira autnoma, ora dependentes
de movimentos sindicais, pastorais ou
ONGs locais.
O sculo XXI abriu uma nova etapa
na histria do MAB. A construo de
jornadas nacionais de mobilizao, com
estratgias de ao e pautas comuns,
fortaleceu progressivamente o espao
nacional. A prioridade dada s manifes-
taes populares, marchas e ocupaes
como forma de luta levou a um predo-
mnio das organizaes de massa nas re-
gies e confgurao de um movimento
popular de massas. Assim, a chegada do
novo sculo tambm trouxe a confgu-
rao do MAB como um movimento
popular nacional efetivo.
Setor eltrico e meio
ambiente
O MAB um dos responsveis por
colocar em evidncia um conjunto de
contradies que passavam despercebi-
das pela maior parte da esquerda e dos
movimentos populares. Trata-se das
contradies existentes entre o homem
e a natureza. Assim, a novidade presen-
te no MAB diz respeito vinculao
direta entre a sua luta e a questo am-
biental, posto que a problemtica com
que se depara o coloca em contradio
direta com o capital em todos os seus
aspectos, principalmente no que diz
respeito destruio do meio ambiente,
Dicionrio da Educao do Campo
492
fundamento de seu avano. A histria
da luta e organizao dos atingidos por
barragens no Brasil marcada pela dis-
cusso da questo energtica, ora de for-
ma fragmentada, ora numa viso de
totalidade. Na segunda opo, engloba
as relaes da energia com as questes
econmicas, sociais, culturais, ambien-
tais. Logo, a emergncia do MAB se
d numa situao objetiva em que um
grupo de pessoas colocado diante da
possibilidade iminente de destruio
de seu ambiente. Por isso, de forma
concreta, e no por adeso voluntria
causa, a luta dos atingidos no se dis-
socia da luta ambiental.
Estas caractersticas levaram o MAB
a propor a construo de um novo mo-
delo energtico, nos marcos de um pro-
jeto popular para o Brasil. O problema
central na produo de energia eltrica
para o movimento no tecnolgico,
mas de modelo. O atual modelo ener-
gtico questionado, primordialmente,
sobre o controle privado das fontes e
dos meios de produo de eletricidade.
Assim, o no s barragens, bandei-
ra mais forte da resistncia dos atingi-
dos, passa a ser fundamentalmente um
no propriedade privada sobre elas,
sobre a energia, sobre a gua dos rios
e sobre os recursos naturais. O MAB
sabe, porm, que sua fora para im-
primir mudanas no setor energtico
limitada. Por isso, o movimento busca
o envolvimento de outros setores da
sociedade potencialmente interessados
em transformar o atual modelo ener-
gtico, como os trabalhadores urba-
nos, que so tambm consumidores
residenciais e sofrem com os aumentos
constantes nas tarifas de energia el-
trica, ocorridos principalmente aps
a privatizao de parte signifcativa do
setor nos anos 1990. Dessa forma, lu-
tas mais amplas, como a mobilizao
de comunidades urbanas por tarifas
mais baixas de energia eltrica, ganham
cada vez maior relevncia na estratgia
do movimento.
No novo modelo energtico pro-
posto pelo MAB, junto com a defesa
da propriedade pblica sobre a ener-
gia e a garantia de direitos aos afeta-
dos pelos empreendimentos, so pon-
tos importantes: o desenvolvimento
e uso de mltiplas fontes de gerao
de energia, a opo preferencial pe-
las que geram menos impacto social
e ambiental, a descentralizao dos
empreendimentos no territrio nacio-
nal e o controle social e popular sobre
as fontes geradoras. A efetivao des-
tas propostas, por sua vez, demanda
a superao do modelo econmico
primrio exportador brasileiro, espe-
cialmente de produtos intensivos em
energia eltrica (ao, ferroligas, alu-
mnio, papel, celulose), e a alterao
do atual padro de consumo, marcado
pelo consumismo e desperdcio.
O MAB e a educao
Tendo presente o paradigma da
Educao do Campo, cuja gnese est
na luta pelo reconhecimento do cam-
po como espao de vida e na defesa de
um projeto de desenvolvimento que
se contrape ao projeto de desenvol-
vimento hegemnico, o MAB criou
espaos de educao prprios e consti-
tuiu o Coletivo Nacional de Educao,
agregando foras ao movimento nacio-
nal da Educao do Campo na defesa
do direito que uma populao tem de
pensar o mundo a partir do lugar onde
vive, ou seja, da terra em que pisa,
melhor ainda: desde a sua realidade
(Fernandes, 2009, p. 141).
493
M
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
O MAB busca assumir a educao
como um processo permanente, cont-
nuo e sistemtico capaz de proporcionar
aos povos atingidos o direito infor-
mao, aprendizagem, cultura uni-
versal, problematizao da realidade e
organizao. Iniciativas de formao
poltica, projetos de alfabetizao de jo-
vens e adultos atingidos por barragens,
fortalecimento das escolas das regies ri-
beirinhas e de reas de reassentamentos,
alm da luta pela incluso dos atingidos
por barragens em cursos de educao
superior que respeitem a diversidade das
populaes do campo so atividades de-
senvolvidas pelo movimento. Um dos
objetivos dessas aes o fortalecimento
dos laos sociais e culturais entre as co-
munidades ribeirinhas, constantemente
ameaadas de desestruturao provoca-
da pela construo de hidreltricas.
Por fim, em consonncia com
Caldart (2009), que considera a educa-
o para alm de um espao formal e
institucionalizado, possvel afrmar
que h um princpio educativo na pr-
pria luta social desenvolvida pelo MAB,
pois, segundo a autora, o processo de
educao se d tambm nos diferen-
tes espaos de atuao dos sujeitos:
na militncia, nos cursos de formao,
nos grupos de base, nas reunies, nas
mobilizaes, nas marchas; ou seja, uma
educao que gerada no prprio movi-
mento da sociedade, na famlia, na igreja,
na comunidade, no trabalho, nos grupos
sociais e, sobretudo, na organizao e na
luta dos movimentos populares.
Para saber mais
CALDART, R. S. A escola do campo em movimento. In: ARROYO, M. G.; CALDART,
R. S.; MOLINA, M. C. (org.). Por uma Educao do Campo. 4. ed. Petrpolis: Vozes,
2009. p. 87-133.
FERNANDES, B. M. Diretrizes de uma caminhada. In: ARROYO, M. G.; CALDART,
R. S.; MOLINA, M. C. (org.). Por uma Educao do Campo. 4. ed. Petrpolis: Vozes,
2009. p. 133-146.
MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB). A organizao do Movimen-
to dos Atingidos por Barragens. Caderno de Formao, MDA Comunicao, n. 5,
p. 20, ago. 2004.
______. As caractersticas do atual modelo energtico. Caderno de Textos Escola
Nacional de Formao Poltica do MAB, So Paulo, p. 1-56, mar. 2009.
______. Um pouco da nossa histria. In: ______. MAB: uma histria de lutas,
desafos e conquistas. So Paulo: MAB, 2002. p. 14.
VAINER, C. B. (org.). O conceito de atingido: uma reviso do debate e diretrizes. Rio
de Janeiro: Ippur/UFRJ, 2003.
ZEN, E. L. Movimentos sociais e a questo de classe: um olhar sobre o Movimento dos
Atingidos por Barragens. 2007. Dissertao (Mestrado em Sociologia) Instituto
de Cincias Sociais, Universidade de Braslia, Braslia, 2007.
Dicionrio da Educao do Campo
494
M
MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES
(MPA)
Frei Sergio Antonio Grgen
O Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA) um movi-
mento campons, de carter nacio-
nal e popular, de massas, autnomo,
de luta permanente, cuja base social
organizada em grupos de fam-
lias nas comunidades camponesas
(Movimento dos Pequenos Agricul-
tores, 2005). O MPA busca resgatar
a identidade e a cultura camponesas
na sua diversidade, e se coloca ao lado
de outros movimentos quando prope
a conquista do poder e a constru-
o de uma nao soberana, animada
pelo horizonte e pelos valores da socie-
dade socialista (ibid.).
O movimento est organizado em
dezessete estados brasileiros
1
e tem
um histrico de luta e organizao do
campesinato nacional. Tem como men-
sagem poltica a produo de alimentos
saudveis, com respeito natureza, para ali-
mentar o povo brasileiro, e vem construin-
do uma proposta, a partir do campo,
para a sociedade como um todo, a qual
chama de Plano Campons. O MPA
considera que o campesinato tem trs
misses fundamentais: produzir ali-
mentos saudveis e diversifcados para
atender s necessidades de sua famlia
e da comunidade; respeitar a natureza,
preservando a biodiversidade e buscan-
do o equilbrio ambiental; e produzir
alimentos para o povo trabalhador.
O MPA, que, assim como um rio,
tem muitas nascentes, surgiu em v-
rios lugares do pas, na mesma po-
ca e pelas mesmas razes, constru-
do pela fora da luta, pela presso
da base, pela vontade da militncia
e para mudar a situao vivida pela
classe camponesa.
O fato que deflagrou este entendi-
mento para os pequenos agricultores
foi a seca que castigou as plantaes
no final de 1995 e incio de 1996 no
Rio Grande do Sul. Enquanto os agri-
cultores angustiavam-se com a perda
total das plantaes, dirigentes de sin-
dicatos e da Federao dos Trabalha-
dores na Agricultura do Rio Grande
do Sul (Fetag-RS) faziam acordos en-
tre si e conchavos polticos com os
governantes da poca para negociar
solues que nunca chegavam at a
roa dos agricultores.
Houve um momento em que a
indignao dos agricultores atingi-
dos pela seca conseguiu sensibilizar
alguns sindicalistas. Estes dirigentes
tiveram a sensatez de ouvir o clamor
da base, e articulou-se uma mobiliza-
o histrica pela agricultura campo-
nesa naquele estado.
A articulao da mobilizao dos
atingidos pela seca levou de roldo
muitos dirigentes sindicais que esta-
vam em cima do muro. Houve uma
ruptura poltica entre os que optaram
pela via do acordo, sem presso, e os
que foram acampar s margens das ro-
dovias. Aquilo foi um divisor de guas.
Na verdade, a mobilizao da seca pro-
vocou uma avaliao profunda sobre
495
M
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA)
o modo da atual organizao sindical
e sobre o mtodo de organizao das
lutas polticas.
Cinco foram os acampamentos
da seca que se organizaram nos meses de
janeiro e de fevereiro de 1996 no Rio
Grande do Sul, reunindo mais de 25
mil pequenos agricultores. Ali germi-
nou a semente do MPA, que nasceu da
presso da base organizada e da luta
dos agricultores para resistir na roa;
nasceu tambm para lutar pela mu-
dana da poltica agrcola, por crdito
subsidiado e seguro agrcola, e para
construir um novo modelo para a agri-
cultura brasileira.
O seu nascimento est diretamente
relacionado com a luta contra a atual
situao de empobrecimento econmi-
co e marginalizao poltica dos peque-
nos agricultores e s polticas agrcolas
dos sucessivos governos federais, que
vm favorecendo as grandes empresas
que controlam as terras, a produo e
o comrcio dos produtos para a expor-
tao. So estas empresas que ganham
incentivos fscais e tm acesso aos
crditos que, por direito, deveriam ser
destinados aos camponeses.
Entre as principais aes desenvol-
vidas pelo MPA esto: 1) a formao
de militantes e de famlias campone-
sas em temas como histria do cam-
pesinato, conjuntura agrcola e agrria,
cultura, relaes de gnero, poder e
classe, desafos da agricultura campo-
nesa, metodologia do trabalho de base,
agroecologia, reforestamento, questo
ambiental, entre outros; 2) seminrios
sobre educao camponesa em diver-
sos estados, e em parceria com outras
organizaes do campo; 3) combate
expanso de todo tipo de monoculti-
vo; 4) combate ao uso de agrotxicos;
5) ampliao do MPA para outros
municpios dos diversos estados; e
6) desenvolvimento da agroecologia,
aumentando o nmero de famlias que
esto em processo de transio e con-
solidao dessas tcnicas de produo.
Por que um movimento dos
pequenos agricultores?
A organizao do Movimento dos
Pequenos Agricultores sinaliza a neces-
sidade da mudana, de organizao e de
mobilizao da classe camponesa. Isto
signifca que preciso se mexer, se or-
ganizar de um modo diferente e lutar em
conjunto, combinando presso poltica,
mobilizaes de massa prolongadas e
negociaes para garantir conquistas.
A organizao do MPA signifca que
os camponeses tm necessidades co-
muns que so maiores do que os limites
territoriais do municpio. Se a estrutu-
ra sindical tem seus limites porque est
cabresteada pelo governo, necessrio
construir uma nova forma de organi-
zao poltica. Isto implica atravessar o
territrio de abrangncia do municpio.
Presena do MPA no Brasil
A notcia da organizao de um novo
movimento popular ligado agricultu-
ra camponesa logo se espalhou pelo
Brasil. Os pontos iniciais da pauta
seguro agrcola, crdito subsidiado, fm
das importaes, crdito moradia des-
pertaram interesse e curiosidade em
organizaes de trabalhadores rurais
de outros estados.
As necessidades econmicas e pol-
ticas pelas quais os agricultores gachos
se juntaram para lutar eram as mesmas
dos agricultores de Santa Catarina,
Paran, Rondnia, Esprito Santo,
Dicionrio da Educao do Campo
496
Mato Grosso etc. Na verdade, o mode-
lo agrcola que massacra e exclui os
camponeses o mesmo em todo o
Brasil. O que muda so os donos das
empresas agroexportadoras.
Nestes diversos estados, tanto os
agricultores quanto os dirigentes sin-
dicais sentiam os limites das organiza-
es a que pertenciam. Era necessrio
dar um passo frente na organizao
poltica dos agricultores. Isto signifca
mudar o jeito de se organizar e o jei-
to de se mobilizar. O MPA se espraiou
pelo Brasil tomando conhecimento so-
bre a pauta de luta, o jeito de lutar e
o modo de se organizar. Em maio de
2000, em Ronda Alta (RS), realizou-
se o I Encontro Nacional do MPA;
em fevereiro de 2003, foi realizado
o II Encontro Nacional, em Ouro
Preto do Oeste (RO); em abril de 2010,
aconteceu o III Encontro Nacional,
em Vitria da Conquista (BA), com a
presena de mais de mil camponeses e
camponesas de todo o Brasil.
Organizao do MPA
A prtica da luta, desde seu incio,
colocou, para o MPA, a necessidade
de um novo jeito de organizao dos
camponeses. Este novo jeito signifca o
envolvimento de todos os camponeses
que fazem parte do MPA nas decises
que do rumo poltico ao movimento.
Para que este envolvimento coletivo
acontea na tomada das decises, e
as conquistas cheguem at a roa do
agricultor, o MPA se organiza da se-
guinte forma:
Grupos de base para fazer parte do
MPA, as famlias dos pequenos agri-
cultores precisam estar agrupadas,
organizadas em grupos de base. Partici-
pando de um grupo de base, estaro
informadas de tudo o que acontece
nas lutas, ajudaro a dar os rumos,
construiro um novo jeito de decidir
o que diz respeito ao presente e ao fu-
turo da agricultura camponesa.
Coordenao Municipal em cada
municpio onde o MPA se organiza,
os coordenadores de grupos de base
se reuniro e escolhero uma coorde-
nao municipal que se encarregar de
coordenar as atividades no municpio,
tanto nas lutas quanto nas atividades
de organizao, formao, informao,
autossustento etc.
Coordenao Regional constituda
pelos representantes dos municpios
que integram a regional. Na prtica,
cada municpio coordenao munici-
pal escolhe uma equipe executiva para
agilizar as diversas atividades. A partir
dessas equipes executivas que se cons-
titui a coordenao regional. Regionali-
zar a organizao tem por meta facilitar
a participao, reduzir os gastos e acele-
rar a circulao das informaes.
Coordenao Estadual em nvel
estadual, a coordenao das lutas, a
organizao poltica, a formao das
lideranas efetivada pela coordena-
o estadual. A constituio desta ins-
tncia se d a partir das coordenaes
regionais. Desta forma, possvel im-
plementar no estado a circulao das
discusses, informaes e negociaes
que envolvem o MPA.
Direo Estadual eleita nos en-
contros estaduais do MPA. A sua tarefa
dar a direo poltica ao movimento
no estado, articulando-se em nvel na-
cional. Ela representa politicamente o
MPA nas diversas situaes que a con-
juntura exija (negociaes, trato com
imprensa etc.)
497
M
Direo Nacional cada estado em
que o MPA est organizado indicar,
no encontro nacional, o nmero de
seus representantes para compor a di-
reo nacional. A tarefa desta instncia
garantir a organicidade poltica, a ar-
ticulao das lutas e as negociaes em
nvel nacional do MPA.
Plano Campons
A principal formulao estratgica
do MPA o Plano Campons, resultado
de suas lutas e de sua histria. Ele est
sendo construdo para atender as ne-
cessidades da classe camponesa e para
responder aos desafos de toda a so-
ciedade, que precisa comer alimento
saudvel, beber gua limpa, respirar ar
puro, enfm, viver bem. , portanto, a
contribuio da classe camponesa para
um projeto popular para o Brasil.
O Plano Campons tem dois pilares
fundamentais: 1) condies para viver
bem no campo (educao camponesa,
moradia digna, espaos de esporte, la-
zer e cultura, sade, vida em comuni-
dade etc.); 2) condies para produzir
comida saudvel, respeitando a nature-
za, e para alimentar o povo trabalhador
(crdito, assistncia tcnica, mecani-
zao camponesa, sementes crioulas,
comercializao, seguro agrcola, apoio
para agroindstrias etc.).
Este projeto s se viabilizar com
a relao direta entre campo e cidade,
e a aliana entre a classe camponesa e a
classe operria. Esta relao se cons-
truir nas lutas de massa, na organiza-
o e na industrializao da produo,
na comercializao direta, na relao
entre iguais. O plano campons se
contrape ao projeto do agronegcio,
hoje predominante no campo, sendo
as seguintes as principais oposies
entre ambos: produo diversifca-
da versus monocultivos; mercado interno
versus exportao; trabalho versus desem-
prego; trabalho familiar versus explo-
rao do trabalho alheio; terra distri-
buda versus latifndio; comunidades
versus isolamento e vazio populacio-
nal; sementes prprias versus sementes
patenteadas/transgnicas; preservao
da biodiversidade versus destruio
ambiental; alimentos saudveis versus
contaminao alimentar/venenos; so-
berania alimentar versus monoplio dos
alimentos; e povo brasileiro versus mul-
tinacionais/imperialismo.
Nota
1
So eles: Rio Grande do Sul, Paran, Santa Catarina, Rondnia, Par, Mato Grosso, Gois,
Esprito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraba, Rio Grande
do Norte, Cear e Piau.
Para saber mais
GRGEN, |FREI| S. A. A resistncia dos pequenos gigantes: a luta e a organizao dos
pequenos agricultores. Petrpolis: Vozes, 1998.
______. Os novos desafos da agricultura camponesa. Petrpolis: Vozes, 2004.
ISRAEL DA SILVA, V. Caminhos da afrmao camponesa. Laranjeiras do Sul: [Autor], 2009.
MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES (MPA). O MPA e a resistncia camponesa : his-
tria, propostas, princpios e organizao. [s.l.]: MPA, 2005. (Documento interno).
Dicionrio da Educao do Campo
498
M
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS
SEM TERRA (MST)
Bernardo Manano Fernandes
O Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) um movi-
mento socioterritorial que rene em
sua base diferentes categorias de cam-
poneses pobres como parceiros,
meeiros, posseiros, minifundirios e
trabalhadores assalariados chamados de
sem-terra e tambm diversos lutado-
res sociais para desenvolver as lutas
pela terra, pela Reforma Agrria e por
mudanas na agricultura brasileira.
O MST tem sido muito atuan-
te na busca de seus objetivos de luta
pela terra. Sua histria est associada
luta pela Reforma Agrria e ao de-
senvolvimento do Brasil. Nasceu da
ocupao da terra e se reproduz por
meio da espacializao e da territoriali-
zao da luta pela terra. As conquistas
de fraes do territrio do latifndio
e a sua transformao em assentamen-
to acontecem pela multiplicao de
espaos de resistncias e de territrios
camponeses. Em cada estado onde iniciou
a sua organizao, o fato que registrou
o seu princpio foi a ocupao. Essa
ao e sua reproduo materializam a
existncia do MST, iniciando a cons-
truo de sua forma de organizao,
dimensionando-a. A luta dimensiona-
da em vrios setores de atuao do mo-
vimento, como a produo, a educao,
a cultura, a sade, as polticas agrcolas
e a infraestrutura social. Por meio des-
se processo de territorializao, o MST
contribuiu para a formao de milhares
de assentamentos e centenas de coope-
rativas e de associaes agropecurias.
Esse um importante processo de
ressocializao que tem contribudo
para o desenvolvimento territorial do
Brasil (Fernandes, 2000; Morissawa,
2001; Carter, 2009).
O MST est organizado em 24 das
27 unidades federativas.
1
Seu processo
de formao comeou por meio de di-
ferentes formas de luta pela terra, rea-
lizadas por grupos de camponeses em
todo o pas, com o apoio da COMISSO
PASTORAL DA TERRA (CPT), no perodo
de 1978 a 1983. Das lideranas que sur-
giram nesse processo, constituiu-se, en-
to, um movimento nacional. Na regio
Centro-Sul do Brasil, a CPT apoiou as
famlias camponesas que realizavam as
ocupaes de terras que deram origem
ao MST. O I Encontro Nacional do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra aconteceu entre os dias 20 e 22
de janeiro de 1984, em Cascavel (PR), e
considera-se o dia 21 de janeiro como
a data ofcial de fundao do MST.
Todavia, sua gnese teve um pero-
do de gestao que comeou nos ltimos
anos da dcada de 1970, com lutas por
terra nos estados do Rio Grande do Sul,
Paran, Santa Catarina e Mato Grosso
do Sul. Nas dcadas de 1980 e 1990,
o MST se territorializou por todas as
regies brasileiras, conquistando mi-
lhares de assentamentos rurais. Esse
processo representou o renascimen-
to dos movimentos camponeses no
Brasil, posto que, no perodo entre
1964 e 1985, a ditadura militar ha-
via reprimido e aniquilado quase to-
499
M
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
dos (Fernandes, 1996; Fernandes e
Stedile, 1999).
No governo militar, foi elabora-
da a primeira lei de Reforma Agrria,
representada pelo Estatuto da Terra
uma lei que expressava os princpios da
reforma agrria clssica, que, todavia, ja-
mais foi aplicada. Em 1985, no primeiro
governo da redemocratizao, foi ela-
borado o I Plano Nacional de Reforma
Agrria (PNRA). Elaborado pela equipe
do professor Jos Gomes da Silva, o pla-
no retratava o ascenso do movimento
de massas da poca e propunha o as-
sentamento de 1,4 milho de famlias
em apenas quatro anos. Em resposta, os
latifundirios se articularam politicamen-
te e de forma armada para combater os
movimentos e as lutas sociais. Criaram a
Unio Democrtica Ruralista (UDR), que
atuou intensamente para que o PNRA
jamais fosse implantado. Jos Gomes da
Silva e sua equipe foram demitidos do
Instituto Nacional de Colonizao e Re-
forma Agrria (Incra) pelo ento presi-
dente Jos Sarney (ver ORGANIZAES DA
CLASSE DOMINANTE NO CAMPO).
Em 1988, na elaborao da nova
Constituio, a Reforma Agrria so-
freu revezes dos ruralistas. Embora te-
nha sido aprovada na Constituio, os
ruralistas conseguiram retirar o prin-
cpio da eliminao do latifndio e o
condicionaram a ser produtivo ou no,
e ainda repassaram sua defnio para
uma lei complementar que precisaria
ser criada. Com essa estratgia, criaram
um imbrglio jurdico que paralisou as
iniciativas e a celeridade do Incra. So-
mente em 1993, com a aprovao da lei
n
o
8.629, passou a existir regulamenta-
o para a desapropriao de terras.
O aumento das ocupaes de ter-
ra e do nmero de famlias acampadas
pressionou o governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso, eleito em
1994, que realizou ampla poltica de as-
sentamentos rurais. Em 1998, em seu
segundo mandato, Fernando Henrique
Cardoso adotou a poltica agrria de
carter neoliberal, reprimiu a luta pela
terra e implantou uma poltica de mer-
cantilizao da mesma, denominada
reforma agrria de mercado. Ainda
criou a medida provisria n
o
2.109-50,
de 2001, que suspendeu por dois anos a
desapropriao de reas ocupadas uma
vez, e por quatro anos se ocupadas por
duas vezes ou mais. Tambm destruiu
a poltica de crdito para a Reforma
Agrria e a poltica de assistncia tc-
nica, inviabilizando o desenvolvimento
dos assentamentos e precarizando a
vida de centenas de milhares de fam-
lias assentadas.
A esperana na realizao da Refor-
ma Agrria foi recuperada com a eleio
de Luiz Incio Lula da Silva para pre-
sidente do Brasil. Em 2003, foi elabo-
rado o II Plano Nacional de Reforma
Agrria (II PNRA), com a promessa
de assentar 400 mil famlias por meio de
desapropriao, regularizar 500 mil pos-
ses, e assentar 130 mil famlias por meio
da poltica de crdito fundirio. Lula
foi reeleito em 2006 e, em 2010, quan-
do terminou o segundo mandato, havia
realizado parcialmente o que prometera
em 2003. No entanto, o Governo Lula
seguiu priorizando a regularizao fun-
diria na Amaznia, e s desapropriou
em casos de confito intenso (Ncleo de
Estudos, Pesquisas e Projetos de Refor-
ma Agrria, 2010). A Reforma Agrria
do Governo Lula incorporou a regula-
rizao como componente principal,
enquanto milhares de famlias perma-
neceram acampadas. O compromisso
de investir na melhoria da qualidade dos
assentamentos foi cumprido parcial-
mente, com investimentos em infraes-
trutura, comercializao e educao.
Dicionrio da Educao do Campo
500
A participao do MST nos avanos
da Reforma Agrria e nas mudanas da
questo agrria pode ser compreendida
pelas palavras de ordem que enunciam
as alteraes na conjuntura agrria. De
1979 a 1983, o lema foi: Terra para
quem nela trabalha, infuenciado pela
CPT e pelas lutas por terra histori-
camente desenvolvidas na Amrica
Latina que partilhavam este lema. Em
1984, no I Encontro Nacional, o lema
foi Terra no se ganha, terra se con-
quista. De 1985 a 1989, foram Sem
reforma agrria no h democracia
e Ocupao a nica soluo. Em
1989, o MST criou o lema Ocupar, re-
sistir, produzir, que se tornou muito
conhecido, assim como sua bandeira,
criada no III Encontro Nacional, em
1987. As palavras explicitam as aes
pela democratizao do acesso ter-
ra para trabalhar, produzir, viver dig-
namente. a luta por um modelo de
desenvolvimento territorial, na qual os
camponeses enfrentam as formas de
subordinao impostas pelo capital.
No aceitar a submisso e lutar pela
autonomia tornou-se marca da identi-
dade poltica do MST.
No fnal da dcada de 1990, o MST
elegeu o lema Reforma Agrria. Por
um Brasil sem latifndio. No incio
de um novo milnio, a conjuntura agrria
mudou mais uma vez e a luta foi intensi-
fcada. Alm do latifndio, os confitos
se multiplicaram com a emergncia do
agronegcio. O massacre de Eldorado
dos Carajs, no Par, em 1996, e o as-
sassinato de Valmir Motta, o Keno,
em 2006, na ocupao, pela Via Cam-
pesina, de uma rea experimental de
produo de sementes transgnicas
da empresa sua Syngenta Seeds, no
Paran, representam essa intensifcao
da confitualidade contra o latifndio e
contra o agronegcio (Fabrini, 2009).
Em todas as regies do pas, o latifn-
dio, associado ao agronegcio, dispo-
nibiliza suas terras para a produo de
commodities. Uniram-se dois processos
de excluso: o latifndio efetua a ex-
cluso pela improdutividade, enquanto
o agronegcio promove a excluso pela
intensa produtividade.
Ainda nessa dcada, o MST parti-
cipou da fundao da Via Campesina,
criando o lema Globalizemos a luta,
globalizemos a esperana. A questo
agrria foi novamente alterada e am-
pliada com a internacionalizao da
luta e o processo de estrangeirizao da
terra. As corporaes do agronegcio,
e mesmo os governos de pases ricos,
preocupados com as crises alimenta-
res ocasionadas pela expanso de com-
modities para a produo de agroener-
gia, como a cana-de-acar, passaram
a comprar terras em pases da Amrica
Latina, da frica e da sia (Fernandes,
2011). Em seu V Congresso, o MST
elaborou um novo lema: Reforma
agrria, por justia social e soberania
popular, que defende a soberania ali-
mentar, de modo a garantir o direito de
as pessoas produzirem seus prprios
alimentos, no deixando que o agrone-
gcio amplie seu controle sobre a ali-
mentao. A luta pela terra passa a ser
tambm uma luta pela comida. Estes
so dois dos principais elementos da
questo agrria do mundo globalizado.
O MST se consolidou como um
movimento campons de identidade
diversa por reunir pessoas de todas as
regies do Brasil. Suas aes tm con-
tribudo para o desenvolvimento dos
territrios camponeses e do pas. Os
investimentos na produo, infraes-
trutura, educao e sade, feitos por
meio da organizao de sua sociedade,
transformaram o MST em um dos mo-
501
M
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
vimentos mais admirados pela popula-
o, ao mesmo tempo que os ruralistas
tentam imputar-lhe uma imagem de
atrasado e subversivo, por causa de sua
forte ao nas ocupaes de terra. O
esforo dos Sem Terra ainda no con-
templou a superao de difculdades
antigas, ao mesmo tempo que precisa
enfrentar novos desafios. Enquanto
os militantes do MST trabalham nos
assentamentos e nos acampamentos
para melhorar as condies de vida,
so ameaados constantemente pelo
agronegcio, que, por meio da expan-
so das monoculturas, como a cana-
de-acar e o eucalipto, procura se
apropriar dos territrios camponeses,
conquistados na luta pela terra e pela
Reforma Agrria.
Em quase trs dcadas, o MST en-
frentou diferentes processos polticos
que tentaram destru-lo. A cada dca-
da, pelo menos, surgem novas situa-
es que desafam a sua existncia. As
reaes do MST foram importantes
para mudar as polticas agrrias e con-
triburam para a diversidade na pro-
duo de alimentos saudveis e para
a realizao da vida com liberdade,
sendo as pessoas mais importantes do
que a produo de mercadorias. Essas
reaes vo de encontro aos objetivos
do agronegcio, que expropria milha-
res de camponeses para expandir seus
monocultivos. Como salientamos no
caso da luta contra a Syngenta Seeds,
essa realidade tem criado novos confi-
tos entre o MST e o agronegcio por
exemplo, com a ocupao da fazenda
da Cutrale, corporao que controla a
produo de laranja, em setembro de
2009, no estado de So Paulo.
No incio do sculo XXI, o MST
passou a defender uma nova proposta
de Reforma Agrria que defniu como
Reforma Agrria Popular. No atual est-
gio do capitalismo, a agricultura se trans-
formou num dos sistemas que formam
o agronegcio. A agricultura parte do
conjunto de sistemas formados, princi-
palmente, pelo capital fnanceiro, que
controlam tambm sistemas industriais,
tecnolgicos, mercantis e ideolgicos,
como a grande mdia corporativa. Nesse
contexto, a Reforma Agrria precisa
extrapolar a simples distribuio de
terra concebida pela Reforma Agrria
clssica. preciso um programa de
mudanas que inclua a reestruturao
da produo, das tcnicas e das esca-
las para garantir a soberania alimentar.
Para isso, a Reforma Agrria Popular
dever organizar agroindstrias coope-
rativas, mudar a matriz tecnolgica de
produo para a agroecologia, demo-
cratizar o acesso educao em todos
os nveis e priorizar a produo de ali-
mentos sadios.
Nota
1
At 2011, o MST no estava organizado nos estados do Acre, Amap e Amazonas.
Para saber mais
CARTER, M. (org.). Combatendo a desigualdade social: o MST e a Reforma Agrria no
Brasil. So Paulo: Editora da Unesp, 2009.
FABRINI, J. E. A ocupao da estao experimental da Syngenta Seeds: um
confronto entre agronegcio e camponeses no Paran. Boletim DATALUTA,
Presidente Prudente, n. 19, jul. 2009.
Dicionrio da Educao do Campo
502
FERNANDES, B. M. Formao e territorializao do MST no estado de So Paulo. So
Paulo: Hucitec, 1996.
______. A formao do MST no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2000.
______. Estrangeirizao de terras na nova conjuntura da questo agrria. In:
COMISSO PASTORAL DA TERRA (CPT). Confitos no campo Brasil 2010. Goinia: CPT,
2011. p. 76-83.
______; STEDILE, J. P. Brava gente: a trajetria do MST e a luta pela terra no Brasil.
So Paulo: Perseu Abramo, 1999.
MORISSAWA, M. A histria da luta pela terra e o MST. So Paulo: Expresso
Popular, 2001.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Nossa proposta de
Reforma Agrria popular. In: ______. Notcias, 8 jul. 2009. Disponvel em: http://
www.mst.org.br/node/7708. Acesso em: 17 ago. 2011.
NCLEO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE REFORMA AGRRIA (NERA). Relat-
rio DATALUTA Banco de Dados da Luta pela Terra 2009. Presidente Prudente:
Nera, 2010.
M
MST E EDUCAO
Edgar Jorge Kolling
Maria Cristina Vargas
Roseli Salete Caldart
A educao entrou na agenda do
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) pela infncia. Antes
mesmo da sua fundao, ocorrida em
1984, as famlias Sem Terra, acampadas
na Encruzilhada Natalino, Rio Grande
do Sul (1981), perceberam a educao da
infncia como uma questo, um desafo.
A necessidade do cuidado pedag-
gico das crianas dos acampamentos
de luta pela terra, aliada a certa intuio
das primeiras famlias em luta sobre se-
rem a escola e o acesso ao conhecimen-
to um direito de todos, foi, portanto, o
motor do surgimento do trabalho com
educao no MST. Isso se compreen-
de considerando uma das caractersti-
cas da forma de luta pela terra deste
movimento campons, que a de ser
feita por famlias inteiras, o que acaba
gerando mais rapidamente outras de-
mandas que no apenas a conquista da
terra propriamente dita. No incio, as
aes foram levadas frente especial-
mente pela iniciativa e sensibilidade de
algumas professoras e mes presentes
nos acampamentos.
A histria da educao no MST tem
relao direta com o percurso do movi-
mento como um todo (ver MOVIMENTO
503
M
MST e Educao
DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA).
No possvel entender o surgimento do
MST sem compreender as caractersticas
da formao social brasileira, que pres-
cindiu de fazer a Reforma Agrria, mes-
mo em moldes capitalistas. Do mesmo
modo, tambm no possvel entender
por que o MST entra no trabalho com
educao, e notadamente com educao
escolar, sem ter presente, alm das carac-
tersticas de sua luta, a realidade educa-
cional de um pas que ainda no conse-
guiu garantir a universalizao do acesso
educao bsica.
O MST, movido pelas circunstn-
cias histricas que o produziram, foi
tomando decises polticas que, aos
poucos, compuseram sua forma de luta
e de organizao coletiva. Uma dessas
decises foi a de organizar e articular o
trabalho de educao das novas gera-
es no interior de sua organicidade e,
com base nessa intencionalidade, ela-
borar uma proposta pedaggica espe-
cfca para as escolas dos assentamen-
tos e dos acampamentos, bem como
formar seus educadores. O Encontro
Nacional de Professoras dos Assenta-
mentos, realizado em julho de 1987,
em So Mateus, no Esprito Santo, e
que formalizou a criao de um Setor
de Educao do MST, coincide com
o perodo de estruturao e consoli-
dao do movimento como uma orga-
nizao nacional.
Este texto pretende fazer uma
caracterizao geral do trabalho de
educao no MST, destacando os ele-
mentos principais de sua atuao e da
concepo de educao que vem cons-
truindo/afrmando em seu percurso.
Uma caracterstica de origem e do
desenho deste trabalho, tambm como
trao do projeto de Reforma Agrria
do MST, fazer a luta por escolas pblicas
dentro das reas de assentamentos e acam-
pamentos. Quase ao mesmo tempo em
que comeou a lutar pela terra, o MST,
por meio das famlias acampadas e de-
pois assentadas, comeou a lutar pelo
acesso dos Sem Terra escola. Orga-
nizar essa luta foi o objetivo principal
da criao de um Setor de Educao
no movimento.
No incio, na dcada de 1980, a vi-
so da necessidade e do direito ia at a
educao fundamental para crianas e
adolescentes. Aos poucos, na dcada de
1990, foi aparecendo com maior fora a
questo da alfabetizao e da educao
de jovens e adultos, que, em experincias
pontuais, tambm j acontecia desde os
primeiros acampamentos. Depois, veio a
preocupao e o trabalho com a educa-
o infantil e, mais recentemente, com a
educao universitria. Na educao de
nvel mdio, o trabalho comeou com
cursos alternativos para a formao dos
professores das escolas conquistadas, e
logo se estendeu formao de tcnicos
para as experincias de cooperao dos
assentamentos. No fnal dos anos 1990
e no incio dos anos 2000, comearam
as lutas especfcas pelo ensino mdio
nas reas de Reforma Agrria ou, mais
amplamente, pela conquista de esco-
las de educao bsica, incluindo todas
as suas etapas, hoje ainda um desafo em
muitos lugares.
Em dados estimados pelo MST, sua
conquista at aqui foi de aproximada-
mente 1.800 escolas pblicas (estaduais
e municipais) nos seus assentamentos e
acampamentos, das quais 200 so de
ensino fundamental completo e cerca
de 50 vo at o ensino mdio, nelas
estudando em torno de 200 mil crian-
as, adolescentes, jovens e adultos Sem
Terra. Nesse perodo, o MST ajudou
a formar boa parte dos mais de 8 mil
educadores que atuam nessas escolas.
Dicionrio da Educao do Campo
504
Tambm desencadeou um trabalho de
alfabetizao de jovens e adultos que
envolveu, em 2011, mais de 8 mil edu-
candos e 600 educadores. O MST de-
senvolve prticas de educao infantil
em seus cursos, encontros, acampa-
mentos e assentamentos, e tem cerca de
50 turmas de cursos tcnicos de nvel
mdio e cusros superiores, em parceria
com universidades e institutos fede-
rais, com cerca de 2 mil estudantes.
O balano dessa luta feito pelo
MST tem destacado, especialmente,
que: foi praticamente universalizado
o acesso das crianas assentadas aos
anos iniciais do ensino fundamental,
acompanhando os dados da educao
nacional, o que certamente no te-
ria acontecido se as famlias tivessem
aceitado a lgica do transporte escolar,
presso que continua at hoje na im-
plantao de cada assentamento; toda
vez que se conquista uma escola de
educao bsica em um assentamento
ou acampamento, ela representa me-
nos adolescentes e jovens do campo
fora da escola, e mais gente enraizada
em seu prprio lugar (mas escolas que
abranjam toda a educao bsica ain-
da so um desafo na maioria das reas
de Reforma Agrria); por meio desta
luta, se forma a conscincia do direito
educao e a noo de pblico entre
as famlias, o que, em uma sociedade
de classes como a nossa, fundamen-
tal para garantir polticas pblicas de
interesse dos trabalhadores; em muitos
lugares, foi possvel, com esta luta es-
pecfca, recolocar a questo da educa-
o da populao do campo na agenda
de secretarias de Educao, dos conse-
lhos estaduais e do prprio Ministrio
da Educao (MEC); aprendeu-se e
ensinou-se neste processo que a escola
tem de estar onde o povo est, e que os
camponeses tm o direito e o dever de
participar da construo do seu projeto
de escola (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, 2004, p. 13).
Aos poucos, o MST passou a en-
tender que o avano de suas conquis-
tas dependia da presso por polticas
pblicas para o conjunto da populao
trabalhadora do campo. Especialmente
para conseguir escolas de ensino fun-
damental completo e de ensino mdio,
era preciso uma articulao maior com
outras comunidades do campo, porque
isso demanda uma presso mais forte
sobre as secretarias de Educao e a
sociedade poltica em geral. As expe-
rincias de pensar escolas como polos
regionais entre assentamentos e com
estudantes de outras comunidades de
camponeses aos poucos vo educando
o olhar dos trabalhadores Sem Terra
para uma realidade mais ampla. Foi
assim que o MST chegou EDUCAO
DO CAMPO.
Uma segunda caracterstica que
identifca o trabalho de educao do
MST a constituio de coletivos desde o
nvel local at o nacional. A tarefa de
mobilizao e de refexo sobre a es-
cola nos acampamentos e assentamen-
tos se iniciou com a organizao das
chamadas equipes de educao, geral-
mente compostas pelas educadoras e
outras pessoas da comunidade que de-
monstravam aptido para essa questo.
No demorou muito para que essas equi-
pes locais fossem transformadas em uma
articulao das reas de Reforma Agrria
entre si, ampliando-se para regies, che-
gando constituio dos Coletivos Esta-
duais de Educao, e, depois, a um Cole-
tivo Nacional de Educao do MST.
Os coletivos de educao, com ta-
refas, fora orgnica e discusses espe-
cfcas que podem variar a cada pero-
505
M
MST e Educao
do, fortalecem o princpio organizativo
de que a questo da educao, bem
como outras questes da vida social
assumidas pelo MST, deve ser pensada
e implantada de forma coletiva. uma
lgica que implica tarefas a serem reali-
zadas pelas pessoas, mas mediante um
planejamento e uma leitura de conjun-
tura feita por um coletivo.
Uma terceira caracterstica do tra-
balho de educao do MST tem sido a
prioridade dada formao de educadores da
Reforma Agrria, comeando pela prepa-
rao de pessoas das prprias comuni-
dades para atuar nas escolas pblicas
que foram sendo conquistadas. Ainda que
chamadas de professoras leigas na lin-
guagem educacional ofcial, a ausncia de
titulao no as impediu de participar do
processo coletivo de produo do proje-
to poltico-pedaggico que passou a ser
defendido pelo MST. Aos poucos, foram
sendo incorporadas tambm pessoas de
fora das comunidades e do movimento,
sempre que dispostas a assumir o projeto
educativo em construo.
O MST avalia que foi um acer-
to histrico ter, no incio, apostado
na formao de educadores internos,
porque isso ajudou a garantir as esco-
las nos assentamentos e, principalmente,
nos acampamentos, nos quais, por fal-
ta de professores da rede pblica dis-
postos a trabalhar nessa realidade, elas
poderiam no passar de uma conquista
ilusria. E talvez tenha sido justamente
a fragilidade do trabalho inicial o que
exigiu uma discusso mais coletiva so-
bre a concepo de escola e do prprio
envolvimento do MST como organiza-
o na formao de educadores, muitas
vezes disputando esta formao com
rgos do Estado. Este envolvimento
se desdobrou depois na luta por inicia-
tivas de escolarizao e formao es-
pecfca para professores que atuam no
conjunto das escolas do campo, como
o que se realiza hoje em cursos como o de
Licenciatura em Educao do Cam-
po (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, 2004, p. 16).
O MST desenvolve cursos formais
de formao de educadores desde
1990, primeiro de nvel mdio (magis-
trio, hoje normal mdio) e, a partir de
1998, tambm de nvel superior, como
o curso Pedagogia da Terra. O trabalho
do MST na formao de educadores
foi reconhecido pelo Fundo das Na-
es Unidas para a Infncia (Unicef),
em 1995, com o prmio Educao
e Participao. Com o impulso des-
se reconhecimento, foi realizado o
I Encontro Nacional de Educadoras
e Educadores da Reforma Agrria
(Enera) em julho de 1997, uma espcie
de apresentao pblica do trabalho
que vinha sendo desenvolvido nas es-
colas dos assentamentos, na educao
de jovens e adultos, na educao infan-
til e na formao de professores. Serviu
ainda como uma afrmao do trabalho
de educao para dentro do prprio
movimento. Planejado para reunir 400
educadores, acabou reunindo mais de
700, como fruto do ambiente criado
pela Marcha Nacional a Braslia por
Reforma Agrria, realizada de feverei-
ro a abril de 1997. O Enera incluiu uma
boa representao de professores uni-
versitrios apoiadores do trabalho do
MST nos estados. Foi desse encontro
que emergiu a proposta de se criar um
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAO NA
REFORMA AGRRIA (PRONERA).
E foi neste mesmo movimento
que o MST assumiu o protagonismo
no processo de construo das Con-
ferncias Nacionais de Educao do
Dicionrio da Educao do Campo
506
Campo de 1998 e 2004 e do Seminrio
Nacional por uma Educao Bsica
do Campo, realizado em 2002.
O trabalho com cursos formais
teve um impulso a partir da criao do
Pronera, em abril de 1998. At ento,
eram poucas turmas e em poucos luga-
res. Com o novo programa, envolvendo
universidades e institutos federais, foi
possvel alcanar uma escala maior, po-
tencializando a experincia acumulada
de formao por alternncia e vinculada
aos movimentos. O MST chega em 2011
com 1.500 educadores formados nestas
turmas especfcas e com 50 turmas em
andamento, nas diferentes reas, com
aproximadamente 2 mil educandos de
ensino mdio, tcnico e superior.
A dimenso especfca da ocupao
da universidade, que iniciou com os
cursos de educao e aos poucos foi
se estendendo para outras reas, tem
um signifcado histrico importante
na formao de um intelectual coletivo de
classe, nesse caso orgnico ao trabalho
nas reas de Reforma Agrria: campo-
neses trabalhando com camponeses. E
a combinao entre escolarizao, for-
mao poltico-ideolgica e formao
tcnica, inaugurada pelos cursos for-
mais das reas da educao e da pro-
duo, foi, aos poucos, se afrmando
como uma marca do trabalho de edu-
cao do MST.
Uma quarta caracterstica deste tra-
balho se refere atuao direta com as
crianas e os jovens dos acampamentos e dos
assentamentos para que se integrem na orga-
nicidade e identidade do movimento. Uma
das iniciativas a realizao dos cha-
mados Encontros dos Sem Terrinha,
nome criado pelos participantes de
um dos primeiros encontros para iden-
tifcarem-se ao mesmo tempo como
crianas e como Sem Terra (com letras
maisculas e sem hfen, o que indica
o nome prprio construdo no percur-
so de luta e organizao do MST). H
encontros e outras atividades com os
Sem Terrinha que envolvem tambm
adolescentes e jovens, ou que so espe-
cfcos para essa outra faixa etria, arti-
culados pelo coletivo de trabalho com
a juventude (ver INFNCIA DO CAMPO).
O MST tambm tem organizado
concursos nacionais de redao e de de-
senho, visando potencializar a dimen-
so da expresso artstica na formao
das novas geraes, atividade que ge-
ralmente se desenvolve por meio das
escolas. E, a partir de 2008, iniciou-se
a produo de um encarte especial no
Jornal Sem Terra (ferramenta de comu-
nicao do MST que completa 30 anos
em 2011) chamado Jornal das Crianas
Sem Terrinha. Na mesma perspectiva,
acontecem iniciativas de produo de
literatura especfca para a formao
da infncia e juventude.
Uma quinta caracterstica funda-
mental do trabalho de educao do
MST a construo coletiva de seu projeto
poltico-pedaggico, sistematizada em ma-
teriais de produo igualmente coletiva
e para uso no conjunto de atividades
do MST, notadamente na formao
de educadores.
Em seu percurso, o MST foi cons-
truindo uma concepo de educao,
um mtodo de fazer a formao das
pessoas e uma concepo de escola em
dilogo com teorias sociais e pedag-
gicas produzidas por outras prticas
de educao dos trabalhadores, em
diferentes lugares e tempos histri-
cos. Desde o incio da luta por escolas,
houve a preocupao de fazer e, ento,
ir pensando o que seria uma escola
diferente. Nos primeiros encontros
nacionais que se seguiram ao de 1987,
507
M
MST e Educao
duas questes foram transformadas
em eixos de refexo coletiva, com base
nas prticas e perguntas formuladas
nos estados ou em cada coletivo local:
o que queremos com as escolas dos as-
sentamentos (e dos acampamentos) e
como fazer essa escola. Dessas prticas
e refexes sobre fnalidades educativas
e mtodos pedaggicos, surgiu a for-
mulao dos princpios da educao
no MST, com um conceito j ampliado
de escola (que inclui a prpria educa-
o universitria), e foi elaborada uma
PEDAGOGIA DO MOVIMENTO.
Nessa dinmica de produzir teo-
ria acumulando experincias prticas,
merece destaque a criao do Instituto
de Educao Josu de Castro, no Rio
Grande do Sul, em 1995, que se consti-
tuiu em espao de experimentao pe-
daggica a partir de cursos vinculados
a diferentes setores do MST (produ-
o, sade, educao, formao, co-
municao e cultura). Trata-se de uma
escola que vem conseguindo construir
novas referncias para uma lgica de
organizao escolar e do trabalho pe-
daggico voltada a outros objetivos
formativos que no aqueles usualmen-
te assumidos por essa instituio na
forma de sociedade que temos.
A produo de materiais do setor
de educao expressa esse movimento de
pensar a prtica e de formular con-
cepes a partir dos embates em que
o MST est envolvido. E seu processo
de elaborao tambm traz a marca da
produo coletiva. A grande maioria
dos escritos do setor produto de mui-
tas cabeas e muitas mos, e se caracte-
riza por ser sistematizao de experin-
cias coletivas: valorizao da prtica e
de seus sujeitos, e dilogo com teorias
produzidas desde a mesma perspectiva
de classe e de ser humano.
Ao longo destes anos, o MST
produziu, ou participou da produ-
o, de aproximadamente cinquen-
ta cadernos e livros, em sua maioria
organizados em colees especficas:
Cadernos de Educao, Boletim da edu-
cao, Fazendo escola, Fazendo
histria, Concurso Nacional de
Redao e Desenho, Cadernos do Iterra,
Por uma educao do campo,
Pra soletrar a liberdade e Terra
de livros.
Percebe-se, entre os Sem Terra, que
o trabalho de educao do MST tem for-
talecido o valor do estudo como apro-
priao e produo do conhecimento, e
sua relao necessria, ainda que no
exclusiva, com o direito ao avano,
cada vez mais ampliado, da escolari-
zao. O que isso pode signifcar nos
rumos das lutas e da cultura camponesa
e da prpria formao social brasileira
algo que somente uma maior retrovi-
so histrica permitir analisar com
maior cuidado.
Um elemento fundamental para
a construo/afirmao coletiva de
uma concepo de educao foi iden-
tificar o processo de formao huma-
na vivido pela coletividade Sem Terra
em luta como matriz para pensar
uma educao centrada no desenvol-
vimento mais pleno do ser humano e
ocupada com a formao de lutado-
res e construtores de novas relaes
sociais. Isso levou a refletir sobre o
conjunto de prticas que faz o dia
a dia dos Sem Terra e a extrair dele
lies de pedagogia que permitem
qualificar a intencionalidade educa-
tiva do movimento, pondo em ao
diferentes matrizes constituidoras do
ser humano: trabalho, luta social, or-
ganizao coletiva, cultura, conheci-
mento, histria...
Dicionrio da Educao do Campo
508
Isso tambm permitiu pensar que a
escola diferente que desde o come-
o se buscava construir era uma escola
que assumisse o vnculo com esta luta,
com a vida concreta de seus sujeitos,
e partilhasse dos seus objetivos for-
mativos mais amplos. Estes objetivos
no seriam apenas da escola, visto no
ser ela capaz de realizar sozinha um
projeto educativo. Por essa razo, a es-
cola no deve ser pensada fechada em
si mesma, mas nos vnculos que pode
ter com outras prticas educativas do
seu entorno.
Desde a compreenso de sua ma-
terialidade especfica, o MST passou
a expressar (fundamentar-se em) e a
reafirmar uma concepo de educao
que vincula a produo da existncia
social formao do ser humano, con-
siderando as contradies como mo-
tor, no apenas das transformaes da
realidade social, mas da prpria inten-
cionalidade educativa, na direo de
um determinado projeto de sociedade e
de humanidade.
Por isso, costuma dizer-se que a
reflexo pedaggica do MST come-
ou dentro da escola, mas precisou
sair dela, ocupando-se da totalida-
de formativa em que se constituiu o
movimento, para a ela retornar, a par-
tir, ento, de uma viso bem mais alar-
gada de educao e de escola.
Foi assim que, aos poucos, o MST
foi consolidando sua convico de
que a escola deve ser tratada como
lugar de formao humana, e que uma
proposta de escola vinculada ao movi-
mento no pode ficar restrita s ques-
tes do ensino, devendo se ocupar de
todas as dimenses que constituem
seu ambiente educativo. A escola in-
teira deve ser pensada para educar: em
seus tempos, espaos e em suas rela-
es sociais. Nesse sentido, salienta-
se a importncia de discutir e experi-
mentar novas formas de gesto e de
trabalho coletivo, de exercitar a auto-
organizao dos estudantes, o cultivo
da mstica e de padres de cultura e
convivncia que respeitem os valores
de igualdade, justia e solidariedade,
e o modo de aprender especfico de
cada tempo de desenvolvimento hu-
mano, de cada idade.
Integra o mesmo percurso a com-
preenso de que preciso ampliar as
dimenses do trabalho educativo da
escola sem deixar de considerar a es-
pecificidade da sua tarefa em relao
ao conhecimento: os camponeses do
MST comearam essa histria sabendo
que no poderiam abrir mo da instru-
o proporcionada pela escola como
ferramenta necessria compreen-
so da realidade que lutam para co-
letivamente transformar. Porm logo
entenderam que o conhecimento de
que necessitam somente se produz na
relao entre teoria e prtica, pelo vn-
culo do estudo com o trabalho, com
as questes da vida real. E aprendem
aos poucos a defender uma concep-
o de conhecimento que d conta de
compreender a realidade como tota-
lidade, nas suas contradies, em seu
movimento histrico.
Vincular a escola a essa concepo
de educao e de conhecimento implica
fazer transformaes na forma escolar
atual, construda historicamente com
outras fnalidades sociais e a partir
de outra matriz formativa. E uma
transformao mais radical da esco-
la somente acontecer como parte de
transformaes mais amplas na prpria
sociedade que a instituiu com uma l-
gica apartada da vida, exatamente para
que suas contradies no possam ser
509
M
MST e Educao
compreendidas pela classe que pode
pretender enfrent-las.
H, no entanto, movimentos de
transformao que podem e vm sen-
do desencadeados medida que se
consegue ter uma capacidade coleti-
va de anlise das condies presentes
em cada escola concreta e se colocam
os objetivos de formao dos seus
sujeitos como centro das discusses
de mudana. O trabalho de educa-
o do MST tem buscado construir
referncias tericas e prticas da di-
reo a seguir quando o movimento
de construo de uma escola aberta
vida, em todas as suas dimenses,
e vinculada aos objetivos sociais dos
trabalhadores torna-se possvel.
Para saber mais
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. 3. ed. So Paulo: Expresso
Popular, 2004.
______ (org.). Caminhos para a transformao da escola. So Paulo: Expresso
Popular, 2010.
______; KOLLING, E. J. O MST e a educao. In: STEDILE, J. P. (org.). A Reforma
Agrria e a luta do MST. Petrpolis: Vozes, 1997. p. 223-242.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Construindo o caminho.
So Paulo: MST, 2001.
______. Educao no MST: balano 20 anos. Boletim da Educao, So Paulo,
n. 9, 2004.
______. Dossi MST ESCOLA. Documentos e estudos 1990-2001. So Paulo:
Expresso Popular, 2005. (Caderno de Educao, n. 13).
511
O
O
OCUPAES DE TERRA
Marcelo Carvalho Rosa
As ocupaes de terra so hoje a
principal estratgia de ao coletiva
adotada por movimentos sociais que
lutam pela realizao de uma reforma
agrria no Brasil. Para entender suas
principais caractersticas, importante
conhecer tambm o contexto histrico
que contribuiu para a adoo dessa
forma consagrada de reivindicar ter-
ra. De forma mais especfca, daremos
ateno ao fato de, no ltimo quartel
do sculo XX, as ocupaes terem
se transformado, por meio da ao de
movimentos sociais, em um instru-
mento fundamental para a reivindica-
o da transformao, no pas, da es-
trutura da propriedade rural, em seus
diversos aspectos.
As ocupaes de
terra paulatinas
As aes e as formas de ocupao
de terra fazem parte da histria de
confitos e controvrsias que deram
origem nao brasileira, ganhando
diversos signifcados ao longo de nos-
sa histria. Inicialmente ocupadas por
diversos povos indgenas, as terras que
viriam a constituir o territrio brasilei-
ro foram tomadas pelos colonizadores
portugueses, que, ao roubarem a terra
daqueles que nela viviam, instauraram
o latifndio como forma social e po-
ltica. A partir da imposio da agri-
cultura de exportao como modelo
produtivo, restou aos no privilegiados
indgenas, escravos e seus descentes,
e imigrantes pobres a ocupao das
reas que ainda no interessavam ao
capital, em geral as piores terras. Sem
direitos reconhecidos, essas popula-
es trataram de manter seus modos
de vida, instalando-se paulatinamente
em locais fora dos domnios das gran-
des propriedades dos senhores de terra
(Sigaud, Ernandez e Rosa, 2010). Tais
ocupaes deram origem aos atuais
territrios indgenas e aos espaos que
vm sendo ocupados pelo campesi-
nato brasileiro (que inclui categorias
como sitiantes, posseiros e ribeirinhos,
entre outras).
A maior parte desses grupos mar-
cou sua relao com a terra pela posse
(garantida pelo uso do solo) e no pela
propriedade (garantida pela aquisio
de ttulos). Ao ocuparem as terras des-
sa forma, tais grupos sociais reivin-
dicavam o direito de nelas viver, sem
necessariamente exigirem o reconheci-
mento do Estado para isso.
O sentido das ocupaes muda sig-
nifcativamente a partir da dcada de
1960, quando comeam a ser organi-
zadas coletivamente e a se voltar para a
reivindicao no apenas da posse, mas
tambm da propriedade. nesse mo-
mento que passam a estar diretamente
associadas s reivindicaes por Refor-
ma Agrria.
Ocupar e acampar
Na dcada de 1960, as primeiras
ocupaes que visavam redistribuio
Dicionrio da Educao do Campo
512
de reas rurais para famlias de traba-
lhadores sem-terra eram chamadas de
invases. Naquele perodo, os estados
do Rio Grande do Sul e do Rio de
Janeiro foram palco de movimentos or-
ganizados cujo objetivo era no apenas
o uso, mas a desapropriao e a redis-
tribuio de reas privadas por parte do
Estado, para a realizao de projetos
de colonizao e de Reforma Agrria.
nesse momento que, pela primeira
vez, a ocupao de terras seguida pela
montagem de acampamento.
No Rio Grande do Sul, a primei-
ra invaso em forma de acampamento
ocorreu na fazenda Sarandi um dos
maiores latifndios do estado, com
cerca de 22 mil hectares , em janei-
ro de 1962. Organizada por polticos
e famlias de agricultores da cidade de
Nonoai (distante cerca de 100 quil-
metros da ocupao), a entrada na fa-
zenda recebeu posteriormente apoio
de diversas foras sociais, como o Mo-
vimento dos Agricultores Sem Terras
(Master) e parte do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), partido que governa-
va o estado naquele momento. Mon-
tadas inicialmente na margem entre
a estrada e uma rodovia estadual, as
barracas logo transpuseram as cercas
da fazenda e chegaram a reunir mais
de mil famlias. Alm das famlias de
Nonoai, o acampamento serviu para
atrair outras pessoas da regio (nas cer-
canias do municpio de Ronda Alta),
que tambm passaram a reivindicar
terras. Todas as famlias acampadas no
local foram cadastradas pelo governo
estadual, na poca comandado por
Leonel Brizola. O cadastramento das
famlias e o assentamento de parte delas
em 1963 levaram constatao de que
a invaso e o acampamento poderiam
ser reconhecidos como formas legtimas
de reivindicar terras ao Estado. Naquele
momento, ocupar transformou-se nu-
ma forma possvel de reivindicar.
Aps a fazenda Sarandi, ao longo
do ano de 1962, outras 18 reas foram
invadidas, por grupos organizados pelo
Master. De todas essas reas, apenas
o chamado Banhado do Colgio, na
cidade de Camaqu, acabou abrigando o
futuro assentamento dos acampados.
Essas lutas, que tambm ocorreram
em outras partes do Brasil (como no
Norte e na Baixada fuminenses, alm de
em vrios estados do Nordeste do pas,
por meio de sindicatos de trabalhadores
rurais e das Ligas Camponesas), fo-
ram fundamentais para que em 1964
fosse proclamado o Estatuto da Terra,
que previa, pela primeira vez em nossa
histria, a desapropriao de proprie-
dades rurais que no tivessem uso so-
cial adequado.
Aps o longo perodo de represso
da ditadura militar, as ocupaes de ter-
ra e a montagem de acampamentos fo-
ram novamente retomadas, em 1978,
no Rio Grande do Sul. Nessa ocasio,
expulso das terras demarcadas para a
Reserva Indgena Kaingang, um grupo
de cerca de 700 famlias de agricultores
da mesma cidade de Nonoai, depois da
tentativa fracassada de ocupar uma rea
no prprio municpio, decidiu ocupar
reas da fazenda Sarandi que no ha-
viam sido utilizadas para assentamen-
to em 1963. Aps cinco ocupaes e
acampamentos montados e reprimidos
pela polcia, o governo estadual reco-
nheceu o di rei to dos trabal hadores
rurais quelas terras, formando-se os
assentamentos Macali I, Macali II e
Brilhante. A luta das famlias assenta-
das no Brilhante e nas duas reas da
gleba Macali, mobilizada por assenta-
dos, sindicalistas e agentes pastorais,
513
O
Ocupaes de Terra
serviu para que milhares de outras
famlias na mesma situao formas-
sem o acampamento da Encruzilhada
Natalino, sobre uma pequena extenso
de terras de um agricultor que havia
sido assentado no Macali I.
As ocupaes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra
Podemos afrmar que o uso do ter-
mo ocupao de terras no seu sentido
contemporneo foi cunhado pelo Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST). O uso do termo ocupa-
o foi estratgico na formulao das
bases de justificao e legitimao
do MST e na demanda pela realiza-
o da Reforma Agrria no Brasil.
Se o termo invaso, utilizado ao
l ongo dos anos 1960 e 1970, trazi a
consigo tons pejorativos e denotava
prtica considerada ilegal no que diz
respeito ao direito de propriedade, o
uso do substantivo ocupao indica ou-
tro cenrio. Ao usar o termo ocupao,
o MST se refere ao direito constitucio-
nal de todo cidado brasileiro de ter
acesso terra, conforme o Estatuto da
Terra (lei n 4.504, de 30 de novembro
de 1964), que, em seu artigo 2, assegu-
ra a todos a oportunidade de acesso
propriedade da terra, condicionada
pela sua funo social (Brasil, 1964).
As ocupaes de terra realizadas
no incio da dcada de 1980 no Rio
Grande do Sul e no Rio de Janeiro con-
triburam signifcativamente para que o
primeiro governo no militar em qua-
renta anos lanasse, em 1985, o Plano
Nacional de Reforma Agrria (PNRA).
Nesse mesmo ano, em resposta s ocu-
paes, surgiram reaes conservado-
ras, com a formao da Unio Demo-
crtica Ruralista (UDR), que organizou
os latifundirios de diversas partes do
pas para o embate poltico que se deu
na Assembleia Nacional Constituinte
e que acabou por limitar as intenes
previstas no PNRA (ver ORGANIZAES
DA CLASSE DOMINANTE NO CAMPO).
A relao das ocupaes com o di-
reito constitucional fca clara quando
percebemos que os nmeros desse tipo
de mobilizao cresceram exponencial-
mente no Brasil aps a regulamentao
dos dispositivos constitucionais rela-
tivos Reforma Agrria, previstos no
captulo III, ttulo VII, da Constitui-
o Federal. Aprovada em 1993, a lei
n 8.629 defne critrios de produtivi-
dade e de uso do solo em propriedades
rurais para que elas sejam consideradas
produtivas. A mesma lei tambm defne
as formas de desapropriao e dis-
tribuio das terras consideradas im-
produtivas ou que no cumprem sua
funo social.
Outro marco constitucional vincula-
do s ocupaes a medida provisria
n 2.183-56, de 24 de agosto de 2001,
editada no Governo Fernando Henrique
Cardoso, perodo em que o Brasil regis-
trou o maior nmero de ocupaes de
terra, at os dias atuais. Essa medida pro-
visria reviu pontos cruciais do Estatuto
da Terra e da lei n 8.629. Alm de excluir
todas as terras ocupadas do PNRA, ela
impede o acesso aos recursos pblicos
de qualquer movimento ou grupo orga-
nizado que promova ocupaes de terra.
Essa poltica de criminalizao da ao
dos movimentos sociais contribuiu para
a retomada dos acampamentos em reas
externas a propriedades que no cum-
priam a sua funo social, quando no
havia regulamentao dos critrios para
desapropriao previstos no Estatuto.
Dicionrio da Educao do Campo
514
Desde a sua fundao, o MST ocu-
pa e realiza acampamentos para reivin-
dicar o uso socialmente justo de pro-
priedades pblicas e privadas que no
cumpram a sua funo social, seja em
relao aos nveis de produtividade,
seja no que diz respeito conserva-
o dos recursos naturais, ou, ainda, em
termos de relaes justas entre traba-
lhadores rurais e patres.
Nesse sentido, as ocupaes de ter-
ra tm servido ao menos para dois fns:
a) promover o direito do acesso terra
para quem deseje fazer um uso social
justo de sua propriedade; b) estabelecer
limites ao direito de propriedade em
casos de uso meramente especulativo
do solo brasileiro, de cultivos ilegais
e da explorao ilegal de trabalhadores
(trabalho escravo).
Outra faceta importante das ocu-
paes de terra no Brasil a demons-
trao do protagonismo dos movimen-
tos sociais na criao de agendas para o
Estado. Apesar dos diversos planos de
Reforma Agrria criados pelos gover-
nos estaduais e nacional ao longo dos
ltimos quarenta anos, as ocupaes
foram e continuam sendo, na prtica,
a nica forma de o Estado identifcar
que uma terra no cumpre sua funo
social. Em meio ao vasto conjunto de
fazendas que deveriam ser desapro-
priadas pelo governo, a ocupao assi-
nala as terras em que as famlias dese-
jam ser assentadas. Nas ocupaes, ao
fazerem a denncia simultnea de um
direito que lhes negado e das ilegali-
dades perpetradas pelos latifundirios,
e durante sculos acobertadas pelos
governos de nosso pas, as famlias
que desejam ter acesso terra passam
a integrar as listas de possveis bene-
fcirios de projetos de assentamento
rural. Depois desses primeiros rduos
passos, a espera tem sido longa, como
bem o sabem os acampados que vivem
hoje embaixo de uma lona, aguardando
o seu assentamento.
Para alm da luta pela Reforma
Agrria, atualmente as ocupaes so
parte do repertrio de ao poltica
de diversos movimentos sociais, ru-
rais e urbanos. Desde os anos 1990,
foi possvel perceber que as lutas por
moradia, por crditos para a pequena
produo, contra a construo de bar-
ragens e a remoo de famlias tm se
valido desse modo de reivindicar para
chamar ateno do Estado. Quando as
ocupaes de terras e terrenos no sur-
tem os efeitos desejados, os movimen-
tos sociais tm recorrentemente ocu-
pado tambm prdios pblicos como
forma de estabelecer negociaes com di-
versos governos.
Para saber mais
BRASIL. Lei n 4.504, de 30 de novembro de 1964: dispe sobre o Estatuto da
Terra e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 31 nov. 1964. Dis-
ponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm. Acesso em:
16 set. 2011.
SIGAUD, L.; ERNANDEZ, M.; ROSA, M. C. Ocupaes e acampamentos: sociognese das
mobilizaes por Reforma Agrria no Brasil. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
515
O
Oramento da Educao e Supervit
O
ORAMENTO DA EDUCAO E SUPERVIT
Gabriel Grabowski
Jorge Alberto Rosa Ribeiro
A organizao estrutural de uma so-
ciedade capitalista dependente e subor-
dinada como a brasileira se refete na
poltica e no fnanciamento da educa-
o. O fato de sermos uma das socie-
dades com maior concentrao de ri-
queza, e uma das mais desiguais do mun-
do, tem como consequncia a oferta
de educao desigual para classes desi-
guais e a distribuio desigual de recur-
sos. Portanto, as polticas de fnancia-
mento e de distribuio dos recursos
em sociedades capitalistas precisam ser
estudadas e interpretadas no como ca-
tegorias isoladas, mas no seu conjunto,
na sua totalidade (Frigotto, 1983).
Cabe salientar que a gesto dos
fundos pblicos e o fnanciamento e o
oramento da educao so revelado-
res das prioridades que o capital induz
o Estado a implementar e permitem
refetirmos sobre a natureza, a fnalida-
de e as prioridades estabelecidas pelos
agentes de implementao de polti-
cas e programas sociais e educativos.
Para Dias Sobrinho: O fnanciamento
uma questo crucial no quadro das
mudanas de relaes entre o Estado
e as instituies educacionais, especial-
mente as pblicas. As novas formas
de fnanciamento apresentam algumas
caractersticas especfcas e to impor-
tantes que acabam dando o tom aos con-
tedos das reformas (2002, p. 172).
Historicamente, ao longo do sculo
XIX, importantes lutas sociais tiveram
como resultado a transformao dos
Estados monrquicos e absolutistas,
de forte carter aristocrtico, em Es-
tados republicanos e representativos,
inclusive na Amrica recm-indepen-
dente. Ao contrrio do que acontecia
nos Estados absolutistas e monrqui-
cos, que no tinham compromisso com
gastos pblicos e sociais, os Estados
republicanos prometiam realiz-los.
Entretanto, o atendimento dos inte-
resses populares fcou na promessa,
apesar de ser da cobrana de impostos
do povo que os Estados sobrevivem.
A constituio dos Estados republi-
canos tornou os interesses dominan-
tes da burguesia liberal prioritrios e
apresentados como representativos
do povo, destinando os gastos dos
Estados para a satisfao das necessi-
dades, dos problemas e dos interesses
associados com a estruturao de so-
ciedades urbanas e industriais capitalis-
tas competitivas e capazes de acumular
e reproduzir o capital. Esse interesse
estava acima do interesse genuinamen-
te popular. Isso explica por que a oferta
de servios e bens pblicos, como
os de educao, sade e saneamento, no
atendia a todos. De modo complemen-
tar, essa burguesia justifcava a precria
distribuio pblica dos servios e dos
bens pblicos pela naturalizo das de-
sigualdades sociais conforme a origem
social de cada um. Na radicalizao das
lutas sociais, que ganharam um conte-
do mais democrtico em alguns pases
nas primeiras dcadas do sculo XX, as
receitas oriundas da economia popular,
Dicionrio da Educao do Campo
516
obtidas por meio de tributos, impos-
tos e taxas, tornaram possvel promover
e garantir, para todos, a oferta de servi-
os e de bens pblicos, como os referi-
dos anteriormente.
Os Estados, alm disso, tinham ou-
tros gastos vistos como prioritrios, os
quais, de modo corriqueiro, implicavam
pedir emprstimos para sald-los. O en-
dividamento do Estado pode ser reco-
nhecido como a marca mais caracte-
rstica da prpria existncia do Estado
republicano liberal, burgus e capitalis-
ta. Assim, atender o endividamento pas-
sou a ser prioritrio ora por razes de
guerra religiosa ou ideolgica, ora por
causa das frequentes crises econmicas
e outros confitos. O sculo XX est ca-
racterizado fundamentalmente por um
conjunto histrico que tornou os inte-
resses, as necessidades e os problemas
populares secundrios em relao s
prioridades da nao em confito.
Uma vez que a dvida pblica
do Estado tem o seu suporte nas re-
ceitas do Estado, que tem que cobrir
os pagamentos anuais por juros etc.,
o sistema de impostos moderno foi o
complemento necessrio do sistema
de emprstimo nacional (Marx, 1983,
p. 150). A formulao desta ideia h qua-
se cento e cinquenta anos ainda escla-
rece os dias atuais. Marx, ao reconhecer
no endividamento pblico um dos pro-
cessos histricos da acumulao primi-
tiva, explicitou o mecanismo de sua rea-
lizao: o sistema de impostos est a
servio da cobertura dos pagamentos
da dvida pblica. Assim, a populao
mantinha um sistema de impostos para
viabilizar um conjunto de bens e servi-
os pblicos, muitas vezes em estado
precrio ou de extrema inoperncia, e
destinava grande parte do oramento
pblico, prioritariamente, para o paga-
mento da dvida, tornando o pas con-
fvel do ponto de vista dos credores
nacionais e internacionais.
Esta ideia est viva, como compro-
va o caso brasileiro, pois, na consulta
ao stio da Agncia Cmara de Not-
cias em busca das expresses legislati-
vas da Cmara Federal, l-se que con-
tingenciamento signifca o bloqueio
de despesas previstas no Oramento
Geral da Unio.
1
Esse procedimento
empregado pela administrao fede-
ral para assegurar o equilbrio entre a
execuo das despesas e a disponibili-
dade efetiva de recursos. As despesas
so bloqueadas a critrio do governo,
que as libera ou no, dependendo da
sua convenincia. Essa convenincia
tornou-se lei. Desde 1999, este pro-
cedimento vem sendo aplicado respei-
tando a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que afrma claramente a necessidade
de garantir que as contas pblicas pro-
duzam um ndice chamado supervit pri-
mrio do setor pblico, ou seja, sinaliza
o quanto a receita da Unio, dos estados e
municpios e das empresas estatais deve
ser maior do que as suas despesas, o que,
por sua vez, representa uma garantia do
pagamento dos juros da dvida pblica.
Dito de outra forma, entende-se por
supervit primrio uma relao entre a
receita e as despesas pblicas na qual
o total da receita do governo maior do
que os seus gastos no fnanceiros, ex-
cludos os gastos fnanceiros destinados
ao atendimento do pagamento de juros
e encargos com a dvida pblica. Este n-
dice, sendo positivo (supervit), sinaliza
aos que emprestam ao Estado a capaci-
dade que ele tem de pagar a sua dvida,
tanto o valor principal quanto os juros
que incidem sobre o estoque da dvida.
Toda vez que este ndice corre o ris-
co de ser negativo (dfcit), passando os
517
O
Oramento da Educao e Supervit
gastos a serem maiores do que a recei-
ta, aplicado o contingenciamento, o
bloqueio de despesas. Como afrma
o boletim intitulado Polticas sociais
acompanhamento e anlise, publicado pelo
Instituto de Pesquisa Econmica Apli-
cada (Ipea), em fevereiro de 2006:
Em face dessa conjuntura, no
de estranhar que prevalea a
rgida subordinao das polti-
cas sociais s polticas fscal e
monetria em curso. Alm do
alto custo fscal que advm des-
sa estratgia de estabilizao,
que obriga o governo federal a
esterilizar e transferir recursos
do lado real da economia (como
o so, por exemplo, os investi-
mentos e gastos em programas
sociais) para um tipo de gesto
fnanceirizada da dvida pblica,
h efeitos perversos que se ma-
nifestam tanto na desacelerao
do nimo capitalista para novos
investimentos como na valoriza-
o cambial, que pode reduzir o
saldo exportador, justamente
os dois motores do crescimento
econmico recente. (Instituto
de Pesquisa Econmica Aplica-
da, 2006, p. 8)
Nesse sentido, o pas arrecada por
meio de uma estrutura tributria extrema-
mente injusta, que onera excessivamen-
te os trabalhadores e consumidores,
ao mesmo tempo que economiza jus-
tamente na oferta de bens e servios
destinados a atender esses grupos: ao
priorizar o pagamento da dvida, deixa
sistematicamente de gastar em progra-
mas e aes governamentais essenciais
para o bem-estar de sua populao.
Paralelamente, o atendimento pol-
tica de supervit primrio desestimula,
como j observado, novos investimen-
tos, j seja pela prpria reduo dos
montantes a serem aplicados, ou seja
por promover a iseno de tributos
futuros como forma de financiar os
novos investimentos.
At o ano passado, o bloqueio de
despesas, tambm chamado de Des-
vinculao da Receita da Unio (DRU),
podia incidir inclusive sobre aqueles
investimentos destinados educao,
ainda que os mesmos estivessem pre-
vistos no Oramento Geral da Unio.
Do ano 2000 at hoje, depois de 11
anos e da economia de algumas de-
zenas de bilhes de reais, os recursos
destinados educao no podem mais
ser contingenciados de recursos prove-
nientes das receitas da Unio, estados
e municpios. Conforme o boletim
do Ipea, a
[...] Emenda Constitucional [EC]
n 59 j se antecipou e estabe-
leceu a eliminao gradual dos
recursos retidos pela Desvin-
culao das Receitas da Unio
(DRU) em relao ao montante
que deve ser aplicado anualmen-
te pela Unio. Desse modo, f-
cou estabelecido que em 2009 o
percentual a ser retido pela DRU
cairia para 12,5%; em 2010, para
5%; e em 2011, seria nulo. At a
aprovao da EC n
o
59, a legisla-
o previa a manuteno integral
da DRU at o fm de 2011 o
que signifcava permitir a desvin-
culao de at 20% do total de
impostos arrecadados pela Unio
para aplicao discricionria por
parte do governo, independente-
mente das vinculaes previstas
na Constituio Federal de 1988.
(Instituto de Pesquisa Econmi-
ca Aplicada, 2006, p. 130)
Dicionrio da Educao do Campo
518
A Constituio Federal de 1988
expressa que a educao um direito
social e responsabiliza o Estado e a
famlia pelo seu provimento. Para res-
guardar o direito educao, o Estado
estabeleceu a estrutura e as fontes de
fnanciamento. Ao determinar a vin-
culao de recursos fnanceiros para a
educao, a Constituio garantiu per-
centuais mnimos da receita, resultantes
de impostos, manuteno e ao desen-
volvimento do ensino: 18% da receita
de impostos da Unio e 25% da receita de
impostos dos estados, do Distrito
Federal e dos municpios, incluindo-se
as transferncias ocorridas entre esferas
de governo e o salrio-educao. Desta
forma, o fnanciamento da educao
pblica est alicerado, de um lado, por
um conjunto de fontes de recursos
fnanceiros protegidos (receita de im-
postos, vinculaes, salrio-educao)
e, de outro, por um fnanciamento
fexvel (contribuies sociais, con-
cursos de prognsticos, emprstimos,
alocaes oramentrias etc.).
A vinculao pura e simples de im-
postos, excluindo gradativamente ou-
tros mecanismos de arrecadao, como
taxas e contribuies sociais, agregada
aos contingenciamentos e s diversas
interpretaes de gastos que podem
ser considerados dentro dos percen-
tuais, permite que os entes federados,
quando lhes falta compromisso tico-
poltico, no cumpram sequer os va-
lores vinculados constitucionalmente.
Tambm a vinculao no representa
nem a real necessidade nem a poten-
cialidade do pas, expressa no produ-
to interno bruto (PIB) e na riqueza
acumulada por empresas e indivduos,
tanto que, mesmo sendo uma das maio-
res economias do mundo, no somos os
maiores investidores em educao, alm
de permitirmos que um seleto grupo de
bilionrios constitua fortunas exorbitan-
tes, sem tax-los proporcionalmente.
Segundo Nelson Amaral (2011),
pesquisador do fnanciamento da edu-
cao no Brasil, necessrio utilizar,
pelo menos, duas outras variveis fun-
damentais: o valor do PIB do pas e o
tamanho do alunado a ser atendido.
Neste sentido, temos uma populao
educacional de 84,4 milhes de habi-
tantes (45% da populao), com um
PIB de 3,675 trilhes de reais em 2010,
quando se investiram 81 bilhes de re-
ais em educao, ou seja, 5% do PIB.
O clculo dos investimentos em
educao ainda gera muitas dvidas
e controvrsias. Enquanto o Minist-
rio da Educao (MEC) e o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep) divulgam um gasto di-
reto de 5% do PIB e um gasto indireto
de 5,7% do mesmo (considerando ina-
tivos, previso de aposentadorias fu-
turas etc.), a Organizao das Naes
Unidas para a Educao, a Cincia e a
Cultura (Unesco), em estudos recentes
(United Nations Educational, Scientifc
and Cultural Organization, s. d.), atri-
bui ao Brasil um investimento de 4%.
O Plano Nacional de Educao (PNE
2001-2011) previa uma meta de 7%, ve-
tada pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso; e o novo proj eto de l ei
n
o
8.035/2010 (proposta de PNE para
o perodo 2011-2021) prope atingir
progressivamente 7% at 2020, com
avaliao em 2015, contrariando a pro-
posta aprovada na Conferncia Na-
cional de Educao (Conae) de atingir
7% em 2011 e 10% at 2014.
importante destacar que o fnan-
ciamento no s alocao de recur-
sos fnanceiros para a educao um
conjunto de medidas e de outros ins-
519
O
Oramento da Educao e Supervit
trumentos de gesto que impe objeti-
vos comuns estabelecidos. Financiar a
educao no um fm em si mesmo,
mas um meio para um fm maior: uma
poltica nacional de Estado para a edu-
cao. No existe um modelo ideal de
fnanciamento, tudo depende dos obje-
tivos da poltica de educao em razo
do projeto social, econmico e polti-
co do pas, dos jovens estudantes, das
famlias, do mundo do trabalho, enfm,
da sociedade, cabendo ao Estado no
apenas fnanciar e prover os recursos,
mas tambm coordenar, supervisionar,
induzir e articular os programas e os ou-
tros setores potenciais fnanciadores.
Em Escola no um empresa: o neolibe-
ralismo em ataque ao ensino pblico, Christian
Laval alerta que se ns ainda no esta-
mos na liquidao brutal da forma esco-
lar como tal, ns assistimos seguramente
a uma mutao da instituio escolar que
se pode associar a trs tendncias: uma
desinstitucionalizao, uma desvalorizao
e uma desintegrao (2004, p. xviii). A
desinstitucionalizao decorre do modelo de
escola como empresa aprendiz, gerida
por princpios do novo gerenciamento e
submetida obrigao de resultados e de
inovaes; a desvalorizao acontece quan-
do os valores clssicos de emancipao
poltica e de expanso pessoal so substi-
tudos pelos imperativos prioritrios de
efccia produtiva e de insero social;
e a desintegrao, por sua vez, ocorre na
medida em que se introduzem meca-
nismos de mercado no funcionamento
da escola, por meio da promoo da
escolha da famlia, ou seja, de uma
concepo consumidora da autonomia
individual, em diferentes formas de
consumo educativo, reproduzindo as
desigualdades sociais.
No plano das formulaes de pol-
ticas e programas de educao do cam-
po, muito ntida a disputa de interes-
ses das elites econmicas e privados
sobre a escola, sobre os seus programas
e, at, sobre a sua funo social. Se-
gundo algumas pesquisas (Grabowski,
2010; Grabowski e Ri bei ro, 2007;
Cunha, 2007), a descontinuidade com-
prova, por um lado, a ausncia de
uma poltica nacional de educao
poltica que deveria ser construda
pelo conjunto da sociedade, como sn-
tese possvel que represente um pro-
jeto de nao , e revela, por outro,
que governar com base em programas
e projetos uma forma mais flexvel
de repassar recursos pblicos para a
esfera privada.
No contexto brasileiro de um mo-
delo de financiamento da educao
baseado em recursos protegidos
mediante as vinculaes de impostos
e recursos fexveis, que dependem
da conjuntura poltica (prioridade de
governo), da economia, da balana co-
mercial (supervit), da infao (cortes
oramentrios e contingenciamentos) e
da prioridade da poltica, nossa educa-
o fca dependente da capacidade de
fnanciamento da economia, do Estado
e dos governantes (gestores), pois, re-
gularmente, os percentuais mnimos de
investimentos em educao estabeleci-
dos no so integralmente aplicados ou
esto suscetveis a contingenciamentos,
sendo alocados mais por critrios pol-
ticos do que de acordo com as necessi-
dades sociais.
Notas
1
Ver http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/73423.html.
Dicionrio da Educao do Campo
520
Para saber mais
AMARAL, N. C. O novo PNE e o fnanciamento da educao no Brasil: os recursos como
um percentual do PIB. In: SEMINRIO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAO
(CNE). Anais... Braslia: MEC, 2011.
CUNHA, L. A. O desenvolvimento meandroso da educao brasileira entre o
Estado e o mercado. Educao e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 809-829, out.
2007.
DIAS SOBRINHO, J. Universidade e avaliao: entre a tica e o mercado. Florianpolis:
Insular, 2002.
FRIGOTTO, G. Poltica e fnanciamento da educao: sociedade desigual, distribui-
o desigual de recursos. Cadernos do Cedes, n. 5, p. 3-17, 1983.
GRABOWSKI, G. Financiamento da educao profssional no Brasil: contradies e desa-
fos. 2010. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao, Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2010.
______; RIBEIRO, J. A. R. Financiamento da educao profssional no Brasil: contradi-
es e desafos. In: CONFERNCIA NACIONAL DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNO-
LGICA, 1. Anais... Braslia: MEC/Setec, 2007.
HOBSBAWM, E. Historia del siglo XX. Barcelona: Grijalbo Mondadori, 1995.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONMICA APLICADA (IPEA). Polticas sociais acompa-
nhamento e anlise, n. 12, fev. 2006. Disponvel em: http://www.ipea.gov.br/
sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps_12/bps%2012_completo.pdf. Acesso
em: 20 set. 2011.
LAVAL, C. A escola no uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino pblico.
Londrina: Planta, 2004.
MARX, K. Acumulao primitiva. In: ______; ENGELS, F. Obras escolhidas. Lisboa:
Avante, 1983. V. 2, p. 104-158.
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO).
INSTITUTE FOR STATISTICS. Data Centre. Montral: Unesco Institute for Statis-
tics, [s.d.]. Disponvel em: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/
document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng. Acesso em: 18 nov. 2011.
521
O
Organizaes da Classe Dominante no Campo
O
ORGANIZAES DA CLASSE DOMINANTE
NO CAMPO
Regina Bruno
Elaine Lacerda
Olavo B. Carneiro
Alguns traos marcam a identidade
de classe e a organizao poltica do
patronato rural no Brasil: a multiorga-
nizao, a representao direta, o em-
penho na construo da unio de todos
acima dos interesses de cada frao, a
exigncia de um Estado provedor
e protetor convivendo com a defesa
do mercado, a viso da propriedade da
terra como direito absoluto, o discurso
da solidariedade entre as classes sociais
no campo e a violncia como prtica de
classe. So traos defnidores da pr-
tica poltica e da retrica de legitima-
o dos grandes proprietrios de terra
e dos empresrios rurais e do agro-
negcio no Brasil e que muito contri-
buem para o exerccio da dominao e
a explorao de classe.
Procuraremos apresentar resumi-
damente neste verbete esses traos
caractersticos da organizao e da re-
presentao poltica do patronato rural
no Brasil. Em seguida, elencaremos as
instncias de organizao e de repre-
sentao mais signifcativas. Por anun-
ciar uma nova confgurao na repre-
sentao de interesses e construo da
hegemonia, ser dada ateno especial
Associao Brasileira do Agroneg-
cio (Abag). Finalmente, ressaltaremos
alguns elementos defnidores da prti-
ca poltica e da retrica de legitimao
patronal rural nos anos recentes.
Multiorganizao
Frequentemente uma mesma frao
de classe, setor produtivo ou porta-
voz participa, concomitantemente, de
vrias instncias de representao. Es-
sas fraes integram a estrutura sindi-
cal patronal ofcial, representada pela
Confederao Nacional da Agricultura
e Pecuria do Brasil (CNA). So mem-
bros da Organizao das Cooperativas
Brasileiras (OCB) e da tradicional So-
ciedade Rural Brasileira (SRB). Par-
ticipam da Associao Brasileira do
Agronegcio (Abag) e integram as in-
meras associaes por produto e mul-
tiproduto criadas nas ltimas dcadas,
juntamente com a consolidao das ca-
deias produtivas. E os representantes
patronais de maior poder econmico e
poltico tm assento nos conselhos das
Federaes da Indstria e do Comrcio
ligada agricultura.
Em defesa do monoplio fundi-
rio e contra as crticas sobre o uso
do trabalho escravo, grandes proprie-
trios de terra e empresrios rurais e
do agronegcio tambm se sentem-se
representados pela Unio Democrtica
Ruralista (UDR), pela ento denomina-
da Bancada Ruralista e pelos inmeros
grupos de defesa da propriedade da
terra que costumam despontar como
reao s lutas por terra, demanda
Dicionrio da Educao do Campo
522
por uma reforma agrria e reivindi-
cao do movimento quilombola pelo
direito ao territrio. A prtica da mul-
tiorganizao em muito contribui para
neutralizar a segmentao de interesses
e para a construo do consenso.
Representao direta
Quase sempre so os proprietrios
de terras e empresrios rurais e do
agronegcio que se fazem diretamente
representar quer no Congresso Nacio-
nal e em agncias do Estado, ocupando
postos federais, quer na sociedade civil.
Com frequncia, so os melhores qua-
dros polticos que assumem o papel de
porta-vozes dos interesses patronais.
Dentre os exemplos mais expres-
sivos, temos Roberto Rodrigues, pro-
prietrio de terras, empresrio rural e
ex-ministro da Agricultura e Pecuria
(2003-2006), e Luiz Fernando Furlan,
empresrio brasileiro, acionista e neto do
fundador do grupo Sadia, e ex-ministro
do Desenvolvimento, Indstria e Co-
mrcio Exterior (2003-2007). A Banca-
da Ruralista no Congresso Nacional
outro exemplo de representao direta
em que se destacam o mdico agrope-
cuarista Ronaldo Caiado (DEM/GO),
o agropecuarista e empresrio rural
Abelardo Lupion (DEM/PR), o rura-
lista convicto e dono de terras Moacir
Micheletto (PMDB/PR), o arrozeiro
Paulo Csar Quartiero (DEM/RR) e a pro-
prietria de terras, empresria pecuarista e
senadora Ktia Abreu (DEM/TO).
Unio acima das
divergncias de cada
frao, grupo ou setor
As classes dominantes do campo
diversifcadas e heterogneas frequen-
temente apresentam interesses confi-
tantes. Assim, nas cadeias produtivas,
muitas vezes o lucro de um setor re-
presenta o prejuzo de outro, e as con-
dies de acumulao dos grupos so
diferenciadas tanto jusante quanto
montante, ou quando situadas dentro
da porteira da fazenda. Alm disso, de
outra perspectiva, sempre foi intensa a
disputa pela primazia da representao
de classe.
Entretanto, quando se sentem
ameaados em seus privilgios e in-
teresses comuns, como o caso da
defesa da concentrao de terras, to-
dos se unem, pois sabem que a unio
condio primeira da reproduo
social e do exerccio da dominao e
da explorao. Por essa razo, na dis-
puta poltica e nas divergncias eco-
nmicas esto contidos os acordos e
as alianas. E em nenhum momento
da histria brasileira ouvimos falar de
interesses conflitantes e divergncias
sobrepondo-se unio de todos.
Por um Estado tutelar e
protetor dos interesses
patronais
Mais mercado e menos Estado,
reivindicam os porta-vozes do patro-
nato rural, para quem a livre inicia-
tiva a garantia para a construo
de uma nova institucionalidade. En-
tretanto, ainda prevalece, como ele-
mento norteador da prtica patronal,
a defesa de um Estado tutelar, protetor
e provedor, assim como a cultura do fa-
vor, as relaes ofciosas e a valorizao
dos velhos recursos de patronagem
em grande medida realimentados pelo
prprio Estado convivendo lado a
lado com relaes legais e ofciais.
Ademais, na viso do patronato ru-
ral, o Estado seria o nico culpado pela
523
O
Organizaes da Classe Dominante no Campo
pobreza e m distribuio de renda e de
recursos, pelo recrudescimento da vio-
lncia no campo e pelo aparecimento
do Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST).
A defesa da livre iniciativa ou a exi-
gncia da proteo do Estado depen-
der do que melhor convier aos pro-
psitos patronais e do que melhor se
ajustar aos seus objetivos. No Brasil
tem-se a moral que convm produo
que se deseja, declara um porta-voz
patronal (Bruno, 2002, p. 16).
Propriedade como direito
absoluto e incontestvel
Outro trao comum das classes do-
minantes no campo a viso de pro-
priedade como direito absoluto, in-
contestvel e naturalmente herdado.
Alm disso, da grande propriedade
fundiria teriam surgido os principais
valores da sociedade brasileira: a au-
dcia e a bravura. So atributos que,
em certo sentido, carregam consigo
aquilo que Oliveira Viana caracteriza,
em seu livro Populaes meridionais do
Brasil (2000), como os elementos ideo-
lgicos do domnio que nega a dimen-
so social da propriedade da terra.
A violncia como
prtica de classe
Associada noo de propriedade
da terra como domnio, temos a violn-
cia como prtica de classe. Seja fsica ou
simblica, uma violncia estruturante
que expe velhos e novos padres de
conduta e de pensamento, e impede
o reconhecimento do outro mediante o
uso da fora ou da coero.
No se trata de uma postura indi-
vidual e espordica, e sim de uma vio-
lncia ritualizada e institucionalizada,
que implica a formao de milcias, a
contratao de capangas, uma lista dos
marcados para morrer e os massacres.
E que exige o comprometimento de
todos. No entanto, quando necessrio,
disputam politicamente os trabalhado-
res do campo e lanam mo do discur-
so da solidariedade de classe e da ami-
zade entre patres e empregados como
instrumento de cooptao.
Entidades de
representao e ao
coletiva do patronato rural
A prioridade da organizao na de-
fesa de seus interesses sempre foi uma
preocupao das classes dominantes do
campo no Brasil, remontando prpria
constituio dos grandes proprietrios
de terra, dos empresrios rurais e do
agronegcio como classe. As primeiras
entidades surgem no incio do sculo
XIX, com as experincias dos Clubes
de Lavoura e as Sociedades Auxilia-
doras, que nasceram de difculdades
localizadas visando interesses muito
particulares e tiveram curta durao
(Brito, 1991, p. 3).
Dentre as entidades tradicionais
mai s si gni fi cativas, destacam-se a
Sociedade Nacional de Agricultura,
a Confederao Rural Brasileira e a
Sociedade Rural Brasileira.
Em 1897, criada a Sociedade
Nacional de Agricultura, que despon-
ta com a fnalidade de desenvolver
aes polticas e educacionais em prol
da agricultura brasileira. A entidade
estimulou a fundao de sindicatos e
de associaes patronais vinculados a
distintos ramos produtivos e em vrias
regies do pas [...]. Tal postura con-
sistia em uma estratgia para aumentar
a presso pela criao do Ministrio
Dicionrio da Educao do Campo
524
da Agricultura, uma das principais de-
mandas pleiteadas pela SNA no pero-
do (Ramos, 2011, p. 31). Nas ltimas
dcadas, a SNA transformou-se em
instncia de mediao de interesses e
de neutralizao de confitos patronais
rurais. Hoje, ela se autodefine como
uma entidade na qual a tradio e a
modernidade convivem sob a gide da
qualidade,
1
expressando, assim, uma
ambivalncia prpria das classes domi-
nantes no campo no Brasil.
J a Confederao Rural Brasileira,
fundada em 1928, s veio a funcionar
efetivamente em 1951, e seu objetivo
era contribuir junto a rgos do go-
verno federal na formulao de pol-
ticas agrcolas e tambm representar
ofcialmente o conjunto da agricultura
do pas (Ramos, 2011, p. 34).
Por ltimo, a Sociedade Rural Bra-
sileira, fundada em 1919 na cidade
de So Paulo, entidade que apresenta
como principais objetivos represen-
tar o produtor rural brasileiro, enca-
minhar reivindicaes e propostas s
autoridades, defender os interesses
do setor na mdia, costurar alianas e
atuar como mediadora entre os elos
das cadeias produtivas, estimular a ge-
rao de polticas pblicas favorveis
agropecuria.
2
Em 1985, durante a Nova Rep-
blica, a atuao da entidade, e de seu
presidente Flvio Teles de Menezes, foi
decisiva nos rumos da grande poltica
institucional contra o I Plano Nacio-
nal de Reforma Agrria (I PNRA) e na
coordenao das estratgias de ao
das classes dominantes no campo.
A entidade continua a represen-
tar principalmente pecuaristas, cafei-
cultores e produtores de gros, mas
conta tambm com a participao de
outros segmentos, como produtores
de laranja e indstrias de insumos
(Ramos, 2011).
Confederao Nacional da
Agricultura e Pecuria do Brasil
A Confederao Nacional da Agri-
cultura e Pecuria do Brasil (CNA)
o rgo mximo de representao do
sistema sindical patronal rural, abran-
gendo todas as federaes de agricul-
tura (uma por estado), que, por sua
vez, comportam todos os sindicatos
rurais espalhados pelo pas. Os em-
pregadores rurais e todos os proprie-
trios de terras que estejam acima da
dimenso do mdulo rural estabele-
cido para a sua regio esto oficial-
mente representados pela CNA. O
sistema sindical rural, tanto de em-
pregados quanto de trabalhadores, foi
regulamentado pelo Estatuto do Tra-
balhador Rural (lei n 4.214, de 2 de
maro de 1963), promulgado durante
o governo Joo Goulart, e se orienta
pelas normas gerais da Consolidao
das Leis do Trabalho (CLT).
Por ser a nica representante legal-
mente estabelecida do patronato rural
em mbito nacional, a CNA tem as-
sento em vrios conselhos, comisses
temticas, grupos de trabalho e pro-
gramas ofciais relativos agropecu-
ria. Da que tenha se tornado elemento
importante em torno do qual se agluti-
nam as demais organizaes patronais
rurais (Leal, 2002).
A CNA dirigida por uma diretoria
executiva, subordinada ao Conselho
de Representantes, rgo mximo da
instituio, composto por um colgio
de 27 presidentes das federaes da
agricultura, e se atribuiu como mis-
so: a unio da classe produtora ru-
ral; a defesa do homem do campo e da
525
O
Organizaes da Classe Dominante no Campo
economia agrcola; a valorizao da
produo agrcola e a preservao
do meio ambiente, associadas ao de-
senvolvimento da agropecuria e da
produo de alimentos; a defesa do
livre comrcio de produtos da agro-
pecuria e da agroindstria; e a bus-
ca e a demonstrao do correto co-
nhecimento de problemas e solues
apropriados s questes da catego-
ria econmica.
Organizao das Cooperativas
Brasileiras
Fundada em 1969, a Organizao
das Cooperativas Brasileiras (OCB) se
caracteriza pela estreita relao com o
governo federal. Tal situao
[...] deveu-se a aspectos ine-
rentes ao prprio iderio coo-
perativista, marcado pela va-
lorizao de trs aspectos:
a) o carter supostamente mais
democrtico das cooperativas;
b) sua autorrepresentao en-
quanto parte integrante de um
projeto no capitalista e anti-
lucro; e, fnalmente, c) a possi-
bilidade de distribuio dos
ganhos entre os coopera-
dos segundo seu trabalho, e
no segundo o capital investido.
(Mendona, 2005a, p. 4)
Ainda segundo essa autora, tais
argumentos transformaram o coope-
rativismo num dos mais expressivos
movimentos de negao do confito
social (ibid.). Entretanto, esse iderio
tem sido insufciente para neutralizar
as tenses existentes entre as bases
cooperativistas, compostas predomi-
nantemente por pequenos agricultores,
e a direo poltica, representada por
grandes cooperativas empresariais.
Nas ltimas dcadas, a OCB bus-
cou apresentar-se como modelo de re-
presentao institucional e poltica para
os demais grupos patronais rurais. Isso
porque, segundo um dos dirigentes, o
agricultor de nova gerao exige uma
entidade de representao efciente.
Associao Brasileira do
Agronegcio
Apresentada ofcialmente em 6
de maio de 1993 no auditrio Nereu
Ramos, no Congresso Nacional, a As-
sociao Brasileira do Agronegcio
(Abag) inicialmente intitulada Asso-
ciao Brasileira de Agribusiness re-
presenta, desde a sua origem, impor-
tante base de atuao do agronegcio
3
em sua busca por uma institucionalida-
de favorvel ao modelo organizacional
difundido pelo conceito de agronegcio,
o qual tem sido, nos ltimos anos, res-
signifcado como agricultura sustentvel e
traduzido por um sistema de gesto de ris-
cos cuja operacionalizao inclui a pr-
pria defnio de desenvolvimento.
Vale mencionar que a ento Asso-
ciao Brasileira de Agribusiness foi
apresentada ao grande pblico em 14
de junho pouco mais de um ms
aps a cerimnia ofcial de Braslia ,
no Seminrio de Agribusiness realiza-
do na cidade de So Paulo, no qual se
discutiram questes ligadas seguran-
a alimentar; ao agribusiness concei-
to e abrangncia; ao tamanho e custo
do Estado; e infraestrutura e ao
agribusiness brasileiro. A organicida-
de da iniciativa, considerando-se no
apenas o contexto de sua realizao
reviso da Carta de 1988 e eleio da
Dicionrio da Educao do Campo
526
fome como problema nacional , mas
tambm a prpria estratgia de re-
presentao empregada pela Abag
baseada no resgate de temas de interesse
comum entre suas bases sociais , revela
uma fna sintonia com a orquestrao de
interesses que tem caracterizado o chama-
do novo rural brasileiro (Silva, 1996).
Fruto do processo de politizao da
economia, a Abag materializa os esfor-
os para a institucionalizao da ideia
de agronegcio no pas. Cunhado em
1957 por John Davis e Ray Goldberg
durante estudos desenvolvidos no Pro-
grama de Pesquisa Agricultura e Ne-
gcios da Harvard Business School
(HBS), o conceito de agribusiness seduziu
o ento presidente (herdeiro) do Gru-
po Agroceres Ney Bittencourt de
Arajo, cuja presena nos seminrios
realizados na HBS passou a ser fre-
quente a partir da dcada de 1970. Essa
viso sistmica das atividades agr-
colas cooptou de tal forma o empre-
srio, que ele incorporou a misso de
difundi-la no Brasil, dando incio a um
processo de mobilizao do patronato
rural o qual veio a congregar importan-
tes lideranas de um setor que acabou
sendo reinventado. A agricultura foi
ressignifcada ento como agribusiness,
cujo exerccio de traduo e acomo-
dao teria sido marcado, segundo os
prprios porta-vozes do agronegcio,
por algumas liberalidades.
Nesse sentido, foram realizadas al-
gumas aproximaes: 1) complexo agroin-
dustrial e sistema agroalimentar exprimiam
o contedo da palavra agribusiness;
2) setor de insumos e bens de produo,
setor antes da porteira da fazenda,
equivalia ao conjunto das atividades
econmicas que ofertaria produtos e
servios para agricultura (farm supplies);
3) agricultura, setor rural, agropecuria,
setor agrcola, produo agropecu-
ria e agrcola e atividades dentro da
porteira da fazenda eram sinnimos,
e representavam, dentro das unidades
ou estabelecimentos rurais, um agrega-
do que seria responsvel pela produo
vegetal e animal (farming); e 4) proces-
samento e distribuio, agregado situa-
do depois da porteira da fazenda, en-
volvia as atividades na indstria e nos
servios para a converso e a comer-
cializao dos bens de consumo feitos
com produtos de origem agropecuria
(Arajo, Wedekin e Pinazza, 1990).
Somados os agregados antes, den-
tro e depois da porteira, temos a cons-
tituio de uma rede de conexes cuja
necessidade de ordenao e represen-
tao poltica legitimaria o projeto de
uma associao que traduzisse a nova
realidade e dotasse de importncia
poltica o poderoso complexo eco-
nmico definido, didaticamente, nas
obras editadas pela Agroceres de Ney
Bittencourt de Arajo e, posteriormen-
te, pela prpria Abag no exerccio de
sua funo histrica real.
Importa mencionar que, recordan-
do as origens da Associao Brasileira
do Agronegcio, Roberto Rodrigues
enfatiza a insistncia de Arajo na ins-
titucionalizao da prpria Frente Am-
pla da Agropecuria Brasileira (Faab),
em cuja experincia Rodrigues identif-
ca a semente da Abag.
Vale registrar que, mesmo localiza-
da na cidade de So Paulo, a associa-
o recebeu o qualifcativo nacional,
como forma de distino em termos de
abrangncia de representao, conside-
radas as suas experincias regionais,
materializadas na representao do
Rio Grande do Sul (Abag/RS) e de
Ribeiro Preto (Abag/RP).
Examinado o contedo discursivo
dos agentes da Abag, nele destacam-se
quatro elementos estruturantes: o de-
senvolvimento sustentado, a integrao
527
O
Organizaes da Classe Dominante no Campo
economia internacional, a elimina-
o de desigualdades de renda e bol-
ses de misria e o respeito ao meio
ambiente. Tais elementos so apon-
tados como problemas estruturais do
Brasil, e a abordagem dos mesmos
acaba apresentando uma linha de conti-
nuidade em termos de demandas e pro-
posies na qual sobressaem trs gru-
pos de ao: polticas pblicas, orde-
nao das cadeias produtivas e nego-
ciaes internacionais.
No devemos esquecer que, tendo
como perspectiva dotar de capacidade
de direo o ncleo dirigente do em-
presariado rural no Brasil, a Abag se
insere no complexo campo de disputa
pela defnio de agendas e pela esco-
lha do tratamento dado aos problemas
eleitos como prioridade. De tal forma,
suas frentes materiais (congressos, f-
runs etc.) no s buscam organizar o
aludido grupo no sentido de prticas e
discurso, mas tambm objetivam gerar
reconhecimento social para a legitima-
o da conduo dos processos sob a
tica do agronegcio, divulgado como
o principal negcio do pas. A partici-
pao do Sistema no produto interno
bruto (PIB) do Brasil tem sido um dos
principais argumentos da campanha de
afrmao do agronegcio como prin-
cipal base de sustentao da economia
nacional. Entretanto, a mensurao de
tal contribuio no tem levado em
considerao os custos socioambien-
tais que questionam a sustentabilidade
do modelo produtivo defendido.
Fruto da soma dos esforos de f-
guras de peso como Ney Bittencourt
de Arajo e Roberto Rodrigues, a Abag
pertence complexa rede de orga-
nizaes ateno aos think tanks
4
Instituto de Estudos do Comrcio
e Negociaes Internacionais (Icone) e
Instituto para o Agronegcio Respon-
svel (Ares), alm de espaos como o
PENSA, Centro de Conhecimento em
Agronegcios, da Faculdade de Eco-
nomia, Administrao e Contabilidade
da Universidade de So Paulo cuja
materialidade revela efciente prxis
do processo de institucionalizao dos
interesses do patronato rural, um pro-
cesso no qual as interaes entre os
campos econmico, poltico e intelec-
tual, no que diz respeito conduo
das atividades ligadas agricultura, so
explicitadas. Enfim, constata-se uma
gama de organizaes com porta-vozes
prprios e com funes bem defnidas
para o trabalho de valorizao dos ne-
gcios e interesses do Sistema.
Vale reforar que a conjuntura na
qual emergiu a Abag constitui causa e
consequncia do estabelecimento de
novas configuraes e do reordena-
mento da organizao e da represen-
tao de classe.
Unio Democrtica
Ruralista
A Unio Democrtica Ruralista
(UDR) foi fundada em 1985 por pecua-
ristas e grandes proprietrios de terra,
em sua maioria das regies Centro-
Oeste e Sudeste, insatisfeitos com os
rumos da Reforma Agrria durante o
governo Jos Sarney, temerosos com
os possveis desdobramentos do movi-
mento de ocupaes de terra durante a
Nova Repblica e decepcionados com
a timidez de seus dirigentes, acomo-
dados com os privilgios dos gover-
nos militares. Ronaldo Caiado, uma
das principais lideranas da entidade,
descendente de tradicional famlia de
polticos e pecuaristas de Gois.
A UDR se autodissolveu ofcial-
mente no incio dos anos de 1990,
entretanto frequentemente reaparece
Dicionrio da Educao do Campo
528
no cenrio poltico nacional como re-
ferncia de uma prtica caracterizada
pelo enfrentamento aberto e a defesa
explcita da violncia contra os traba-
lhadores rurais e os sem-terras. Des-
ponta tambm como sinnimo de mo-
bilizao patronal e do corporativismo
e como smbolo da defesa absoluta do
monoplio fundirio.
A Bancada Ruralista
A Bancada Ruralista despontou nos
anos 1980, em meio ao debate sobre a
Assembleia Nacional Constituinte, como
um dos desdobramentos da mobilizao
patronal de grandes proprietrios de terra
e empresrios rurais durante o governo
da Nova Repblica, e tem se apresentado
como importante espao de representa-
o dos interesses patronais rurais.
A insero dos parlamentares ru-
ralistas nas inmeras redes de socia-
bilidade poltica, econmica, religiosa,
cultural e social existentes tanto no
Congresso Nacional quanto fora dele
no apenas contribui para a construo
de determinada concepo de mundo,
fundamento de uma identidade rura-
lista e do poder patronal, como tam-
bm garante o xito de suas demandas,
alm de contribuir para a criao de
laos sociais com outros grupos no
necessariamente ligados agricultura.
Ou seja, h um entrelaamento entre
vrios campos, instncias, estruturas
e atores que realimenta pleitos e inte-
resses os mais diferenciados. Sob essa
perspectiva, a garantia de manuteno
do monoplio e da concentrao fun-
dirios, a renegociao das dvidas e,
recentemente, a aprovao do Cdigo
Florestal contemplando vrias reivindi-
caes ruralistas tambm so negocia-
das nas inmeras viagens em misses
ofciais, na atuao dos parlamentares
em comisses que tratam dos mais va-
riados temas, nos acordos sobre o per-
fl da mesa da Cmara dos Deputados e
na troca de favores intraclasses.
A rede de sociabilidade poltica
seguramente a mais expressiva. Ela
compreende, sobretudo, as atividades
poltico-partidrias, sindicais, corpo-
rativas e os cargos pblicos. Diz res-
peito, por exemplo, participao dos
deputados ruralistas nas diversas co-
misses parlamentares e sua presen-
a nos grupos e frentes parlamentares
e nas misses ofciais de representao
poltica. Diz respeito, tambm, s ati-
vidades sindicais e representativas de
classe. J a rede de sociabilidade pro-
fssional, como o prprio nome enun-
cia, abrange as atividades profssionais
dos parlamentares agricultores, pe-
cuaristas, empresrios, cafeicultores,
empreiteiros, donos de universida-
des e colgios, advogados, mdicos
etc. E, fnalmente, a rede societal, que
compreende basicamente as atividades
associativas e a participao dos depu-
tados em agremiaes sociais e religio-
sas, como a participao no Lions Club
e na maonaria (Bruno, 2009).
Grupos de defesa da
propriedade da terra
Nos momentos de intensifcao
de confitos fundirios e de demanda
pela Reforma Agrria, como ocorreu
durante a Nova Repblica, costumam
despontar vrios grupos de defesa da
propriedade da terra, em geral compos-
tos por grandes proprietrios de terra
e pecuaristas, em especial nas regies
de confito de terra e de concentrao
fundiria. Dentre os mais expressivos,
temos o Pacto de Unidade e Resposta
Rural (PUR), criado originalmente em
529
O
Organizaes da Classe Dominante no Campo
Carazinho (RS), em 1985, por gran-
des proprietrios de terra, em reao
proposta de Reforma Agrria da Nova
Repblica e s ocupaes de terra.
Tambm foram criadas ou reati-
vadas entidades como a Sociedade do
Sudoeste do Paran; a Associao de
Defesa da Propriedade Privada do Su-
doeste Catarinense; a Associao dos
Empresrios da Amaznia; a Milcia
Rural da Regio do Araguaia; a Asso-
ciao de Produtores Rurais do Sul do
Par; o Comando Democrtico Cristo,
no Par; o Grupo de Defesa da Pro-
priedade de Andradina, em So Paulo;
e a Associao de Defesa da Proprie-
dade dos Usineiros, de Pernambuco
(Bruno, 2009).
Posteriormente, em meados de
2002, quando se vislumbrou a possvel
vitria de Luiz Incio Lula da Silva na
campanha para a Presidncia da Rep-
blica, teve incio a constituio de um
novo campo de confito agrrio, carac-
terizado, de um lado, pela expectativa
dos movimentos sociais de luta pela
terra e, de outro, pelo temor dos gran-
des proprietrios de terra e empresrios
rurais do agronegcio quanto possi-
bilidade no s de realizao de uma
reforma agrria, mas, sobretudo, de
fortalecimento do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra e das lu-
tas pela terra. O medo dos desdobra-
mentos polticos e das possibilidades
abertas com a vitria de Lula e a de-
mora do governo em elaborar diretri-
zes defnidoras de uma poltica fundi-
ria e, consequentemente, a retomada
das ocupaes de terra tiveram como
desdobramento a intensifcao da vio-
lncia patronal rural e a revitalizao
de suas instncias de representao.
Nesse mesmo perodo, tem incio
o fortalecimento da Bancada Ruralista,
ao mesmo tempo que h um retorno da
UDR ao cenrio poltico nacional, uma
maior visibilidade da CNA, que vol-
ta a ter um lugar de destaque, com o
apoio estratgico e nem sempre visvel
da SRB, e uma renovao na OCB.
tambm quando se revitaliza o
Movimento Nacional dos Produtores
(MNP) e quando assistimos mais uma
vez criao de vrias organizaes
patronais rurais em defesa do monop-
lio da propriedade da terra. Dentre as
mais expressivas politicamente, temos
o Primeiro Comando Rural (PCR), o
Movimento Reforma Agrria Sem In-
vaso (MRASI), no estado do Paran,
a Associao Democrtica dos Produ-
tores de Minas e a Unio de Defesa da
Propriedade Rural (UDPR), tambm
em Minas Gerais (Bruno, 2005).
Ainda do ponto de vista da orga-
nizao e da ao coletiva do patrona-
to rural brasileiro, temos os leiles, as
feiras, as exposies agropecurias e
as mobilizaes de rua, as quais se con-
fguram como lugar social de afrma-
o e ampliao de poder e momento
de uma sociabilidade que gera, repro-
duz e reafrma smbolos e identidades
de classe.
As mobilizaes de rua ocorrem,
geralmente, em torno de uma agenda
fundiria, ou agenda de polticas setoriais.
Essas mobilizaes
[...] possuem um papel particu-
lar para visibilidade de um gru-
po social e de seus interesses
e demandas; na construo de
uma imagem para a populao,
para a mdia, para os agentes do
Estado e para dentro; na pres-
so por reivindicaes junto ao
poder pblico; no fortalecimen-
to ou enfraquecimento poltico
Dicionrio da Educao do Campo
530
de entidades de representao
[...]. (Carneiro, 2008, p. 1)
O Maio Verde e o Tratorao so
seus exemplos mais recentes. O pri-
meiro ocorreu em maio de 2004, como
resposta s ocupaes de terras pro-
movidas pelo MST, denominadas Abril
Vermelho. O Maio Verde foi organiza-
do pelas federaes de agricultura de
treze estados. O Tratorao, promovido
pela CNA com o apoio da OCB, ocor-
reu entre os dias 27 e 30 de junho de
2005, na Esplanada dos Ministrios,
em Braslia. Integrada principalmente
por produtores de gros (soja, milho e
arroz) e de algodo e com a participa-
o da UDR e do MNP, a manifestao
reivindicava a renegociao de dvi-
das agrcolas, mas tambm apresenta-
va demandas sobre seguro rural, crdito
rural para a safra 2005-2006, preo da
saca do arroz, importao de agrotxi-
cos e mais espao nas instncias do Es-
tado, dentre outras (Carneiro, 2008).
Grandes proprietrios de terras e
empresrios rurais e do agronegcio
tambm costumam recorrer a outros
modos de organizao e de presso
informais, mas igualmente efcazes
em favor de seus i nteresses. Como
exemplos, temos as viglias de intimida-
o nas proximidades de acampamen-
tos de sem-terra e de assentamentos da
Reforma Agrria, os cercos s reas
ocupadas por trabalhadores rurais sem-
terra e o acompanhamento ostensivo
durante as marchas dos Sem Terra. Es-
sas manifestaes quase sempre con-
tam com o apoio, s vezes explcito, de
agremiaes mais reconhecidas e com
maior poder de representao, como
o caso da CNA, da OCB e da SRB.
Enfm, cada vez mais a organiza-
o e a representao de interesses das
classes dominantes do campo no Brasil
ocupam um lugar estratgico na repro-
duo de classe e se caracterizam por
um processo crescente de institucio-
nalizao e de profssionalizao; pela
ampliao e diversifcao dos espaos
de organizao; e pelo surgimento de
uma nova gerao poltica portadora
de uma retrica de legitimidade e de
identidade, fundada na competitivi-
dade e na defesa da tecnologia como
paradigma da modernidade e do desen-
volvimento, ao mesmo tempo que rea-
vivam prticas polticas arcaicas, como
a violncia contra os trabalhadores do
campo e os sem-terra, as listas dos mar-
cados para morrer e as mortes anun-
ciadas, o recurso ao trabalho escravo
e a difculdade de perceber a diferena
entre a coisa pblica e o bem privado.
Ou seja, existe uma ambivalncia que
se apresenta como princpio ordenador
da retrica e da prtica patronal rural,
que desponta como legitimadora das
desigualdades sociais econmicas e po-
lticas, e que se atualiza e se objetiva
nos embates sociais e polticos.
Notas
1
Ver http://www.sna.agr.br.
2
Ver http://www.srb.org.br.
3
Mais do que um conceito com o qual o ncleo dirigente do empresariado rural nomeia
atividades e agentes ligados agricultura sob a representao de um Sistema, o referido
vocbulo empregado para nomear um movimento de articulao do aludido grupo no
sentido de institucionalizar seus interesses tendo como estratgia o uso da marca agronegcio
brasileiro na construo de uma identidade organizadora da multiplicidade de interesses que
531
O
Organizaes da Classe Dominante no Campo
busca congregar. Ateno para o uso do adjetivo ptrio como meio de legitimao e de
reconhecimento social, com o qual o intenso processo de desnacionalizao sofrido pelos
negcios em torno da agricultura brasileira acaba sendo ocultado. Para distinguir Agrone-
gcio enquanto movimento poltico-ideolgico, de Agronegcio enquanto ferramenta
de anlise econmica cuja leitura pela fgura de um Sistema permitiria o aperfeioamento das
partes pela viso do todo como divulgado por representantes do empresariado rural , o
termo ser destacado em itlico ou ser substitudo pela palavra Sistema quando empregado
no sentido patronal. Ver Lacerda, 2009.
4
O conceito de think tank faz referncia a uma instituio dedicada a produzir e difundir
conhecimentos e estratgias sobre assuntos vitais sejam eles polticos, econmicos ou
cientfcos. Assuntos sobre os quais, nas suas instncias habituais de elaborao (Estados,
associaes de classe, empresas ou universidades), os cidados no encontram facilmente
insumos para pensar a realidade de forma inovadora (http://www.imil.org.br).
Para saber mais
ARAJO, N. B.; WEDEKIN, I.; PINAZZA, L. A. Complexo agroindustrial : o agribusiness
brasileiro. So Paulo: Agroceres, 1990.
BRITO, B. M. E. Confederao Rural Brasileira: origem e proposta. 1991. Dissertao
(Mestrado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) Programa de Ps-
graduao de Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropdica, 1991.
BRUNO, R. A. L. O ovo da serpente: monoplio da terra e violncia na Nova Repbli-
ca. 2002. Tese (Doutorado em Cincias Sociais) Instituto de Filosofa e Cincias
Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.
______. Quem so os novos ruralistas no governo Lula? Relatrio fnal de pesquisa.
Convnio Ncleo de Estudos Agrrios e Desenvolvimento Rural do Ministrio
do Desenvolvimento Agrrio/Rede de Desenvolvimento, Ensino de Sociedade
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nead-MDA/Redes-UFRRJ,
2005. Com Olavo Brando Carneiro (assistente de pesquisa).
______. Um Brasil ambivalente. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Mauad X;
Seropdica: Edur, 2009.
______; CARNEIRO, O. B.; SEV, J. T. Grupos de solidariedade, frentes parlamentares
e pactos de unidade e ao: em pauta o fortalecimento da representao patronal
no campo. Relatrio fnal de pesquisa. Convnio Ncleo de Estudos Agrrios
e Desenvolvimento Rural do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio/Rede de
Desenvolvimento, Ensino de Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro. Nead-MDA/Redes-UFRRJ, 2007.
______; SEV, J. T. Representao de interesses patronais em tempo de agroneg-
cio. In: MOREIRA, R.; BRUNO, R. A. L. (org.). Dimenses rurais de polticas brasileiras.
Rio de Janeiro: Mauad X; Seropdica: Edur, 2010. p. 71-104.
CARNEIRO, O. B. Manifestaes de rua: discursos e prticas do patronato rural
brasileiro. In: LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION (LASA) CONGRESS,
Dicionrio da Educao do Campo
532
28. Anais... Rio de Janeiro: LASA, 11 a 14 de junho de 2009. Disponvel em:
http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2009/files/
BrandaoCarneiroOlavo.pdf. Acesso em: 27 set. 2011.
______. Tratorao o alerta do campo: um estudo sobre aes coletivas e patrona-
to rural no Brasil. 2008. Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais em Desen-
volvimento, Agricultura e Sociedade) Programa de Ps-graduao de Cincias
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, Seropdica, 2008.
FREITAS, A. J. de. UDR formao, ascenso e queda de uma organizao de proprietrios
rurais. 1992. Dissertao (Mestrado em Cincias Polticas) Departamento de
Cincias Polticas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1992.
GMEZ, S. Organizaes empresariais rurais na Amrica Latina: o caso do Brasil
e do Chile. Revista Abra, Campinas, v. 17, n. 2, p. 4-16, ago.-nov. 1987
HEINZ, F. Representao poltica e formao de classe: as organizaes da burgue-
sia agrria gacha na oposio reforma agrria (1985-1988). 1991. Disserta-
o (Mestrado em Sociologia) Instituto de Filosofa e Cincias Humanas,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1991.
LACERDA, E. Brasil integrado: a ideologia sistmica do agronegcio na Associao
Brasileira de Agribusiness. 2009. Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais)
Programa de Ps-graduao de Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura
e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropdica, 2009.
LEAL, G. F. Guardies da propriedade: organizaes da burguesia agrria e reforma
agrria um estudo sobre a Confederao da Agricultura e Pecuria no Brasil
CNA (1955-2001). 2002. Dissertao (Mestrado em Sociologia) Instituto de
Filosofa e Cincias Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 2002.
MARTINS, J. de S. O poder do atraso (ensaio de sociologia da histria lenta). So Paulo:
Hucitec, 1994.
MENDONA, S. R. de. A construo de uma nova hegemonia patronal rural: o caso
da Organizao das Cooperativas Brasileiras. Histria Hoje, v. 2, n. 6, mar. 2005.
Disponvel em: http://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=56.
Acesso em: 27 set. 2011.
______. O patronato rural no Brasil recente (1964-1993). Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2010.
______. Estado e representao empresarial: um estudo sobre a Sociedade Nacional
de Agricultura (1964-1993). Relatrio tcnico de pesquisa. Rio de Janeiro: CNPq,
junho de 2004.
OLIVEIRA, E. V. Bancada ruralista: um grupo de Interesse. Argumento, Instituto de
Estudos Socioeconmicos (Inesc), Braslia, n. 8, p.1-52, dez. 2001.
PINTO, R. G. O novo empresariado rural no Brasil: uma anlise das origens, projetos e
atuao da Associao Brasileira de Agribusiness (1990-2002). 2010. Dissertao
533
O
Organizaes da Classe Dominante no Campo
(Mestrado em Histria) Programa de Ps-graduao em Histria, Universidade
Federal Fluminense, Niteri, 2010.
RAMOS, C. Capital e trabalho no sindicalismo rural brasileiro: uma anlise sobre a CNA
e sobre a Contag (1964-1985). 2011. Tese (Doutorado em Histria) Programa
de Ps-graduao em Histria, Universidade Federal Fluminense, Niteri, 2011.
SEVERINO, C. F. Novas estratgias de organizao poltica dos empresrios: o caso da Abag.
In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAO NACIONAL DE PS-GRADUAO E PESQUISA EM
CINCIAS SOCIAIS (ANPOCS), 28. Anais... Caxambu: Anpocs, 2004.
SILVA, J. G. da. A nova dinmica da agricultura brasileira. Campinas: Instituto de
Economia, Unicamp, 1996.
______. Les Associations patronales de lagriculture brsilienne moderne: les
controverses au cours de la transition vers la dmocratie (1985-1989). Cahiers du
Brsil Contemporain, Maison de Sciences de lHomme, Paris, n. 19, p. 11-34, 1992.
VIANA, O. Populaes meridionais do Brasil. In: SANTIAGO, S. (org.). Intrpretes do
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. V. 1, p. 919-1.188.
535
P
P
PEDAGOGIA DAS COMPETNCIAS
Marise Ramos
A noo de competncia de tal
forma polissmica que poderamos ar-
rolar aqui um conjunto de definies a
ela conferida. Uma das definies co-
mumente usadas considera a competn-
cia como o conjunto de conhecimen-
tos, qualidades, capacidades e aptides
que habilitam o sujeito para a discus-
so, a consulta e a deciso de tudo o
que concerne a um ofcio, supondo
conhecimentos tericos fundamenta-
dos, acompanhados das qualidades e
da capacidade que permitem executar
as decises sugeridas (Tanguy, 1997,
p. 16). Outras definies, propostas
por Zarifian (2008, p. 68-76) em sua
principal obra sobre o tema, so: a
competncia a conquista de iniciati-
va e de responsabilidade do indivduo
sobre as situaes profissionais com as
quais ele se confronta; a competncia
uma inteligncia prtica das situaes
que se apoiam sobre os conhecimen-
tos adquiridos e os transformam, com
tanto mais fora quanto a diversidade
das situaes aumenta; a competncia
a faculdade de mobilizar os recur-
sos dos atores em torno das mesmas
situaes, para compartilhar os acon-
tecimentos, para assumir os domnios
de corresponsabilidade.
Ao ser utilizada no mbito do tra-
balho, essa noo toma o nmero plu-
ral competncias , buscando designar
os contedos particulares de cada fun-
o em uma organizao de trabalho.
A transferncia desses contedos para
a formao orientada pelas competn-
cias que se pretende desenvolver nos
educandos d origem ao que chama-
mos de pedagogia das competncias, isto ,
uma pedagogia definida por seus ob-
jetivos e validada pelas competncias
que produz.
A emergncia da pedagogia das
competncias acompanhada de um
fenmeno observado no mundo pro-
dutivo de eliminao de postos de tra-
balho e redefnio de seus contedos
de trabalho luz do avano tecnol-
gico, promovendo um reordenamento
social das profsses. Este reordena-
mento levanta dvidas sobre a capa-
cidade de sobrevivncia de profsses
bem delimitadas, e nele fca diminuda
a expectativa da construo de uma
biografa profssional linear, do ponto
de vista do contedo, e ascendente, do
ponto de vista da renda e da mobili-
dade social. Pode-se falar da crise do
valor dos diplomas, os quais perdem
importncia para a qualifcao real do
trabalhador, promovida pelo encontro
entre as competncias requeridas pelas
empresas e adquiridas pelo trabalhador
capazes de ser demonstradas na prtica
(Paiva, 1997, p. 22).
Enquanto o conceito de qualifcao
se consolidou como um dos conceitos-
chave para a classifcao dos empre-
gos, por sua multidimensionalidade
social e coletiva, apoiando-se especial-
mente, mas sem rigidez, na formao
recebida inicialmente, as competncias
Dicionrio da Educao do Campo
536
aparecem destacando os atributos indi-
viduais do trabalhador. Segundo o dis-
curso contemporneo das empresas, o
apelo s competncias requeridas pelo
emprego j no est ligado (pelo me-
nos formalmente) formao inicial;
ou, em outras palavras, as prticas cog-
nitivas dos trabalhadores, necessrias
e relativamente desconhecidas, podem
no ser representadas pelas classifca-
es profssionais ou pelos certifcados
escolares. Essas competncias podem
ter sido adquiridas em empregos ante-
riores, em estgios, longos ou breves,
de formao contnua, mas tambm
em atividades ldicas, de interesse p-
blico fora da profsso, atividades fa-
miliares etc.
As competncias, a partir de proce-
dimentos de avaliao e de validao,
passam a ser consideradas como ele-
mentos estruturantes da organizao do
trabalho, outrora determinada pela pro-
fsso. Enquanto o domnio de uma
profsso, uma vez adquirido, no pode
ser questionado (no mximo, pode ser
desenvolvido), as competncias so apre-
sentadas como propriedades instveis
dentro e fora do exerccio do trabalho.
Isso quer dizer que uma gesto funda-
da nas competncias encerra a ideia de
que um assalariado deve se submeter
a uma validao permanente, dando
constantemente provas de sua adequa-
o ao posto de trabalho e de seu direi-
to a uma promoo. Tal gesto preten-
de conciliar o tempo longo de durao
das atividades dos assalariados com o
tempo curto das conjunturas do mer-
cado, das mudanas tecnolgicas, ten-
do em vista que qualquer ato de clas-
sifcao pode ser revisado. Assim, a
extenso das prticas de avaliao e de
validao, executadas por especialistas
detentores de tcnicas relativamente
independentes da atividade avaliada, efe-
tua-se por referncia instituio esco-
lar, dela separando-se simultaneamente,
de uma maneira radical: com efeito, o
diploma um ttulo defnitivo, mesmo
que seu valor possa variar no mercado,
ao passo que a validao das aquisies
profssionais as competncias
sempre incerta e temporria (Tanguy,
1997, p. 184).
A abordagem profssional pelas
competncias pretende, ento, liberar
a classifcao e a progresso dos in-
divduos das classifcaes dos postos
de trabalho, a partir da construo de
um conjunto de instrumentos desti-
nados a objetivar e a medir uma srie
de dados necessrios aplicao dessa
lgica. Com isso, a evoluo das situa-
es de trabalho e a defnio dos em-
pregos ocorrem muito mais em funo
dos arranjos individuais do que das
classifcaes ou da gesto dos postos
de trabalho a que se referiam as quali-
fcaes. As potencialidades do pessoal
so colocadas no centro da diviso do
trabalho, tornando-se um instrumento
indispensvel das polticas da empresa.
Esse deslocamento da qualifcao
para as competncias no plano do tra-
balho produziu, no plano pedaggico,
outro deslocamento, a saber, do ensino
centrado em saberes disciplinares para
um ensino defnido pela produo de
competncias verifcveis em situaes
e tarefas especfcas e que visam a essa
produo, caracterstico da pedagogia
das competncias. Essas competncias
devem ser defnidas com referncia s
situaes que os alunos devero ser
capazes de compreender e dominar.
A pedagogia das competncias passa
a exigir, ento, tanto no ensino geral
quanto no ensino profssionalizante,
que as noes associadas (saber, saber-
537
P
Pedagogia das Competncias
fazer, objetivos) sejam acompanhadas
de uma explicitao das atividades (ou
tarefas) em que elas podem se materia-
lizar e se fazer compreender, explicita-
o essa que revela a impossibilidade
de dar uma defnio a essas noes se-
paradamente das tarefas nas quais elas
se materializam.
A afrmao desse modelo no ensino
tcnico e profssionalizante resultado
de um conjunto de fatores que expres-
sa o comprometimento dessa mo-
dalidade de ensino com o processo
de acumulao capitalista, que impe
a necessidade de justifcar a validade
de suas aes e de seus resultados.
Alm disso, espera-se que seus agen-
tes (professores, gestores, estudantes)
no mantenham a mesma relao com
o saber que os professores de discipli-
nas academicamente constitudas, de
modo que a validade dos conhecimen-
tos transmitidos seja aprovada por sua
aplicabilidade ao exerccio de atividades
na produo de bens materiais ou de
servios. A pedagogia das competn-
cias caracterizada por uma concepo
eminentemente pragmtica, capaz de
gerir as incertezas e levar em conta
as mudanas tcnicas e de organizao
do trabalho s quais deve se ajustar.
Essa redefnio pedaggica somen-
te ganha sentido mediante o estabeleci-
mento de uma correspondncia entre
escola e empresa. Para isso constroem-
se, em alguns pases, os referenciais
para a escola a exemplo da Frana,
onde so chamados de referenciais de
diploma e os referenciais de empre-
go ou de atividades profssionais, para
a empresa. No Brasil, o equivalente a
esse processo, para a escola, so as di-
retrizes e os referenciais curriculares
nacionais produzidos pelo Ministrio
da Educao (MEC), enquanto, no
mundo do trabalho, aplica-se a Classi-
fcao Brasileira de Ocupaes, pro-
duzida pelo Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE). Esses referenciais,
que tomam as competncias como base,
so, supostamente, as ferramentas de
comunicao entre os agentes da insti-
tuio escolar e os representantes dos
meios profissionais. Constituem-se,
tambm, em suportes principais de ava-
liao tanto na formao inicial e conti-
nuada quanto no ensino tcnico, com o
intuito de permitir a correlao estreita
entre a oferta de formao e a distribui-
o das atividades profssionais.
Alm de atender ao propsito de
reordenar a relao entre escola e empre-
go, a pedagogia das competncias visa
tambm institucionalizar novas formas
de educar os trabalhadores no contexto
poltico-econmico neoliberal, entre-
meado a uma cultura chamada de ps-
moderna. Por isto, a pedagogia das
competncias no se limita escola,
mas visa se instaurar nas diversas pr-
ticas sociais pelas quais as pessoas se
educam. Nesse contexto, a noo de
competncia vem compor o conjunto
de novos signos e signifcados talhados
na cultura expressiva do estgio de
acumulao fexvel do capital, desem-
penhando um papel especfco na re-
presentao dos processos de forma-
o e de comportamento do trabalhador
na sociedade.
Assim, o desenvolvimento de uma
pedagogia centrada nessa noo tem
validade econmico-social e tambm
cultural, posto que educao con-
ferida a funo de adequar psicologi-
camente os trabalhadores aos novos
padres de produo. O novo senso
comum, de carter conservador e libe-
ral, compreende que as relaes de tra-
balho atuais e os mecanismos de
Dicionrio da Educao do Campo
538
incluso social se pautam pela compe-
tncia individual.
A competncia, inicialmente um
aspecto de diferenciao individual,
tomada como fator econmico e se
reverte em benefcio do consenso so-
cial, envolvendo todos os trabalhado-
res supostamente numa nica classe, a
capitalista; ao mesmo tempo, forma-se
um consenso em torno do capitalismo
como o nico modo de produo capaz
de manter o equilbrio e a justia social.
Em sntese, a questo da luta de classes
resolvida pelo desenvolvimento e pelo
aproveitamento adequado das compe-
tncias individuais, de modo que a pos-
sibilidade de incluso social subordina-
se capacidade de adaptao natural s
relaes contemporneas. A fexibili-
dade econmica vem acompanhada da
psicologizao da questo social.
A noo de competncia situa-se,
ento, no plano de convergncia entre
a teoria integracionista da formao
do indivduo e a teoria funcionalista da
estrutura social. A primeira demonstra
que a competncia torna-se uma carac-
terstica psicolgico-subjetiva de adap-
tao do trabalhador vida contempo-
rnea. A segunda situa a competncia
como fator de consenso necessrio
manuteno do equilbrio da estrutura
social, na medida em que o funciona-
mento desta ltima ocorre muito mais
por fragmentos do que por uma sequ-
ncia de fatos previsveis.
O processo de construo do co-
nhecimento pelo indivduo, por sua
vez, seria o prprio processo de adap-
tao ao meio material e social. Nesses
termos, o conhecimento no resultaria
de um esforo social e historicamente
determinado de compreenso da rea-
lidade para, ento, transform-la, mas
sim, das percepes e concepes sub-
jetivas que os indivduos extraem do seu
mundo experiencial. O conhecimento
fcaria limitado aos modelos viveis de
inteirao com o meio material e social,
no tendo qualquer pretenso de ser re-
conhecido como representao da reali-
dade objetiva ou como verdadeiro.
A validade do conhecimento assim
compreendido julgada, portanto, por
sua viabilidade ou por sua utilidade. Pre-
domina, ento, uma conotao utilit-
ria e pragmtica do conhecimento. Sua
viabilidade e utilidade, muito alm de
serem consideradas histricas, so tidas
como contingentes. Ou seja, no existe
qualquer critrio de objetividade, de tota-
lidade ou de universalidade para se julgar
se um conhecimento, ou um modelo re-
presentacional, vlido, vivel ou til.
Com isto, o carter histrico-ontol-
gico do conhecimento substitudo pelo
carter experiencial. Essa concepo
de conhecimento, s vezes chamada de
epistemologia experiencial ou epistemo-
logia socialmente construtivista, , na ver-
dade, uma epistemologia adaptativa, visto
que seu fundamento axiolgico vincula-
se a essa funo. As categorias de objeti-
vo e subjetivo se fundem indistintamente
no processo de inteirao, superando
proposies de certeza e de universali-
dade em benefcio da particularidade, da
indeterminao e da contingncia do co-
nhecimento. Em outras palavras, o sen-
tido e o valor de qualquer representao
do real dependeria do ponto a partir do
qual se v o real (relativismo) e de quem
o v (subjetivismo). Isto implica romper
com a epistemologia moderna em favor
de uma epistemologia que compe o uni-
verso ideolgico ps-moderno.
A pedagogia das competncias re-
configura, ento, o papel da escola.
Se a escola moderna comprometeu-se
com a sustentao do ncleo bsico
539
P
Pedagogia das Competncias
da socializao conferido pela famlia e
com a construo de identidades indivi-
duais e sociais, contribuindo, assim, para
a identifcao dos projetos subjetivos
com um projeto de sociedade, na ps-
modernidade, a escola uma instituio
mediadora da constituio da alteridade
e de identidades autnomas e fexveis,
contribuindo para a elaborao dos pro-
jetos subjetivos, com o objetivo de torn-
los maleveis o sufciente para que se
transformem no projeto possvel ante
a instabilidade da vida contempornea.
Atuar na elaborao dos projetos poss-
veis construir um novo profssionalis-
mo, que implica preparar os indivduos
para a mobilidade permanente entre
diferentes ocupaes numa mesma em-
presa, entre diferentes empresas, para o
subemprego, para o trabalho autnomo
ou para o no trabalho. Em outras pa-
lavras, a pedagogia das competncias
pretende preparar os indivduos para a
adaptao permanente ao meio social
instvel da contemporaneidade. Nesses
termos, a pedagogia das competncias
pode ser compreendida como um movi-
mento especfco da pedagogia do capi-
tal sob a hegemonia do neoliberalismo.
parte desse movimento, porm,
estudos demonstram que os trabalha-
dores constroem conhecimentos no
seu trabalho e, tambm nele, recons-
troem conhecimentos adquiridos nos
processos de formao, articulando
saberes formais com seus saberes t-
citos/prticos, ao mobiliz-los para o
enfrentamento de situaes concretas
de trabalho. Esse processo de cons-
truo e reconstruo de saberes se d
no plano de sua subjetividade, sendo
impossvel simul-lo e/ou control-lo.
Portanto, os trabalhadores constroem
saberes por meio de mecanismos so-
ciais e psicolgicos muito mais com-
plexos do que a abordagem das com-
petncias hoje vigente.
Em termos cognitivos, tais recons-
trues se fazem pela articulao do
que Malglaive (1995) chama de sabe-
res em uso, constitudos pelos saberes
tericos (relativos ao conhecimento do
objeto de trabalho), tcnicos (relativos
ao que se pode fazer do/com o objeto
de trabalho) e metodolgicos (relativos
ao como fazer do/com o objeto). Estes
dois ltimos se encontrariam no saber
prtico, que orientaria, em primei-
ra instncia, a realizao da atividade.
Esses saberes seriam mobilizados por
uma inteligncia prtica que possibi-
lita a tomada de deciso mediante um
envolvimento direto com a atividade a
ser realizada. Para alm desses saberes,
porm, existiriam novas aprendizagens
que possibilitariam aes criadoras. Es-
sas exigiriam o afastamento da situao
e um processo de estruturao do pen-
samento com base no saber terico, por
meio da inteligncia formalizadora.
Para ns, este processo corresponde ao
que a literatura sobre competncia def-
ne como a mobilizao de saberes.
A competncia vista sob essa pers-
pectiva complexa e dinmica, e no
poderia ser objetivada na forma de re-
ferenciais curriculares ou de padres de
avaliao, como a pedagogia das com-
petncias tende a fazer. Ao contrrio,
a competncia do trabalhador suporia
um conjunto de atributos dos sujeitos
conhecimentos de diversas ordens, habi-
lidades cognitivas e operacionais, valores ,
mas no se reduziria a eles, pois impli-
caria a autonomia intelectual e as media-
es do contexto real em que a situao
enfrentada, confgurado pelas condi-
es objetivas e pelas relaes sociais da
produo. Nesse sentido, compreende-
ramos a competncia como produo
Dicionrio da Educao do Campo
540
subjetiva sntese da mobilizao de sa-
beres que ocorre em contextos scio-
histricos e culturais determinados,
constituindo-se em particularidades de
uma totalidade social mais ampla. Sen-
do estruturantes da ao, tais saberes se
unifcam num saber profssional.
Com a noo de saber profssional,
propomos apreender a dinmica da re-
lao sujeitoobjeto mediada pelo co-
nhecimento no trabalho, considerando
as singularidades dessa relao, mas tam-
bm sua generalidade, dada pela diviso
social do trabalho e a constituio de
classes sociais e de categorias profssio-
nais. Com essa noo, reconhece-se que
nas atividades de trabalho entram em
jogo as subjetividades do trabalhador e,
portanto, conhecimentos que no podem
ser delimitados exclusivamente pela cul-
tura cientfca e/ou escolar, mas que im-
plicam os aprendizados vindos da prxis
social, incluindo o prprio trabalho. Na
verdade, esses conhecimentos so apro-
priados e reconstrudos pelos trabalha-
dores como sujeitos singulares, como
categoria profssional e como classe so-
cial na forma dos saberes profssionais.
Com esse conceito, a virtuosidade origi-
nal da noo de competncia presente na
valorizao das subjetividades no se
perde numa individualizao e fragmen-
tao perversas das atividades humanas,
mas compreendida como produto das
relaes que se estabelecem no trabalho
e, mais amplamente, nas relaes sociais
de produo que caracterizam uma so-
ciedade concreta.
Para saber mais
MALGLAIVE, G. Ensinar adultos. Porto: Porto Editora, 1995.
PAIVA, V. Desmistifcaes das profsses: quando as competncias reais moldam
as formas de insero no mundo do trabalho. Contemporaneidade e Educao, v. 2,
n. 1, p. 19-37, maio 1997.
RAMOS, M. N. Pedagogia das competncias: autonomia ou adaptao? So Paulo:
Cortez, 2001.
TANGUY, L.; ROP, F. (org.). Saberes e competncias. O uso de tais noes na escola e
na empresa. So Paulo: Papirus, 1997.
ZARIFIAN, P. Objetivo competncia. Por uma nova lgica. So Paulo: Atlas, 2008.
P
PEDAGOGIA DO CAPITAL
Andr Silva Martins
Lcia Maria Wanderley Neves
Por pedagogia do capital, enten-
demos as estratgias de dominao de
classe utilizadas pela burguesia a fm de
obter o consentimento do conjunto da
populao para o seu projeto poltico
nas diferentes formaes sociais con-
541
P
Pedagogia do Capital
cretas ao longo do desenvolvimento do
capitalismo monopolista (capitalismo
nos sculos XX e XXI). A estas estra-
tgias de educao poltica denomina-
mos pedagogia da hegemonia.
As estratgias da pedagogia da
hegemonia so implementadas dire-
tamente pelos intelectuais orgnicos
singulares e coletivos da burguesia;
mediante polticas pblicas que, de
modo geral e especfico, expressam o
papel central das fraes da classe do-
minante no ordenamento das instn-
cias executivas e legislativas da apare-
lhagem estatal no capitalismo.
So intelectuais singulares da peda-
gogia da hegemonia os indivduos que
formulam e difundem no conjunto da
sociedade as ideias, valores e prticas
do projeto capitalista de sociedade em
seus diferentes momentos histricos.
So intelectuais coletivos as organiza-
es internacionais, nacionais, regionais
e locais que educam o consentimento
do conjunto da populao ao projeto
econmico e poltico-ideolgico das
classes dominantes. So exemplos des-
ses organismos, no plano internacional,
o Banco Mundial, o Fundo Monetrio
Internacional (FMI), a Organizao das
Naes Unidas (ONU), a Organizao
para a Cooperao e Desenvolvimento
Econmico (OCDE), entre outros.
A pedagogia da hegemonia tem,
como objetivo principal, a conforma-
o moral e intelectual do conjunto da
populao a um padro de sociabili-
dade (ou modo de vida) que responda
positivamente s necessidades de cres-
cimento econmico e de coeso social,
em cada perodo histrico, nos marcos
do capitalismo.
Nesse processo, mesmo sentindo os
efeitos da explorao de classe em seu
cotidiano, os dominados passam a acre-
ditar que sua condio de vida/trabalho
imutvel, ou que pode ser mudada ex-
clusivamente pelo esforo pessoal e/ou
pela humanizao do capitalismo.
Alm de promover a assimilao su-
bordinada das vrias fraes da classe
trabalhadora ao projeto dominante,
a pedagogia da hegemonia se destina
tambm a educar as fraes subordi-
nadas da classe dominante, de modo a
torn-las corresponsveis pelo projeto
poltico do capital em seu conjunto.
Isso signifca que a pedagogia da he-
gemonia viabiliza tambm o fortaleci-
mento da classe dominante, tornando-
a mais coesa e orgnica.
As estratgias implementadas no
mbito da pedagogia da hegemonia pela
classe dominante no substituem o uso
da fora como instrumento de domina-
o de classe no mundo contempor-
neo. Coero e consenso so estratgias
de dominao especfcas e inerentes s
relaes sociais capitalistas.
No entanto, com o crescimento das
lutas sociais, a consolidao dos regi-
mes formalmente democrticos, o sur-
gimento de partidos de massa, a livre
organizao sindical e a possibilidade
de criao de movimentos populares no
campo e na cidade, a dominao pelo
convencimento tem predominado nas
sociedades capitalistas contemporneas,
que se tornaram mais complexas em
funo do desenvolvimento das foras
produtivas e das relaes de produo
da existncia humana. At mesmo o
uso da fora, quando empregado, re-
vestido por uma estratgia de legitima-
o dirigida ao conjunto da sociedade
para justifcar tal medida.
possvel verifcar delineamentos
especfcos da pedagogia da hegemonia
em duas grandes fases da histria re-
cente. Um primeiro perodo se estende
Dicionrio da Educao do Campo
542
do imediato ps-guerra, em 1945, at
os anos fnais de 1980; um segundo
perodo engloba a ltima dcada do s-
culo XX e as duas primeiras dcadas
do sculo XXI, quando a classe domi-
nante conseguiu consolidar o estgio
neoliberal do capitalismo.
Na primeira fase, a pedagogia da
hegemonia foi delineada para afrmar
a suposta superioridade do capitalismo
ante o socialismo. No plano mais ge-
ral, buscou assegurar um amplo senso
comum acerca da sociabilidade bur-
guesa. As estratgias foram estabele-
cidas para difundir o modo capitalista
de vida como sinnimo de liberdade,
prosperidade e felicidade. Coube aos
intelectuais orgnicos da classe domi-
nante ordenar os aparelhos culturais e
polticos (o cinema, o teatro, os jornais,
as revistas, a publicidade, a escola, os
sindicatos e associaes patronais,
os partidos polticos identifcados com
o projeto poltico da burguesia) para
disseminar de forma orgnica as re-
ferncias morais e intelectuais com-
patveis com a modernizao conser-
vadora da sociedade capitalista. Nesse
contexto, at a Igreja, em que pese a
existncia de alguns movimentos de
contestao da ordem vigente, atuali-
zou seu projeto de mundo para proje-
to poltico-ideolgico burgus, e, nes-
se processo, assumiu um importante
papel poltico-ideolgico: controlar
moralmente seus fiis, ensinando a
eles a resignao.
No plano mais especfco, diante da
presso dos sindicatos operrios, dos
partidos polticos e dos movimentos
sociais identifcados com os trabalha-
dores, a classe dominante buscou as-
similar de forma subordinada algumas
demandas econmicas, sociais e po-
lticas dos dominados sem, contudo,
alterar os fundamentos de seu projeto
de sociedade. Nesse processo, a peda-
gogia da hegemonia procurou conquis-
tar coraes e mentes, demonstrando
que o capitalismo se confguraria como
um sistema humanizado capaz de per-
mitir a conciliao de interesses, ainda
que de forma restrita. Em sntese, as
estratgias da pedagogia da hegemonia
buscaram impedir, por meio do con-
vencimento, que as fraes da classe
trabalhadora organizadas em sin-
dicatos e partidos se identifcassem
com o projeto socialista de sociedade.
Apesar dessa tentativa de assimilao,
vrias organizaes da classe trabalha-
dora foram capazes de resistir, mantendo
vivo o ideal socialista.
Constituram-se estratgias efcazes
da pedagogia da hegemonia no sculo
XX at a dcada de 1980, especialmente
nos pases capitalistas centrais (mas no
s neles): o pleno emprego, os acordos
em fruns tripartites governo, em-
presrios e trabalhadores das relaes
de trabalho, os altos salrios e a adoo
de polticas sociais universais. Com isso,
os trabalhadores foram, pouco a pouco,
substituindo em suas lutas as estratgias
de superao das relaes sociais capita-
listas por tticas de adaptao de reivin-
dicaes dentro da ordem estabelecida.
Essas estratgias contriburam efetiva-
mente para metamorfosear o carter
revolucionrio das lutas dos trabalha-
dores em lutas social-democratas, de
natureza reformista.
Nos anos 1990 e 2000, a pedagogia
da hegemonia entrou em sua segunda
fase. Em vez de defender a superiori-
dade do capitalismo sobre o socialismo,
a nova pedagogia da hegemonia procura
afrmar o capitalismo como a nica solu-
o possvel para a humanidade. Em um
plano mais geral, tem reiteradamente
543
P
Pedagogia do Capital
afrmado a morte do socialismo como
projeto poltico-ideolgico, a inexistn-
cia de antagonismo entre as classes so-
cais, e a obsolescncia do materialismo
histrico como mtodo de anlise da
realidade social contempornea.
Em sntese, as estratgias da nova
pedagogia da hegemonia, mantendo
inalterados os fundamentos da pedago-
gia da hegemonia precedente, procu-
ram difundir mundialmente a possibi-
lidade da coexistncia do mercado com
a justia social, conquistada a partir da
concertao social, ou seja, a partir da par-
ticipao de todos os indivduos na
resoluo harmnica de confitos de
interesse pessoal ou grupista.
Mundialmente, os intelectuais org-
nicos singulares e coletivos da nova pe-
dagogia da hegemonia formulam e di-
fundem esses pressupostos e prticas,
realizando uma profunda alterao
no contedo e na forma das relaes
de dominao na atualidade, confgu-
rando um movimento abrangente de
repolitizao da poltica.
A repolitizao da poltica veio
efetivando-se, nas dcadas iniciais do
sculo XXI, de duas maneiras conco-
mitantes: por meio da reestruturao
das prti cas governamentai s para o
crescimento econmico mundial, com
o estabelecimento da coeso social em
tempos de supresso de conquistas da
organizao dos trabalhadores, e por in-
termdio de uma profunda reestrutura-
o da natureza e das prticas dos orga-
nismos da sociedade civil voltados para
a legitimao da ordem capitalista.
Ao mesmo tempo que os governos
limitam a sua ao direta na reproduo
do capital e da fora de trabalho, e na
obteno de consenso, transfguram-se
em articuladores do desenvolvimento
de polticas pblicas feitas no mbito
privado. Desse modo, efetiva-se uma
simbiose entre o pblico e o privado,
na qual as mais diferentes instituies,
independentemente de sua denomina-
o jurdica, realizam juntas aes de
interesse pblico que venham a con-
tribuir para o crescimento econmico
e a paz social. Os empresrios, alm de
apropriadores da riqueza socialmente
produzida, assumem a funo de edu-
cadores sociais, tornando-se parceiros
privilegiados dos governos neoliberais.
Os governos, por sua vez, mercantili-
zam-se assumindo concepes e prti-
cas empresariais para implementar po-
lticas de educao, sade, habitao e
transporte, entre outras, visando con-
formao de uma nova sociabilidade.
Nessa dinmica, as organizaes
que historicamente assumiram a po-
sio de resistncia e/ou de crtica ao
modo de vida capitalista so assimila-
das e passam a prestar servios sociais,
vrios deles sob a fachada de colabo-
rao tcnica, com atuao em mbito
nacional e/ou internacional. A conse-
quncia mais evidente dessa dinmica
resulta na afrmao da sociedade civil
como uma instncia de conciliao das
diferenas, em vez de instncia de ela-
borao e confronto entre projetos so-
cietrios antagnicos.
Dessa forma, implementa-se, de
modo especfico, em cada sociedade
singular capitalista, mais uma dimen-
so do novo modo de fazer poltica
que reduz as lutas da classe trabalha-
dora ao plano imediato de conquistas
secundrias dentro das regras do
jogo capitalista.
Essas estratgias da nova peda-
gogia da hegemonia implementadas
por meio da aparelhagem estatal e no
mbito da sociedade civil, ao mesmo
tempo em que mantm a sociedade em
Dicionrio da Educao do Campo
544
grande efervescncia poltica de nature-
za conservadora, criam novos espaos
de realizao de lucros e restringem o
antagonismo poltico a meros confitos
de interesse.
A legitimao social do novo pro-
jeto mundial de dominao de classe
tem-se realizado por meio de diferentes
estratgias de obteno de consenso: a
divulgao pela mdia, em diferentes
linguagens, do individualismo como
valor moral radical; a refuncionaliza-
o dos organismos de sntese da clas-
se trabalhadora (partidos e sindicatos),
transformando os militantes polticos
da contra-hegemonia em voluntrios da
construo da harmonia social; e a cria-
o de novos intelectuais coletivos
as chamadas organizaes no gover-
namentais (ONGs) que, fragmenta-
riamente, reorientam as lutas sociais
especfcas (dos negros, dos gays, da
terceira idade, dos jovens, dos indge-
nas, das mulheres) desvinculadamente
de um projeto contra-hegemnico, fa-
cilitando a acomodao dessas deman-
das s relaes sociais capitalistas. Es-
ses novos intelectuais coletivos atuam
tambm na implementao de polticas
sociais focalizadas em parcelas miser-
veis das massas trabalhadoras.
Embora algumas estratgias de
conciliao de classe j tivessem sido
implementadas pela pedagogia da he-
gemonia do segundo ps-guerra, em
especial pela gesto tripartite das po-
lticas keynesianas no Estado de bem-
estar social, elas se difundiram mais or-
ganicamente como polticas do conjun-
to dos Estados nacionais, no capitalis-
mo neoliberal de terceira via, o capitalismo
de face humanizada do sculo XXI.
No Brasil, a nova pedagogia da he-
gemonia passou, at a primeira dcada
do sculo XXI, por dois momentos: o
momento de implementao, abran-
gendo os dois Governos Fernando
Henrique Cardoso (FHC), e o momen-
to de aprofundamento, abarcando os
dois Governos Lula da Silva.
No perodo do Governo FHC, foi
implementada a reforma da aparelha-
gem estatal, que estabeleceu os marcos
jurdicos e polticos do novo papel do
aparato governamental na repolitiza-
o da poltica e na relao entre apa-
rato governamental e sociedade civil na
defnio e implementao das polti-
cas pblicas. A reforma da aparelha-
gem estatal instituiu referncias novas
para a velha relao entre capital e tra-
balho no mbito do Estado brasileiro,
propiciando a fragilizao da organi-
zao trabalhadora por meio da priva-
tizao, do desemprego e do estmulo
aos contratos precrios de trabalho.
Alm disso, a nova pedagogia da hege-
monia procurou, conforme orientaes
do Banco Mundial, tornar o Estado
mais prximo do povo, estimulando
a expanso dos organismos denomina-
dos ofcialmente como fundaes pri-
vadas e associaes sem fns lucrativos
(Fasfls) (ver Instituto Brasileiro de
Geografa e Estatstica, 2008).
Nesse
processo, a passagem do confronto
colaborao de classes foi fortalecida
por meio do atendimento parcial de
demandas efetivas do movimento so-
cial, cuja liderana, pouco a pouco,
foi se adaptando a essa nova forma de
convivncia. As bases dos movimentos
sociais, por sua vez, seduzidas pelas
novas mensagens de participao,
redefniram, ativa ou passivamente, a
redefnir sua forma de insero polti-
ca. As atividades focalizadas de assis-
tncia social passaram cada vez mais a
atrair indivduos e grupos em aes de
voluntariado e de parcerias.
545
P
Pedagogia do Capital
No perodo do Governo Lula da
Silva, foram sedimentadas as diretri-
zes e as prticas da educao da so-
ciabilidade do capitalismo neoliberal
de terceira via. As aes educadoras do
novo governo emergiram da poltica de
conciliao entre setores da classe tra-
balhadora e a classe burguesa em seu
conjunto. Essas aes, em boa parte, con-
solidaram um novo patamar de relao
entre o Estado em sentido estrito e a
sociedade civil iniciada no perodo do
Governo FHC. Manteve-se a mesma
tcnica poltica: ampliao seletiva do
ncleo estratgico de comando gover-
namental com alargamento dos canais
de participao popular, para reforar
o papel da burguesia como classe di-
rigente. Isso signifcou que o projeto
democrtico-popular de inspirao so-
cialista foi superado mais uma vez pela
nova pedagogia da hegemonia.
Nesse perodo, a burguesia ampliou
sua ao direta na sociedade e sua in-
terveno nas polticas governamen-
tais por meio da expanso de suas re-
des sociais formuladoras e difusoras da
ideologia da responsabilidade social. Os
movimentos sociais, que at ento con-
testavam os pilares centrais do capita-
lismo neoliberal, passaram a aderir total
ou parcialmente s propostas de con-
certao social. As foras polticas, que,
no passado, haviam assumido posies
importantes na luta anticapitalista
como partidos comunistas, setores do
movimento estudantil, organizaes
dos servidores pblicos federais etc. ,
a partir de 2003, se alinharam s dire-
trizes gerais da dominao. A Central
nica dos Trabalhadores (CUT), que j
apresentava difculdades de organizar
com clareza a luta dos trabalhadores
nos anos de 1990, assumiu, no perodo
do Governo Lula, o sindicalismo de
conciliao, propagando ideias e imple-
mentando polticas reformistas contr-
rias formao de uma conscincia
de classe dos trabalhadores. As organi-
zaes no governamentais tradicionais,
quer por necessidade de sobrevivn-
cia, quer por vinculao espontnea ao
modo burgus de fazer poltica, subme-
teram-se mais intensivamente s estra-
tgias reformistas de concertao social
e ao empresariamento das aes so-
ciais. As Fasfls, que eram em nmero
de 275.895, em 2002, atingiram, em
2005, o total de 338 mil organizaes
(Instituto Brasileiro de Geografa e
Estatstica, 2004 e 2008).
No perodo do Governo Lula da
Silva, as estratgias da nova pedago-
gia da hegemonia, sob a aparente am-
pliao da democracia, atuaram na con-
formao dos trabalhadores sob dois
pilares concomitantes o empreende-
dorismo e o colaboracionismo , for-
mando os brasileiros do sculo XXI nos
limites da nova sociabilidade burguesa.
O xito da nova pedagogia da he-
gemonia no Brasil, na primeira dcada
dos anos 2000, pode ser avaliado pelos
ndices de popularidade dos Governos
Lula da Silva e pela votao insigni-
fcante obtida pelas foras polticas
inspiradas no projeto socialista de so-
ciedade nas eleies presidenciais de
2010. A maneira ao mesmo tempo
molecular e orgnica da implementa-
o das estratgias da nova pedagogia
da hegemonia, ao mesmo tempo que
difculta a construo de uma contra-
hegemonia poltica, tem impulsionado
seus intelectuais orgnicos individuais
e coletivos a redefnirem suas estrat-
gias de educao poltica, neste estgio
da correlao de foras desfavorvel
organizao da classe trabalhadora.
Contraditoriamente, alguns partidos
Dicionrio da Educao do Campo
546
polticos, a Central Sindical e Popular
da Coordenao Nacional de Lutas
(CSP-Conlutas), e alguns movimentos
sociais, entre eles o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
continuam colocando a questo da luta
de classes e se identifcam com a luta
pelo socialismo.
No contexto escolar, a nova pedago-
gia da hegemonia se materializou como
inovao educacional apresentada pela
pedagogia das competncias ou pedagogia
do aprender a aprender. A base dessa
orientao se encontra nos Parmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) lana-
dos no Governo FHC e ratifcados no
Governo Lula da Silva. Sob essa orien-
tao, o trabalho pedaggico realizado
na escola foi orientado a assumir um ca-
rter pragmtico, o que signifca reduzir
o ensino em boa parte ao treinamento
de habilidades cognitivas referenciadas
nas competncias. Os conhecimen-
tos cientfcos, flosfcos e artsticos
transformados em contedos escolares
assumem uma posio secundria na
formao das atuais e novas geraes,
dificultando a compreenso crtica
do mundo.
A poltica educacional no Governo
Lula da Silva reafrmou os fundamen-
tos da nova pedagogia da hegemonia no
mbito escolar. Em relao educao
bsica, a disseminao da nova pedago-
gia da hegemonia pode ser facilmente
atestada pela incorporao das propos-
tas empresariais do movimento Todos
pela Educao na defnio e execu-
o de seus programas de governo.
E, ainda, quando, sob a chancela do
Ministrio da Educao e de secreta-
rias municipais e estaduais de Educa-
o, so estabelecidas parcerias entre
escolas pblicas e empresas, e feita
a compra, pelos governos, de pacotes
pedaggicos, mecanismos fundamen-
tais de difuso de preceitos do projeto
de sociabilidade burguesa para crianas
e adolescentes por intermdio dos pro-
fessores desse nvel de ensino.
Em relao educao superior, o
fortalecimento do conhecimento como
mercadoria exemplar. No lugar de uma
formao integral pblica e gratuita,
uma formao diversifcada, majorita-
riamente privada, com vistas a atender
interesses mercantis imediatos e obter o
consentimento de um contingente sig-
nifcativo de jovens ao projeto poltico
hegemnico, por meio do acesso a esse
nvel de ensino. Alm disso, a transfor-
mao das instituies de educao cien-
tfca e tecnolgica, predominantemente
pblicas, em agncias prestadoras de
servios educacionais e/ou agncias
de inovao e difuso tecnolgica, no
pas e no exterior, contribui para subor-
dinar cada vez mais a educao escolar
aos interesses tcnicos e tico-polticos
das classes proprietrias.
A subordinao da educao escolar
aos interesses das classes dominantes e
dirigentes transforma a escola brasileira
atual em sujeito poltico estratgico na
formao de intelectuais da nova peda-
gogia da hegemonia.
Para saber mais
ARANTES, P. E. Esquerda e direita no espelho das ONGs. Cadernos Abong, n. 27,
p. 3-27, maio 2000.
COELHO, E. Uma esquerda para o capital: crise do marxismo e mudanas nos proje-
tos polticos dos grupos dirigentes do PT (1979-1998). 2005. Tese (Doutorado
547
P
Pedagogia do Capital
em Histria) Programa de Ps-graduao em Histria, Universidade Federal
Fluminense, Niteri. 2005.
DUARTE, N. Sociedade do conhecimento ou sociedade das iluses? Campinas: Autores
Associados, 2003.
GRAMSCI, A. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1999.
(V. 1: Introduo ao estudo da flosofa. A flosofa de Benedetto Croce).
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000a.
(V. 2: Os intelectuais. O princpio educativo. Jornalismo).
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000b.
(V. 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a poltica).
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001.
(V. 4: Temas de cultura. Ao catlica. Americanismo e fordismo).
______. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
(V. 5: O Risorgimento. Notas sobre a histria da Itlia).
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). As fundaes privadas
e associaes sem fins lucrativos no Brasil 2002. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.
______. As fundaes privadas e associaes sem fns lucrativos no Brasil 2005. Rio de
Janeiro: IBGE, 2008.
MARTINS, A. S. A direita para o social : a educao da sociabilidade no Brasil contem-
porneo. Juiz de Fora: EdUFJF, 2009.
NEVES, L. M. W. (org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratgias do capital para
educar o consenso. So Paulo: Xam, 2005.
______ (org.). A direita para o social e a esquerda para o capital: intelectuais da nova
pedagogia da hegemonia no Brasil. So Paulo: Xam, 2010.
______; PRONKO, M. Mercado do conhecimento e conhecimento para o mercado. Rio de
Janeiro: Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio/Fiocruz, 2009.
RODRIGUES, J. Empresrios e educao superior. Campinas: Autores Associados, 2010.
WOOD, E. M. Capitalismo e emancipao humana: raa, gnero e democracia.
In: ______. Democracia contra capitalismo: a renovao do materialismo histrico.
So Paulo: Boitempo, 2003. p. 227-242.
Dicionrio da Educao do Campo
548
P
PEDAGOGIA DO MOVIMENTO
Roseli Salete Caldart
A expresso Pedagogia do Movimento
usada atualmente em um duplo e arti-
culado sentido. Como nome abreviado
de Pedagogia do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), identifca
uma sntese de compreenso do traba-
lho de educao desenvolvido por este
movimento social de trabalhadores,
produzida por ele prprio ou desde
sua dinmica histrica. Como conceito
especfco, a Pedagogia do Movimento
toma o processo formativo do sujeito
Sem Terra para alm de si mesmo e
como objeto da pedagogia, entendida
aqui como teoria e prtica da formao
humana, reencontrando-se com sua
questo originria: entender como se
d a constituio do ser humano, para
ns, como ser social e histrico, pro-
cesso que tem exatamente no movimento
(historicidade) um dos seus compo-
nentes essenciais.
O segundo sentido se produz des-
de a base material do primeiro, mas
a sutileza desta distino se relaciona
aos objetivos mais amplos de sua for-
mulao. A Pedagogia do Movimento
afrma os movimentos sociais como
um lugar, ou um modo especfco, de
formao de sujeitos sociais coletivos
que pode ser compreendida como um
processo intensivo e historicamente
determinado de formao humana. Ela
tambm afrma que essa compreenso
nos ajuda a pensar e a fazer a educao
dos sujeitos da transformao das re-
laes sociais, que produzem, na atua-
lidade e contraditoriamente, organiza-
es de trabalhadores como o MST. E,
pelo movimento da espiral dialtico,
pode ser uma chave de anlise para que
o prprio MST, mas no s ele, refita
criticamente sobre suas prticas educa-
tivas, cotejando-as com seus objetivos
sociais e formativos mais amplos.
Neste verbete, pretendemos trazer
os elementos conceituais bsicos de
constituio da Pedagogia do Movi-
mento no seu percurso de construo
e nas conexes que podem defni-la
como parte de uma teoria pedaggica
e social com categorias que assumem o
contraponto de concepes de educa-
o, de horizontes de formao huma-
na e de sociedade, buscando participar
do prprio movimento de transforma-
o da realidade que a produz. A Pe-
dagogia do Movimento reafrma, para
o nosso tempo, a radicalidade da con-
cepo de educao, pensando-a como
um processo de formao humana
que acontece no movimento da prxis:
o ser humano se forma transforman-
do-se ao transformar o mundo.
Na origem da Pedagogia do Movi-
mento, est a experincia de trabalho
educativo do MST, desde a sua gnese
e no percurso de sua construo (ver
MST E EDUCAO), e uma tentativa de
interpret-la, que foi assim batizada
em determinado momento dessa his-
tria, no fnal da dcada de 1990, pela
seguinte formulao: o MST tem uma
pedagogia que o jeito pelo qual his-
toricamente vem formando o sujeito
social (coletivo) de nome Sem Terra, e
que, no dia a dia, educa as pessoas que
dele fazem parte e pode orientar aes
549
P
Pedagogia do Movimento
organizadas especifcamente para edu-
c-las ou aos seus descendentes.
Trata-se de uma intencionalidade
formativa produzida na dinmica de
uma luta social (pela terra, pelo traba-
lho, de classe), e de uma organizao
coletiva de trabalhadores camponeses,
que pode ser pensada como um pro-
cesso educativo. Sua lgica ensina so-
bre como fazer a formao humana em
outras situaes, mesmo institucionais,
mas tambm pode ajudar a intenciona-
lizar as prprias aes da luta na dire-
o de objetivos mais amplos: pensar
como cada ao seja uma ocupa-
o, uma marcha, uma forma de pro-
duo de alimentos pode ajudar no
processo de formao de seus sujeitos:
como Sem Terra, como campons, como
trabalhador, como classe trabalhadora,
como ser humano; que valores prope,
nega ou refora; que postura estimula
diante da luta, da sociedade, da vida;
e que desafos de superao coloca
sua humanidade.
Esta a Pedagogia do Movimento Sem
Terra, cujo sujeito educador principal
o prprio movimento, no apenas
quando trabalha no campo especfco
da educao, mas fundamentalmente
quando sua dinmica de luta e de or-
ganizao intencionaliza um projeto
de formao humana. H um processo
formativo que comea com o enraiza-
mento dos sem-terra (condio de tra-
balhador da terra desprovido dela) em
uma coletividade, que no nega o seu
passado e sinaliza um futuro que po-
dero ajudar a construir, e que conti-
nua no movimento contraditrio, des-
contnuo, confituoso de produo de
uma identidade coletiva que vai mos-
trando a esses trabalhadores que o
protagonismo de construo do futuro
no ser deles como indivduos isola-
dos, mas como sujeito coletivo, como
classe. Esse processo educativo, e
seu motor justamente uma coletividade
em movimento que passa a produzir uma
referncia de objetivos para cada ao
do cotidiano das pessoas concretas que
a integram.
A materialidade da luta e das rela-
es sociais construdas e transforma-
das para sua sustentao so as cir-
cunstncias educadas para conduzir
a formao de um determinado tipo
de ser humano. E como educador das
circunstncias e sujeito de prxis, o
movimento social se constitui como
sujeito pedaggico, pois pe em movi-
mento diferentes matrizes de formao
humana, entre as quais, e com centra-
lidade, a matriz formadora combinada
da luta social e da organizao coletiva, em
sua articulao necessria com as ma-
trizes do trabalho, da cultura e da histria
(Caldart, 2004). Por isso, temos afrmado
que o MST no cria uma nova pedago-
gia, mas, sim, recupera e mobiliza de um
jei to espec fi co, pel a hi stori ci dade
de suas aes, matrizes pedaggicas
construdas ao longo da histria de
formao da humanidade. E este mo-
vimento pedaggico que est na base
de construo da concepo de educa-
o e tambm de escola do MST, desde
os fundamentos, pois, que a projetam
para alm dele.
Na formulao inicial do conceito
mais amplo de Pedagogia do Movimen-
to, j na entrada do sculo XXI, esteve
o desafo assumido pelo MST de cons-
truir, junto com outros movimentos
sociais camponeses, o projeto poltico-
pedaggico da EDUCAO DO CAMPO,
capaz de envolver o conjunto dos su-
jeitos trabalhadores do campo. Enten-
deu-se que a refexo da Pedagogia do
Movimento, embora construda desde
Dicionrio da Educao do Campo
550
a experincia formativa do MST, ia alm
dele, podendo se constituir como uma
referncia mais imediata de unifcao
da concepo formativa da nova articu-
lao de luta das organizaes campo-
nesas pelo direito educao.
No percurso dessa construo,
que continua, foram se explicitando
duas contribuies sociais importantes
dessa refexo especfca. Uma delas
aprofundar a compreenso da dimen-
so educativa dos movimentos sociais
para que ela possa ser potencializa-
da por eles prprios, assumindo-se como
pedagogos coletivos que pensam cri-
ticamente sobre suas aes e intencio-
nalizam com radicalidade a formao
do ser humano que suas lutas projetam
e sua classe necessita. Outra contri-
buio pensar as implicaes dessa
pedagogia vivenciada no mbito dos
movimentos sociais para a formulao
e a prtica de uma estratgia educacio-
nal dos trabalhadores, do campo e da
cidade, que vise form-los como pro-
tagonistas da luta contra o capital e da
construo de novas relaes sociais
de produo.
importante ter presentes alguns
conceitos que integram essa rede concei-
tual de que aqui se trata. Movimentos sociais
esto sendo entendidos como formas de
mobilizao e de organizao especfca
das classes trabalhadoras para lutas so-
ciais que passam a fazer alguma diferena
no movimento histrico de uma dada so-
ciedade, acorde sua capacidade de fazer
emergir (formar) novos sujeitos sociais
coletivos. Nem todos os hoje denomina-
dos movimentos sociais se desenvol-
vem a partir dessa intencionalidade, mas
ela est presente na realidade especfca
de movimentos do nosso tempo que ser-
vem de referncia para se pensar em uma
Pedagogia do Movimento.
Nesse raciocnio, um movimento
social ter um peso formador maior,
medida que se consolide como or-
ganizao coletiva e consiga formatar
esta organizao (suas relaes sociais
de constituio, suas relaes de traba-
lho), e suas formas de luta, de modo
coerente com objetivos sociais mais
amplos e envolvendo diferentes dimen-
ses da vida humana. Em alguns casos,
passa a ser referncia para organizar
o cotidiano das pessoas: ser do movi-
mento como uma relao social que
formata as demais. s vezes, a questo
que move para a luta, e que constitui
um movimento social, projeta a forma-
o de sujeitos exatamente pela radica-
lidade dos processos de humanizao/
desumanizao nela envolvidos, mas
a estrutura orgnica criada acaba no
tendo fora material sufciente para
realizar o que a luta especfca projeta,
diminuindo seu potencial formador.
Um sujeito social coletivo se refere
associao de pessoas que passam a ter
uma identidade de ao na sociedade, e,
portanto, de formao e organizao em
vista de interesses comuns e de um pro-
jeto coletivo. Revela-se pelo nome
prprio por meio do qual a sociedade
passa a identifcar quem de uma deter-
minada organizao, de um determinado
movimento (Sem Terra, Sem Teto,
Atingidos por Barragens). E sujeitos
coletivos se formam, no so dados pe-
las condies objetivas que os defnem,
exatamente porque seus membros par-
tilham mais do que uma condio: parti-
lham objetivos construdos ou tornados
conscientes no movimento histrico
em que se afrmam ou so reconheci-
dos pela sociedade. Em nosso tempo,
os movimentos sociais esto sendo re-
conhecidos como espaos importantes
de formao de sujeitos coletivos.
551
P
Pedagogia do Movimento
A reproduo ou continuidade his-
trica de um sujeito coletivo depende
de sua constituio projetiva como
sujeito poltico, ou seja, aquele sujeito
coletivo que efetivamente passa a fazer
diferena na correlao de foras pol-
ticas da sociedade em uma determinada
poca diferena pela fora material
de sua luta, ou porque ela, de alguma
forma, torna-se capaz de interrogar o
modo de ser da sociedade (relaes
sociais de produo) e o modo de
vida (cultura) que ela reproduz e con-
solida, provocando a refexo da socie-
dade sobre si mesma. Colocar em ques-
to a propriedade privada como valor
absoluto um exemplo importante do
que aqui se trata.
Lutas sociais so enfrentamentos or-
ganizados, portanto coletivos, de deter-
minadas situaes sociais, na defesa
de interesses tambm coletivos, feitos,
de forma massiva, pelas prprias pes-
soas envolvidas na situao. Em nos-
sa formao histrica, tm sempre um
vnculo de classe social, ainda que no
necessariamente tenham um carter
imediato (ou um objetivo de enfrenta-
mento) de classe. E quanto mais estas
lutas se vinculem a dimenses da pro-
duo social da vida humana, e se co-
l oquem na perspectiva da l uta de
classes, maior sua fora (potencial) for-
madora; quanto mais radical a trans-
formao do mundo que se pretende,
mais radical a transformao humana
que se necessita para faz-la.
Matrizes formadoras e matrizes peda-
ggicas esto sendo usadas aqui como
sinnimos que se referem a atividades
ou situaes do agir humano que so
essencialmente formadoras ou confor-
madoras do ser humano, no sentido de
constituir-lhe determinados traos que
no existiriam sem a atuao dessa ma-
triz, desse agir. Podem ser associadas
ideia de princpio educativo quan-
do esta expresso usada para indi-
car o que seria uma matriz originria
da constituio do ser humano. Assim
se compreende a afrmao do trabalho
como princpio educativo: ele a base de
constituio da prxis, como totalidade
formadora do ser humano.
E consideramos que justamente a
prxis a categoria que pode fazer a
ligao desses conceitos com uma
concepo de ser humano e de seu
processo formativo. Prxis enten-
dida, desde Marx, como a atividade
concreta pela qual os sujeitos humanos
se afirmam no mundo, modificando
a realidade objetiva e, para poderem
alter-la, transformando-se a si mes-
mos (Konder, 1992, p. 115). A prxis
, nesse sentido, a revelao do ser hu-
mano como ser ontocriativo, como
ser que cria a realidade (humano-
social) e que, portanto, compreende a
realidade (humana e no-humana, a rea-
lidade como totalidade). A prxis [...]
no a atividade prtica contraposta
teoria; determinao da existncia
humana como elaborao da realidade
(Kosik, 1976, p. 202). formadora e
ao mesmo tempo forma especfica do
ser humano (ibid., p. 201).
Pensando do ponto de vista da in-
tencionalidade formativa, na prxis
cabe o que aqui estamos identifcan-
do como diferentes matrizes pedaggi-
cas: o trabalho, a cultura, a luta social e
a organizao coletiva, todas inseridas
no movimento da histria, que se con-
forma tambm em matriz formativa.
E a categoria da prxis que nos aju-
da a compreender que nenhuma matriz
pedaggica deve ser vista isoladamente
ou deve ser absolutizada em um pro-
cesso educativo.
Dicionrio da Educao do Campo
552
Afirmar que o ser humano se for-
ma na luta social reafirmar que ele se
constitui como humano na prxis, que
se educa na dialtica entre transforma-
o das circunstncias e autotransfor-
mao. a atividade que forma o ser
humano; mas a atividade que huma-
niza mais radicalmente aquela que
exige a autotransformao que pas-
sa pela compreenso terica da rea-
lidade. E, para Marx, esta atividade ,
originria e centralmente, o trabalho,
como atividade humana criadora, ain-
da que no se esgote nele, projetando-
se como prxis revolucionria.
Assumindo o vnculo essencial entre
educao e prxis, a Pedagogia do Mo-
vimento destaca a especifcidade forma-
dora da luta social no para absolutizar
sua dimenso educativa (ou relativizar
a fora formadora do trabalho, reafr-
mado como princpio educativo), mas por
considerar que ela ainda no foi sufcien-
temente levada em conta, como matriz,
pelas pedagogias inspiradas na tradio
terica que vincula a educao eman-
cipao social e humana, e, nem mes-
mo, na compreenso da constituio da
prxis. E tambm porque no tem sido
refetida/trabalhada nestes termos pe-
los prprios militantes das organizaes
de trabalhadores.
Este destaque se torna ainda mais im-
portante hoje, quando o imaginrio ins-
titudo da sociedade hegemonizado
pelo culto do indivduo (Mszros,
2006) e pela viso de que tentar trans-
formar o mundo, ou pensar em re-
volues sociais, algo ultrapassado,
anacrnico, da mesma forma que se
associam (direta ou simbolicamente)
organizao e coletivos a formas tota-
litrias e autoritrias de pensar a socie-
dade. A Pedagogia do Movimento quer
ajudar a confrontar essa hegemonia.
Dizer que a luta social educa as pes-
soas signifca afrmar que o ser huma-
no se forma no apenas por processos
de conformao social, mas, ao contr-
rio, que h traos de sua humanidade
construdos nas atitudes de inconfor-
mismo e contestao social, e na busca
da transformao do atual estado de
coisas. E ela nos ensina, pela prpria
materialidade que a constitui, que essa
busca no pode ser do indivduo, mas
tambm no se realiza sem ele. Neces-
sita, portanto, da recuperao da dia-
ltica entre indivduo e coletividade
ou, como trata Marx, da reintegrao
de individualidade e sociabilidade na
realidade humana concreta do indivduo
social (apud Mszros, 2006, p. 246).
A luta social no tem um objetivo em
si mesma: no se luta por lutar ou porque
lutar eduque. Luta-se porque h situaes
que esto impedindo a vida humana ou a
sua plenitude. E nesta atitude de enfrentar
ou de resistir contra o que desumaniza
est o principal potencial formador da
luta, exatamente porque constri condi-
es objetivas para a formao dos sujei-
tos de uma prxis revolucionria (ainda
que no a garanta).
Afrmar o movimento social como
sujeito pedaggico e a luta, e a sua orga-
nizao, como matrizes formadoras no
signifca considerar que so pura positi-
vidade. Do mesmo modo que se afrma
a dimenso formativa do trabalho e, ao
mesmo tempo, se analisa a contradio
presente nas formas histricas de traba-
lho (a alienao do trabalho assalariado
capitalista, por exemplo), pode-se ana-
lisar o carter deformador (em nossa
concepo de formao) de formas de
organizao da luta social encontradas
em alguns movimentos sociais, ou em
determinadas situaes dos prprios
movimentos, que servem de base com-
553
P
Pedagogia do Movimento
preenso de sua dimenso formadora.
So exatamente as contradies que
nos podem mostrar melhor o movimento
da formao humana e como agir na
educao dos trabalhadores, visando
ao seu protagonismo efetivo no pro-
cesso de refundao da sociedade.
No dilogo com a teoria pedaggi-
ca e social, trata-se de tomar posio
diante do embate de tradies distin-
tas de pensar e de fazer a formao
humana. A Pedagogia do Movimen-
to recupera, reafrma e, ao mesmo tem-
po, continua, desde uma realidade es-
pecfca, com seus sujeitos particulares
e em um tempo histrico determinado,
a construo terico-prtica de uma
concepo de educao de base mate-
rialista, histrica e dialtica. herdeira
da flosofa da prxis como concepo
que radicaliza a ideia do ser huma-
no (ser social e histrico) como pro-
duto de si mesmo: ao mesmo tempo
produto e sujeito da histria, forma-
do pela sociedade e construtor da so-
ciedade sujeito de prxis.
E herdeira tambm da Pedago-
gia do Oprimido (Paulo Freire), que,
enquanto materializao dessa mes-
ma concepo, traz para a refexo
pedaggica o potencial formador da
condio de opresso, humanamente
exigente da atitude de busca da liber-
dade e de luta contra o que oprime, e
que coloca os oprimidos na condio
potencial de sujeitos da sua prpria
libertao: Quem melhor do que os
oprimidos se encontrar preparado [...]
para ir compreendendo a necessidade
da libertao? Libertao a que no
chegaro pelo acaso, mas pela prxis
de sua busca (Freire, 1983, p. 32). A
Pedagogia do Movimento trata exata-
mente dessa busca, que signifca hoje
um processo coletivo de formao dos
trabalhadores que fortalea seu engaja-
mento massivo e organizado nas lutas
pela superao do capitalismo.
possvel e necessrio reproduzir
e/ou projetar em outras prticas, ou
em outros lugares educativos, valores,
smbolos, conhecimentos, convices,
sentimentos e posturas produzidas/
projetadas pela Pedagogia do Movi-
mento, e, especialmente, pela matriz
formadora da luta social e sua organi-
zao coletiva. Para isso, importante
analisar quais traos/aprendizados do
ser humano so produzidos, ou pelo
menos projetados, pela vivncia con-
tinuada no ambiente dos movimentos
sociais, e refetir sobre como estes tra-
os se formam e como poderiam ser
trabalhados pela intencionalidade edu-
cativa de outras prticas.
Note-se que, at agora, tratamos de
pedagogia e ainda no mencionamos a
escola, sendo este um registro necess-
rio na fnalizao deste verbete. A Pe-
dagogia do Movimento no tem como
seu objeto central de refexo a escola,
ainda que seu esforo de elaborao
tenha comeado e se realize em torno
dela e que o MST historicamente re-
force seu papel especfco na formao
dos trabalhadores.
Foi lutando pelo direito dos Sem
Terra escola e, ao mesmo tempo, bus-
cando compreender as transformaes
necessrias nela para que se vinculasse
s suas lutas e aos seus objetivos so-
ciais mais amplos, que o MST chegou
a entender a dimenso e a importncia
histrica do que pretendia. Por isso,
temos o costume de afrmar que a Pe-
dagogia do Movimento no cabe na
escola, mas a escola cabe na Pedagogia
do Movimento, pelo lugar que pode
ter em seu projeto poltico e educativo,
mas que somente ser assumido se
Dicionrio da Educao do Campo
554
encarnar uma historicidade no cir-
cunscrita a ela mesma. E, por isso tam-
bm, o MST tem dialogado, em seu per-
curso de trabalho educacional, com as
experincias da PEDAGOGIA SOCIALISTA.
O produto principal da Pedagogia
do Movimento no uma proposta de
escola, e nem seu objetivo esgotar
a refexo sobre ela e mesmo sobre a
pedagogia. Porm consideramos que a
Pedagogia do Movimento a afrma-
o de uma concepo de educao
que pode mexer bastante com os ru-
mos da escola na direo dos interesses
dos trabalhadores. No tempo em que
vivemos, o que est em jogo, quando
se trata de educao, no apenas a
modificao poltica das instituies
de educao formal (Mszros, 2006,
p. 264), mas uma estratgia educa-
cional socialista que assuma a tare-
fa de transcender as relaes sociais
alienadas sob o capitalismo (ibid.).
A hegemonia das relaes capitalis-
tas se alimenta da reproduo da vi-
so de mundo e da postura humana
que lhes corresponde. Um outro pro-
jeto no sobreviver nem se expan-
dir sem uma intencionalidade nesta
esfera. preciso construir um am-
biente cultural/educativo, combinada-
mente de inconformismo, de partici-
pao poltica, de projeto coletivo, de
anlise rigorosa da realidade, que re-
produza/fortalea os sujeitos capazes
deste confronto de projetos.
No ser pouco se o encontro entre
Pedagogia do Movimento e escola pro-
vocar uma refexo sobre seus objetivos
formativos e sobre as matrizes pedag-
gicas que deve acionar para realizar sua
tarefa educativa especfca, que implica
o trabalho com determinadas formas
de conhecimento, compondo o quadro
global dessa estratgia mais ampla e in-
tegrando (por realizar tambm no seu
interior) o movimento da prxis. No
MST, foi exatamente a rediscusso
das finalidades educativas da escola
que acabou gerando uma reflexo so-
bre a necessidade e as possibilidades
de transformao da forma escolar
e da lgica do trabalho pedaggico
que ali se realiza.
O desafo aos educadores de esco-
la tambm o de buscar compreender
os processos de formao humana que
acontecem fora dela, compondo um
mtodo de conduo pedaggica dos
processos escolares mais prximo da
complexidade da vida da formao hu-
mana. Este processo facilitado quan-
do a escola estabelece algum tipo de
vnculo orgnico com outros lugares
de formao de sujeitos sociais coleti-
vos, e quando os prprios movimentos
sociais ocupam a escola e dela se ocu-
pam, incluindo a formao das novas
geraes em sua prxis poltica e pe-
daggica.
A materialidade da atuao dos mo-
vimentos sociais com projeto histrico
parece fundamental para reproduzir a
prxis de formao humana que reali-
zam ou podem realizar pelo que obje-
tivamente so. medida que desenca-
deiam este movimento pedaggico
capaz de interrogar o conjunto da so-
ciedade sobre seu destino, tm o gran-
de compromisso de consolidar este
movimento dentro de sua prpria din-
mica. E isto no algo dado, mas sim
construdo, posto que seus integrantes
tambm esto expostos s investidas
cada vez mais refnadas da PEDAGOGIA
DO CAPITAL.
Afrmar a Pedagogia do Movimen-
to como referncia poltica e pedaggi-
ca da Educao do Campo hoje par-
te deste desafo. Signifca reafrmar os
movimentos sociais como sujeitos pro-
tagonistas deste projeto e considerar a
555
P
Pedagogia do Oprimido
luta social como matriz pedaggica que
integra a sua concepo de educao,
compreendendo o campo (suas rela-
es sociais, suas contradies) como
a totalidade formadora na qual dife-
rentes prticas educativas se pem e
contrapem na constituio prtica de
determinado ser humano.
Para saber mais
BARATA-MOURA, J. Materialismo e subjetividade: estudos em torno de Marx. Lisboa:
Avante, 1998.
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. 3. ed. So Paulo: Expresso
Popular, 2004.
______. Teses sobre a Pedagogia do Movimento. Porto Alegre, junho de 2005. (Mimeo.).
______. O MST e a escola: concepo de educao e matriz formativa. In:
______. (org.). Caminhos para a transformao da escola. So Paulo: Expresso
Popular, 2010. p. 63-83.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
KOSIK, K. Dialtica do concreto. 2
.
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
KONDER, L. O futuro da flosofa da prxis: o pensamento de Marx no sculo XXI.
2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alem. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
MSZROS, I. A teoria da alienao em Marx. So Paulo: Boitempo, 2006.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). Princpios da educa-
o no MST. Caderno de Educao, n. 8, jul. 1996.
NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia poltica: uma introduo crtica. 4. ed. So Paulo:
Cortez, 2008.
SADER, E. Quando novos personagens entram em cena. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1995.
P
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO
Miguel G. Arroyo
Como aproximar-nos da Pedagogia
do Oprimido? Que significados car-
rega para a teoria pedaggica, para a
pedagogia dos movimentos sociais
e, especificamente, para a educao
do campo? Trata-se de mais um con-
ceito na diversidade de formas de
se conceituar a pedagogia? O que esse
conceito traz de radicalidade poltica e
pedaggica?
O prprio termo Pedagogia do
Oprimido nos obriga a assumir a inse-
Dicionrio da Educao do Campo
556
parabilidade de todo conceito do con-
texto cultural e poltico que inerente
produo do conhecimento.
Um conceito que sustenta
prticas sociais
Pedagogia do Oprimido um con-
ceito, uma concepo de educao cons-
truda em um contexto histrico e
poltico concreto. uma concepo
e prtica pedaggica construdas e re-
construdas nas experincias sociais e
histricas de opresso e nas resistn-
cias dos oprimidos, dos movimentos
sociais pela libertao de tantas formas
persistentes de opresso.
Ao aproximar-nos dessa concepo
de educao Pedagogia do Oprimido ,
aprendemos que todo conhecimento,
toda concepo, tem origem nas ex-
perincias sociais. Todo conhecimento
sustenta prticas sociais que exigem ser
explicitadas para sua inteligibilidade e
para a ao poltica.
O conceito-concepo de Pedagogia
do Oprimido, como toda concepo,
sustenta-se e encontra inteligibilidade e
fora poltico-pedaggica ao explicitar
e revelar essas prticas sociais, polticas e
pedaggicas. Foi construdo e pratica-
do com essa inteno. A Pedagogia do
Oprimido nos ensina que, enquanto as
experincias sociais, humanas, de tra-
balho, das vivncias e resistncias no
forem reconhecidas e explicitadas como
conformantes dos conceitos, das teorias
e dos valores, no encontraro signifca-
do histrico, no tero fora pedaggi-
ca, nem poltica. A Pedagogia do Opri-
mido tambm nos obriga a assumir que
todo conhecimento inseparvel dos
sujeitos histricos dessas experincias
produtoras de conhecimentos, de valo-
res, de cultura e de emancipao.
Os oprimidos sujeitos
pedaggicos, educadores
O prprio enunciado de Paulo
Freire, pedagogia do oprimido, aponta
para essa relao entre experincias de
opresso, entre sujeitos que padecem e
reagem opresso e radicalidade de-
formadora-formadora desses proces-
sos sociais. No mais uma pedagogia
reconceituada, entendida e praticada
para educar, politizar e conscientizar os
povos oprimidos, mas uma pedagogia
do oprimido, de tantos oprimidos por
relaes sociais, econmicas e culturais,
por padres de trabalho, de proprie-
dade e de apropriao-expropriao-
explorao da terra e do trabalho
trabalhadores, mulheres, indgenas, ne-
gros; pedagogias desses coletivos que
se for mam, consci enti zam-se e se
libertam nas brutais e opressoras ex-
perincias e relaes de opresso,
de resistncia e de libertao.
Logo, a aproximao a esse concei-
to e a compreenso dele (como de todo
conceito e de todo conhecimento) nos
obrigam a tomar como ponto de partida
os sujeitos concretos os oprimidos
no contexto histrico em que se hu-
manizam e em que se formam, na me-
dida em que experimentam e reagem,
libertando-se da opresso. Essa vincu-
lao de todo conhecimento e de toda
pedagogia com as experincias das re-
laes sociais e seus sujeitos histricos
torna-o histrico, poltico, intencional,
radical: pedaggico.
Por sua vez, quando os conceitos
se distanciam das experincias sociais,
das relaes polticas e dos sujeitos que
os produzem, perdem inteligibilidade
e radicalidade poltica e pedaggica,
sobretudo para os prprios sujeitos
que os padecem e deles se libertam.
557
P
Pedagogia do Oprimido
Ningum melhor do que os oprimidos
para entender a radicalidade poltico-
pedaggica da Pedagogia do Oprimi-
do, porque, nela, eles so sujeitos de sua
pedagogia. Trata-se, portanto, de uma
diretriz pedaggica da maior radicali-
dade para toda docncia e, em especial,
para a Educao do Campo. Como po-
demos entend-la quando pensamos na
repolitizao da educao do campo?
Em que experincias
sociais surge a Pedagogia
do Oprimido?
A Pedagogia do Oprimido se insere
no movimento de educao e cultura
popular que se d no fnal dos anos
1950 e se prolonga at os anos 1960, em
um contexto de esgotamento do popu-
lismo e de mltiplas manifestaes dos
setores populares em presses sociais,
em um contexto de afrmao de su-
jeitos polticos. Esse movimento se ali-
menta, sobretudo, das reaes e da or-
ganizao dos trabalhadores do campo
nas Ligas Camponesas e em sindicatos.
Refete o contexto poltico de lutas pe-
las Reformas de Base, da centralidade
das presses pela Reforma Agrria e da
persistncia tensa da questo da terra
na nossa formao social e poltica.
O movimento de educao e cul-
tura popular signifca uma resposta
poltico-pedaggica a essas tenses, que
no se limitam ao Brasil, mas esto ex-
postas nos povos da Amrica Latina e
nos povos da frica, em reao contra
o colonialismo. Lembremos que Paulo
Freire se refere com frequncia obra
de Fanon Os condenados da terra (1965).
A nfase na pedagogia do oprimido
e no para educar os oprimidos se ali-
menta da centralidade que Paulo Freire
d histria feita pelos sujeitos: uma
histria humana e humanizadora
portanto, pedaggica. No h realida-
de histrica que no seja humana. No
h histria sem homens, como no h
uma histria para os homens, mas uma
histria de homens que, feita por eles,
tambm os faz, como disse Marx
(Freire, 1987, p. 127).
A Pedagogia do Oprimido tenta
traduzir essa radical viso no pensar-
agir educativo, reconhecedo que os
homens fazem a histria e so feitos
por ela. Esse um princpio educativo
reafrmado pelos movimentos sociais:
a conscincia de que, ao fazerem outra
sociedade, outro campo, outra histria,
fazem-se outros. Quanto mais radi-
cais so essas experincias de fazer a
histria, mais radicais os processos de
formao, de fazer-se como seres hu-
manos. Ao longo destas dcadas, a Pe-
dagogia do Oprimido vem sendo radi-
calizada pelos oprimidos organizados,
em resistncias e em aes coletivas
de emancipao.
Se a postura pedaggica inicial
partir dos sujeitos, como v-los?
Paulo Freire nos leva a ver os sujeitos da
Pedagogia do Oprimido em antagni-
cas relaes sociais, econmicas, pol-
ticas e culturais. Os termos frequentes
para nomear os atores que se relacionam
nesse processo so opressores e oprimi-
dos, ou classes sociais em lutas antag-
nicas. No h nada, contudo, de mais
concreto e real do que os homens no
mundo e com o mundo. Os homens
com os homens, enquanto classes que
oprimem e classes oprimidas (Freire,
1987, p. 126). Logo, h que v-los em
relaes antagnicas entre classes, no
em polarizaes vagas no antagnicas.
Paulo Freire aponta o papel polti-
co da teoria pedaggica: revelar essas
Dicionrio da Educao do Campo
558
relaes opressoras de classe e reco-
nhecer os oprimidos como educadores.
isso que confere sentido Pedagogia
do Oprimido. Tambm ressalta o pa-
pel do movimento de educao-cultu-
ra popular e das lutas do coletivo de
educadores que se aproximam dessas
vivncias da opresso e das classes
oprimidas. So educadores (as) que, ao
tentarem entender as dimenses for-
madoras e educativas que perpassam
essas vivncias, educam-se, e, nesse
movimento, reconhecem os oprimi-
dos como sujeitos de saberes, de cul-
turas e de modos de ler o mundo e
de pensar-se.
Nessa prtica-movimento de edu-
cao, ou nessa prtica tico-poltica-
educativa, foi sendo elaborada essa
concepo de educao, baseada em
leituras da educao apreendidas de
Paulo Freire pelo coletivo de educa-
dores e em leituras dos processos que
acontecem nas vivncias da opresso e
da libertao dos prprios oprimidos.
Os oprimidos vo reeducando os edu-
cadores e o pensamento pedaggico,
numa uno reeducadora que os movi-
mentos sociais vm assumindo.
A experincia da opresso
como matriz pedaggica
Paulo Freire teve a ousadia de
acrescentar ao trabalho como prin-
cpio educativo a vivncia e a reao-
libertao da opresso como matriz
formadora. Os oprimidos criam e re-
criam suas existncias nas vivncias-
reaes opresso, ao terem cons-
cincia da opresso e dela tentarem
libertar-se: criam alternativas, fazem
escolhas, exercem sua liberdade huma-
na; formam-se nas vivncias-reaes
opresso. Quem, melhor do que os
oprimidos, se encontrar preparado
para entender o signifcado terrvel
de uma sociedade opressora? Quem
sentir, melhor do que eles, os efeitos
da opresso? Quem, mais do que eles,
para ir compreendendo a necessidade
da libertao? (Freire, 1987, p. 31).
A relao com a opresso no
uma relao natural, ou com uma fora
natural, nem tem uma herana maldita:
uma relao com uma situao histri-
ca produzida; situao que fruto de
opes e de relaes sociais e polticas
antagnicas de classe capazes de pro-
duzir reaes e outras opes de liber-
tao. Nesses processos, os oprimidos
se modifcam ao tentarem modifcar as
relaes de opresso. As vivncias da
opresso so vistas por Paulo Freire
como autoconscientizadoras, autocria-
tivas. O oprimido um ser que d res-
postas; ele no fca paciente-passivo,
como na viso dos opressores.
A educao se d nas respostas ne-
gatividade, s carncias e aos limites da
opresso a que so submetidos. Onde
situar a radicalidade da opresso? Nas
carncias de vida, de atender aos impe-
rativos de um justo e digno viver como
humanos. As vivncias da opresso no
so apenas culturais, de conscincia
a ser esclarecida, mas de necessidades
vitais, de povos privados de possibili-
dades de poder manter a vida humana
porque so oprimidos, sem terra, sem
teto, sem territrios, sem trabalho, nos
limites da sobrevivncia logo, sem li-
berdade de criar, recriar, viver pelo tra-
balho, pelas condies no limite para
produo-reproduo bsica de suas
existncias. A condio de opresso
incide primeiro, e de maneira radical,
sobre essas condies materiais, so-
bre o carecimento das possibilidades
de responder s necessidades bsicas
559
P
Pedagogia do Oprimido
de viver como humanos. A radica a sua
fora antipedaggica, deformadora.
Esse carecimento radical primeiro
provoca as respostas mais radicais e,
consequentemente, mais pedaggicas
na Pedagogia do Oprimido. Um alerta
da maior relevncia para trabalhar na
educao dos oprimidos das cidades
e dos campos o de v-los oprimidos
nas possibilidades bsicas de viver-ser
como humanos. Essa opresso a mais
radical no ser humano, e, por isso,
mais pedaggica em nossa histria do
que a opresso por convencimento,
por falsa conscincia.
opresso nas bases da produo
da existncia que os oprimidos reagem
em movimentos de libertao, em lutas
por terra, territrio, trabalho, teto, vida.
Nessas bases materiais, se do as respos-
tas e opes mais radicais dos oprimidos
pela libertao das classes opressoras,
porque a se do as opresses mais ra-
dicais: negao da vida e das condies
de viver terra, trabalho. Esse um dos
sentidos mais poltico-pedaggicos da
emancipao, da libertao que aconte-
ce nas vivncias da opresso, na relao
inseparvel entre carecimento, necessi-
dade e liberdade, libertao. A radicam
as virtualidades formadoras mais ra-
dicais dos processos coletivos de liber-
tao da opresso.
Aprofundando a concepo da
educao como humanizao
Toda ao pedaggica nos movi-
mentos ou nas escolas dever levar
em conta as formas histricas e diver-
sas das relaes sociais de opresso-
libertao. Paulo Freire aprofunda a
concepo de educao ao lembrar-
nos, que nessas vivncias histricas
de opresso, entram em jogo proces-
sos de humanizao-desumanizao
na diversidade de dimenses do ser
humano. significativo que uma das
dimenses mais destacadas por Paulo
Freire na Pedagogia do Oprimido seja
a identificao entre educao e hu-
manizao: como nos fazemos huma-
nos ao fazermos a histria. Assim se
aprende a viso mais radical da teoria
pedaggica e do fazer educativo.
Nas vivncias da opresso-liberta-
o, descobre o ser humano que pouco
sabe de si, de seu posto no cosmos,
e se inquieta por saber mais, por sa-
ber de si. Faz de si mesmo problema.
O problema de sua humanizao [...]
assume carter de preocupao inilu-
dvel (Freire, 1987, p. 29). A Pedago-
gia do Oprimido uma pedagogia da
humanizao, das indagaes sobre a
condio humana vindas dos oprimi-
dos; uma pedagogia do oprimido que
se indaga sobre o reconhecimento da
desumanizao que padece como reali-
dade histrica.
tambm, e talvez sobretudo, a
partir dessa dolorosa constatao que
os homens se perguntam sobre a outra
viabilidade a de sua humanizao
(Freire, 1987, p. 29). Nessa relao dial-
tica entre desumanizao-humanizao,
vivenciada de maneira radical na opres-
so, que a Pedagogia do Oprimido
encontra sua radicalidade: a humaniza-
o, uma vocao negada, mas tambm
afrmada na prpria negao. Vocao
negada na injustia, na explorao, na
opresso, na violncia dos opressores,
mas afrmada no anseio de liberdade,
de justia, de luta dos oprimidos, pela
recuperao de sua humanidade rouba-
da (ibid., p. 30).
A Pedagogia do Oprimido, seja
nos movimentos, seja nas escolas,
seja nos cursos de formao, deve
Dicionrio da Educao do Campo
560
reconhecer esses tensos processos,
explicit-los e trabalh-los pedagogi-
camente; mostrar que a desumanizao
da opresso no uma vocao hist-
rica, mas assumir que, mesmo que a
desumanizao seja um fato concreto,
persistente na histria, no , porm
destino dado, mas resultado de uma or-
dem injusta gerada pela violncia dos
opressores. Explicitar, destacar essa
realidade histrica, no um destino
dado, uma das tarefas da Pedagogia
do Oprimido e da pedagogia dos mo-
vimentos de libertao uma tarefa da
Educao do Campo e das escolas do
campo, indgenas, quilombolas.
Contudo, a tarefa vai alm. H que
se destacar as lutas dos prprios opri-
midos por recuperar a humanidade
roubada, dar centralidade pedaggica
a elas e mostrar a pluralidade de pro-
cessos de humanizao: as lutas pela
humanizao, pelo trabalho livre, pe-
la desalienao e pela sua afirmao
como pessoas, como seres em si.
O conceito de Pedagogia do Opri-
mido, quando enraizado nas vivn-
cias da opresso e nos sujeitos que as
padecem e delas se libertam, leva a uma
das concepes mais radicais: a edu-
cao como humanizao, como recu-
perao da humanidade roubada, como
libertao-emancipao.
Os movimentos sociais
repolitizam a Pedagogia
do Oprimido
A Pedagogia do Oprimido no se
esgota no contexto histrico em que
surge. Ela apropriada em seus traos
mais bsicos na diversidade de movi-
mentos sociais urbanos e do campo,
na diversidade de sociedades latino-
americanas, sobretudo, e nos movi-
mentos de luta contra a colonizao da
frica. Nas ltimas dcadas, ela orienta
a ao pedaggica de diversos agentes
educadores e de diferentes coletivos
populares. Podemos ver, nessa trajet-
ria histrica, uma repolitizao da Pe-
dagogia do Oprimido. Que dimenses
so repolitizadas?
Terra: matriz formadora
Os movimentos sociais repolitizam
a opresso-resistncia-libertao nas
bases do viver, na produo da exis-
tncia humana. Os movimentos mais
radicais mostram que a opresso se d
na expropriao da terra, do territ-
rio, do teto, do trabalho, na destruio
dos processos de viver, de produo,
da agricultura camponesa... Nas re-
sistncias e lutas por essas bases do
viver, os movimentos sociais colocam
os aprendizados mais radicais: os pro-
cessos de humanizao, libertao.
Esses movimentos repolitizam a
pedagogia da terra: o que essa peda-
gogia acrescenta Pedagogia do Opri-
mido e pedagogia do trabalho? Terra
mais do que terra. o espao em
que o ser humano se defronta primei-
ro com a natureza, como fora e como
produtora de vida. Pela agricultura, o
ser humano se apropria da terra como
produo da vida e de si mesmo, mo-
difica a terra e se modifica. Na agri-
cultura camponesa, o campons e
toda a sua famlia produzem alimen-
tos e vida, e se produzem em todas as
dimenses como humanos. O trabalho
na terra carrega sua pedagogia: terra
matriz formadora (Arroyo, 2011).
Os movimentos sociais reafrmam
identidades, aes, movimentos cole-
tivos, de sujeitos sociais, de polticos,
de educadores coletivos. A Pedagogia
561
P
Pedagogia do Oprimido
do Oprimido teve sua origem na orga-
nizao dos trabalhadores do campo
em Ligas Camponesas, em sindicatos.
Os novos movimentos urbanos e do
campo, ao radicalizarem suas aes,
sua organizao e suas estratgias de
resistncia e de libertao, radicalizam
os pressupostos e as dimenses da Pe-
dagogia do Oprimido.
Esses movimentos no apenas
mostram a terra, o espao, o territrio
como fronteira de expropriao sem-
teto, sem-terra, sem-territrio , mas
se afrmam como sujeitos coletivos,
polticos, de polticas de outro projeto
de campo e de cidade, de outro pro-
jeto de sociedade. Como movimentos,
constroem outras pedagogias: outra re-
fexo e teorizao sobre suas prticas
formadoras, e se afrmam como sujei-
tos de ao-refexo-teorizao peda-
ggica (Caldart, 2000).
A Pedagogia do Oprimido
e a escola do campo,
indgena e quilombola
A Pedagogia do Oprimido tem de
vencer resistncias para ser assumida
pela pedagogia escolar. Os movimen-
tos sociais e coletivos de docentes-
educadores tentam incorpor-la, mas
a pedagogia escolar resiste a deixar-se
interrogar pela radicalidade terica e
poltica da Pedagogia do Oprimido.
Entretanto, os movimentos so-
ciais repolitizam a pedagogia esco-
lar do campo, indgena, quilombola,
inter-racial, das comunidades campo-
nesas, negras... Que dimenses me-
recem destaque? Primeiro, preciso
partir do reconhecimento de que os
sujeitos da ao educativa, educado-
res e educandos(as), desde crianas, e
suas famlias e comunidades, padecem
opresses histricas e lutam por sua
libertao. Alm disso, na formao e
na ao pedaggica dos educadores
e das educadoras do campo, indgenas e
quilombolas, deve-se dar centralida-
de aos processos de opresso: como
se manifesta a diversidade de formas de
opresso desses coletivos? Como essas
formas se concretizam nos processos
de negao da escola e de precariza-
o de suas vidas desde crianas? Como
trazem a opresso em suas vidas pre-
carizadas para as salas de aula? Como
formar professores(as) que entendam
essas formas histricas de opresso
das comunidades e dos povos do cam-
po com os quais trabalham? Imposs-
vel construir outra escola do campo
sem entender e trabalhar os processos
histricos de opresso da diversidade
de povos do campo.
Ocupar o territrio-escola
A Pedagogia do Oprimido encontra
sua afrmao nos processos educativos
extraescolares, sobretudo, mas tambm
inspira outra escola, outras prticas edu-
cativas escolares. O trao mais radical:
ocupar o territrio-escola. Os movi-
mentos sociais, ao lutarem por terra, es-
pao e territrio, articulam as lutas pela
educao, pela escola como territrio,
espao de educao s lutas por direi-
tos a territrios. Mostram a articulao
entre todos os processos histricos de
opresso, segregao e desumanizao,
e reagem, lutando em todas as fronteiras
articuladas de libertao. Escola mais
do que escola na pedagogia dos movi-
mentos. Ocupemos o latifndio do co-
nhecimento como mais uma das terras,
como mais um dos territrios negados.
A escola, a universidade e os cursos
de formao de professores do cam-
Dicionrio da Educao do Campo
562
po, indgenas, quilombolas so mais
outros territrios de luta e de ocupa-
o por direitos. A negao, a precari-
zao da escola, equacionada como
uma expresso da segregao-opresso
histrica da relao entre classes. J a
escola repolitizada mais um territ-
rio de luta e ocupao, de libertao da
opresso. A Pedagogia do Oprimido
radicalizada na pedagogia escolar pelas
lutas dos movimentos por educao do
campo no campo, por escola do campo
no campo.
Disputar os currculos
i mpor tante dar central i dade,
nos currculos das escolas do campo,
s experincias de opresso e, sobre-
tudo, de resistncia que professores e
educandos carregam para as escolas;
trazer as experincias sociais, coletivas,
assim como dar centralidade histria
de expropriao dos territrios, das
teorias, da destruio da agricultura
camponesa; trazer para os currculos as
persistentes formas de resistncia, de
afrmao e de libertao dos povos
do campo de que os prprios edu-
cadores e educandos parti ci pam
experincias de formao-humaniza-
o, de recuperao da humanidade
roubada, ausentes nos currculos ofciais
e no material didtico, mas que dispu-
tam o territrio dos currculos nas esco-
las do campo e nos cursos de formao e
de licenciatura.
Disputar a presena
dos sujeitos
No apenas as experincias da
opresso-libertao esto ausentes nos
currculos, mas, sobretudo, os seus su-
jeitos. Destacamos que a Pedagogia do
Oprimido uma pedagogia de sujeitos,
de coletivos e de suas vivncias so-
ciais, polticas, culturais, humanizado-
ras. Os sujeitos tm estado ausentes
nos processos de educao escolar ou
so vistos como passivos, contas ban-
crias. Como reconhec-los ativos, re-
sistentes sujeitos de formao? Os mo-
vimentos sociais apontam a direo.
Desconstroem a representao social
dos povos do campo como passivos,
acomodados, pacientes, e os afrmam
resistentes, construtores de outro pro-
jeto de sociedade e de campo, e de ou-
tros saberes e valores desde crianas e
porque participando em aes coletivas
e em movimentos de libertao.
Que a escola e o conjunto de aes
formadoras privilegiem o direito dos
oprimidos a saberem-se sujeitos de li-
bertao da opresso e de recuperao
de sua humanidade roubada, a sabe-
rem-se sujeitos de humanizao.
Para saber mais
ARROYO, M. As matrizes pedaggicas da Educao do Campo na perspectiva da
luta de classes. In: MIRANDA, S. G.; SCHWENDLER, S. F. (org.). Educao do Campo em
movimento. Curitiba: UFPR, 2011. V. 1.
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Petrpolis: Vozes, 2000.
FANON, F. Los condenados de la tierra. Mxico, D. F.: Fondo de Cultura
Econmica, 1965.
563
P
Pedagogia Socialista
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
STRECK, D.; RODIN, E.; ZITKOSKI, J. (org.). Dicionrio Paulo Freire. Belo Horizonte:
Autntica, 2008.
P
PEDAGOGIA SOCIALISTA
Maria Ciavatta
Roberta Lobo
A elaborao terica e prtica
de uma pedagogia socialista sempre
esteve organicamente vinculada s
experincias de luta social e poltica,
demarcando concepes diferencia-
das de formao humana ante a con-
cepo hegemnica do capital, que im-
pe aos homens a forma mercadoria
como marco de construo da sua sub-
jetividade e materialidade histrica.
Portanto, tratar de uma pedago-
gia socialista, mais do que se ater a
princpios metafsicos, dimensionar
dialeticamente as experincias concre-
tas de formao humana no bojo dos
processos revolucionrios, das orga-
nizaes polticas e dos movimentos
sociais que apontaram, ao longo do s-
culo XX, para processos de formao
humana nos quaisn o homem a medida
de todas as coisas.
1
Mesmo mantendo a
potncia deste velho ensinamento pr-
socrtico e lanando esperana para
tempos futuros, tais experincias so
atravessadas por contradies, limites
e deformaes. Portanto, ser na din-
mica contraditria das experincias do
que podemos identifcar como pedagogia
socialista que focaremos nosso olhar.
A escolha do recorte histrico se
dar na seguinte direo: as duas ex-
perincias mais conhecidas no cam-
po da esquerda a experincia da
pedagogia socialista russa e a da pe-
dagogia socialista cubana , e duas
experincias silenciadas a pedagogia so-
cialista mexicana e a pedagogia liber-
tria espanhola.
A pedagogia socialista russa
H que se levar em conta a rela-
o dialtica entre a conscincia e o
modo de produzir a vida, fundamental
para a realizao dos objetivos revolu-
cionrios. No foi diferente na revo-
luo socialista russa, que teve muitos
embates para implantar a nova socie-
dade e contou com pedagogos apai-
xonados pelos ideais da educao
do futuro a educao do homem
novo que deveria crescer com a so-
ciedade comunista.
A Revoluo Russa foi a culmi-
nncia de um projeto iniciado com a
contradio histrica da primeira revo-
luo socialista, que teve lugar, no no
mais avanado pas capitalista, mas em
um pas atrasado onde as foras pro-
dutivas e a estrutura da sociedade eram
ainda semifeudais. Um pas onde no
havia ensino formal para a maioria dos
operrios e dos camponeses, ao me-
nos trs quartos da populao eram
Dicionrio da Educao do Campo
564
analfabetos, os professores no esta-
vam capacitados, tinham baixos salrios
e baixa posio social e a Igreja Ortodo-
xa dirigia a maioria das escolas (Castles
e Wstenberg, 1982, p. 66-69).
Neste breve texto, vamos nos de-
ter apenas na primeira etapa da cons-
truo de um sistema educacional
socialista (1917 a 1931), perodo tido
como balizador da educao preten-
dida pelos pedagogos revolucion-
rios, sendo alguns de seus expoentes
Schul gi n, Kr upskai a, Lunacharsky,
Pistrak e Makarenko.
Com a ascenso de Stalin em 1931,
h mudanas substantivas de direo
poltica que pem em confronto uma
concepo de Estado e de seu pa-
pel na organizao da sociedade e da
educao diferente da que defendiam
os primeiros pedagogos para a educa-
o socialista.
Schulgin, Krupskaia e Lunacharsky
No primeiro governo revolucio-
nrio, a tarefa de Krupskaia foi a de
projetar um novo sistema educativo.
Lunacharsky tinha a responsabilidade
da administrao de todos os tipos de
educao. A populao foi informada
sobre as mudanas pretendidas: educa-
o geral, livre e obrigatria para todas
as crianas e cursos especiais para os
adultos; escola secular, unitria com di-
ferentes nveis, para todos os cidados;
apoio para o movimento educativo e
cultural das massas trabalhadoras, assim
como para organizaes de soldados
e operrios; os professores deveriam
cooperar com outros grupos sociais e
seriam tomadas medidas imediatas em
relao miservel situao material
dos mais pobres, os mais importantes
trabalhadores culturais e os professo-
res das escolas elementares (Castles e
Wstenberg, 1982, p. 66-69).
Alm disso, o Estado assumiria as
escolas privadas e confessionais. Have-
ria, entre outras medidas, separao
entre Estado e Igreja e entre Igreja e es-
cola, transformao de todas as
escolas em escolas unitrias de traba-
lho, cuja estrutura fxava duas etapas:
dos 8 aos 13 anos (cinco anos de estu-
do); e dos 13 aos 17 anos (mais quatro
anos); e jardim de infncia vinculado
s escolas para crianas de 5 a 7 anos.
O trabalho produtivo combinado com
a aprendizagem escolar era um ele-
mento essencial desse tipo de escola
objetivo que foi muito reduzido e
distorcido posteriormente, na Unio
Sovitica e na Europa Ocidental (Castles
e Wstenberg, 1982, p. 73-74).
Para Krupskaia, o princpio do tra-
balho deve ser educativo e gratifcante,
e ele deve ser levado a cabo sem efei-
tos coercitivos sobre a personalida-
de da criana e organizado de forma
social e planejada, para que a criana
desenvolva uma disciplina interna sem
a qual o trabalho coletivo planejado ra-
cionalmente seria impensvel (Castles
e Wstenberg, 1982, p. 73-74). Ela e
Lunacharsky enfatizavam que a edu-
cao socialista no era somente uma
questo de contedos de ensino, mas
tambm de seus mtodos. Rejeitavam
a escola livresca e exigiam que as crian-
as aprendessem tomando parte no
trabalho e na vida social. Defendiam o
mtodo complexo, segundo o qual os pro-
fessores no deviam ensinar de acordo
com um programa rgido, por matrias
acadmicas. Em vez disso, deveriam
tomar como ponto de partida os pro-
blemas das crianas, da produo lo-
cal e da vida cotidiana e examin-los,
simultaneamente, luz das vrias dis-
565
P
Pedagogia Socialista
ciplinas (Castles e Wstenberg, 1982,
p. 74-75).
Seu mtodo sofreu oposio do
grupo Petrogrado de Educadores, lide-
rado por Blonsky, que aceitava a escola
unitria de trabalho, mas queria que se
mantivessem a diviso entre as mat-
rias, a forma de ensino sistematizada,
um programa de estudos defnido e a
diferenciao em diversos ramos do
conhecimento no oitavo e no nono ano
(Castles e Wstenberg, 1982, p. 75).
Pistrak
A ideia bsica de uma nova socie-
dade que realizaria a fraternidade e a
igualdade, o fm da alienao, era uma
imensa esperana coletiva que tomou
conta da sociedade sovitica entre 1918
e 1929 (Tragtenberg, 1981, p. 8-9).
Pistrak era um dos grandes educadores
desse iderio pedaggico dos primeiros
tempos da Revoluo. Ele tinha uma
viso educacional em sintonia com
a ascenso das massas na Revoluo, a
qual exigia a formao de homens vin-
culados ao presente, desalienados, mais
preocupados em criar o futuro do que
em cultuar o passado, e cuja busca do
bem comum superasse o individualis-
mo e o egosmo (ibid., p. 8).
Em 1824, com o coletivo de sua
escola-comuna, Pistrak publicou o livro
Fundamentos da Escola do Trabalho (2000),
talvez o mais completo e importante
documento sobre sua experincia.
Makarenko
Seu trabalho iniciou-se em 1920,
quando passou a dirigir duas institui-
es educacionais correcionais para
crianas e adolescentes abandonados:
a Colnia Maxim Gorki (1920-1928)
e a Comuna Dzerzinski (1927-1935).
Sua insero no projeto educacional
da Revoluo ocorreu no momento em
que o Estado sovitico proporcionou
todas as condies para a educao,
inclusive com a reduo do horrio de
trabalho em duas horas para todos os
que estudavam. Alm disso, era per-
mitido aproveitar as Casas do Povo,
igrejas, clubes, casas particulares e lo-
cais adequados nas fbricas, empresas
e reparties pblicas para dar aulas
(Capriles, 1989, p. 30-31).
A pedagogia socialista da
Revoluo Cubana
A histria da Revoluo Cubana
deve ser vista no contexto do continen-
te latino-americano. Cuba era um pas
secularmente dominado pela explora-
o colonialista, caracterizada pela pre-
sena de ditaduras, gangsters, policiais,
militares neocoloniais, conservado-
res escravistas, falsos reformistas. Os
povos da Amrica Latina tiveram no
movimento cubano um exemplo de
luta de libertao vitoriosa e de con-
tinuidade na tentativa de implantar
o iderio socialista.
Antes da Revoluo Cubana, fra-
cassaram todos os projetos de refor-
mas e investidas nacionalistas. Porm,
desde os anos 1920, o pas contava
com um dos partidos comunistas mais
combativos e melhor armados ideolo-
gicamente para a luta de libertao e a
luta operria (Casanova, 1987, p. 187).
Trabalhadores assalariados, operrios
industriais e camponeses eram uma
fora potencialmente socialista. Ho-
mens morais e valentes tais como
Jos Mart e Cspedes, e os mais novos,
Fidel Castro, Carlos Rafael Rodrguez e
outros comearam uma nova histria
Dicionrio da Educao do Campo
566
apoiada em trs linhas de conduta: de-
mocrtica, humanista e comunista.
Fidel Castro e seus companhei-
ros haviam estudado o marxismo e o
leninismo, e sabiam que a revoluo
devia contar com as massas e estas
precisavam estar conscientes como
ator coletivo dos requisitos do su-
cesso (Casanova, 1987, p. 188-189). O
grupo que tomou de assalto o Quar-
tel de Moncada e o grupo que saiu do
Mxico de barco, no Granma, em 1956,
ligaram-se ao setor mais atrasado e
combativo: os camponeses da serra,
que queriam terras.
O desenvolvimento da luta na
serra, da luta de guerrilhas, no
foi feito apenas na serra, nem
s com armas. O grupo rebelde
repartiu terra enquanto comba-
tia, fundou escolas e hospitais,
praticou uma educao poltica
e militar dos camponeses com-
batentes e de seus prprios qua-
dros. (Casanova, 1987, p. 190)
A educao das massas foi uma das
metas principais da Revoluo Cubana
desde o seu incio, em 1959. Um dos
seus princpios norteadores o car-
ter massivo da educao, ou a educao
como um direito e um dever de todos uma
realidade em Cuba (Cuba, 1993, p. 12;
grifo nosso), o que signifca a educao
para crianas, jovens e adultos, em to-
das as idades, sexo, grupos tnicos, re-
ligiosos, por local de residncia ou por
limitaes fsicas ou mentais, de modo
a alcanar a universalizao do ensino
primrio inicialmente e, progressiva-
mente, o ensino secundrio (ibid.). A
nova educao teve incio com uma
ampla campanha de alfabetizao, logo
aps a Revoluo, envolvendo toda a
sociedade e contando com o desloca-
mento de jovens e maestros (professo-
res) de outros pases da Amrica Latina
para alfabetizar onde houvesse analfa-
betos, nos lugares mais distantes do
pas (Murillo et al., 1995; Rossi, 1981a;
Bissio, 1985).
Outro princpio a combinao estu-
do e trabalho, que tem profundas razes
no iderio pedaggico de Jos Mart.
Consiste em vincular a teoria com a
prtica, a escola com a vida e o ensino
com a produo (Cuba, 1993, p. 13),
o trabalho manual com o trabalho in-
telectual e a fuso destas atividades
na obra educacional da escola (ibid.).
Destaca-se tambm a necessidade de
uma nova formao humana para a
edificao da sociedade socialista.
Pelo princpio da participao de toda
a sociedade nas tarefas da educao do povo,
reconhece-se a sociedade como uma
grande escola. Outros princpios so
a coeducao e a gratuidade, com um
amplo sistema de bolsas para estu-
dantes e condies especiais para os
trabalhadores visando universaliza-
o do ensino. No obstante a presso
internacional, e, particularmente, o
bloqueio econmico e poltico con-
duzido pelos Estados Unidos, Cuba
tem, at hoje, os mais altos ndices
de universalizao e qualidade da
educao em todos os nveis, ndices
que so comparveis aos dos pases
ricos capitalistas.
A pedagogia socialista
no Mxico
Existe um forte movimento da
educao no Mxico que tem suas ori-
gens no processo da Revoluo Mexi-
cana (1910-1917). A partir da dcada
de 1920, iniciou-se um movimento
567
P
Pedagogia Socialista
do Estado e de toda a sociedade a fm
de garantir o direito educao para
uma populao constituda por 84% de
analfabetos. Era tarefa dos educadores
chegar s comunidades do campo, s
aldeias mais distantes, s minas, s co-
munidades indgenas, s fbricas, mul-
tiplicando as escuelas normales rurales de
formao de professores, bem como as
escolas agrcolas e industriais. Esse foi
um movimento intenso que atingiu a
Constituio Mexicana de 1934, insti-
tuindo, por meio do artigo terceiro, a
implantao da educao socialista.
A educao socialista no Mxico
mantinha a referncia com os princpios
da solidariedade, do trabalho e da re-
lao direta com a comunidade, porm
nunca foi unanimidade no regime re-
volucionrio. A difculdade de defni-
o e a interpretao equivocada do
conceito de educao socialista impe-
diu um projeto nacional de educao.
Como consequncia, o desempenho
dos maestros no seguia uma diretriz ou
orientao geral. Assim, cada maestro
(principalmente os das escolas rurais)
atuava de acordo com a sua interpreta-
o pessoal. Na dcada de 1950, surgiu
um grupo de professores que, infuen-
ciados pela Revoluo de 1910, e pe-
los principais pensadores socialistas da
poca, fundaram o Movimiento Revo-
lucionario de los Maestros (MRM).
O MRM atravessou momentos de
fuxo e refuxo, at desaparecer. Porm
muitos de seus dirigentes permanece-
ram atuando politicamente e ajudando
a construir outros movimentos sociais
fora da categoria. Dentro da categoria,
estes dirigentes dos anos 1950 conse-
guiram formar uma nova gerao de
maestros combativos. No fnal da dcada
de 1980, surgiu o Movimiento Demo-
crtico Magisterial (MDM). O MDM se
converteu no ncleo dirigente do Mo-
vimiento de Unidad y Lucha Popular
(Mulp) e tornou-se, nos anos 1990,
uma das maiores organizaes polti-
cas do Mxico, e cujo objetivo princi-
pal era a integrao dos movimentos e
das organizaes sociais, bem como a
construo do poder popular. Possua
como referncia terica o marxismo,
mantendo uma forte base social no
movimento de maestros. Estendeu sua
infuncia aos movimentos estudantil,
campesino, indgena, operrio e po-
pular. Entre os anos 2003 e 2004, s
no estado de Michoacn, existiam 300
maestros liberados do trabalho como pro-
fessores nas escolas (ou seja, militantes
profssionalizados), atuando em todo
o territrio nacional, com o objetivo
de fortalecer e organizar os movimen-
tos sociais. Em 2003, o movimento dos
maestros de Michoacn realizou um tra-
balho de organizao dos camponeses
e indgenas, criando a Organizacin
Magisterial, Campesina e Indgena de
Michoacn. A relao escola, comuni-
dade, trabalho e luta social a base da
flosofa e da prxis educativa do mo-
vimento social dos maestros, que alm
dos clssicos do pensamento marxista,
possui forte infuncia de Paulo Freire,
consolidando, na primeira dcada do s-
culo XXI, a implementao das escolas
integrais experimentais nos estados de
Michoacn e Oaxaca.
A pedagogia libertria
na Espanha
A educao libertria remonta a
uma tradio pouco tratada nos com-
pndios da histria da educao. Nela
evocam-se autores como Rousseau,
Charles Fourier, Proudhon, Pelloutier,
Paul Robin, Ferrer i Guardia, lise
Dicionrio da Educao do Campo
568
Reclus, Sbastien Faure, Puig Elias. A
construo do socialismo na liberdade,
a atitude ativa e livre em espaos libera-
dos de coaes, um modo educativo na
liberdade das paixes e dos desejos, o
fazer-se livre, a educao pela liberdade e
a liberdade pela educao so as bases
do processo formativo do ser humano
segundo esta tradio. Sendo o pro-
cesso educativo na liberdade um per-
manente pr-se em ato, no h uma
crena no mtodo como garantia infal-
vel, da seu carter experimental confor-
me as circunstncias sociais e o contexto
histrico. Neste sentido, as teorizaes
possuem como referncia prticas edu-
cativas difusas, ricas e contraditrias,
como base nos princpios de um ensino
antiautoritrio, integral, solidrio e au-
togestionrio (Moriyn, 1989a).
Uma educao antiautoritria, con-
tudo, no est isenta de dilemas no que
diz respeito relao existente entre
liberdade e autoridade na formao
das crianas e jovens. Deve-se deixar
a criana desenvolver seus interesses
prprios e suas opes sociais sem in-
terferncia ou incentivar nela o esprito
de rebelio, de crtica ao mundo social-
mente injusto? Deixar a prpria crian-
a escolher seus horrios, bem como o
estudo de contedos ou intervir deter-
minando minimamente os contedos a
partir da experincia social e de uma
autogesto escolar? No h como for-
ar ningum a ser confante em suas
escolhas ou ser solidrio e amvel com
os outros. Resolver os problemas da
educao atravs de coaes resulta
no ocultamento dos mesmos, bem como
num processo repetitivo de submisso
incondicional dos educandos, acos-
tumando-os a serem constantemente
persuadidos. preciso, ento, deixar
que a organizao escolar surja espon-
taneamente dos interesses dos educan-
dos, reconhecendo que eles no per-
tencem ao Estado, a Deus, famlia ou
s organizaes polticas, mas apenas a
si mesmos.
2
Aliado ao princpio de uma educa-
o antiautoritria, encontra-se o prin-
cpio da integralidade, tambm comum
aos marxistas e aos liberais progressis-
tas. Tal princpio estava associado a trs
dimenses: a dimenso do desenvolvi-
mento pleno da criana; a dimenso da
diviso social do trabalho com base na
autogesto e da negao da reprodu-
o do domnio das classes sociais por
meio da separao entre trabalho manual
e intelectual; e a dimenso da integra-
o da vida social nas atividades e re-
fexes dos educandos. Como base dos
princpios e das relaes libertrias, es-
to a solidariedade e o apoio mtuo, que
fortalecem no apenas um projeto de
educao, mas um projeto societrio.
No caso da Espanha, o educar na li-
berdade estava mais marcado pelo edu-
car no esprito da cincia, libertando
as crianas do dogmatismo da Igreja
Catlica e dos preconceitos que anulam
o real desenvolvimento da criatividade
e da autonomia do pensar e do agir no
mundo. Francisco Ferrer i Guardia foi
o primeiro pedagogo que de fato en-
frentou o domnio da Igreja Catlica na
Espanha, baseando-se na seguinte con-
cepo: formar individualidades livres
capazes de dispensar lderes, padres,
leis, a fora da Igreja, do governo e do
poder do Estado; educao artstica,
intelectual e moral, conhecimento de
tudo que nos rodeia, conhecimento
das cincias e das artes, sentimento do
belo, do verdadeiro e do real, desenvol-
vimento e compreenso sem esforo e
por iniciativa prpria (Moriyn, 1989b,
p. 20). Em outubro de 1901, fundou
em Barcelona a Escola Moderna, tendo
569
P
Pedagogia Socialista
como anseio a busca de uma educao
livre, cooperativa, solidria, uma expe-
rincia de crtica radical da organizao
educativa estatal.
A influncia da pedagogia
libertria no Brasil
No Brasil, a formao das escolas
operrias adere concepo da es-
cola moderna. No ano de 1903, cria-
se, no Rio Grande do Sul, a Escola
Libertria Germinal, que seguia o m-
todo da Escola Moderna de Barcelona.
No mesmo ano, em Campinas, a Liga
Operria funda a Escola Livre para os
filhos dos trabalhadores. No ano de
1904, em Santos, a Unio dos Oper-
rios Alfaiates funda a Escola Socieda-
de Internacional. No Rio de Janeiro,
no mesmo ano, nasce a Universidade
Popular, organizada por um grupo de
intelectuais e militantes anarquistas,
dentre eles, o mdico Fbio Luz. Com
o fuzilamento de Ferrer i Guardia
em 1909, nasce em So Paulo e no
Rio de Janeiro a Comisso Pr-Escola
Moderna. As escolas operrias j eram
uma realidade quando da notcia do
fuzilamento de Ferrer, mas tal crime
imprimiu maior velocidade fundao
de novas escolas. Em 1910, funda-se
em Santos a Liga do Livre Pensamen-
to e, em So Paulo, o Crculo de Estu-
dos Sociais Francisco Ferrer. Entre os
anos de 1910 e 1930, so fundadas de-
zenas de escolas modernas no Brasil,
assim como universidades populares,
centros de estudos sociais e biblio-
tecas sociais tendo como referncia
os princpios da educao libertria
divulgada pela experincia do educa-
dor espanhol.
Cumpre ressaltar que o movimento
da educao libertria vai ganhar intensa
fora social no contexto da Guerra Civil
Espanhola. A prpria Confederao
Nacional do Trabalho (CNT) espanho-
la estimulou, a partir das coletivizaes
libertrias, a criao de centros de liber-
tao profssional agrcola e industrial,
e de escolas de agricultores como meio
para se organizar a renovacin campesina.
Como expresso desta concepo, a Fe-
derao Nacional de Coletividades pro-
jetou a criao de escolas de formao
agrria e a Federao Regional de Cam-
poneses de Levante fundou a Universi-
dade Agrcola, voltada para estudos da
vida do campo (Bernal, 2006).
Podemos afrmar que no Brasil h
uma lacuna no que diz respeito ao co-
nhecimento acerca das experincias de
educao libertria. Existe um movi-
mento recente nas reas da flosofa e
da educao em busca da socializao
deste conhecimento, mas ainda ne-
cessrio ampliar a pesquisa, bem como
socializar estes conhecimentos no cam-
po da militncia social.
Notas
1
Protgoras (sculo V a.C.) um dos flsofos [gregos] preocupado no com as cosmo-
gonias e sistemas, mas com a introduo de um certo humanismo na flosofa (Japiass e
Marcondes, 1996, p. 223).
2
Em diferentes momentos da histria da educao esta problemtica abordada. Na Es-
cola Rural de Yasnaia Poliana, criada por Tolstoi em 1859 (apesar de no ser anarquis-
ta, seus conceitos coincidiam com a tradio pedaggica anarquista), nada era obrigat-
rio, nem horrios, nem assistncia s aulas, nem programas, nem normas disciplinares.
Dicionrio da Educao do Campo
570
Outra referncia neste sentido foi o movimento pedaggico das comunidades escolares de
Hamburgo durante a Repblica de Weimar (1919-1933). Esta polmica tambm foi intensa
na Espanha da primeira dcada do sculo XX, expressa nas personalidades de Francisco
Ferrer i Gurdia e Ricardo Mella.
Para saber mais
BELINKY, T. Apresentao. In: MAKARENKO, A. S. Poema pedaggico. So Paulo:
Brasiliense, 1989.
BERNAL, A. O. Anarquismo espanhol e educao. Revista Educao Libertria,
Instituto de Estudos Libertrios, So Paulo, n. 1, p. 9-24, 2006.
BISSIO, B. Cuba 1985. Cadernos do Terceiro Mundo, v. 8, n. 81, p. 17-58, ago. 1981.
CAPRILES, R. Makarenko: o nascimento da pedagogia socialista. So Paulo:
Scipione, 1989.
CASANOVA, P. G. (org.). Amrica Latina: histria de meio sculo. Braslia: Editora
UnB, 1990. V. 3.
______. Histria contempornea da Amrica Latina: imperialismo e libertao. So
Paulo: Vrtice, 1987.
CASTLES, S.; WSTENBERG, W. La educacin del futuro: una introduccin a la teora y
prctica de la educacin socialista. Mxico, D. F.: Nueva Imagen, 1982.
CODELLO, F. A boa educao: experincias libertrias e teorias anarquistas na
Europa de Godwin a Neill. So Paulo: Imaginrio/cone, 2007.
CUBA. MINISTERIO DE LA EDUCACIN. Pedagoga. Havana: Pueblo e Nacin, 1984.
DEMINICIS, R. B.; REIS FILHO, D. A. Histria do anarquismo no Brasil. Rio de Janeiro:
Mauad, 2006.
FREITAS, L. C. A luta por uma pedagogia do meio: revisitando o conceito. In:
PISTRAK, M. M. (org.). A escola-comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009. V. 1,
p. 7-108.
GALLO, S. Pedagogia libertria: anarquistas, anarquismos e educao. So Paulo:
Imaginrio; Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2007.
JAPIASS, H.; MARCONDES, D. Dicionrio bsico de flosofa. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1996.
LOYO BRAVO, E. La Casa del Pueblo y el maestro rural mexicano. Mxico, D. F.:
Secretaria de Educacin Pblica, 1985.
LUEDEMANN, C. S. Anton Makarenko: vida e obra a pedagogia na revoluo. So
Paulo: Expresso Popular, 2002.
MORIYN, F. G. (org.). Educao libertria. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1989a.
______. Introduo. In: ______ (org.). Educao libertria. Porto Alegre: Artes
Mdicas, 1989b.
571
P
Poltica Educacional e Educao do Campo
MOUROY HUITRN, G. Poltica educativa de la Revolucon (1910-1940). Mxico, D. F.:
Secretaria de Educacin Pblica, 1985.
MURILLO, J. et al. Cinco maestros argentinos alfabetizaron en Cuba. Buenos Aires:
Perspir, 1995.
PALACIOS, G. La pluma y el arado: los intelectuales pedagogos y la construccin
sociocultural del problema campesino en Mxico, 1932-1934. Mxico, D. F.:
El Colegio de Mxico/Centro de Estudios Histricos/Centro de Investigacon y
Docencia Econmicas/Divisin de Estudios Polticos, 1999.
PARTIDO COMUNISTA CUBANO. Niez em Cuba: 20 anos de Revolucin. Compendio
informativo. Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 1979.
PISTRAK, M. M. A escola-comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
______. Fundamentos da Escola do Trabalho. So Paulo: Expresso Popular, 2000.
REVISTA EDUCAO LIBERTRIA. Educao e revoluo na Espanha libertria.
Instituto de Estudos Libertrios, So Paulo, n. 1, 2006.
RODRIGUES, E. O anarquismo na escola, no teatro e na poesia. Rio de Janeiro: Achiam, 1992.
ROSSI, W. G. Pedagogia do trabalho. So Paulo: Moraes, 1981a. V. 1: Razes da
educao socialista.
______. Pedagogia do trabalho. So Paulo: Moraes, 1981b. V. 2: Caminhos da
educao socialista.
TRAGTENBERG, M. Pistrak: uma pedagogia socialista. In: PISTRAK, M. M. Fundamentos
da Escola do Trabalho. So Paulo: Brasiliense, 1981. p. 7-23.
P
POLTICA EDUCACIONAL
E EDUCAO DO CAMPO
Celi Zulke Tafarel
Mnica Castagna Molina
O campo de estudos da rea de po-
ltica educacional pode ser compreendi-
do como aquele que analisa os interes-
ses sociais e econmicos que se fazem
presentes nos programas e aes go-
vernamentais no mbito da educao.
A partir deste entendimento, o objeti-
vo deste verbete fazer uma rpida re-
cuperao dos interesses hegemnicos
que fundamentaram a atuao do Es-
tado brasileiro na elaborao dos pla-
nos educacionais em diferentes pero-
dos de histria, com a perspectiva de
localizarmos a insero, nesta agenda,
das polticas de Educao do Campo
e dos interesses que representa.
Precede a defnio de poltica
educacional a compreenso de como
nos tornamos seres humanos e como,
ao longo da histria da humanidade,
Dicionrio da Educao do Campo
572
organizamos o modo de produo e
reproduo da vida.
Para manter-se em p e criar as
condies de sua existncia, a matria,
no tempo, no espao, em movimento,
sujeita a leis do desenvolvimento, deu
saltos qualitativos e quantitativos. No
nascemos seres humanos; ns nos
tornamos seres humanos ao longo da
existncia da matria.
O que somos depende das condi-
es objetivas da existncia, ou seja, de
leis sociais histricas, para alm das leis
biolgicas, qumicas, fsicas.
Construmo-nos como seres huma-
nos em relaes interpessoais e intrap-
squicas. Ou seja, nossas funes psico-
lgicas superiores, que nos permitem
conhecer constatar, compreender, ex-
plicar, agir no meio, transformando-o ,
dependem de nossas aprendizagens.
O nosso desenvolvimento depende de
nossas aprendizagens. O ato de conhe-
cer no dado ao ser humano, e sim
aprendido em suas relaes sociais, que
dependem da materialidade de condi-
es concretas objetivas de vida.
Portanto, na relao com os seres
humanos, com a natureza em geral, que
os homens, pelo trabalho, constroem a
sua cultura e tornam-se seres humanos.
pela produo e reproduo das con-
dies de existncia que nos tornamos
seres humanos.
Das primitivas sociedades organi-
zadas em cls atual complexa organiza-
o dos pases imperialistas hegemni-
cos que impem, aos demais pases,
por meio de acordos internacionais,
sejam eles polticos, econmicos e de
guerra, as relaes baseadas na diviso
internacional do trabalho , o poder
de decidir os rumos dos assuntos de
interesse de todos foi se complexifi-
cando em normas e leis que configu-
raram, na superestrutura da socieda-
de, aquilo que constitui a sua base na
infraestrutura, ou seja, nas relaes de
produo material da vida humana.
Esta superestrutura se expressa em
um aparato jurdico, a partir de iniciati-
vas do Poder Executivo e do Legislati-
vo, devidamente aprovado pelo Poder
Judicirio. Impe, assim, o contradit-
rio: o poder da minoria, pela vontade
da maioria. A isto denominamos de-
mocracia a vontade do povo. As leis
seriam a vontade da maioria, a vonta-
de do povo. A democracia, a von-
tade do povo, em uma sociedade de
classes em franca decomposio e
degenerao, est sujeita correlao
de foras decorrentes do poder da clas-
se dominante, de um lado, e do poder da
classe trabalhadora, de outro.
As leis so asseguradas pelos apara-
tos legais, institucionais, ou, ento, por
aparatos que se imponham mediante
rebelies ou insurreies, coero ou
cooptao vontade de uns (classe
dominante) da vontade de outros (clas-
se trabalhadora).
As leis defnidas e asseguradas nos
aparatos legais prprios de cada modo
de produo podem ser identifcadas
pelo seu mbito de abrangncia tem-
poral. Leis que perpassam governos
dizem respeito poltica de Estado
por exemplo, a Constituio Nacional,
a lei maior, e as leis que dela decorrem,
como a Lei de Diretrizes e Bases da
Educao Nacional (LDB). Leis que
perduram somente durante um ou dois
mandatos de governo e so interrom-
pidas, revogadas, dizem respeito s
polticas de governo. Essa uma das
caractersticas da poltica governamen-
tal no capitalismo: ela no perdura o
sufciente para garantir o ponto de re-
573
P
Poltica Educacional e Educao do Campo
versibilidade, ou seja, o ponto em que
o avano no permite mais o retroces-
so, com o que se superararia o est-
gio inferior e se atingiria um patamar
superior da poltica. So estes os tra-
os bsicos da poltica compensatria,
focal prpria do neoliberalismo para
aliviar a pobreza e jamais para superar
o modo de produo capitalista, que
tem na propriedade privada, no Estado
burgus e nos valores individualistas e
egostas da famlia burguesa seus pilares
centrais de sustentao. O Brasil, at o
momento, no atingiu a supremacia e
soberania no campo educacional para
superar o modo de o capital organizar
a produo e a reproduo da vida. So-
mos um pas de educao dependente
dos pases imperialistas. Nossos planos
educacionais continuam vindo de fora.
Em cada perodo histrico, de acor-
do com o modo de produo e repro-
duo da vida, confgurou-se o poder
entre classes sociais, e confguraram-se
os planos educacionais. Isto pode ser
constatado, na histria da humanidade,
por exemplo, no perodo comunal, na
organizao das tribos; no perodo es-
cravocrata, na dominao dos mais be-
licosos sobre as propriedades, os bens
e os seres humanos; no perodo feudal,
na dominao dos senhores feudais
com seus exrcitos, feudos e servos
sobre outros senhores, propriedades
e servos; e no perodo capitalista, na
organizao do Estado moderno, com
seus poderes Executivo, Legislativo
e Judicirio estruturados de acordo
com a correlao de foras existente.
Enfm, essa relao de poder se d em
cada perodo histrico, entre as classes
que detm os meios de produo e a
classe que somente detm sua fora
de trabalho, ou seja, a correlao de
foras entre a classe dominante e a
classe trabalhadora.
Em cada perodo histrico, por-
tanto, o rumo dos assuntos de interes-
se pblico definido pela correla-
o de foras existente. Desta correlao
resultam projetos, programas, decre-
tos e leis que confguram a poltica de
Estado e/ou de governos. Ou seja, a
poltica que perpassa governos e se ins-
titui como a lei maior, ou a poltica de
governo que so leis menores, que no
podem contrariar a lei maior, mas so-
mente execut-la, complement-la.
As polticas de Estado e de gover-
nos determinam, em primeira ou se-
gunda instncias, as condies de vida
na sociedade. Em ltima instncia, o
que determina a poltica so o desen-
volvimento das foras produtivas e as
relaes de produo: a relao entre
os homens, a natureza, a produo dos
bens materiais e imateriais, e o sistema
de trocas da decorrente.
Da necessidade de assegurar, de
uma gerao a outra, o conhecimen-
to que confgura este acervo de bens
culturais materiais e imateriais, sem o
que a humanidade pereceria, que se
confgura a exigncia da educao, que
assume, em cada modo de produo,
caractersticas prprias. Podemos verif-
car esta lei geral da histria traando o
percurso da educao no Brasil de 1500
at hoje, analisando, pelos fatos histri-
cos, os rumos da poltica educacional.
Assim, a poltica educacional brasileira
pode ser diferenciada em quatro pero-
dos principais, de acordo com os mode-
los econmicos predominantes.
No perodo da colonizao, no qual as
relaes econmicas eram escravocra-
tas, a terra, propriedade dos senhores,
era recebida por concesso dos im-
peradores e transmitida por heredita-
riedade. As leis maiores que governa-
vam a educao no Brasil eram as leis
Dicionrio da Educao do Campo
574
oriundas de Portugal, e nossa educa-
o estava sujeita s determinaes de
fora, da Corte portuguesa. As reformas
educacionais do Brasil eram desdobra-
mentos das reformas educacionais em
Portugal, como o foi, por exemplo, a
reforma educacional pombalina. As
primeiras reformas estavam diretamen-
te relacionadas s reformas do pas co-
lonizador. Os planos para a educao
no Brasil vinham de fora do Brasil. Os
primeiros educadores e as primeiras es-
colas eram ligados Igreja, e estavam
intimamente relacionados com os inte-
resses dos senhores escravocratas.
No perodo da Proclamao da Rep-
blica, com as contradies evidentes
do modelo escravocrata (que se mos-
trava insufciente para garantir o de-
senvolvimento agrrio e industrial), a
aprovao da Lei de Terras e das leis
contra a escravatura, o rompimento do
Brasil com Portugal, os avanos da re-
voluo burguesa e com as aspiraes
dos trabalhadores por igualdade, liber-
dade e fraternidade, avana a poltica
educacional, e promulga-se a primei-
ra lei, decretada por d. Pedro I, sobre
a educao.
Com a Repblica instalada e a in-
dustrializao em curso, avana a orga-
nizao do Estado e, com ela, as aspi-
raes a respeito da educao. Trata-se
do perodo do Estado Novo. Os pioneiros
da educao reivindicam a escola nova,
laica, pblica, sob responsabilidade do
Estado, surgindo as primeiras reivindi-
caes de uma lei de diretrizes e bases
da educao nacional em confronto
com os interesses da burguesia tudo
isto relacionado a um projeto de nao,
defendido pelas elites, em confron-
to com o projeto de nao defendido
pela classe trabalhadora. Este emba-
te vai aparecer nas instncias em que
estas leis so formuladas, aprovadas e
implementadas. O novo plano para a
educao brasileira vinha impregnado
do escolanovismo norte-americano;
portanto, nossos planos, no que diz
respeito concepo pedaggica, con-
tinuavam vindo de fora do Brasil.
Com o golpe militar, instala-se no
Brasil a ditadura que veio para conter
as aspiraes revolucionrias que avan-
avam em toda a Amrica Latina. Para
garantir as bases capitalistas de desen-
volvimento do Brasil, a educao passa
por reformas e selam-se pactos e acor-
dos internacionais, principalmente com
os Estados Unidos, que subordinavam
o Brasil s relaes internacionais de
produo. De um pas agrcola, o Brasil
avanou para se consolidar como um
pas agroindustrial, exportador de
matria-prima, dependente dos dita-
mes exteriores. Os planos educacionais
continuavam vindo de fora do Brasil.
Com a fm do regime militar e os
avanos para a democratizao, identi-
fcam-se alteraes na poltica educacio-
nal, decorrentes de presses externas,
que visavam situar o Brasil dentro dos
ajustes internacionais dos interesses do
grande capital. Trata-se do perodo da
chamada abertura democrtica. O capital
internacional especulativo avana, rom-
pendo fronteiras e internacionalizando-
se, com a intensifcao da privatizao
dos meios de produo a terra, os ins-
trumentos, o conhecimento, a fora de
trabalho do trabalhador.
A este projeto internacional corres-
ponde uma dada poltica educacional
que pode ser identifcada nos embates e
rumos que assumem as leis maiores do
pas por exemplo, a Constituio
de 1988. Dela decorreram as leis sobre
a educao: LDB, o Plano Nacional
de Educao (PNE), o Plano de De-
575
P
Poltica Educacional e Educao do Campo
senvolvimento da Educao (PDE),
entre outras. As anlises crticas sobre
as polticas educacionais demonstram
que os planos continuam vindo de fora
do Brasil.
Portanto, os rumos da educao de
um pas, considerando o modo de pro-
duo capitalista baseado na proprie-
dade privada, na superexplorao dos
assalariados e dos trabalhadores em ge-
ral, e no Estado burgus (que concen-
tra o poder a seu favor e nos valores
da famlia burguesa) , dependem da
correlao de foras instituda em cada
momento histrico.
A atual fase do imperialismo impe
s naes seus ajustes, acordos e proje-
tos, como o projeto de mundializao
da educao. Este projeto pode ser veri-
fcado, segundo Santos (2011), pela ba-
se epistemolgica relativista e pelo vis
pedaggico escolanovista. Alm disso,
pode ser reconhecido pela compre-
enso do papel do Estado mnimo
para o social e mximo para o capital
e pela compreenso da funo social
da escola formar trabalhadores com
competncias voltadas para atender o
mercado de trabalho capitalista, educa-
dos para o consenso.
As evidncias de tal projeto tam-
bm podem ser constatadas no embate
entre o pblico e o privado na educa-
o brasileira. Podem ser observadas
nas leis e medidas de governo que
desresponsabilizam o Estado de suas
atribuies com a educao, precari-
zam o trabalho e fexibilizam direitos
dos trabalhadores da educao, transfe-
rem recursos pblicos para a iniciativa
privada, e permitem, assim, a apropria-
o de fundos pblicos, destruindo o
patrimnio dos trabalhadores, expresso
em suas instituies pblicas. Podem
ser constatadas, ainda, nas disputas,
palmo a palmo, pelos recursos pbli-
cos, travadas entre os que defendem a
educao pblica e os que defendem os
interesses privados.
Este processo pode ser caracterizado,
na atualidade, na disputa travada em
defesa da Educao do Campo, que diz
respeito aos interesses da classe traba-
lhadora organizada no campo, e contra
os interesses do agronegcio, gerido
pelo capital nacional e internacional.
Em contraponto a este movimento
das fraes da burguesia local, tambm
agem os movimentos sociais do campo,
que disputam a construo de polticas
pblicas, mas numa outra lgica. Sua
perspectiva garantir os direitos sociais
a todos os camponeses, especialmente
os direitos educao. Para isso, exigem
no qualquer poltica, mas uma poltica
diferenciada na forma e no contedo,
defnida com sua presena e participa-
o. O protagonismo que os movimen-
tos sociais de trabalhadores rurais vm
tendo na ltima dcada para a promo-
o do avano da conscincia do direito
educao tem forado o Estado brasi-
leiro a conceber e implementar polticas
de Educao do Campo.
E tal objetivo dos movimentos so-
ciais, principalmente na primeira dca-
da do movimento da Educao do
Campo, materializou-se. Materializou-
se na disputa contra a hegemonia, em
momentos nos quais o movimento so-
cial, com base no acmulo de foras
conquistadas, soube aproveitar a cor-
relao de foras existente, disputando
fraes do Estado a servio da classe
trabalhadora. As polticas conquistadas
foram importantes: PROGRAMA NACIO-
NAL DE EDUCAO NA REFORMA AGR-
RIA (PRONERA), RESIDNCIA AGRRIA,
LICENCIATURA EM EDUCAO DO CAM-
PO, entre outras, todas elas resultado de
Dicionrio da Educao do Campo
576
longos processos de negociao e dis-
puta com o Estado. O grande diferen-
cial destas polticas reside no apenas
na participao dos movimentos na sua
concepo e na sua proposta de execu-
o, mas, prioritariamente, nos objeti-
vos formativos que as conduzem. Ao
contrrio da concepo hegemnica
nas prticas educativas atuais orien-
tadas para a insero no mercado pura
e simplesmente, sem questionamentos
da lgica que as conduz, maximizando
infnitamente o individualismo, a com-
petio e o consumismo de pessoas e
de coisas , a concepo de formao
contida nas polticas de Educao do
Campo conquistadas necessariamen-
te parte da refexo sobre o perfl de
ser humano que se almeja formar com
tais polticas: para qual campo e para
qual sociedade. Os valores embutidos
nestas polticas contrapem-se aos va-
lores capitalistas, baseando-se no ideal
das coletividades, na solidariedade,
na superao da propriedade privada, na
construo de uma sociedade em que
todos trabalhem, recusando a forma na
qual uns vivem do trabalho de outros.
Tanto o Pronera quanto a Residn-
cia Agrria e as licenciaturas em Educa-
o do Campo orientam as aes for-
mativas nos cursos que se desenvolvem
com base em uma perspectiva crtica de
educao, a qual no admite uma con-
cepo de educao apartada de um
projeto de ser humano e de sociedade
que se almeja construir.
Como parte da intencionalidade
dos seres humanos que querem contri-
buir para formar o desenho destas po-
lticas, necessariamente se impe como
desafio contribuir para a superao
da lgica de subordinao dos cam-
poneses ao mercado e monocultura
do agronegcio.
Este contedo s possvel nestas
polticas mediante a luta de classes, os
confrontos e confitos, e forte presena
dos sujeitos camponeses na sua elabo-
rao, o que, por sua vez, fez-se pos-
svel tambm a partir de determinado
contexto histrico.
No caso do Pronera, por exem-
plo, sua conquista se deu no contexto
de acirramento da luta pela terra, na
transio dos mandatos de Fernando
Henrique Cardoso, aps o Massacre de
Eldorado dos Carajs (abril de 1996),
a Marcha Nacional pela Reforma
Agrria (abril de 1997) e a realizao
I Encontro Nacional dos Educado-
res e Educadoras da Reforma Agrria
(Enera) (julho de 1998) enfm, aps
um conjunto de fatores que geraram
uma maior sensibilizao, mobilizao
e envolvimento da classe trabalhadora
na defesa de seus direitos e na luta pe-
las suas reivindicaes, um acuamento
do governo perante a sociedade e uma
necessidade de dar respostas polticas
ao impacto da truculncia do Estado
no trato da questo agrria, tal como
fora a ao policial em Carajs.
Exatamente pelas caractersticas que
possuem estas polticas de Educao do
Campo tanto nos objetivos formativos
que contm quanto no protagonismo dos
sujeitos com as quais estas se realizam,
elas esto, durante toda sua realizao,
expostas s permanentes disputas em
torno do Estado e da apropriao dos
fundos pblicos pelas classes dominan-
tes, que sabem valer-se dos diferentes
aparelhos para disputar esta hegemonia.
Manter essas polticas em vigncia
tem exigido muita luta da classe traba-
lhadora, vigilncia constante e resistn-
cia aos inmeros ataques sofridos de
diferentes frentes: dos latifundirios,
dos capitalistas monopolistas, do agro-
577
P
Poltica Educacional e Educao do Campo
negcio, da mdia capitalista e de seto-
res do Estado, com suas medidas contra
os trabalhadores rurais e seus proje-
tos no interior dos poderes Judicirio
(tribunais de contas, ministrios p-
blicos), Legislativo e Executivo, sejam
eles municipais, estaduais ou federal.
Ao produzir alianas com setores
que defendem os interesses imediatos,
mediatos e histricos da classe traba-
lhadora, como, por exemplo, setores
das universidades pblicas brasileiras,
para sua execuo, estas trs polticas, o
Pronera, a Residncia Agrria e a Li-
cenciatura em Educao do Campo,
tornam-se ainda mais incmodas, pois,
alm da fora dos movimentos sociais
de luta no campo que a protagonizam,
o envolvimento, de forma mais perma-
nente, da juventude estudantil e de pro-
fessores e pesquisadores intelectuais
orgnicos da classe trabalhadora, mili-
tantes culturais com os camponeses
permite alianas que alteram a correla-
o de foras. E esta combinao pode
produzir efeitos indesejveis para os ob-
jetivos das elites dominantes e suas po-
lticas de Estado e de governos que ex-
ploram e alienam a classe trabalhadora da
cidade e do campo. Como afrma Marx:
Do ponto de vista poltico, Es-
tado e organizao da sociedade
no so duas coisas distintas. O
Estado a organizao da socie-
dade. Donde conclumos que,
para mudar o Estado, preciso
alterar as leis que regem a so-
ciedade. E estas leis no so na-
turais, mas sim, scio-histricas,
ou seja, produzidas pelos seres
humanos, em especial a clas-
se trabalhadora, a quem cabe a
funo de revolucionar a socie-
dade e o Estado. (2010, p. 38)
A luta dos trabalhadores do campo
em defesa de uma Educao do Campo
e de uma poltica educacional emancipa-
tria para o campo brasileiro uma indi-
cao deste processo que est em curso
com fuxos e refuxos, mas em curso.
Para saber mais
AZEVEDO, J. M. L.; AGUIAR, M. A. Caractersticas e tendncias dos estudos sobre
a poltica educacional no Brasil: um olhar a partir da Anped. Educao e Sociedade,
v. 22, n. 77, p. 49-70, dez. 2001.
FREITAG, B. Poltica educacional e indstria cultural. So Paulo: Cortez, 1987.
LEHRER, R. Para fazer frente ao apartheid educacional imposto pelo Banco
Mundial: notas para uma leitura da temtica trabalhoeducao. In: REUNIO
ANUAL DA ASSOCIAO NACIONAL DE PS-GRADUAO E PESQUISA EM EDUCAO
(ANPED), 22. Anais... Caxambu: Anped, 1999.
MARX, K. Glossas crticas ao artigo O rei da Prssia e a reforma social. De
um prussiano. In: ______; ENGELS, F. Lutas de classes na Alemanha. So Paulo:
Boitempo, 2010.
NEVES, L. M. W. Educao e poltica no Brasil de hoje. 2. ed. So Paulo: Cortez, 1999.
SANTOS, C. F. dos. Relativismo e escolanovismo na formao do educador : uma anlise
histrico-crtica da Licenciatura em Educao do Campo. 2011. Tese (Douto-
Dicionrio da Educao do Campo
578
rado em Educao) Faculdade de Educao, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2011.
WITTMANN, L. C.; GRACINDO, R. V. (org.). O estado da arte em poltica e gesto da educa-
o no Brasil: 1991 a 1997. Braslia: Anpae; Campinas: Autores Associados, 2001.
P
POLTICAS EDUCACIONAIS NEOLIBERAIS
E EDUCAO DO CAMPO
Roberto Leher
Vnia Cardoso da Motta
A expresso polticas educacio-
nais neoliberais parece, primeira
vista, um contrassenso. Afnal, se neo-
liberal, no deveriam caber medidas do
Estado para subordinar a educao ao
mercado. Contudo, um exame mais sis-
temtico da questo permite concluir
que o neoliberalismo , sobretudo,
uma produo que tem muito de es-
tatal; por isso, a existncia de polticas
educacionais neoliberais cabvel e, na
perspectiva dominante, inevitvel. Para
compreender esse aparente paradoxo,
importante submeter crtica a au-
torrepresentao do neoliberalismo se-
gundo os seus tericos.
O termo neoliberalismo recen-
te, data do ano de 1945, e utilizado, em
geral, para denotar a adeso doutrina
liberal de tradio anglo-sax que afr-
ma ser a liberdade do indivduo dentro
da lei a melhor forma de alcanar, por
meio de mtodos pragmticos, a pros-
peridade e o progresso. O cerne dessa
noo a defesa do capitalismo de li-
vre mercado. O Estado somente deve
intervir para restabelecer a livre con-
corrncia econmica e a iniciativa indi-
vidual. Para compreender o signifcado
das polticas educacionais neoliberais
particularmente, a atuao da iniciati-
va privada e, mais amplamente, do ca-
pital na educao brasileira e, a con-
trapelo, as iniciativas dos trabalhadores
em prol do carter pblico da educao
estatal, como o caso da Educao do
Campo, importante destacar, inicial-
mente, que o neoliberalismo realmente
existente no possui uma conceituao
precisa e consolidada, pois as suas pr-
ticas no correspondem exatamente
s que a ideologia neoliberal propaga
como doutrina e princpios.
Em Hayek (1998), a base do libera-
lismo anglo-saxo, o nico que consi-
dera genuno, a liberdade individual
dentro da lei. esse princpio basilar
que explica o progresso das naes
prsperas e bem-sucedidas. Para esse
expoente da Escola Austraca de Eco-
nomia, a vertente racionalista e cons-
trutivista do liberalismo francs, ao
contrrio, deturpa o verdadeiro libera-
lismo, pois, ao preconizar medidas de
Estado para garantir certa igualda-
de social, seja por meio do sufrgio
universal seja pela concesso de alguns
direitos aos trabalhadores, instaura a
ditadura da maioria e confgura um Es-
tado social hiperdimensionado, buro-
579
P
Polticas Educacionais Neoliberais e Educao do Campo
crtico, custoso e inefciente que acaba
por produzir as crises do capitalismo.
Desse modo, para o principal propa-
gandista do neoliberalismo, este o
conceito central do liberalismo
[...] sob a aplicao de regras
universais de conduta justa, pro-
tegendo um reconhecvel do-
mnio privado dos indivduos,
formar-se- uma ordem espon-
tnea das atividades humanas
de muito maior complexidade do
que jamais se poderia produzir
mediante arranjos deliberados
[...]. (Hayek, 1998, p. 49)
Eis aqui o fundamento da mo
invisvel do mercado e da crena de
que a ordem espontnea (o mercado
autorregulvel) que produz a sociedade
mais prspera e complexa. Na ordem de
mercado, os cidados livres interagem
naturalmente, sobressaindo-se os mais
capazes, em geral os proprietrios
os cidados ativos, para utilizar uma
noo kantiana. Os demais, conside-
rados cidados passivos mulheres
e trabalhadores , devem ser privados
de participao poltica e econmica
real. A ideologia liberal refratria,
por conseguinte, ao universalismo e
conceituao dos seres humanos como
seres humanos genricos, na qual to-
dos os que possuem um rosto huma-
no devem ter igual cidadania poltica e
econmica. Em outros termos, o libe-
ralismo anglo-saxo, tal como defnido
por Hayek, incompatvel com a de-
mocracia e com o igualitarismo.
Nos termos dessa doutrina, seria
de supor que as polticas neoliberais
advogariam o afastamento radical do
Estado da educao, em benefcio de
um mercado autorregulvel ou, pelo
menos, que a atuao do Estado se
reduzisse, exclusivamente, garantia
do mnimo de educao possvel para
os perdedores, aqueles que, seja por
sua natureza humana inferior, seja
por algum outro infortnio, sucumbi-
ram no mercado. Alternativamente, a
educao em livre metabolismo com
o mercado seria a mais adequada, pois
ensinaria s crianas e aos jovens a vir-
tude do individualismo e da ordem so-
cial competitiva.
Contudo, em que pese o fato de en-
contrarmos nessas proposies muito
da ideologia neoliberal praticada pelos
governos afns e pelas corporaes
que atuam direta ou indiretamente na
educao formar competncias para
o mercado, fexibilizao do controle
estatal sobre a educao privada, indi-
vidualizao do ato pedaggico, ava-
liao tecnocrtica para estimular a
competio entre as instituies educa-
cionais por meio de rankings, prmios
e castigos, educao compensatria
elementar (ler, contar e escrever) para
os chamados pobres, associao dos
objetivos educacionais com os da go-
vernabilidade etc. , irrefutvel que,
mesmo nas experincias neoliberais
mais ortodoxas, todos reivindicam al-
gum papel do Estado na educao. De
fato, o fundo pblico demandado
permanentemente pelo setor privado
e pelas corporaes. Quando a alta f-
nana passa a operar tambm no servi-
o educacional, a voracidade do capital
sobre as verbas educacionais toma pro-
pores ainda maiores, como poss-
vel depreender de programas como o
Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior (Fies).
Sobre os nexos capitalEstado,
preciso recusar a leitura no crtica da
restrio do mbito do Estado aos orga-
nismos estatais centralizados que atuam
Dicionrio da Educao do Campo
580
com servidores pblicos, dirigentes go-
vernamentais, leis, normas etc. O capi-
tal age de modo difuso, por meio de
presses diretas e indiretas, como as em-
preendidas por organismos internacio-
nais e agncias fnanceiras que defnem,
mediante condicionalidades, o risco
pas, os acordos das relaes exteriores,
as taxas cambiais, a poltica de juros, os
incentivos fscais etc. Parte relevante
desse modo de agir do capital operada
diretamente pelas fraes burguesas
locais que manejam o Estado. isso o
que explica a fora relativa de iniciati-
vas como o Movimento Compromisso
de Todos pela Educao, o sujeito de
maior relevncia na defnio da agenda
educacional no Brasil de hoje, ou dos
bancos e dos fundos de investimen-
tos que esto redefnindo o setor priva-
do mercantil de educao e at mesmo,
por meio de parcerias pblico-privadas,
a educao pblica.
De fato, a principal medida edu-
cacional do Governo Lula da Silva, o
Plano de Desenvolvimento da Educa-
o, expressa a agenda dos setores do-
minantes, servindo de referncia para
que estados e municpios se lancem em
desenfreada corrida rumo s parcerias
pblico-privadas, principalmente com
organizaes que lideram o referido
Todos pela Educao como Ita-
Social, Airton Senna, Gerdau, Roberto
Marinho, Vitor Civita, entre outras ,
mas tambm com empresas do agro-
negcio, que implementam, nas esco-
las pblicas rurais, sua concepo de
educao e desenvolvimento sustent-
vel. O referido movimento tem avan-
ado na poltica de que j hora de o
Estado abandonar suas escolas pbli-
cas, ofertando-as gesto privada, por
meio das escolas charters e da difuso
dos vouchers.
1
A despeito dessa atuao difusa,
no institucionalizada, o capital, em
todas as suas expresses institui-
es fnanceiras, corporaes, organi-
zaes de diversos tipos etc. , deseja
manter relao com os governos para
chegar ao corao do Estado (a cha-
mada rea econmica), objetivando
criar normas que subordinem a edu-
cao lgica do capital. Ademais,
indubitvel que os representantes do
capital tm todo interesse em fortale-
cer o papel educador do Estado (em
termos gramscianos, no sentido de
levar aos quatro cantos a sua lgica),
em prol da coeso e do controle so-
ciais em um contexto de permanente
estado de exceo, para utilizar uma
expresso benjaminiana.
2
Difcilmen-
te os padres de explorao do tra-
balho e de expropriao dos meios
de trabalho e de direitos sociais pode-
riam ser manejados com paz social sem
esse protagonismo estatal, compreen-
dido aqui no apenas como sociedade
poltica, mas como Estado integral, do
qual a sociedade civil parte decisiva.
Pelo exposto, possvel postular
que as polticas educacionais neolibe-
rais no podem ser confundidas com
o livre mercado, pois elas so no
apenas compatveis com determinado
grau de ao estatal, como difcilmente
poderiam existir sem o Estado, como
demonstrou de modo preciso Polanyi
(2000). Essa proposio fundamen-
tal para a compreenso do modo de
agir neoliberal. Porm, igualmen-
te indispensvel no perder de vista que
a fora determinativa do capital sobre a
educao no se resume ao Estado estri-
to senso, pois o capital opera de modo
difuso, mas efcaz, fora da organizao
estatal, como apontado anteriormen-
te. A consequncia dessa proposio
581
P
Polticas Educacionais Neoliberais e Educao do Campo
que, ao contrrio da crena comum, o
simples fato de o Estado empreender
iniciativas no terreno da educao no
assegura, a priori, o abandono de prin-
cpios neoliberais.
Em relao s polticas estatais
congruentes com os valores e princ-
pios difundidos pelo neoliberalismo,
cabe destacar, no plano normativo
mais geral, as medidas que abrangem
as leis maiores, como a Constituio
Federal: O ensino livre iniciati-
va privada... (art. 209); Os recursos
pblicos sero destinados s escolas p-
blicas, podendo ser dirigidos a escolas
comunitrias, confessionais ou flan-
trpicas (art. 213). Tambm as leis
ordinrias, como a Lei de Diretrizes
e Bases da Educao Nacional (LDB)
(lei n 9.394/1996), contribuem para a
segurana jurdica dos investidores. Em
primeiro lugar, cabe salientar a inverso
operada pela LDB na garantia do con-
quistado direito educao: A edu-
cao, dever da famlia e do Estado
(art. 2) (Brasil, 1996). Reforando os
termos do artigo 209 da Constituio,
a LDB propugna que O ensino li-
vre iniciativa privada (art. 7) (ibid.)
e defne as categorias das instituies
privadas, objetivando garantir o segmen-
to propriamente empresarial (art. 20).
Tambm o repasse de verbas para as
escolas privadas foi estabelecido na lei:
Considerar-se-o como de manuten-
o e desenvolvimento do ensino as
despesas [...]. VI concesso de bolsas
de estudo a alunos de escolas pblicas
e privadas [...] (art. 70) (ibid.).
A rpida expanso do setor privado
particular com fns lucrativos, a partir
dos anos 1990, no teria sido possvel
sem as proposies elencadas acima. O
capital opera a sua reproduo ampliada
tambm acessando diretamente o fundo
pblico. Como j salientado, a Consti-
tuio admitiu o repasse de recursos
pblicos apenas para as instituies
(ditas) sem fns lucrativos (art. 213),
no contemplando as particulares, pre-
vistas no artigo 209. Entretanto, o capi-
tal tem a sua prpria dinmica e engen-
dra, permanentemente, leis que lhe so
convenientes. Por isso, no pode abrir
mo de assegurar governos permeveis
aos seus propsitos. Ao contrrio da
crena vulgar do neoliberalismo, o mer-
cado forjado por iniciativas estatais.
O mercado de educao, evidentemen-
te, no infnito: o ensino mdio, por
exemplo, alcana apenas metade dos
jovens na idade correspondente (15 a
17 anos). Alm disso, a renda demasia-
damente concentrada impede a expan-
so do mercado consumidor das merca-
dorias educacionais.
Certamente, foram demandas do ca-
pital que levaram criao e descon-
certante expanso do Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante do Ensino
Superior. Trata-se de outra forma de
subsdio ao setor privado que, embo-
ra independente, est cada vez mais
articulada ao Programa Universidade
para Todos (ProUni), pois vem sendo
utilizada para fnanciar, com juros sub-
sidiados, as bolsas parciais. O subsdio
pblico se d por meio do custeio, pelo
Estado, dos juros praticados no emprs-
timo ao estudante, juros que so inferio-
res aos de mercado. Trata-se, por conse-
guinte, de um subsdio implcito.
Esses valores referem-se aos juros
subsidiados, mas a eles preciso acres-
centar a inadimplncia, parcialmente
coberta pela Unio. Em 2007, dos 467
mil contratos ativos, 55 mil estavam em
atraso, totalizando R$ 498,5 milhes.
O Fies teve uma execuo de R$ 685,5
milhes em 2007. O Plano Plurianual
Dicionrio da Educao do Campo
582
(PPA) 2008-2011 apontava como meta
do Fies atingir 700 mil benefcirios em
2011, com 100 mil novos benefcirios
a cada ano, o que signifcaria aumentar
em quase 50% o nmero de contratos
ativos existentes em 2007. Cabe desta-
car que, ao fnal do Governo Fernando
Henrique Cardoso, inequivocamente
comprometido com o setor privado,
o Fies possua 200 mil contratos. A lei
n 11.552/2007 (Brasil, 2007) possibi-
litou o fnanciamento pelo Fies de at
100% dos encargos para os estudantes
que so bolsistas parciais do ProUni,
inclusive para os que possuem bolsa
complementar de 25% oferecida pelas
IES participantes desse mesmo progra-
ma o que atesta a complementaridade
dos vrios programas (Leher, 2010).
Em um contexto de enorme des-
compasso entre a oferta da educao
terciria privada e o mercado consu-
midor (a concentrao de renda no pas
no permite ampliar o chamado mer-
cado educacional) e atendendo ao lobby
privado, amplamente engajado na base
do Governo Lula da Silva, em maio de
2010 o Ministrio da Educao (MEC)
ampliou ainda mais o programa de
subsdio pblico, por meio do Fies, s
instituies privadas. Entre as princi-
pais medidas de ampliao, cabe citar
a reduo da taxa de juros metade
(de 6,5% para 3,4% ao ano), o prolon-
gamento do crdito (de 9,5 para 14,5
anos) e a instituio de mensalidades
fxas, independentemente da infao e
da taxa de juros real. Seguramente, es-
sas medidas, destinadas a compensar
a diferena entre o emprstimo e a taxa
de juros real, aumentaram os gastos p-
blicos. A expectativa do MEC em 2010
era investir R$ 1,6 bilho no programa,
subsidiando 200 mil novas matrculas
nas instituies privadas (Leher, 2010).
Como salientado, a compreenso da
mercantilizao da educao superior e,
mais recentemente, da educao tecno-
lgica, que se d com a criao do Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino
Tcnico e Emprego (Pronatec) que
amplia o ProUni e o Fies educao
tecnolgica requer a considerao ge-
ral do ProUni. Esse programa foi difun-
dido exaustivamente pelas campanhas
publicitrias do MEC como o principal
meio de acesso educao superior dos
setores das classes populares pertencen-
tes aos segmentos menos pauperiza-
dos. um extraordinrio programa de
subsdio pblico para os negcios pri-
vados. Atualmente, apenas pouco mais
da metade das vagas anunciadas pelo
ProUni so efetivamente ocupadas. Por
isso, o custo aluno/ano est em torno
do dobro da mensalidade efetivamente
paga pelos estudantes matriculados nas
privadas e que no fazem parte do pro-
grama. Ademais, a qualidade desses cur-
sos, em sua esmagadora maioria, me-
docre. Outro aspecto a salientar que
os cursos oferecidos so, no geral, os de
menor custo relativo. Apenas 0,7% das
matrculas preenchidas pelo programa
so de Medicina e 0,002% de Geologia
(o custo dos cursos de Geologia eleva-
do por causa do material de laboratrio
e pesquisa de campo). Ao mesmo tem-
po, os cursos de curta durao seguem
curva ascendente, ultrapassando 10%
das vagas (Brasil, 2009; Leher, 2010).
Resultou dessas polticas pr-mer-
cantis uma extraordinria expanso do
setor empresarial de educao supe-
rior. Assim, por exemplo, conforme o
Censo da Educao Superior do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), em 2002 havia
1.637 instituies de ensino superior
no Brasil, das quais 195 eram pblicas,
583
P
Polticas Educacionais Neoliberais e Educao do Campo
317 (ditas) sem fns lucrativos e 1.125
particulares (com fns lucrativos). Em
2008, ltimo ano do Censo Inep em
que foi feita a discriminao entre pri-
vadas sem fns lucrativos e com fns
lucrativos, o total de instituies tinha
subido para 2.252, sendo 236 pblicas,
437 (ditas) sem fns lucrativos e 1.579
particulares (com fns lucrativos) (Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, 2009).
Porm a mercantilizao no se es-
gota no suporte fnanceiro e legal do
Estado ao setor privado-mercantil; al-
cana, inclusive, o cerne da educao
superior: as prioridades de pesquisa, o
teor do currculo, as formas de avalia-
o e a carreira docente. O principal
ordenamento do Estado que permite
ao capital infuenciar diretamente o
conhecimento produzido ou em circu-
lao na universidade a Lei de Inova-
o Tecnolgica (lei n 10.973/2004),
que estabelece medidas de incentivo
inovao e pesquisa cientfca e tec-
nolgica no ambiente produtivo, por
meio do apoio constituio de alian-
as estratgicas e ao desenvolvimento
de projetos de cooperao envolvendo
empresas nacionais, universidades e
centros pblicos de pesquisa e funda-
es ditas de apoio privado nas uni-
versidades. As universidades podem,
mediante remunerao e por prazo
determinado, nos termos do contrato
ou convnio, compartilhar seus labo-
ratrios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalaes com mi-
croempresas e empresas de pequeno
porte, em atividades voltadas inova-
o tecnolgica, e permitir a utilizao
de seus laboratrios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais ins-
talaes existentes em suas prprias
dependncias por empresas nacionais
e organizaes de direito privado sem
fns lucrativos, voltadas para atividades
de pesquisa. A propriedade intelectual
sobre os resultados obtidos pertence-
r s instituies detentoras do capital
social e no s universidades. Ademais,
os professores universitrios podem se
dedicar s atividades empresariais, des-
vinculando-se de suas obrigaes de
ensino e pesquisa pblicos, mas man-
tendo seus salrios pelo Estado.
Os editais que defnem as reas
prioritrias de atuao da universidade
so defnidos com relevante presena
empresarial. Com isso, o que dado a
pensar na universidade parcialmente
estabelecido pela representao direta
do capital. Desse modo, as corpora-
es podem defnir linhas de pesquisa
e prioridades do fazer acadmico, em
detrimento da funo social das uni-
versidades de problematizar as teorias
cientfcas e de se engajarem na solu-
o dos problemas atuais e futuros dos
povos. No agronegcio, a presena
das corporaes difunde, no seio mes-
mo da atividade universitria, o modelo
dos transgnicos e, mais genericamen-
te, do agronegcio voltado para a ex-
portao, em detrimento da soberania
alimentar dos povos.
A admisso das corporaes e das
parcerias das universidades com as
empresas, por meio dos editais, altera
o lugar dos servios no fazer universi-
trio, protegidos que esto dos espaos
pblicos da universidade em poderosas
fundaes, ditas de apoio, privadas;
isso possibilita ao capitalismo acad-
mico assumir um lugar de prestgio e
de poder na hierarquia interna da uni-
versidade, o que realimenta a fora do
referido capitalismo acadmico.
Se, sob o ponto de vista dos seto-
res dominantes, no parecem restar
Dicionrio da Educao do Campo
584
dvidas sobre o fato de que eles em-
preendem intensa luta de classes no
campo educacional, sob o ponto de
vista dos trabalhadores tal questo est
longe de integrar a estratgia de grande
parte dos setores da esquerda socialista.
Com efeito, o objetivo poltico dos se-
tores dominantes ao buscarem subme-
ter a educao sua estratgia poltica
vem sendo combatido principalmente
por movimentos sociais, notadamente
pelos movimentos prximos ao Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), por sindicatos da educa-
o autnomos em relao aos gover-
nos, pelo Frum Nacional em Defesa
da Escola Pblica entre 1987 e 2005
e, no caso da educao superior, por
setores minoritrios das universidades,
particularmente pela esquerda estu-
dantil e pelo movimento docente or-
ganizado no Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituies de Ensino
Superior (Andes-SN). No mbito latino-
americano, os mais relevantes movi-
mentos sociais esto tomando para si
as tarefas de formao poltica de seus
militantes e de educar suas crianas
e jovens. o caso das experincias
dos zapatistas, com os conselhos de
bom governo (juntas de buen gobierno),
e da Assembleia dos Povos de Oaxaca
(APPO) no Mxico; da Coordena-
o Nacional dos Povos Indgenas do
Equador (Conaie); dos trabalhadores
desempregados e das fbricas ocupa-
das, na Argentina, por meio dos bacha-
relados populares; e do MST, no Brasil,
inscritas nesses processos.
Para alterar a correlao de foras
com o capital, essas iniciativas de for-
mao poltica e de educao popular
necessitam de um salto de qualidade,
visando construir processos que en-
volvam no apenas alguns movimen-
tos, mas o conjunto dos trabalhadores,
como parte do processo de constitui-
o da classe nas lutas do presente.
Dilemas estratgicos, contudo, esto
longe de terem sido equacionados. Al-
guns movimentos preconizam que a
educao popular deve ser organizada
fora do mbito estatal; outros susten-
tam que a educao deve estar assegu-
rada como dever do Estado, mas que
no compete ao Estado educar tarefa
dos educadores e do poder popular.
O tema importante, pois confor-
ma os arcos de foras das lutas pela
educao pblica.
Em relao estratgia de luta pelo
pblico, as aes do MST em prol da
educao do campo so as mais mar-
cantes do Brasil. Buscando dar um sen-
tido ao pblico que recusa a tutela esta-
tal, o movimento sustenta um projeto
tico-poltico universal que contm as
principais marcas da pedagogia socialis-
ta como o sentido do trabalho na for-
mao do ser social e, dialeticamente,
como forma de alienao a ser superada
nas lutas sociais sem perder de vista
a particularidade do campo, recusando as
concepes arcaicas da educao rural
e da educao para o campo.
Para derrotar a pedagogia pr-
sistmica encaminhada pelas diversas
expresses do capital, os movimentos
que apostam na autoformao da clas-
se e na luta pelo pblico tm amplia-
do seus prprios espaos educativos
nos moldes preconizados por Gramsci
(2000): o partido como educador
coletivo capaz de elevar a conscincia
social para o momento tico-poltico.
Nesse prisma, cada militante tem de es-
tar preparado para ser um organizador
da atividade poltica, potencializando
as aes diretas, a democracia protag-
nica e o debate estratgico.
585
P
Polticas Educacionais Neoliberais e Educao do Campo
Para fortalecer a formao tico-
poltica do conjunto da classe traba-
lhadora, a ESCOLA DO CAMPO pensa-
da como uma instituio educacional
passvel de ser forjada como espao de
elevada formao porque omnilateral
(ver EDUCAO OMNILATERAL) que as-
segure a todas as crianas e jovens co-
nhecimentos e mtodos para diagnosti-
car e solucionar os grandes problemas
nacionais e dos povos. O MST sustenta
que no basta garantir o acesso esco-
la pblica. Urge uma reviso profunda
das formas de pesquisar e de produzir
o conhecimento. Sem uma crtica ra-
dical ao eurocentrismo e sua forma
atual o pensamento nico neoliberal ,
a educao serve de arma a favor dos
setores dominantes.
A crtica ao capitalismo dependente
somente ser possvel fora das teias das
ideologias dominantes. Esse um de-
safo terico que no ser resolvido
nos espaos intramuros das institui-
es educacionais, pois, como subli-
nhou Florestan Fernandes (1989), a
educao pblica somente ser de fato
pblica quando for parte das lutas ge-
rais dos trabalhadores (Leher, 2011).
No caso brasileiro, as oportuni-
dades de autoconstruo de espaos
formativos originais, densos teorica-
mente e ousados no enfrentamento
dos problemas esto circunscritas a
determinados movimentos, no con-
figurando um quadro de clara luta de
classes no terreno da educao. Os
desafios so polticos, tericos, orga-
nizativos e pedaggicos. Porm, como
lembra Marx, os humanos se colocam
problemas que, potencialmente, po-
dem ser resolvidos.
Em tempos de crise, ocorre uma ace-
lerao do tempo e muitas das fortalezas
do capital apresentam fraturas. A inves-
tigao sobre o modo como os setores
dominantes operam a comodifcao da
educao uma condio para o xito
da resistncia ativa e para forjar a des-
mercantilizao radical da educao p-
blica unitria, pois recusa a disjuno en-
tre pensar e fazer, mandar e obedecer.
Notas
1
O sistema voucher e o modelo de escola charter so mecanismos de repasse de fundos pbli-
cos ao setor privado para a gesto de escolas pblicas de ensino bsico que vm se generali-
zando nos sistemas educacionais do Chile e dos Estados Unidos, com algumas experincias
similares nas redes de ensino pblico brasileiro. Os vouchers so subsdios s famlias para
que elas paguem pela educao de seus flhos nas escolas de sua escolha. E as escolas char-
ters so um tipo de fnanciamento pblico de abertura de escolas por entidades privadas.
Representam a institucionalizao do protagonismo do setor privado na educao pblica
e a desresponsabilizao do Estado pela educao bsica, sob o signo da autonomia dos
pais na escolha da escola e da efcincia da gesto privada.
2
Em 1921, Walter Benjamin escreveu o ensaio Zur Kritik der Gewalt (Para uma crtica da
violncia) no qual desenvolve, dialeticamente, uma refexo sobre a violncia, construda
com base na ambiguidade da palavra Gewalt, que em alemo designa tanto a violncia quan-
to o poder legtimo. Dessa refexo sobre a pura violncia, Benjamin defne que vivemos,
como regra geral, num estado de exceo (ver Benjamin, 1986 e 1987).
Dicionrio da Educao do Campo
586
Para saber mais
BENJAMIN, W. Documentos de cultura documentos de barbrie. So Paulo: Cultrix
Edusp, 1986.
______. Obras escolhidas. So Paulo: Brasiliense, 1987. V. 1: Magia e tcnica, arte
e poltica.
BRASIL. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as diretrizes e bases
da educao nacional. Dirio Ofcial, Braslia, 23 dez. 1996. Disponvel em: http://
www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102480. Acesso em:
28 set. 2011.
______. Lei n
o
10.973, de 2 de dezembro de 2004: dispe sobre incentivos
inovao e pesquisa cientfca e tecnolgica no ambiente produtivo e d outras
providncias. Dirio Ofcial, Braslia, 3 dez. 2004. Disponvel em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm. Acesso em:
29 set. 2011.
______. Lei n 11.552, de 19 de novembro de 2007: altera a lei n 10.260, de 12
de julho de 2001, que dispe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior Fies. Dirio Ofcial, Braslia, 20 nov. 2007. Disponvel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11552.htm.
Acesso em: 29 set. 2011.
______. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO (TCU). Relatrio de auditoria operacio-
nal: Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Braslia: TCU, 2009. Disponvel em:
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_
governo/areas_atuacao/educacao/Relat%C3%B3rio%20de%20auditoria_
Prouni.pdf. Acesso em: 29 set. 2011.
FERNANDES, F. O desafo educacional. So Paulo: Cortez; Campinas: Autores
Associados, 1989.
GRAMSCI, A. Cadernos do crcere. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000. V. 2:
Os intelectuais. O princpio educativo. Jornalismo.
HAYEK, F. A. Os princpios de uma ordem social liberal. In: CRESPIGNY, A.;
CRONIN, J. (org.). Ideologias polticas. Braslia: Editora UnB, 1998.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS (INEP). Censo da
educao superior 2008. Braslia: Inep, 2009.
LEHER, R. Educao no governo de Lula da Silva: a ruptura que no aconte-
ceu. In: OS ANOS LULA: contribuies para um balano crtico 2003-2010. Rio de
Janeiro: Garamond, 2010. V. 1, p. 369-412.
______. Universidade, socialismo e conscincia social: Florestan Fernandes na re-
vista Universidade e Sociedade. Universidade e Sociedade, Braslia, n. 47, p. 17-29, 2011.
POLANYI, K. A grande transformao: as origens da nossa poca. Rio de Janeiro:
Campus, 2000.
587
P
Polticas Pblicas
TRINDADE, A. C. Movimentos sociais e a luta pelo pblico na educao: escolas itinerantes
no Brasil e bacharelados populares na Argentina. 2011. Dissertao (Mestrado
em Educao) Faculdade de Educao, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2011.
P
POLTICAS PBLICAS
Mnica Castagna Molina
O objetivo deste verbete forne-
cer elementos que subsidiem o enten-
dimento da relao da Educao do
Campo com as polticas pblicas: por
que se deu tanta centralidade a esse
conceito neste movimento histrico
da construo da Educao do Campo
nos ltimos doze anos, a ponto de a ca-
tegoria incluir-se no que vimos deno-
minando como sua trade estruturante:
campopolticas pblicaseducao?
Pretendemos apresentar aqui a com-
preenso que fundamenta, no perodo
histrico atual, e no qual se d a cons-
truo da Educao do Campo, as ra-
zes para a nfase que adquiriu o con-
ceito. No possvel debater as polticas
pblicas sem utilizar outros quatro con-
ceitos fundamentais: direitos, Estado,
movimentos sociais e democracia.
1
Desenvolvimento e contexto
atual do debate sobre
polticas pblicas
Na histria da EDUCAO DO CAM-
PO, o debate e a compreenso sobre o
tema das polticas pblicas torna-se re-
levante porque, desde o seu surgimen-
to, a Educao do Campo se confgura
como demanda relativa garantia do
direito educao para os trabalha-
dores rurais: inicialmente, com a luta
dos Sem Terra para garantir o direito
educao nas reas de Reforma Agr-
ria, com as exigncias para a criao
do PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAO
NA REFORMA AGRRIA (PRONERA), e, na
sequncia, com a ampliao das lutas
pela garantia do direito educao
para todos os povos do campo, orga-
nizadas e desencadeadas coletivamente
a partir da I Conferncia Nacional de
Educao Bsica do Campo, em 1998.
O tema das polticas pblicas adquire
ainda maior centralidade na histria da
Educao do Campo a partir da II Con-
ferncia Nacional de Educao Bsica
do Campo, realizada em 2004, quando
se consolida, como sua palavra de or-
dem, a expresso Educao do Cam-
po: direito nosso, dever do Estado.
Desde ento, o tema das polticas p-
blicas e a luta por elas foi se ampliando,
arregimentando apoiadores e oposito-
res, quer nos movimentos sociais cam-
poneses quer entre seus parceiros das
universidades e demais instituies que
trabalham com Educao do Campo.
Por que esse tema to controverso?
Que questes se colocam como pano
de fundo no debate sobre polticas
pblicas que so capazes de provocar
tanto dissenso?
Primeiro, preciso explicitar que
o debate sobre polticas pblicas, na
histria da Educao do Campo, rela-
ciona-se sempre ideia dos direitos. As
Dicionrio da Educao do Campo
588
polticas pblicas signifcam o Estado
em ao (Gobert e Muller, 1987 apud
Hofing, 2001, p. 32). Elas traduzem
formas de agir do Estado, mediante
programas que objetivam dar materiali-
dade aos direitos constitucionais. Entre
os direitos constitucionais que se mate-
rializam por meio das polticas pbli-
cas, esto principalmente os direitos
sociais, defnidos no artigo 6 da Cons-
tituio Federal brasileira de 1988: edu-
cao, sade, trabalho, moradia, lazer,
segurana, previdncia social, proteo
maternidade e infncia e assistncia
aos desamparados. Pelo fato de as po-
lticas pblicas serem formas de atua-
o do Estado para garantir os direitos
sociais, elas tambm so denominadas,
muitas vezes, polticas sociais.
A filsofa Marilena Chau (2003)
nos ensina a diferenciar direito de
outras categorias, exaltando o peso
e a importncia da construo desse
conceito. Um direito difere de uma
necessidade ou carncia e de um in-
teresse. Uma necessidade ou carncia
algo particular e especfico (ibid.,
p. 334). Existem tantas carncias quan-
tos grupos sociais. Explica ainda a auto-
ra que necessidades e carncias podem
ser conflitantes entre si. Chau enfa-
tiza que um direito, ao contrrio de
necessidades, carncias e interesses,
no particular e especfico, mas ge-
ral e universal, vlido, para todos os
indivduos, grupos e classes sociais
(ibid.). Essa a principal caracterstica
da ideia de direito: ser universal, refe-
rir-se a todos os seres humanos, inde-
pendentemente da sua condio social.
A compreenso e a legitimao da ideia
da educao como um direito humano,
e, mais do que isso, a prpria constru-
o do ideal dos direitos humanos, so
fruto de longa construo histrica,
que se consolida a partir do acmulo
de centenas e centenas de lutas sociais.
Em decorrncia de sua prpria
construo histrico-social, os direitos
humanos esto em permanente pro-
cesso de construo, desconstruo
e reconstruo. E essa caracterstica
de construo scio-histrica, de im-
permanncia, da ideia de direitos e da
igualdade dos seres humanos de gran-
de importncia para a compreenso do
que a Educao do Campo intenciona
ao provocar o debate e ao lutar por
polticas pblicas no tempo histrico
que vivemos. Porque a construo da
noo da igualdade tem importncia
histrica mpar, visto termos convivi-
do durante muito tempo na histria da
humanidade com a ideia das diferenas
intrnsecas entre seres humanos por
exemplo, nos sculos em que imperava
o regime da escravido. A respeito des-
se debate, Telles (1999) observa que a
igualdade resulta da organizao hu-
mana, porquanto orientada pelo prin-
cpio da justia. No nascemos iguais,
nos tornamos iguais, como membros
de um grupo, por fora de nos conce-
dermos direitos iguais (ibid., p. 62).
em torno da ideia da igualdade
jurdico-poltica que se processam as
crticas dos opositores importn-
cia adquirida pelas lutas por polticas
pblicas. A pertinente crtica que se
faz que a igualdade jurdico-poltica
oculta a impossibilidade de a igualda-
de real se materializar nas sociedades
capitalistas: existe nelas uma barreira
intransponvel para a igualdade real en-
tre os sujeitos decorrente da instituio
da propriedade privada, que impede os
sujeitos de serem iguais de fato, visto
que uns se apropriam privadamente
dos meios de produo e da fora de
trabalho de outros.
589
P
Polticas Pblicas
A construo da ideia da emancipa-
o poltica tem suas razes histrico-
ontolgicas no ato de compra e venda
da fora de trabalho, com todas as suas
consequncias para a sociedade capita-
lista. Este ato originrio produz neces-
sariamente a desigualdade social, uma
vez que ope o possuidor dos meios de
produo ao simples possuidor da fora
de trabalho (Tonet, 2005, p. 475). A
criao de condies para a existncia
da igualdade real exige mudanas es-
truturais profundas na sociedade. Se
nosso horizonte a construo de uma
sociedade sem explorao do homem
pelo homem, imprescindvel a supe-
rao da propriedade privada, pois,
como afrma Tonet, a efetiva emanci-
pao humana , por seus fundamentos
e sua funo social, algo radicalmente
diferente e superior cidadania, que
parte integrante da emancipao polti-
ca (ibid., p. 476). No se est afrman-
do com isto, como ressalta o prprio
Tonet, que se deve menosprezar a luta
pela efetiva conquista da cidadania.
Mesmo com esses limites e ressalvas,
ainda extremamente relevante a luta
pela garantia da igualdade jurdico po-
ltica, pois ela signifca espaos de re-
sistncia dos avanos j conquistados
pela humanidade em torno do ideal dos
direitos humanos, embora saibamos que
nosso horizonte para garantir a liberda-
de de fato para todos bem maior.
Exatamente com base na ideia da
historicidade dos direitos humanos, dos
processos de luta para sua instituio
e das possibilidades de sua reverso e
desconstruo, que se faz necessria
a luta por polticas pblicas no mbito
da Educao do Campo neste momen-
to histrico. Vivemos um tempo de
profunda desconstituio dos direitos,
decorrente da lgica de acumulao vi-
gente nesta nova fase da mundializao
do capital. preciso termos presente,
conforme ressalta Alba Maria Pinho
de Carvalho, que existe uma distino
entre a forma de funcionamento do
capitalismo no sculo XIX at os anos
1970 e aquela em vigor nas duas lti-
mas dcadas do sculo XX adentrando
o sculo XXI (2008, p. 16).
Uma das consequncias desse pro-
cesso de mundi al i zao do capi tal
que se intensifica a partir da revolu-
o tcnico-cientfca e da ampliao
do desenvolvimento do que se tem
considerado como foras produtivas
cibernticas-informacionais o des-
carte de centenas de milhares de traba-
lhadores, produzindo um contingente
crescente de trabalhadores suprfuos.
Esse processo aumenta, de forma cada
vez mais acelerada, para aqueles vi-
vem do seu trabalho e que dele obtm
seu meio de vida, a ameaa permanen-
te de negao do valor de uso de sua
fora de trabalho (Carvalho, 2008,
p. 18). Um trao estrutural do capita-
lismo na fase atual o agravamento da
questo social para a classe trabalhado-
ra, materializando um perverso proces-
so de destituio e desconstruo de
direitos econmicos e sociais: direito
ao trabalho, e mais especifcamente, a
um emprego; direito ao acesso terra;
direito moradia, educao, sade, ao
lazer (ibid., p. 19).
A acelerao e a intensifcao da
perda dos direitos humanos, conquista-
dos durante dcadas de luta, um pro-
cesso que se tem verifcado em vrios
pases do mundo e que teve um modo
peculiar de desenvolvimento na socie-
dade brasileira nas duas ltimas dca-
das. Com a perspectiva de compreen-
der as contradies sociais enfrentadas
pelo Brasil, Carvalho (2008) apresenta
Dicionrio da Educao do Campo
590
dois processos que ocorreram simulta-
neamente nestas duas ltimas dcadas
no pas: as transformaes no mbito
do Estado no sentido da promoo das
mudanas necessrias aos ajustes reque-
ridos pela reconfgurao da lgica de
acumulao do capital que confguram
o Estado ajustador e os processos
de mudanas sociais rumo democrati-
zao, ocorridos no mesmo perodo.
A autora analisa que, nesse intervalo
temporal, a sociedade brasileira tem se
desenvolvido, articuladamente, entre
esses dois processos estruturais bsi-
cos: Tm-se, em disputa, no interior
do sistema do capital, dois projetos po-
lticos, com perspectivas distintas e, at
mesmo, com dimenses antagnicas,
no tocante aos direitos e s polticas
pblicas (Carvalho, 2008, p. 21). Inte-
ressa-nos compreender as contradies
entre esses dois projetos em disputa no
Estado, pois so em torno desses dife-
rentes perfs que se situam os embates
sobre as polticas pblicas da Educao
do Campo.
Carvalho prope como chave de
leitura para a conformao do Esta-
do brasileiro nos ltimos vinte anos
o que denomina de confuncia con-
traditria entre democratizao e ajus-
te nova ordem do capital (2008,
p. 21). A autora afrma que a confu-
ncia desses dois processos, democrati-
zao e ajuste nova ordem capitalista,
constitui, a partir da dcada de 1990, o
tecido do Estado nacional, expressando-
se em duas configuraes distintas,
que oscilam entre Estado democrti-
co ampliado, na busca de encontros e
pactos, reconhecendo o confito como
via democrtica por excelncia; Estado
ajustador, que se restringe a agir sob a
gide do mercado, com a destituio/
anulao da poltica, ajustando-se
nova ordem do capital (ibid.).
Uma das caractersticas do Esta-
do ajustador que, paralelamente aos
processos que promove ao favorecer o
acmulo de capitais, via desregulamen-
tao/desnacionalizao e privatizao
(Carvalho, 2008, p. 22), ele mesmo
vai progressivamente isentando-se do
seu papel de garantidor de direitos,
materializando-se uma profunda dimi-
nuio de suas responsabilidades so-
ciais. E na dimenso desse embate,
e em oposio a ele, que se coloca a
compreenso da Educao do Cam-
po na luta por polticas pblicas.
Uma das consequncias da nova
ordem do capital, e do novo papel que
ela vai imprimindo no Estado, exa-
tamente a reduo do mbito dos di-
reitos na sociedade. Esse fenmeno se
d simultaneamente, em dupla dimen-
so, sendo ambas de extrema gravidade:
a primeira a eroso real dos direitos
historicamente conquistados, que so
negados ou fragmentados; a segunda
a eroso da prpria noo de direitos
e das referncias pelas quais eles pode-
riam ser reformulados. A autora afrma
que esse tempo de ajustes do Estado
nova ordem do capital provoca o enco-
lhimento do horizonte da legitimidade
dos direitos (Carvalho, 2008, p. 23).
O processo geral de reconfgura-
o da lgica do capital, com a perda
de direitos sociais que haviam sido his-
toricamente conquistados em intensos
processos de luta empreendidos pelas
classes trabalhadoras, exprime parte
da importncia que se tem dado, no
movimento histrico da Educao
do Campo, s lutas pelas polticas p-
blicas, pois esse movimento integra um
movimento maior de reao da socie-
dade civil, de homens e mulheres que
se recusam a aceitar o modo de vida
imposto pelo sociabilidade do capital,
591
P
Polticas Pblicas
que a tudo mercantiliza, e exigem do
Estado, na luta por seus direitos, a ins-
titucionalizao das polticas sociais.
Essas conquistas signifcam, de acordo
com Carvalho (2008), a instaurao
da contrariedade na cena pblica bra-
sileira, repercutindo, em alguma me-
dida, na organizao do Estado con-
temporneo, obrigando-o a construir
estratgias que deem sustentao s
conquistas desses direitos, ainda que
em cenrios extremamente desfavo-
rveis aos sujeitos coletivos que os
conquistaram. Assim, no Brasil,
[...] as polticas sociais consti-
tuem um espao privilegiado
de atuao poltica no (re)de-
senho do Estado, estabelecen-
do o vnculo necessrio entre
conflitos/demandas por direi-
tos e busca de alternativas de
emancipao. Sob esse prisma,
os movimentos sociais pela
definio e implementao de
polticas pblicas, com suas
mltiplas expresses, articulan-
do novas e tradicionais estrat-
gias, constituem-se vias aber-
tas, no confronto com a l-
gica do capital mundializado.
(Carvalho, 2008, p. 25)
Essas questes gerais das lutas dos
movimentos sociais para garantir e
conquistar direitos sociais e sua mate-
rializao por meio de polticas pbli-
cas so as que explicam a importncia
que o tema adquiriu neste tempo his-
trico, no qual surge a Educao do
Campo. Portanto, com base nessas
contradies maiores que enfrenta-
mos tambm as questes especfi-
cas da Educao do Campo no mbito
das polticas pblicas.
A importncia do
protagonismo dos
movimentos sociais
Um dos mais fortes contrapontos
que a histria da Educao do Campo
traz para o debate das polticas p-
blicas refere-se aos sujeitos que a
protagonizam e forma e conte-
do de sua concepo. Para alm do
estabelecido nos clssicos debates
da cincia poltica sobre as fases de
elaborao das polticas pblicas
formao da agenda, formulao
das polticas, processo de tomada de
decises, implementao, avaliao ,
o movimento da Educao do Campo
enfatiza, na cena pblica brasileira, a
presena de SUJEITOS COLETIVOS DE
DIREITOS vindos do campo.
Embora os camponeses j tivessem
por diversas vezes sido protagonistas
na cena pblica nacional, ainda no o
haviam sido para exigir seus direitos
no mbito da educao. E ao faz-lo,
em razo da histrica experincia acu-
mulada nas lutas sociais, trazem para o
debate e para a construo das polti-
cas pblicas a marca de coletivos or-
ganizados que tm objetivos comuns
e a conscincia de um projeto coletivo
de mudana social, de coletivos priva-
dos de seus direitos e que exigem do
Estado aes no sentido de garanti-los.
Conforme afrmamos no trabalho
Refexes sobre o protagonismo dos
movimentos sociais na construo de
polticas pblicas de Educao do Cam-
po (Molina, 2010), uma das maiores
riquezas da experincia histrica da
construo de polticas pblicas refere-
se exatamente presena dos sujeitos
coletivos de direitos. So eles e suas
prticas os responsveis pelas trans-
formaes por que tem passado a
Dicionrio da Educao do Campo
592
elaborao das polticas pblicas na
rea. A maior transformao refere-se
ao carter dos direitos por eles pro-
pugnados: direitos coletivos de grupos
sociais excludos historicamente da
possibilidade de vivenciar os direitos
j existentes, ao mesmo tempo em que
se enfatiza a necessidade da criao e
positivao de novos direitos.
A presso e o processo organizativo
desencadeado pela ao social de reivin-
dicao da garantia de seus direitos pe-
los camponeses tm obrigado diferentes
nveis de governo a criarem espaos ins-
titucionais para o desenvolvimento de
aes pblicas que deem conta das
demandas educacionais do campo. Es-
sas instncias governamentais tendem
a excluir a materialidade dos confitos
presentes no campo, revelando uma
compreenso do confito carregada de
um imaginrio negativo, temido e que
necessariamente deve ser eliminado.
Uma das tenses da Educao do
Campo no que diz respeito s polti-
cas pblicas, especialmente em relao
quelas executadas pelas secretarias
estaduais e municipais de Educao,
o apartamento, a ruptura, a separao
da Educao do Campo. Exatamente
o que lhe constitutivo, o que a fez
surgir, que foram as lutas e os confitos
no campo e a busca dos movimentos
sociais e sindicais por outro projeto de
campo e de sociedade e, dentro dele,
outro projeto de educao , tem sido
intencionalmente negado por seto-
res relevantes dessas instncias gover-
namentais. Assim, exclui-se do planeja-
mento da ao pedaggica o essencial: o
prprio campo e as determinaes que
caracterizam os sujeitos que vivem nesse
territrio. Essas instncias governamen-
tais querem fazer Educao do Campo
sem o campo: sem considerar, como di-
menso indissocivel desse conceito, a
prxis social dos sujeitos camponeses,
a materialidade de suas condies de
vida, as exigncias s quais esto sub-
metidos os educandos e suas famlias
no processo de garantia de sua reprodu-
o social, tanto como indivduos quan-
to como grupo (Molina, 2010).
Essa tenso se amplia na medida do
prprio processo de ampliao do mo-
vimento da Educao do Campo e de
sua insero na agenda pblica. Com
base na compreenso que se tem da
Educao do Campo, e ao contrrio da-
quela perspectiva negativa dos confitos,
preciso reconhecer sua dimenso ins-
tituinte: os confitos devem ser trabalha-
dos politicamente, pois so eles a pos-
sibilidade de construo de superaes,
de mudanas, de transformaes:
A democracia a nica forma
poltica que considera o confito
legal e legtimo, permitindo que
seja trabalhado politicamente pe-
la prpria sociedade. Signifca
que os cidados so sujeitos de
direitos, e que onde eles no
estejam garantidos, tem-se o
dever de lutar por eles e exigi-
los [...]. A mera declarao do
direito igualdade no faz exis-
tir os iguais, mas abre o cam-
po para a criao da igualdade
atravs das exigncias e deman-
das dos sujeitos sociais. Em ou-
tras palavras: declarado o direi-
to igualdade, a sociedade pode
instituir formas de reivindicao
para cri-lo como direito real.
(Chau, 2003, p. 344)
So as garantias reais de direitos
negados aos trabalhadores rurais que a
luta coletiva busca conquistar. A ques-
593
P
Polticas Pblicas
to a destacar que, para no perder o
seu potencial contra-hegemnico, con-
tribuindo com o desencadear de proces-
sos de mudanas de fato estruturais,
imprescindvel a permanncia do cam-
po no centro dos processos formativos
desses sujeitos e na elaborao de pol-
ticas pblicas de Educao do Campo,
com todas as tenses, contradies e
disputas de projeto que isso signifca.
tambm imprescindvel garantir a sua
materialidade de origem, pois, ao per-
der o vnculo com as lutas sociais do
campo que a produziram, ela deixar de
ser Educao do Campo. Ou seja, para
continuar sendo contra-hegemnica,
a Educao do Campo precisa manter
o vnculo e o protagonismo dos sujei-
tos coletivos organizados, ser parte da
luta da classe trabalhadora do campo
por um projeto de campo, educao
e sociedade.
Se poltica pblica significa o Es-
tado em ao, promoo, pelo Estado,
de formas de executar aquilo que est
no mbito de seus deveres, como se
provoca essa ao? Quem/o qu o faz
agir? Essa resposta vincula-se com-
preenso que se tem do que Estado.
No verbete ESTADO, partindo-se da
perspectiva marxista de Gramsci,
afirma-se que o Estado no sujei-
to nem objeto, mas sim uma relao
social, ou melhor, a condensao das
relaes presentes numa dada socie-
dade. E exatamente o resultado das
foras presentes nessa condensao
das relaes sociais que faz o Estado
agir, ou seja, que o faz conceber e exe-
cutar essa ou aquela poltica pblica.
Por isso, tem-se dado tanta nfase,
na construo da Educao do Cam-
po nos ltimos anos, importncia de
se debater com a sociedade a necessi-
dade da garantia do direito, pela ao
do Estado, aos sujeitos do campo.
Dissemos anteriormente que direitos
so universais, que eles dizem respeito
a todos os cidados e que somente o
Estado tem condies de institu-los
mediante suas aes, ou seja, por meio
de polticas pblicas. Porm importa-
nos compreender como possvel
provocar essa ao. E a precisamos
recorrer a outra ideia fundamental
para o entendimento da instituio
das polticas pblicas, intrinsecamente
relacionada com a esfera da cultura na
sociedade, compreendendo-se cultura
como o conjunto de valores, padres
e normas sociais vigentes em determi-
nado tempo histrico.
Conforme Gramsci, preciso re-
cuperar a compreenso da indissocia-
bilidade da poltica e da cultura para
melhor entendermos a importncia do
avano das conscincias no acmulo
de foras para a conquista de polti-
cas sociais. Ampliar o espectro social
a fm de que se reconheam os sujeitos
do campo como sujeitos de direitos,
como iguais, passo importante para
a conquista das polticas pblicas. Pois,
conforme ressalta Azevedo (1997) em
trabalho clssico sobre educao e po-
lticas pblicas, essas guardam intrnse-
ca conexo com os valores culturais e
simblicos que a sociedade tem de si
prpria. A autora afrma que as repre-
sentaes sociais dominantes fornecem
valores, normas e smbolos que estru-
turam as relaes sociais e, como tal, se
fazem presentes no sistema de domi-
nao, atribuindo signifcados defni-
o social da realidade, que vai orientar
os processos de deciso, formulao e
implementao das polticas pblicas
(ibid., p. 6). Nesse ponto reside uma
das principais foras que a Educao
do Campo acumulou nos ltimos doze
Dicionrio da Educao do Campo
594
anos: a luta dos movimentos sociais e
sindicais do campo para conquistar os
programas existentes fez avanar tam-
bm a compreenso dos trabalhadores
rurais sobre a importncia do acesso ao
conhecimento e, principalmente, con-
tribuiu para que eles prprios se cons-
cientizassem de que so titulares do
direito educao. Esse movimento
de ampliao da conscincia dos tra-
balhadores que decorre de suas lutas
para garantir seus direitos entre eles,
o direito educao tem duplo esco-
po de resultados: ao mesmo tempo em
que vai formando os prprios trabalha-
dores e ampliando a sua conscincia,
tambm vai fazendo avanar a viso
e a compreenso da sociedade sobre
esses trabalhadores como sujeitos por-
tadores de direitos. As vrias lutas pro-
tagonizadas pelos sujeitos coletivos
do campo desencadeiam mudanas no
imaginrio da sociedade, abrindo cami-
nho para novas transformaes a se-
rem trilhadas e consolidadas no mbito
da garantia real desses direitos.
Esses processos articulados rele-
vam a importncia da manuteno do
protagonismo dos movimentos sociais
e sindicais na disputa pela construo
de polticas pblicas de Educao do
Campo. O embate atual refere-se s ca-
ractersticas que essas polticas devem ter
para, de fato, serem capazes de garantir
aos camponeses os direitos dos quais es-
tiveram privados por tantos sculos.
Polticas de Educao do
Campo: universalidade
e especificidade
A efetiva promoo do direito edu-
cao em todos os nveis de ensino para
as populaes do campo requer a ado-
o de polticas e programas que sejam
capazes de traduzir, na prtica da ao
do Estado, os princpios da igualdade
formal e da igualdade material determi-
nados na Constituio Federal de 1988.
Ao refetir sobre a constituciona-
lidade do direito educao dos po-
vos do campo, a pesquisadora Clarice
Seixas Duarte afrma que o princpio
da igualdade material, ou igualdade fei-
ta pela lei, visa criar patamares mni-
mos de igualdade no campo do acesso
aos bens, servios e direitos sociais.
(2008, p. 34). Nessa concepo, o Es-
tado encontra-se obrigado, com base
na prpria Constituio Federal, a im-
plantar, mediante polticas pblicas,
aes que sejam capazes de criar con-
dies que, de fato, garantam igualdade
de direitos a todos os cidados.
Conforme explicita Duarte (2008), a
articulao entre os princpios de igual-
dade formal e de igualdade material
fundamenta a criao de polticas espe-
cfcas que tm como objeto determina-
dos grupos em situao de maior pri-
vao de direitos, obrigando o Estado
a conceber polticas diferenciadas para
assegurar o direito a esses grupos: No
basta que o Estado garanta apenas di-
reitos universais formais, pois assim as
desigualdades j existentes na socieda-
de vo ser acirradas. O Estado deve ter
uma postura intervencionista, para pro-
por polticas especfcas para os grupos
em situao desfavorvel (ibid., p. 38).
So as fortes desigualdades exis-
tentes no acesso educao pblica no
campo, e em sua qualidade, que obri-
gam o Estado, no cumprimento de suas
atribuies constitucionais, a conceber
e a implantar polticas especfcas que
sejam capazes de minimizar os incont-
veis prejuzos j sofridos pela populao
do campo, em virtude de sua histrica
privao do direito educao escolar.
595
P
Polticas Pblicas
Quando, em decorrncia da luta
social, esses direitos passam a se ma-
terializar em polticas pblicas especf-
cas, o argumento jurdico que sustenta
a legitimidade dessas polticas o fato
de que cabe ao Estado, ao universalizar
os direitos, considerar as consequn-
cias decorrentes das diferenas e desi-
gualdades histricas quanto ao acesso a
estes direitos.
Quando os movimentos sociais do
campo se fazem porta-vozes dessas
reivindicaes, sublinham exatamente
a diferena que marca o modo como
dimensionam as respostas necessrias
garantia dos direitos historicamente
negados e reivindicam, assim, que se
contemplem as especifcidades scio-
histricas que foram impressas nas
suas trajetrias pessoais e coletivas de
explorao e opresso.
necessrio, portanto, que a di-
menso abstrata da universalidade
seja complementada pela intencionali-
dade de responder s particularidades
resultantes de determinado processo
histrico que excluiu do acesso edu-
cao a classe trabalhadora do campo.
Radicalizando o princpio da igualdade,
o estabelecimento da universalidade do
direito exige, nesse caso, aes espe-
cfcas para atender a demandas dife-
renciadas resultantes de desigualdades
histricas no acesso educao.
Se a universalidade se coloca como
a principal caracterstica da ideia de
direito, a regulamentao jurdica for-
mal, por sua vez, por causa das desi-
gualdades resultantes das contradies
fundamentais da sociedade do capital
no garante por si s o acesso de fato a
esses direitos. A luta por direitos, por-
tanto, inerente sociedade do capi-
tal e faz a desigualdade no acesso aos
direitos transformar-se em fundamen-
to para a demanda por reconhecimento
das especifcidades histricas que cons-
tituem esses sujeitos de direito.
Nota
1
Todos esses conceitos so discutidos em diferentes verbetes deste Dicionrio. Sua leitura
articulada refora a compreenso das contradies e contrapontos a serem tratados aqui.
Para saber mais
AZEVEDO, J. L. A educao como poltica pblica. 2. ed. Campinas: Autores
Associados, 1997.
CARVALHO, A. M. P. A luta por direitos e a afrmao das polticas sociais no Brasil
contemporneo. Revista de Cincias Sociais, v. 39, n. 1, p. 16-26, 2008.
CHAU, M. A sociedade democrtica. In: MOLINA, M. C.; SOUZA JNIOR; J. G.;
TOURINHO, F. (org.). Introduo crtica ao direito agrrio. Braslia: Editora UnB, 2003.
p. 332-340.
DUARTE, C. S. A constitucionalidade do direito educao dos povos do cam-
po. In: SANTOS, C. (org.). Campopoltica pblicaeducao. Braslia: Nead, 2008.
p. 33-38.
HOFLING, E. M. Estado e polticas (pblicas) sociais. Cadernos Cedes, v. 21, n. 55,
p. 30-41, nov. 2001.
Dicionrio da Educao do Campo
596
KERSTENETZKY, C. L. Polticas sociais: focalizao ou universalizao. Textos para
Discusso, Universidade Federal Fluminense, Niteri, out. 2005.
MOLINA, M. C. A constitucionalidade e a justiciabilidade do direito educao
dos povos do campo. In: SANTOS, C. (org.). Campopoltica pblicaeducao. Braslia:
Nead, 2008. p. 19-31.
______. Refexes sobre o protagonismo dos movimentos sociais na construo
de polticas pblicas de educao do campo. In: ______ (org.). Educao do Campo
e Pesquisa II: questes para refexo. Braslia: Nead, 2010. p. 137-149.
MONTAO, C.; DURIGUETTO, M. L. Estado, classe e movimento social. So Paulo:
Cortez, 2010.
TELLES, V. S. Direitos sociais: afnal, do que se trata? Belo Horizonte: Editora
UFMG, 1999.
TONET, I. Educar para a cidadania ou para a liberdade? Revista Perspectiva, v. 23,
n. 2, p. 469-484, jul.-dez. 2005.
P
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Valter do Carmo Cruz
A partir do fnal da dcada de 1980,
so identifcadas sensveis mudanas,
na Amrica Latina e no Brasil, na din-
mica poltica dos confitos sociais do
mundo rural, sobretudo pela emergn-
cia de uma espcie de polifonia po-
ltica, com o surgimento de uma di-
versidade de novas vozes, de novos
sujeitos polticos protagonistas que
emergem na cena pblica e nas arenas
polticas. Nesse perodo, comeam a
ganhar fora e objetivao, na forma
de movimentos sociais, as reivindi-
caes de uma diversidade de grupos
sociais denominados ou autodenomi-
nados populaes tradicionais, ou,
mais recentemente, povos e comuni-
dades tradicionais. Nesse novo cen-
rio, esses termos tm assumido dupla
centralidade/visibilidade: uma centrali-
dade analtica (terica) e uma centra-
lidade emprica (histrica e poltica).
Porm, apesar de serem amplamente
utilizadas em diversos contextos, no
h um signifcado nico e preciso para
essas expresses, que carregam grande
polissemia e ambiguidade no apenas
como categoria de anlise, mas tam-
bm como categoria da ao poltica.
Entender o signifcado desses ter-
mos implica discutir sua origem, sua
historicidade e suas diversas formas de
apropriao como categoria de anli-
se ou seja, como conceito socioan-
tropolgico que busca nomear, carac-
terizar e classifcar certas comunidades
rurais e como categoria da ao
ou seja, como identidade sociopoltica
mobilizadora das lutas por direitos. Es-
sas duas dimenses, embora apresen-
tem especifcidades, entrecruzam-se
nas lutas e disputas em torno dessas
597
P
Povos e Comunidades Tradicionais
categorias, que so, ao mesmo tempo,
epistmicas e polticas.
Se buscarmos a genealogia da emer-
gncia dos termos povos e comuni-
dades tradicionais no lxico poltico
e terico brasileiro, podemos localizar
como momento decisivo o fnal da dca-
da de 1970 e o incio da dcada de
1980. Porm, sobretudo no incio
dos anos 1990, com a consolidao da
questo ambiental, que esses termos
popularizam-se e, aos poucos, vo sen-
do apropriados por um conjunto mais
amplo de grupos sociais, movimentos
sociais, organizaes no governamen-
tais (ONGs), pela mdia, pela academia
e pelo prprio Estado, que institucio-
nalizou essas categorias na forma de
legislao, direitos e polticas pblicas.
Segundo Paul Litlle (2006), es-
ses termos surgiram em dois campos
distintos, ainda que entrelaados: o
campo ambiental e o campo de lutas
por direitos culturais e territoriais de
grupos tnicos. No campo ambiental,
essas expresses apareceram no deba-
te internacional sobre as polticas de
preservao e conservao ambiental
relacionadas a temas como biodiver-
sidade e desenvolvimento sustentvel.
nesse contexto que emergiu o uso
dos termos povos e comunidades
tradicionais para nomear, identificar
e classificar uma diversidade de cultu-
ras e modos de vida de um conjunto
de grupos sociais que, historicamente,
tm ocupado reas agora destinadas
preservao e conservao ambiental.
O segundo campo no qual esses ter-
mos ganharam visibilidade o das lu-
tas pelo reconhecimento dos direitos
culturais e territoriais dos mltiplos
grupos indgenas ou autctones.
No mesmo perodo em que o mo-
vimento ambientalista se consolidou,
fortaleceu-se tambm, paralelamente,
o campo das lutas pelos direitos dos
povos indgenas no plano interna-
cional. Um marco fundamental desse
processo foi a aprovao, em 1989, da
Conveno 169 da Organizao Inter-
nacional do Trabalho (OIT), na qual
se defniu um conjunto de direitos e
garantias dos povos indgenas e tri-
bais em pases independentes. Essa
declarao tornou-se um mecanismo-
chave nas lutas pelo reconhecimento
dos direitos dos povos indgenas. No
Brasil, com o processo de redemocrati-
zao e a ampliao do espao poltico
da sociedade civil na dcada de 1980,
ganhou fora a mobilizao dos povos
indgenas e de quilombolas em torno
de reivindicaes tnicas ante o Estado.
Como resultado dessas lutas, impor-
tantes reivindicaes territoriais e cul-
turais foram incorporadas na Consti-
tuio Federal de 1988, fortalecendo
juridicamente a situao fundiria e a
identidade coletiva desses grupos.
Esses termos surgidos nos campos
discursivos das lutas e das polticas am-
bientais e das lutas por direitos tnicos,
aos poucos se disseminaram e se en-
raizaram nos mais diversos domnios
discursivos. No campo acadmico, so
trabalhados como uma categoria de
anlise. Nessa dimenso mais terico-
conceitual, os termos povos e comu-
nidades tradicionais buscam uma
caracterizao socioantropolgica de
diversos grupos. Esto includos nes-
sa categoria povos indgenas, quilombolas,
populaes agroextrativistas (seringueiros,
castanheiros, quebradeiras de coco de
babau), grupos vinculados aos rios ou ao
mar (ribeirinhos, pescadores artesanais,
caiaras, varjeiros, jangadeiros, maris-
queiros), grupos associados a ecossistemas
especfcos (pantaneiros, caatingueiros,
Dicionrio da Educao do Campo
598
vazanteiros, geraizeiros, chapadeiros) e
grupos associados agricultura ou pecuria
(faxinais, sertanejos, caipiras, sitiantes-
campeiros, fundo de pasto, vaqueiros).
Apesar da enorme diversidade dos
grupos, alguns pesquisadores buscaram
identifcar traos e caractersticas co-
muns a eles. Nesse sentido, pesquisado-
res como Diegues (2000), Little (2006)
e Barreto Filho (2006), mesmo reco-
nhecendo a impreciso e a difculdade
de uma defnio mais rigorosa, elen-
cam um conjunto de caractersticas que
seriam atributos dos grupos denomi-
nados povos e comunidades tradicio-
nais. Dentre essas vrias caractersti-
cas, podemos destacar:
A relao com a natureza (racionalidade
ambiental): essas comunidades tm
uma relao profunda com a na-
tureza; os seus modos de vida es-
to diretamente ligados dinmica
dos ciclos naturais; e suas prticas
produtivas, e o uso dos recursos
naturais, so de base familiar, co-
munitria ou coletiva. Esses gru-
pos possuem extraordinria gama
de saberes sobre os ecossistemas,
a biodiversidade e os recursos na-
turais como um todo. Esse acervo
de conhecimento est materializado
no conjunto de tcnicas e sistemas de
uso e manejo dos recursos naturais,
adaptado s condies do ambiente
em que vivem.
A relao com o territrio e a territoria-
lidade: outra caracterstica marcante
desses grupos uma forte relao
com o territrio e com o sentido de
territorialidade. Essas comunida-
des normalmente tm longa hist-
ria de ocupao territorial sobre os
espaos em que vivem, sendo co-
mum vrias geraes ocuparem a
mesma rea. Essa histria de ocu-
pao se expressa numa relao
de ancestralidade, memria e sen-
tido de pertencimento em relao
a certas reas e lugares especfcos.
O territrio tem, para esses gru-
pos, importncia material (base de
reproduo e fonte de recursos)
e forte valor simblico e afetivo (re-
ferncia para a construo dos mo-
dos de vida e das identidades dessas
comunidades). A constituio dos
territrios caracterizada por gran-
de diversidade de modalidades de
apropriao da terra e dos recursos
naturais (apropriaes familiares,
comunitrias, coletivas). Essas ter-
ras tradicionalmente ocupadas vo
para alm do modelo da proprie-
dade individual, como nas terras
de preto, terras de santo, terras de
ndio, nos faxinais, nos fundos
de pasto etc.
A racionalidade econmico-produtiva : a
produo econmica dessas comu-
nidades est assentada na unidade
familiar, domstica ou comunal; as
relaes de parentesco ou compa-
drio tambm tm grande impor-
tncia no exerccio das atividades
econmicas, sociais e culturais. As
principais atividades econmicas
so a caa, a pesca, o extrativismo,
a pequena agricultura e, em alguns
casos, as prticas de artesanato e
artes. A tecnologia utilizada por es-
sas comunidades na interveno no
meio ambiente relativamente sim-
ples, de baixo impacto nos ecossis-
temas. H reduzida diviso tcnica
e social do trabalho, sobressaindo
o modelo artesanal de produo, no
qual o produtor e sua famlia do-
minam todo o processo de produ-
o at o produto fnal. O destino
da produo dessas comunidades
prioritariamente o consumo pr-
599
P
Povos e Comunidades Tradicionais
prio (subsistncia), alm de desti-
narem parte da produo s prticas
sociais, como festas, ritos, procis-
ses, folias de Reis etc. A relao
com o mercado capitalista parcial:
o excedente da produo vendido
e compram-se produtos manufatu-
rados e industrializados.
As inter-relaes com os outros grupos da
regio e autoidentifcao: essas comu-
nidades mantm inter-relaes com
outros grupos similares na regio
onde vivem, relaes que podem
ser de natureza cooperativa ou con-
fitiva, e mediante essas formas
de interao que as comunidades
constroem, de maneira relacional
e contrastiva, suas prprias identi-
dades. No processo de construo
do sentido de pertencimento, tais
grupos so considerados como di-
ferentes da maioria da populao da
regio onde vivem. Isso se expressa
no uso de categorias classifcatrias
e identitrias pelos outros grupos
para nomearem e classifcarem es-
sas comunidades, bem como na uti-
lizao dessas mesmas categorias
pelas prprias comunidades, para
se autoidentifcarem e se diferen-
ciarem dos demais.
Apesar da tentativa de uma defni-
o de carter mais tcnico ou terico-
conceitual por parte da antropologia e
da sociologia, o uso dos termos povos
e comunidades tradicionais no se re-
sume a uma categoria de anlise, pois
trata-se de um termo com fortes conota-
es polticas, tornando-se uma catego-
ria da prtica poltica incorporada como
uma espcie de identidade sociopoltica
mobilizada por esses diversos grupos
na luta por direitos. Progressivamente,
esses termos vm sendo incorporados
pelo prprio Estado brasileiro, que, em
decreto de 27 de dezembro de 2004,
criou a Comisso Nacional de Desen-
volvimento Sustentvel das Comuni-
dades Tradicionais (Brasil, 2004). Por
meio desse decreto, os termos povos e
comunidades tradicionais foram insti-
tucionalizados, suturando-se, com isso,
certo sentido jurdico e poltico ligado
construo de polticas pblicas.
O uso dessa identidade sociopolti-
ca faz parte de um conjunto mais amplo
de reconfguraes identitrias reali-
zadas por parte das comunidades rurais
brasileiras, que, na luta pela afrmao
de seus direitos, vm ressignifcando e
at rasurando as categorias classifcat-
rias tradicionalmente utilizadas em sua
defnio. Essas comunidades, objetiva-
das em forma de movimentos sociais,
adotaram como estratgias discursi-
vas e polticas certo distanciamento das
clssicas identidades de trabalhador ru-
ral, campons, lavrador, ou, ainda, daque-
las que recentemente ganharam fora,
como o caso de agricultor familiar.
Esses novos protagonistas apre-
sentam-se mediante mltiplas denomi-
naes e apontam para a construo
de novas e mltiplas identidades e de
diferentes formas de associao que
ultrapassam o sentido estreito das or-
ganizaes camponesas clssicas. Isso
no signifca uma destituio do atribu-
to poltico da categoria de mobilizao
campons a evidncia mais incontest-
vel disso a vitalidade do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) e da Via Campesina! , contudo,
inegvel que a emergncia das no-
vas denominaes/identidades dos
movimentos sociais espelha um con-
junto de novas prticas organizativas
que traduz transformaes polticas
mais profundas na capacidade de orga-
nizao/mobilizao desses grupos em
Dicionrio da Educao do Campo
600
face do poder do capital e do poder do
Estado e em defesa de seus territrios
(Almeida, 2004).
Nesse processo, importante des-
tacar uma espcie de ressemantizao
da ideia de tradio e de tradicional.
Normalmente essas palavras carregam
forte conotao negativa, pois so def-
nidas e significadas numa relao de
contraste com a ideia de modernida-
de ou modernizao, que traz em si
uma positividade expressa na ideia do
novo. Nessa leitura, a noo de povos
tradicionais/comunidades tradicionais
traz consigo um sentido pejorativo,
pois o tradicional signifca atraso, ig-
norncia, improdutividade, em contra-
ponto com a ideia de um modo de vida
e de um modo de produo moder-
nos, marcados pela urbanizao, pela
industrializao, pela produtividade e
pela velocidade, caractersticas tpicas
do modo de produo e de vida ca-
pitalistas. Contudo, a forma como os
movimentos sociais e as comunidades
rurais vm mobilizando esse termo
busca ressignifcar essa carga pejorati-
va e estereotipada, acrescentando certa
positividade ideia de tradicional, em
muitos sentidos at idealizada; nessa
perspectiva, o tradicional no signif-
ca o atraso, no se restringe ideia de
tradio e ao passado; tem um senti-
do poltico-organizativo e apresenta-se
como alternativa ao modo de produo
e ao modo de vida capitalistas.
No entanto, essas reconfguraes
identitrias no so gratuitas: repre-
sentam novas estratgias na luta por
direitos, formas de garantias de direi-
tos sociais e culturais, notadamente o
chamado direito tnico terra e o di-
reito posse agroecolgica da terra,
que buscam assegurar a posse coletiva
ou familiar das terras e dos recursos
naturais. A constituio desses novos
sujeitos polticos e de direito vem re-
defnindo as tticas e estratgias da
luta pela terra no Brasil, sobretudo por
causa do impacto da emergncia das
questes ambiental e tnica, que vm
redefnindo o padro de confitividade e o
campo relacional dos antagonismos.
Isso implica uma espcie de ambienta-
lizao e etnizao das lutas sociais,
complexifcando a questo fundiria e
agrria, foco irradiador dos principais
confitos no campo brasileiro.
Essas novas formas de agenciamen-
tos polticos implicaram a amplia-
o das pautas de reivindicaes e a
criao de novas agendas polticas. Esses
novos movimentos lutam no apenas
contra a desigualdade pela redistribuio
de recursos materiais (a terra) , mas
tambm pelo reconhecimento das diferen-
as culturais, dos diferentes modos de
vidas que se expressam em suas dife-
rentes territorialidades. No se trata
simplesmente de lutas fundirias por
redistribuio de terra; elas envolvem
tambm o reconhecimento de elementos
tnicos, culturais e de afirmao iden-
titria das comunidades tradicionais,
apontando para a necessidade do re-
conhecimento jurdico e de seus ter-
ritrios e territorialidades. nesse pro-
cesso que ocorre um deslocamento
semntico, poltico e jurdico da luta
pela terra para a luta pelo territrio.
Nesse processo de afrmao de
novas identidades polticas e da cons-
truo de novas agendas nas lutas dos
povos e comunidades tradicionais, h
um deslocamento do eixo das lutas so-
ciais por justia e emancipao, funda-
das nas ideias de igualdade e redistribui-
o, para um novo eixo, estruturado em
torno da valorizao do direito diferena
e de uma noo de justia alicerada
601
P
Povos e Comunidades Tradicionais
no reconhecimento do outro (Fraser, 2002).
Isso implica o deslocamento das lutas
contra a explorao, a privao, a mar-
ginalizao e a excluso social fruto
das desigualdades socioeconmicas es-
truturais de nossas sociedades capita-
listas perifricas para as lutas contra
o no reconhecimento e o desrespeito
das minorias, que resultam das for-
mas de dominao cultural e tnico/
racial herdadas em sociedades com um
passado colonial/racista nas quais ain-
da permanece, como padro de poder
atual e atuante, a colonialidade do po-
der (Quijano, 2005).
A percepo do signifcado poltico
desses deslocamentos que as lutas dos
povos e comunidades tradicionais
vm realizando no imaginrio e na
cultura poltica brasileira controver-
sa. Para muitos, esse deslocamento do
paradigma da redistribuio de terra para
o reconhecimento de territrios representa
um alargamento da contestao polti-
ca e um novo entendimento de justia
social, ultrapassando uma viso restrita
de justia e de emancipao fxada em
torno do eixo da classe, e incluindo ou-
tros elementos, como a raa, a etnici-
dade, a sexualidade etc., elementos que
no foram contemplados na agenda
clssica de lutas no campo. Contudo,
se essa nova cultura poltica amplia e
enriquece noes de justia social e
emancipao por meio da incorpora-
o da ideia de reconhecimento da diferen-
a, no absolutamente evidente que
as atuais lutas pelo reconhecimento es-
tejam contribuindo para complementar
e aprofundar as lutas mais amplas por
Reforma Agrria e pela redistribuio
igualitria da terra; na realidade, para
muitos crticos dessas novas ideias e
prticas, as lutas por reconhecimento
podem estar contribuindo para frag-
mentar, enfraquecer e deslocar a luta
por Reforma Agrria e justia social.
O desafo terico e poltico que es-
ses grupos tm de enfrentar a cons-
truo de uma concepo de justia e
emancipao social bifocal. Assim, vis-
ta por uma das lentes, a justia uma
questo de redistribuio igualitria da ter-
ra ; nesse sentido, a luta por Reforma
Agrria claramente uma luta anticapi-
talista. Vista pela outra, a justia uma
questo de reconhecimento de territrios;
nessa perspectiva, a luta por Reforma
Agrria claramente uma luta desco-
lonial, luta pela descolonizao do Es-
tado e da sociedade (Quijano, 2005).
Cada uma das lentes foca um aspecto
importante da justia social, mas ne-
nhuma, por si s, basta. A compreen-
so plena s se torna possvel quando
as duas lentes so sobrepostas. Isso,
porm, no tarefa fcil, pois envol-
ve todas as tenses e contradies da
construo de um projeto de eman-
cipao social em que igualdade e di-
ferena sejam pilares equivalentes no
horizonte de justia social.
Para saber mais
ALMEIDA, A. W. B. Terras tradicionalmente ocupadas, processos de territoriali-
zao e movimentos sociais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 6,
n. 1, p. 9-32, maio 2004.
ARRUTI, J. M. A. A emergncia dos remanescentes: notas para o dilogo entre
indgenas e quilombolas. Mana, v. 3, n. 2, p. 7-38, 1997.
Dicionrio da Educao do Campo
602
BARRETTO FILHO, H. T. Populaes tradicionais: introduo crtica da ecologia
poltica de uma noo. In: ADAMS, C.; MURRIETA, R. S. S.; NEVES, W. A. (org.).
Sociedades caboclas amaznicas: modernidade e invisibilidade. So Paulo: Annablume,
2006. p. 109-143.
BRASIL. PRESIDNCIA DA REPBLICA. Decreto de 27 de dezembro de 2004: cria a
Comisso Nacional de Desenvolvimento Sustentvel das Comunidades Tradicio-
nais e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 28 dez. 2004. Dis-
ponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Dnn/
Dnn10408.htm. Acesso em: 30 set. 2011.
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. 3. ed. So Paulo: Hucitec,
2000.
FRASER, N. A justia social na globalizao: redistribuio, reconhecimento e par-
ticipao. Revista Crtica de Cincias Sociais, Coimbra, n. 63, p. 7-20, out. 2002.
LITTLE, P. E. Territrios sociais e povos tradicionais no Brasil. Anurio Antropolgico
2002-2003, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, p. 251-290, 2005.
______. Mapeamento conceitual e bibliogrfco das comunidades tradicionais no Brasil.
Braslia: Departamento de Antropologia da UnB, 2006. (Mimeo.).
QUIJANO, A. A colonialidade do poder: eurocentrismo e Amrica Latina. In:
LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e cincias sociais latino-
americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. p. 227-280.
P
POVOS INDGENAS
Marilda Teles Maracci
Povos indgenas uma expresso gen-
rica comumente utilizada para referir-
se aos grupos humanos originrios de
determinado pas, regio ou localidade,
os quais, embora bastante diferentes
entre si, guardam semelhanas funda-
mentais que os une signifcativamente,
principalmente no que diz respeito ao
fato de cada qual se identifcar como
uma coletividade especfca, distinta de
outras com as quais convive e, princi-
palmente, do conjunto da sociedade na-
cional na qual est inserida (Conselho
Indigenista Missionrio, 2011a).
Alm de indgenas, outras expres-
ses tambm so utilizadas para deno-
minar esses povos: autctones, aborgines,
nativos e originrios. Nativos e origin-
rios, de modo mais especfico, so ex-
presses que nos remetem ao fato de
essas populaes serem preexistentes
s invases de seus territrios pelos
colonizadores europeus. Por conta das
diversas semelhanas que unem os po-
vos indgenas originrios das Amricas,
h quem t ambm se refi ra a el es
como amerndios.
Cabem aqui algumas consideraes
a respeito do uso da palavra ndio e suas
derivaes, enquanto noo, conceito
ou categoria. O ndio sempre foi def-
nido como uma construo da cultura
603
P
Povos Indgenas
da sociedade dominante. H um con-
ceito forjado de ndio que pouco se
relaciona com a identidade e a cultura
de cada povo ou grupo, tornando-se,
assim, uma classifcao homogenei-
zante, pois engloba, em uma nica ca-
tegoria, povos muito diferentes. Alcida
R. Ramos (1990) atribui situao de
contato na antinomia ndio/branco
uma dimenso poltica na qual o con-
traste ndio/branco uma expresso
poltica que anuncia o poder. O que
signifca dizer que a categoria ndio
sempre mutuamente exclusiva e irre-
dutvel categoria branco. Ser ndio
um infortnio histrico (Ramos, 1990,
p. 288). Segundo Sara Brandon (2005),
desde que Cristvo Colombo atingiu
a ilha de San Salvador, nas Bahamas,
em 1492, e denominou os habitantes
de ndios, porque acreditava ter atin-
gido o leste das ndias, o conceito foi
lapidado, impregnando o imaginrio da
sociedade dominante e desumanizando
diversos povos nativos das Amricas.
No entanto, ser ndio, para esses
povos, independente daquilo que o
branco lhe diz o que isso tenha sido
ou venha a ser: A autodeterminao
[...] torna-se um bem escasso [...], al-
canvel pela apropriao da mesma
arma do oponente a prpria noo
de ndio metamorfoseada em pala-
vra de ordem na luta poltica pelo di-
reito de ser diferente (Ramos, 1990,
p. 289). Assim, os povos indgenas em
luta apropriam-se da noo de ndio e
a ressignifcam na afrmao do direi-
to diferena, em que ndio igual a
branco, no por semelhana, mas por
equivalncia de direitos. Segundo o
guarani Karay Djekup: Ns nunca
nos importamos muito com os nomes
dados pelos brancos, porque ns sa-
bemos quem somos (Tavares, 2007).
Esse tipo de manifestao recorrente
entre os povos indgenas e refete a sua
noo de identidade e autonomia.
O mesmo ocorre com a ideia de
povo, que sugere a concepo de uma
nica identidade coletiva, uma noo
de sociedade homognea. As lutas e
articulaes dessas novas identidades
que se organizam em movimentos so-
ciais como povos indgenas ressignifcam
a ideia de povo quando a substituem pela
ideia de povos, noo plural que abri-
ga a noo de diversidade tnica. Essa
ideia constitui as novas identidades co-
letivas que, mediante suas demandas
por territrios (no apenas por mais
terras), objetivam manter e desenvolver
suas prprias organizaes econmi-
cas e culturais, ou seja, sua autonomia
enquanto comunidades indgenas, uma
aspirao secular que explicita formas
prprias de organizao e produo.
Quanto aos povos indgenas ou povos
originrios do continente americano,
embora guardem diferenas entre si,
especialmente a lngua so mais de
seiscentas lnguas indgenas no conti-
nente , o processo histrico do qual
foram vtimas, bem como suas resis-
tncia, organizao, mobilizao e luta,
os fazem mais semelhantes do que di-
ferentes entre si. Esses povos possuem
vnculos milenares de carter espiritual
e de viso de mundo.
As populaes indgenas experien-
ciam ancestralmente interaes com-
plexas com o ambiente e a produo,
a sociedade e a economia, os saberes e
seus exerccios, e as formas sociais de
apropriao do espao, constituindo-o
em territrio, tm para elas importn-
cia existencial. Territrio para essas
populaes mais do que terra, bio-
diversidade mais cultura (Maracci, 2008).
Essas territorialidades ancestrais, tradi-
Dicionrio da Educao do Campo
604
cionais, originrias, nativas, por resis-
tncia histrica aos danos ambientais,
culturais e econmicos desde as in-
vases europeias, so povos que po-
demos considerar, como sugere
Arturo Escobar (2005), espaos de
reserva tica. Essas sociedades da natureza
(Descola apud Escobar, 2005) constroem
e sentem os seus ambientes de maneiras
muito prprias, constituindo vnculos
de continuidade entre o mundo biofsi-
co, o humano e o supranatural.
Nesse sentido, seus mundos vincu-
lam-se entre si por matrizes indgenas
originrias, como podemos perceber,
por exemplo, neste trecho da declara-
o dos Povos e Nacionalidades Indge-
nas de Abya Yala:
1
reafrmamos nossos
princpios milenares, de complementa-
ridade, reciprocidade e parceria, e nossa
luta pelo direito ao territrio, pela Me
Natureza, pela autonomia e a livre deter-
minao dos povos indgenas
2
(Cumbre
Continental de Pueblos y Nacionalidades
Indgenas de Abya Yala, 2007).
Suas existncias, seus mundos de viver
(Maracci, 2008) e suas lutas territoriais
problematizam profundamente os va-
lores societrios, tanto na dimenso es-
piritual quanto na dimenso da pessoa
humana e da natureza, ante a hegemo-
nia do capitalismo e respectivas formas
de dominao, explorao, genocdio,
epistemicdio, nas suas mais variadas
formas de exerccio de estratgias de
inferiorizao. As prprias dinmicas
territoriais indgenas testemunham o
carter antagnico das suas raciona-
lidades em relao racionalidade do
capital, em especial na sua expresso
como modelo produtivista, concen-
trador de terras e de recursos naturais,
monocultor e agroindustrial, tal como
vigora na atualidade. So matrizes in-
dgenas fgurando no plano epistmico
como problematizao profunda da so-
ciedade moderna, colonial e capitalista,
de carter produtivista e excludente.
Sendo assim, os povos indgenas so vis-
tos e tratados historicamente como um
obstculo, um entrave aos projetos de
dominao poltica e econmica, des-
de o incio do processo de colonizao
at as suas mais recentes atualizaes
(Maracci, 2008).
Vivemos sculos de coloniza-
o, e hoje as imposies de
polticas neoliberais, chamadas
de globalizao, continuam le-
vando pilhagem e ao roubo de
nossos territrios, apoderando-
se de todos os espaos e meios
de vida dos povos indgenas,
causando a degradao da Me
Natureza, a pobreza e a migra-
o, por causa da sistemtica
interveno na soberania dos
povos pelas empresas transna-
cionais em parceria com os go-
vernos.
3
(Cumbre Continental
de Pueblos y Nacionalidades
Indgenas de Abya Yala, 2007)
No atual contexto marcado pelo
neoliberalismo e pelo modelo de
desenvolvimento econmico pautado
no agronegcio/agroindstria, e com
o agravo da crise econmica mundial, os
povos indgenas de Abya Yala, a cha-
mada Amrica dos colonizadores,
voltam-se, segundo Paulino Montejo,
lder indgena maia da Guatemala,
para criar condies para se organi-
zar e para defender, inclusive com a
prpria vida, o pedao de cho ou o
territrio, que nesse novo modelo de
desenvolvimento agredido e ameaa-
do (Wolfart e Fachin, 2009). Confron-
tados na sua existncia e sobrevivncia
pela ameaa das frentes civilizatrias
aos seus espaos culturais sagrados, ao
seu ambiente natural e biodiversida-
605
P
Povos Indgenas
de que tm preservado milenarmente
e da qual dependem, os povos indgenas
do mundo inteiro avanaram nas suas
lutas nas ltimas trs dcadas, forjando
mudanas nas leis constitucionais de
diversos Estados nacionais da Amrica
Latina, afrmando, concomitantemen-
te, suas diferenas culturais, identit-
rias e epistmicas, e explicitando seus
modos de ser e de pensar distintos
da cultura dominante ocidental crist
capitalista. Ensejam, assim, uma mu-
dana na mentalidade integracionista,
homogeneizante e autoritria dos Es-
tados latino-americanos.
Nesse sentido, esses povos articu-
lam diversos espaos polticos, sociais
e culturais em diferentes escalas, cons-
tituindo o movimento indgena. For-
mam, assim, redes de relaes que ex-
trapolam suas escalas locais e que vo
alm das fronteiras artifciais constitu-
das pelos Estados nacionais, amplian-
do espacial e politicamente suas aes,
ao mesmo tempo em que afrmam e re-
constroem suas territorialidades espe-
cfcas (Maracci, 2008). Partem, assim,
ainda segundo Paulino Montejo,
[...] para as lutas de carter regio-
nal, no caso da Amrica Latina,
e inclusive de carter mundial,
ocupando espaos em organis-
mos internacionais, como a pr-
pria Organizao das Naes
Unidas (ONU), via comisso de
direitos humanos, via grupos
de trabalho sobre populaes
indgenas e atualmente no F-
rum Permanente da ONU para
os Povos Indgenas. (Wolfart e
Fachin, 2009)
H, ainda, uma percepo nes-
ses povos de que todos os segmentos
sociais que tm algum vnculo com a
terra indgenas, camponeses e as cha-
madas populaes tradicionais ne-
cessitam criar condies para se orga-
nizarem e para defenderem, inclusive
com a prpria vida, seus territrios ou
um pedao de cho. Tais caractersticas
de antagonismo lgica capitalista, co-
muns aos povos indgenas, permitem,
por suas expresses polticas como
movimento social, que sejam conside-
rados movimentos antissistmicos
(Wallerstein, 2004).
Lutas e resistncias
indgenas na Amrica Latina
Desde as invases europeias, os
povos de Abya Yala oferecem resistn-
cia ao saqueio de seus territrios e s
situaes assimtricas de poder cons-
trudas desde ento. Embora possamos
referir-nos aos povos indgenas como
identidade coletiva em construo, as
distintas trajetrias experimentadas pe-
los diversos povos, naes e grupos in-
dgenas da Amrica Latina confguram
um cenrio com diferentes nveis de
articulao entre eles e de alianas com
as lutas dos trabalhadores do campo
e da cidade, bem como diferentes n-
veis de infuncia nas polticas de Esta-
do e respectivas leis constitucionais.
As articulaes indgenas na escala
continental, por exemplo, pautam agen-
das de lutas, tambm na escala conti-
nental, cujos eixos principais englobam
terra, territrios e unidade com a Me Na-
tureza esse ltimo o pilar fundamental
de suas existncias e unio. Esses so ei-
xos comuns a todos os povos indgenas
e, com base neles, constroem lutas, en-
tre outras, pela reconstituio dos seus
povos e amplas articulaes do mo-
vimento indgena; pela implantao
dos direitos coletivos como povos in-
dgenas;
4
pela legtima representao
Dicionrio da Educao do Campo
606
indgena nos processos nacionais e in-
ternacionais, chegando a efetivar o
incio da construo dos Estados plu-
rinacionais e sociedades interculturais,
como tem sido a experincia na Bol-
via, por exemplo.
Mesmo partilhando experincias
histricas comuns nos confrontos
s frentes civilizatrias de colonizao e
ao capitalismo, dada a diversidade
epistmica prpria dos povos indgenas
e a diversidade das suas experincias
histricas especficas, verificam-se no
movimento social indgena desde lu-
tas pontuais e isoladas, conforme os
desafios imediatos dados pelas obje-
tivaes locais da racionalidade capi-
talista, limitadas circunscrio do
seu territrio original, at propostas
anticapitalistas, antipatriarcais e anti-
imperiais diversas. A grande maioria
das entidades indgenas mescla for-
mas organizativas no ndias com suas
formas tradicionais de organizao.
Em termos de lutas de embates
mais localizados, que podem ou no ser
ampliadas para projetos maiores de re-
sistncia, os indgenas se articulam em
diversas organizaes locais, regionais
e na escala dos respectivos Estados-
naes que os envolvem. No que se
refere s articulaes continentais ou
mundiais dos povos indgenas, h ex-
presses significativas. Assim, os po-
vos indgenas reunidos em Iximche
(terras altas do oeste da Guatemala)
declararam a inteno de consolidar
o processo de alianas entre os po-
vos indgenas, dos povos indgenas e
dos movimentos sociais do continente
e do mundo, que permitam enfrentar
as polticas neoliberais e todas as for-
mas de opresso
5
(Cumbre Continen-
tal de Pueblos y Nacionalidades Ind-
genas de Abya Yala, 2007).
Os povos indgenas nas ltimas dca-
das, especialmente na Amrica Latina,
fazem-se visveis no cenrio poltico
internacional como identidade coleti-
va que se constri na organizao po-
ltica, na reconstruo e afrmao de
suas identidades etnoculturais, na luta
por seus territrios, na explicitao das
suas vises de mundo ou de seus mun-
dos de viver, na promoo de signifca-
tivas mudanas constitucionais em al-
guns Estados nacionais, na eleio
de alguns presidentes indgenas (Evo
Morales na Bolvia, Rafael Correa no
Equador e Hugo Chvez na Venezuela),
na problematizao profunda da racio-
nalidade dominante que produz a tec-
nonatureza contra a natureza. Os povos
indgenas em luta ampliam o debate so-
bre os problemas sociais, econmicos,
polticos e culturais gerados pelo capi-
talismo e pela sua expresso neoliberal,
junto com outras lutas sociais do campo
e da cidade, afrmando princpios de
solidariedade, cooperao, complemen-
taridade, reciprocidade, parceria e auto-
nomia dos povos. Assim, declaram: So-
nhamos nosso passado e recordamos
nosso futuro
6
(Cumbre Continental
de Pueblos y Nacionalidades Indgenas de
Abya Yala, 2007).
Povos indgenas no Brasil
No Brasil, a Constituio Federal de
1988, em vigor, estabelece que os direi-
tos dos ndios sobre as terras que tra-
dicionalmente ocupam so de natureza
originria, ou seja, anteriores formao
do Estado nacional brasileiro. Em seu
artigo 231, a Constituio estabelece:
Art. 231 So reconhecidos
aos ndios sua organizao so-
cial, costumes, lnguas, crenas
607
P
Povos Indgenas
e tradies, e os direitos origi-
nrios sobre as terras que tra-
dicionalmente ocupam, com-
petindo Unio demarc-las,
proteger e fazer respeitar todos
os seus bens.
1 So terras tradicional-
mente ocupadas pelos ndios
as por eles habitadas em ca-
rter permanente, as utiliza-
das para suas atividades pro-
dutivas, as imprescindveis
preservao dos recursos
ambientais necessrios ao
seu bem-estar e as necess-
rias a sua reproduo fsica e
cultural, segundo seus usos,
costumes e tradies.
Assim, ficou estipulado que o Es-
tado brasileiro no deve mais atuar no
sentido da integrao desses povos
comunidade nacional, ou seja, para
a sua integrao econmica (s for-
as de trabalho) e cultural pelas vias
da tutela orfanolgica, da pacifica-
o, da miscigenao e da submisso
ao poder estatal (poltica implantada
nas aes do Servio de Proteo ao
ndio SPI e da Fundao Nacional
do ndio Funai),
7
processo que es-
tendeu e ampliou atrocidades cometi-
das desde 1500, resultando na extin-
o de grupos tribais.
Algumas estimativas indicam que
no sculo XVI havia no Brasil de 2
a 4 milhes de pessoas, pertencen-
tes a mais de mil povos diferentes.
Aps um longo perodo de perdas
populacionais causadas por guerras
e epidemias e pelos processos de es-
cravizao, os povos indgenas ini-
ciaram um processo de recuperao
demogrfica, muitas vezes consciente
(Azevedo, 2011).
Embora povos especfcos tenham
diminudo demografcamente e alguns
estejam at ameaados de extino,
verifca-se nas trs ltimas dcadas um
crescimento acelerado da populao in-
dgena no Brasil. De acordo com dados
do Instituto Brasileiro de Geografa e
Estatstica (IBGE), em 1991, o percen-
tual de ndios em relao populao
total brasileira era de 0,2%, equivalen-
te a 294 mil pessoas. Em 2000, 734
mil pessoas (0,4% dos brasileiros) se
autoidentifcaram como indgenas, um
crescimento absoluto, no perodo entre
censos, de 440 mil indivduos ou um
aumento anual de 10,8% (Instituto
Brasileiro de Geografa e Estatstica,
2005). De acordo com o Censo de
2010, os 230 povos indgenas contabi-
lizados 241, segundo o Conselho In-
digenista Missionrio (Cimi) (2011)
somam 817.963 pessoas (Instituto
Brasileiro de Geo-grafa e Estatstica,
2010). Delas, 315.180 vivem em cida-
des e 502.783, em reas rurais.
Nesse censo, todos os estados bra-
sileiros acusaram a presena de ndios:
Em termos absolutos, o estado brasi-
leiro com maior nmero de indgenas
o Amazonas, com uma populao de
168 mil. J em termos percentuais, o
estado com maior populao indge-
na Roraima, onde os indgenas re-
presentam 11% da populao total do
estado (Brasil, 2011). Segundo dados
ofciais divulgados pela Funai, a po-
pulao indgena est distribuda em
683 terras indgenas
8
e algumas reas
urbanas. H tambm 77 referncias de
grupos indgenas no contatados, das
quais 30 foram confrmadas. Existem
ainda grupos que esto requerendo o
reconhecimento de sua condio ind-
gena junto ao rgo federal indigenista
(Brasil, s.d.).
Dicionrio da Educao do Campo
608
Esse crescimento (e/ou descober-
ta) pode ser atribudo soma de v-
rios fatores, dentre os quais podemos
destacar a melhoria paulatina das for-
mas de coletar os dados de cada cen-
so (a categoria indgena s foi includa
no Censo de 1991 e a autodeclarao,
apenas no Censo de 2000); a atuao
fundamental das populaes indge-
nas, e de suas lideranas, e uma nova
conscincia tnico-poltica; a interao
da populao indgena com outros mo-
vimentos sociais e a forte presso de
antroplogos, juristas, cientistas polti-
cos, misses religiosas e organizaes
no governamentais (ONGs); um am-
biente mais favorvel para que as pes-
soas se autodeclarem (percepo social
da inter-relao entre questo indgena
e questo ambiental, Constituio de
1988, Conferncia Rio-92, a preocu-
pao do governo com a imagem do
pas e sua repercusso internacional);
os tratados de direitos de minorias e
direitos humanos dos quais o Brasil
signatrio desde 1966; a alta fecundi-
dade, derivada de determinantes cultu-
rais, associada queda da mortalidade;
e a recuperao demogrfca conscien-
te ou intencional (da qual so exem-
plo os yanomami e os guarani-mbya),
entre outros.
Problemas enfrentados
pelas populaes indgenas
no Brasil
Segundo o relatrio do Cimi (Con-
selho Indigenista Missionrio, 2011a),
as populaes indgenas no Brasil en-
frentam um alarmante quadro de vio-
lncia e violaes de seus direitos que
no se modifcou nos ltimos anos:
o cenrio o mesmo e os fatores de
violncia se mantm, reproduzindo os
mesmos problemas. So prticas ar-
caicas que ocorrem no pas e que se
somam a ocorrncias relativamente
recentes, tais como uso de drogas, al-
coolismo, assassinatos e demais viola-
es de direitos. Os numerosos casos
de violncia contra o patrimnio dei-
xam claro que a situao confituosa
vivida pelos indgenas brasileiros est
intimamente ligada ao modelo desen-
volvimentista adotado pelo pas, falta
de acesso a terra e ao desrespeito de-
marcao de suas terras (ibid.).
O referido relatrio identifca em
2010, no Brasil: a) violncia contra o pa-
trimnio, provocada pela omisso e
morosidade na regularizao de terras
e confitos relativos a direitos territo-
riais (grandes monoculturas, invases,
desmatamentos, invases possessrias,
explorao ilegal de recursos natu-
rais e danos diversos ao patrimnio);
b) violncia contra a pessoa praticada por
particulares e agentes do poder pblico: as-
sassinatos, tentativa de assassinato,
ameaa de morte, leses corporais do-
losas (despejo violento aps retomada
de sua terra tradicional, explorao de
trabalho com violncia fsica, atrope-
lamentos, agresses fsicas, espanca-
mentos etc.), abuso de poder da Polcia
Federal, racismo e discriminao tnico-
cultural (declaraes discriminatrias,
declaraes preconceituosas na impren-
sa, agresses fsica e verbal, reteno
de documentos), e violncia sexual (es-
tupro, abuso sexual com agresses fsi-
cas, explorao sexual, molestamento);
c) violncias provocadas por omisso do poder
pblico (mbitos municipal, estadual e
nacional), tais como suicdio e tentati-
va de suicdio (principalmente entre os
jovens),
9
desassistncia na rea de sa-
de,
10
sendo as crianas as mais vulne-
rveis, mortalidade infantil (os ndices
so alarmantes e aumentaram 513%,
609
P
Povos Indgenas
No que diz respeito aos povos ind-
genas isolados e de pouco contato (mais de
90 povos), que so os mais vulnerveis
pois no possuem nenhum instrumen-
to de luta contra o avano do grande
capital, a realidade desesperadora.
O relatrio do Cimi mostra que esses
povos esto sob ameaa de massacres,
genocdio e extino como resultado
das invases e ocupaes e da explora-
o de seus territrios, em aes que se
associam lgica predatria em curso
e que atingem todas as populaes in-
dgenas: incurso ilegal de fazendeiros,
garimpeiros e madeireiros em terras
indgenas (mesmo aquelas j demarca-
das); avano da frente econmica do
agronegcio, resultando em desma-
tamento e em monoculturas de soja
transgnica, cana-de-acar, eucalipto
e pinus ou, ainda, a criao de gado em
terras que esto em demarcao; as-
sentamentos do Instituto Nacional de
Colonizao e Reforma Agrria (Incra)
e/ou projetos de colonizao; ecotu-
rismo; abertura de novas rodovias e
ferrovias, bem como pavimentao de
estradas que rasgam terras indgenas;
grilagem de terras; caadores e pesca-
dores profssionais; contgio por doen-
as; polticas governamentais; grandes
projetos; empreendimentos com negli-
gncia proposital por parte do governo
federal em relao presena de po-
vos isolados,
11
como os grandes proje-
tos de infraestrutura agora implantados
por meio da Iniciativa de Integrao da
Infraestrutura Regional Sul-Americana
(Iirsa) e pelo Programa de Acelerao
do Crescimento (PAC), com o prop-
sito de facilitar a explorao, o acesso e
a livre circulao de mercadorias (ma-
deira, minrios, peixes, gua e outros)
e o escoamento dos recursos natu-
rais da regio. Cabe ressaltar as conces-
ses governamentais para a construo
quando comparados com os do ano
de 2009), disseminao de bebida al-
colica e outras drogas, desassistncia
na rea de educao escolar indgena,
desassistncia geral (servios bsicos,
infraestrutura bsica nas aldeias, ha-
bitao, no assistncia na produo
agrcola, escassez de alimentos, desvio
de verbas, falta de recursos etc.) (Con-
selho Indigenista Missionrio, 2011a).
Nos estados do Sul do Brasil
(Paran, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul), a pesquisa do Cimi consta-
tou que existem populaes indgenas
vivendo h anos na margem de estra-
das e rodovias, com completa omisso
por parte das administraes estaduais.
Num confito dirio, elas sofrem pres-
ses dos agricultores e do poder poli-
cial, que causam um nmero assusta-
dor de suicdios, de assassinatos e de
prises de ndios no Sul (Conselho
Indigenista Missionrio, 2011a).
A situao no Mato Grosso gravs-
sima, por ser o estado que mais derru-
ba reas de foresta, com uma exploso
nos nmeros referentes ao desmatamen-
to ambiental, afetando 100 reas indge-
nas e 20 reas de proteo (Conselho
Indigenista Missionrio, 2011a). Alm
disso, o nmero de vtimas do descaso
na rea de sade no Mato Grosso, com
a falta de atendimento mdico, alar-
mante: 15 mil indgenas.
No Maranho, quase no h mais
reas de forestas, as nicas esto em bol-
ses demarcados indgenas, e so corri-
queiros os confitos por terras, madeiras
e recursos naturais (Conselho Indigenis-
ta Missionrio, 2011b). Em quase 100%
das construes de hidreltricas no
Brasil, as reas alagadas ou alagveis atin-
gem reas de reservas indgenas, sendo
o caso de Belo Monte, no Par, o mais
emblemtico, segundo o Cimi (ibid.).
Dicionrio da Educao do Campo
610
das hidreltricas de Jirau e Santo
Antnio, no rio Madeira, em Rondnia,
e de Belo Monte, no rio Xingu, no Par,
mesmo em face de todas as contesta-
es e provas da inefcincia do projeto
e do perigo de que as obras restrinjam
ainda mais os espaos de refgio dos
povos livres (Conselho Indigenista
Missionrio, 2011b).
Para os indgenas que vivem nas cida-
des, segundo o relatrio do Cimi (Con-
selho Indigenista Missionrio, 2011a),
faltam polticas especfcas e adequadas
e no h infraestrutura: faltam gua,
ou a gua disponvel est contaminada,
e apoio produo agrcola e as vias de
acesso so precrias. Alm disso, no
so aceitos os documentos indgenas
para o acesso a direitos, no h encami-
nhamento para o auxlio-maternidade e
o auxlio-doena, e no so oferecidas
cestas bsicas.
Articulaes e organizaes
indgenas no Brasil
No Brasil, so diversas as expresses
das organizaes dos povos indgenas, no
apenas de entidades com regulamen-
tao jurdica (associaes), mas tam-
bm de entidades de luta. Algumas or-
ganizaes podem se constituir desde
as aldeias; outras envolvem todas as al-
deias de uma etnia. H tambm organi-
zaes regionais que abrangem diversos
povos indgenas e, ainda, organizaes es-
truturadas por temas, como educao e
sade indgenas, direitos indgenas etc.
Em termos de resistncia cultural, os
indgenas no Brasil realizam diversas
mobilizaes e eventos, a exemplo do
XV Encontro de Contao de Histrias
Indgenas, realizado em 2010. Dentre
os movimentos e mobilizaes indge-
nas de expresso nacional, destacam-se
o Movimento Indgena Revolucionrio
(AIR) e o Acampamento Terra Livre
(ATL), cuja oitava edio aconteceu
em maio de 2011.
Em relao s articulaes mais
amplas no Brasil, o movimento na-
cional indgena se organiza em articu-
laes nacionais, como a Articulao
dos Povos Indgenas do Brasil (Apib),
e em comisses e conselhos nacionais e
regionais, sendo realizados encontros
locais, estaduais, regionais e nacionais.
Somos, como bem lembrou um de
nossos parentes, os povos do amanh,
porque no pensamos s no hoje. Que-
remos que a terra e a natureza perma-
neam vivas para sempre! (Encontro
Nacional dos Povos Indgenas, 2011).
A Articulao dos Povos Indgenas
do Brasil, instncia nacional de delibera-
o e articulao poltica do movimento
indgena, congrega as organizaes in-
dgenas regionais de todo o pas, entre
elas a Articulao dos Povos Indgenas
do Nordeste, Minas Gerais e Esprito
Santo (Apoinme), a Articulao dos
Povos Indgenas do Pantanal e Regio
(Arpipan), a Articulao dos Povos In-
dgenas do Sudeste (Arpin-Sudeste),
a Articulao dos Povos Indgenas do
Sul (Arpin-Sul), a Grande Assembleia
do Povo Guarani Aty Guassu e a Coor-
denao das Organizaes Indgenas da
Amaznia Brasileira (Coiab). A Apib
tambm possui uma comisso nacional
permanente em Braslia, formada por
representantes das organizaes e
por assessores tcnicos.
Como exemplo de articulao mais
ampla entre os povos indgenas do Brasil
e de outros pases, cabe citar que em 16
de setembro de 2010, 66 dia da greve de
fome dos 32 prisioneiros polticos
mapuche, lideranas do Acampamen-
to Indgena Revolucionrio (AIR), do
611
P
Povos Indgenas
Centro de Etnoconhecimento Socio-
ambiental e Cultural Cauier (Cesac) e
do American Indian Movement (AIM)
reuniram-se no bairro de Santa Teresa,
no Rio de Janeiro, a fm de discutir
caminhos para romper com o siln-
cio criminoso da mdia corporativa, se
omitindo quanto s aes de genocdio,
etnocdio e de terrorismo de Estado
perpetrados contra os povos origin-
rios das trs Amricas (Acampamento
Indgena Revolucionrio, 2011).
Os povos indgenas, assim, reafr-
mam cada vez mais a sua presena e a
sua capacidade histrica de resistncia
a todo tipo de agresses e aos massacres
praticados pelas sociedades nacionais
e pelo avano capitalista, que impe pa-
rmetros societrios completamente di-
versos dos praticados por esses povos.
Notas
1
Abya Yala o nome dado ao continente americano pela etnia kuna, do Panam e Colmbia,
antes da chegada de Cristvo Colombo e dos europeus. O nome tambm foi adotado por
diferentes povos e naes indgenas, que insistem no seu uso, em vez de Amrica, para
se referir ao continente americano. Abya Yala quer dizer terra madura, terra viva, terra em
forescimento. O uso do nome Abya Yala assumido como posio poltica, argumentando-
se que o nome Amrica ou a expresso Novo Mundo prpria dos colonizadores europeus
e no dos povos originrios do continente. Los gobiernos de Abya Yala son ancestrales y
los gobiernos de los Estados son coloniales [] nosotros no somos etnias, somos naciones,
pueblos, nacionalidades (Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades Indgenas
del Abya Yala, 2006).
2
[...] ratifcamos nuestros principios milenarios, complementariedad, reciprocidad y duali-
dad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la autonoma y libre
determinacin de los pueblos indgenas.
3
Vivimos siglos de colonizacin, y hoy la imposicin de polticas neoliberales, llamadas de
globalizacin, que continan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apodern-
dose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indgenas, causando la degrada-
cin de la Madre Naturaleza, la pobreza y migracin, por la sistemtica intervencin en la
soberana de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.
4
Ver a Declarao Universal dos Direitos dos Povos Indgenas das Naes Unidas
(Organizao das Naes Unidas, 2008) e a ratifcao da Conveno 169, da Organizao
Internacional do Trabalho (2011).
5
Afanzar el proceso de alianzas entre los pueblos indgenas, de pueblos indgenas y los
movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las polticas
neoliberales y todas las formas de opresin.
6
Soamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro.
7
O Servio de Proteo aos ndios e Localizao de Trabalhadores Nacionais, mais tarde
apenas Servio de Proteo aos ndios (SPI), foi criado pelo decreto-lei n 8.072, de 20
de junho de 1910. Em 1967, durante a ditadura militar, foi criada a Fundao Nacional do
ndio (Funai), em substituio ao SPI.
8
Terra indgena: o texto constitucional trata de forma destacada esse tema, apresentan-
do, no pargrafo 1 do artigo 231, o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos
ndios, defnidas como aquelas por eles habitadas em carter permanente, as utilizadas
para suas atividades produtivas, as imprescindveis preservao dos recursos ambientais
Dicionrio da Educao do Campo
612
necessrios a seu bem-estar e as necessrias sua reproduo fsica e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradies. Terras que, segundo o inciso XI do artigo 20 da Constituio
Federal, so bens da Unio, sendo inalienveis e indisponveis e os direitos sobre elas
imprescritveis (art. 231, pargrafo 4). Os critrios para a identifcao e a delimitao
de uma terra indgena, que devem ser realizadas por um grupo de tcnicos especializados,
esto defnidos no decreto n 1.775/1996 e na portaria n 14/MJ, de 9 de janeiro de 1996
(Brasil, s.d.).
9
Segundo a Organizao Mundial da Sade, um ndice de 12,5 mortes por 100 mil pessoas
considerado muito alto; o ndice de suicdio entre os guarani e kaiow de 32,5. Nos ltimos anos,
aconteceram vrios suicdios entre o povo karaj (Conselho Indigenista Missionrio, 2011a).
10
Ver tabela Captulo III Violncia por omisso do Poder Pblico (Conselho Nacional
Indigenista, 2011a, p. 151).
11
Tambm chamados de povos livres, por terem optado por se manter afastados das so-
ciedades nacionais, no tm, como estratgia de sobrevivncia, contato algum com elas.
Continuam, assim, fugindo das frentes colonizadoras de expanso nacional e dos grandes
projetos. No entanto, esses povos no se encontram livres da usurpao de seus territrios,
e esto, assim, seriamente ameaados de extino.
Para saber mais
ACAMPAMENTO INDGENA REVOLUCIONRIO (AIR). A guia, o carcar e o cabor:
a resistncia indgena nas Amricas sobrevoa Estados e fronteiras. AIR, 20
set. 2011. Disponvel em: http://acampamentorevolucionarioindigena.blogspot.
com/2010/09/aguia-o-carcara-e-o-cabore-resistencia.html. Acesso em: 4 out. 2011.
AZEVEDO, M. M. Diagnstico da populao indgena no Brasil. Cincia e Cultura,
So Paulo, v. 60, n. 4, p. 19-22, 2008. Disponvel em: http://cienciaecultura.bvs.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252008000400010. Acesso em:
3 out. 2011.
BRANDON, S. E. Penas de papel: um estudo comparativo da imagem indgena no
Brasil e nos Estados Unidos. 2005. Tese (Doutorado em Multimeios) Programa
de Ps-graduao em Multimeios do Instituto de Artes, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 2005.
BRASIL. FUNDAO NACIONAL DO NDIO (FUNAI). ndios do Brasil. As terras ind-
genas. Braslia: Funai, [s.d.]. Disponvel em: http://www.funai.gov.br/indios/
terras/conteudo.htm#o_que. Acesso em: 25 out. 2011.
______. SECRETARIA DE COMUNICAO SOCIAL DA PRESIDNCIA DA REPBLICA
(SECOM). Populao indgena cresceu 11%, segundo IBGE. Comunicao Pblica,
n 1.279, 9 maio de 2011. Disponvel em: http://www.secom.gov.br/sobre-a-
secom/nucleo-de-comunicacao-publica/copy_of_em-questao-1/edicoes-
anteriores/maio-2011/boletim-1279-09.05/populacao-indigena-cresceu-11-
segundo-ibge/. Acesso em: 8 nov. 2011.
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONRIO (CIMI). Violncia contra os povos indgenas no
Brasil: dados de 2010. Relatrio. Braslia: Cimi, 2011a. Disponvel em: http://www.
613
P
Povos Indgenas
cimi.org.br/pub/publicacoes/1309466437_Relatorio%20Violencia-com%20
capa%20-%20dados%202010%20%281%29.pdf. Acesso em: 8 nov. 2011.
______. Violncia contra os povos indgenas no pas continua alarmante.
Informe, n. 970, 30 jun. 2011b. Disponvel em: http://www.cimi.org.br/site/
pt-br/?system=news&action=read&id=5659. Acesso em: 25 out. 2011.
CUMBRE CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDGENAS DE ABYA YALA.
Declaracin de Iximche. Tecpn, Guatemala, 26 a 30 de maro de 2007. Dispo-
nvel em: http://www.movimientos.org/enlacei/cumbre-abyayala/show_text.
php3?key=9622. Acesso em: 3 out. 2011.
ENCONTRO NACIONAL DE POVOS EM LUTA PELO RECONHECIMENTO TNICO E
TERRITORIAL, 1. Olinda (Pernambuco), 15 a 20 de maio de 2004. Disponvel em:
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=600. Aces-
so em: 4 out. 2011.
ENCONTRO NACIONAL DOS POVOS INDGENAS. Documento fnal. Luzinia/GO, 29 de
abril a 1 de maio de 2011. Disponvel em: http://apoinme.org.br/?p=128. Aces-
so em: 4 out. 2011.
ENCUENTRO CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDGENAS DEL ABYA
YALA EN LA PAZ. Resultados de Comisiones de Trabajo. La Paz, Bolvia, 12 de ou-
tubro de 2006. Disponvel em: http://www.pachakuti.org/textos/campanas/
indigenas/12-10-encuen_continen.html. Acesso em: 3 out. 2011.
ESCOBAR, A. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalizao ou ps-
desenvolvimento? In: LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo
e cincias sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005.
p. 133-168.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo 2010. Braslia:
IBGE, 2010.
______. IBGE divulga informaes sociodemogrfcas inditas sobre indge-
nas. Comunicao Social, 13 dez. 2005. Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/
home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=506. Acesso em:
25 out. 2011.
LEVY, M. S. F. Perspectivas do crescimento das populaes indgenas e os di-
reitos constitucionais. Revista Brasileira de Estudos de Populao, v. 25, n. 2,
p. 387-397, 2008. Disponvel em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
30982008000200013&script=sci_arttext. Acesso em: 3 out. 2011.
MADEIRA, S. P. Alta fecundidade guarani: centralidade ou vulnerabilidade da condio
feminina? In: FAZENDO GNERO DISPORAS, DIVERSIDADES, DESLOCAMENTOS, 9.
2010. Anais... Florianpolis: Universidade Federal de Santa Catarina, agosto de
2010. V. 1, p. 1-10.
MARACCI, M. T. Progresso da morte, progresso da vida: a reterritorializao conjun-
ta dos povos tupiniquim e guarani em luta pela retomada de seus territrios
Dicionrio da Educao do Campo
614
(Esprito Santo Brasil). 2008. Tese (Doutorado em Geocincias) Instituto de
Geocincias, Universidade Federal Fluminense, Niteri, 2008.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS (ONU). Declarao das Naes Unidas sobre
os Direitos dos Povos Indgenas. Rio de Janeiro: ONU, 2008. Disponvel em:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_pt.pdf. Acesso em:
3 out. 2011.
ORGANIZAO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Conveno n 169 sobre
povos indgenas e tribais. Braslia: OIT, 2011. Disponvel em: http://www.
oit.org.br/sites/default/files/topic/international_labour_standards/pub/
convencao%20169_2011_292.pdf. Acesso em: 3 out. 2011.
RAMOS, A. R. Comments to The Return of the Native. Current Anthropology,
v. 44, n. 3, p. 397-398, June 2003.
______. Memrias sanum: espao e tempo em uma sociedade yanomami. So Pau-
lo: Marco Zero, 1990.
TAVARES, E. Ywy rupa: a territorialidade guarani. Florianpolis: Instituto de
Estudos Latino-Americanos (Iela), Universidade Federal de Santa Catarina, 2007.
Disponvel em: http://www.iela.ufsc.br/?page=noticias_visualizacao&id=265.
Acesso em: 3 out. 2011.
WALLERSTEIN, I. Capitalismo histrico y movimientos antisistmicos: un anlisis de siste-
mas-mundo. Madri: Akal, 2004.
WOLFART, G; FACHIN, P. O ressurgimento dos povos indgenas na Amrica
Latina. Entrevista a Paulino Montejo. Revista do Instituto Humanitas, Unisinos,
v. 9, n. 299, 6 jul. 2009. Disponvel em: http://www.ihuonline.unisinos.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=2660&secao=299. Acesso
em: 3 out. 2011.
P
PRODUO ASSOCIADA E AUTOGESTO
Lia Tiriba
Maria Clara Bueno Fischer
O termo produo associada e autoges-
to nos remete a relaes econmico-
sociais e culturais nas quais trabalhado-
res e trabalhadoras tm a propriedade
e/ou a posse coletiva dos meios de pro-
duo e cuja organizao do trabalho
(material e simblico) mediada e re-
gulada por prticas que conferem aos
sujeitos coletivos o poder de deciso
sobre o processo de produzir a vida
social. Diz respeito a um conjunto de
prticas coletivas de pessoas ou grupos
sociais que se identifcam por compar-
tilhar concepes de mundo e de so-
ciedade fundadas no autogoverno e na
autodeterminao das lutas e experin-
615
P
Produo Associada e Autogesto
cias das classes trabalhadoras. Ao con-
trrio da heterogesto, os princpios, as
regras e as normas de convivncia que re-
gem o trabalho associativo e autoges-
tionrio so criados e recriados pelos
seus integrantes. No caso do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), por exemplo, criado por
aqueles que lutam pelo direito terra
em que trabalham, o objetivo a reali-
zao de um interesse de classe.
A compreenso do termo requer
sua decomposio em duas catego-
rias: produo associada e autoges-
to. A primeira pode ser entendida:
a) como trabalho associado, ou pro-
cesso em que os trabalhadores se asso-
ciam na produo de bens e servios; e
b) como a unidade bsica da sociedade
dos produtores livres associados. Im-
portante destacar que, na perspectiva
do materialismo histrico, a produo
diz respeito totalidade dos proces-
sos de criao e recriao da realidade
humano-social mediados pelo traba-
lho, pelos quais o ser humano confe-
re humanidade s coisas da natureza e
humaniza-se com as criaes e repre-
sentaes que produz sobre o mundo.
Para Karl Marx (1998), no horizonte
da emancipao humana, o modo de
produo de produtores associados
seria fundado na propriedade e na ges-
to coletivas dos meios de produo e
na distribuio igualitria dos frutos do
trabalho. Referindo-se s formas que a
produo associada pode apresentar na
sociedade capitalista, Marx utiliza os
termos trabalho associado, produo cole-
tiva, sociedades cooperativas e associao
cooperativa. Embora no tenha analisado
as formas particulares dessas organiza-
es econmico-sociais e culturais, ele
declara, em 1864, quando da criao da
Associao Internacional de Trabalha-
dores, que o trabalho associado, que
maneja suas ferramentas com a mo
hbil e entusiasmada, esprito alerta
e corao alegre (apud Bottomore,
1993, p. 20), representa a negao do
trabalho assalariado.
Nessa perspectiva, a cooperao
pode ser entendida como uma for-
ma de trabalho em que muitos traba-
lham juntos, de acordo com um plano
(Marx, 1980, p. 374), objetivando a
reproduo ampliada da vida (e no do
capital). No entanto, Marx alerta que,
enquanto as associaes cooperativas
no se desenvolverem em nvel nacional,
representaro apenas um estreito cr-
culo dos esforos casuais de grupos de
trabalhadores (apud Bottomore, 1993,
p. 20), e condena a desvirtuao que fa-
zem os porta-vozes e flantropos da
burguesia (ibid.), ao transformarem a
cooperativa em instrumento de valori-
zao do capital. Para Marx, a derrota
do capitalismo s ser possvel com o
poder poltico nas mos das classes tra-
balhadoras; no entanto, mesmo limita-
da na sociedade capitalista, ele acredita
que a produo associada seja a clula
da sociedade dos produtores livres as-
sociados (ibid.).
No sentido restrito, autogesto
uma prtica social que se circunscreve
a uma ou mais unidades econmico-
sociais, educativas ou culturais, nas
quais, em vez de se deixar a organiza-
o do processo de trabalho aos capi-
talistas e a seus representantes e/ou
deleg-la a uma gerncia cientfca,
trabalhadores e trabalhadoras tomam
para si, em diferentes nveis, o controle
dos meios de produo, do processo
de trabalho e do produto do traba-
lho. No sentido poltico, econmico e
flosfco, as prticas sociais autoges-
tionrias carregam consigo o iderio da
Dicionrio da Educao do Campo
616
superao das relaes sociais capita-
listas e a constituio do socialismo,
concebido como uma sociedade auto-
gestionria. Em ambas as acepes, as
prticas de autogesto visam consti-
tuio de uma cultura do trabalho que
se contrape racionalidade da cultura
do capital.
Autogesto traduo literal da
palavra servo-croata samoupravlje (samo,
equivalente eslavo do prefixo grego
auto, e upravlje com significado apro-
ximado de gesto). Guillerm e Bourdet
(1976) afrmam que o termo autogestion
s aparece na lngua francesa no incio
dos anos 1960, identifcando a expe-
rincia poltica, econmica e social da
Iugoslvia de Tito, em sua ruptura com
o stalinismo (anos 1950). Com os acon-
tecimentos do Maio de 68 na Frana,
ele passou a ser utilizado para qualif-
car prticas sociais alternativas ao capi-
talismo, tornando-se palavra de ordem
nas lutas reivindicatrias no mbito de
todas as esferas da vida social. Ernest
Mandel destaca, por exemplo, que os
estudantes recorreram tradio mar-
xista revolucionria e fzeram reivindi-
caes tais como: controle estudantil,
poder estudantil, autogesto das es-
colas universitrias (1988, p. 43).
No entanto, embora o termo seja
relativamente novo, a ideia da autoges-
to to antiga quanto o prprio
movimento operrio, remontando ao
incio do sculo XIX. Com diferen-
tes doutrinas, as formulaes acerca
de modelos de sociedade fundados na
autogesto do trabalho e da vida so-
cial esto ligadas prpria histria de
resistncia e de busca de formas
de trabalho e de vida alternativas ao
capitalismo, sendo seus precursores
Fourier, Owen, Saint-Simon, Louis
Blanc, Lassale e Proudhon.
As experincias histricas de produ-
o associada e autogesto se expressam
de variadas formas e sentidos, apresen-
tando diferentes graus de controle dos
meios de produo, sendo as mais co-
nhecidas a Comuna de Paris (1871), os
sovietes de representantes operrios,
camponeses e soldados na Rssia (1905
e 1917), a Guerra Civil Espanhola
(1936-1939), a Repblica Hngara de
Conselhos Operrios (1918-1919), os
conselhos operrios de Turim, na Itlia
(1919-1921), da Iugoslvia (1950), da
Hungria (1956) e da Polnia (1956,
1970 e 1980, com o movi mento
Solidarnosc), a experincia da Arglia
(1962) e da Checoslovquia (1968) e
a Revoluo dos Cravos em Portugal
(1974). No mbito latino-americano,
temos Cuba (1959), Chile (1972) e
Nicargua (1979), alm de curtas expe-
rincias vividas na Bolvia e no Peru,
e a dos indgenas em Chiapas (desde
1994). No Brasil, especialmente no
campo, vale lembrar as experincias
da Repblica de Canudos (1896), do
Quilombo dos Palmares (na segunda
metade do sculo XVII), do Caldeiro
de Santa Cruz do Deserto (1920) e das
Ligas Camponesas (1950), destacando-
se pela criao da Sociedade Agrcola e
Pecuria de Plantadores de Pernambuco
(SAPPP) (1954), com a participao de
Francisco Julio.
A partir da dcada de 1990, alm
das iniciativas associativas do MST e a
outros movimentos sociais no campo,
proliferam na Amrica Latina prticas
de cunho autogestionrio, por exem-
plo, as dos movimentos de fbricas
ocupadas e recuperadas pelos trabalha-
dores. Importante observar que essas
experincias no se constituem apenas
em momentos revolucionrios, ou seja,
no ocorrem em contextos histricos
617
P
Produo Associada e Autogesto
nos quais esto em jogo a conquista
do Estado e a ruptura com o sistema
capital. Tambm merece destaque o
fato de que, embora o modo de produ-
o capitalista seja hegemnico, persis-
tem e subsistem outras formas de pro-
duzir a vida social, por exemplo, nas
comunidades indgenas, quilombolas e
em outras comunidades tradicionais
a cultura do trabalho no pautada na
valorizao do capital.
As categorias produo associada e
autogesto podem ser apreendidas
e problematizadas se consideradas as
condies objetivas/subjetivas em que,
nos diversos espaos/tempos hist-
ricos, as classes trabalhadoras tomam
para si os meios de produo. Nos mo-
vimentos campesinos, h de se levar
em conta as artimanhas e imperativos
do sistema capital, no interior do qual
trabalhadores e trabalhadoras associa-
dos constroem e reconstroem relaes
econmico-sociais e culturais, seja no
acampamento, no assentamento ou
mesmo no seu lote. H, ainda, que se
considerar a relao das associaes
camponesas com os demais movimen-
tos sociais populares e com o prprio
Estado, assim como os limites impos-
tos pela sociedade de classes s formas
de organizao da produo em que os
prprios trabalhadores (e no os pro-
prietrios privados da terra) decidem
o que, para que e como produzir
(Vendramini, 2008).
As experincias associativas reve-
lam que, no embate contra a explora-
o e a degradao do trabalho, no
sufciente aos trabalhadores se apro-
priarem dos meios de produo. Como
sinaliza Lcia Bruno, prticas autoges-
tionrias tm que realizar uma altera-
o profunda nas relaes de trabalho,
destruindo os processos de valorizao
do capital (1990, p. 37). Assim, no
se confundem com as prticas capita-
listas de organizao da produo em
equipes de grupos autnomos, se-
miautnomos, ilhas de produo e
outras inovaes da organizao capi-
talista que constituem novas tecnolo-
gias de produo e gesto da fora de
trabalho. importante no esquecer
que empresas familiares, cooperativas
e outras organizaes econmicas as-
sociativas vm sendo demandadas para
fazerem valer a fexibilizao das rela-
es entre capital e trabalho, favore-
cendo a criao das cadeias produtivas
necessrias ao novo regime de acumu-
lao. As cooperativas de trabalho e de
produo que se organizam em torno
da agroindstria e do agronegcio so
exemplos disso.
Se, como assinalava Marx, o sabor
do po no revela quem plantou o tri-
go (1980, p. 208), o entendimento da
produo associada e autogestionria
requer que nos debrucemos terica e ati-
vamente na anlise das relaes sociais
de produo em que homens e mulhe-
res produzem o po ou qualquer outro
bem necessrio para saciar a fome e, ao
mesmo tempo, criar e recriar a realidade
humano-social. Partindo do pressupos-
to de que os movimentos sociais cam-
poneses tm se constitudo como um
campo frtil do trabalho de produzir
a vida associativamente, as categorias
produo associada e autogesto, por
serem abstratas, podem ganhar mate-
rialidade histrica quando recuperada a
essncia dos processos de trabalho na
agricultura camponesa, incluindo muti-
res, puxires e outras prticas culturais
do trabalho de semear, plantar, colher,
distribuir, consumir...
Fundada na premissa do princpio
educativo do trabalho, a unidade de
Dicionrio da Educao do Campo
618
produo associada pode ser entendida
como uma unidade de produo as-
sociada de saberes na qual vo bro-
tando novos saberes e fazeres. A es-
cola da vida (e do trabalho associado)
se encarrega de ensinar a crianas,
jovens e adultos que os movimentos de
luta pela terra so fundamentais para
aprender que o capitalismo no um
sistema inexorvel. No entanto, para
alm do saber produzido e construdo
cotidianamente, o trabalho associa-
do e autogestionrio requer a articu-
lao dos saberes fragmentados pelo
capital, bem como a apropriao dos
conhecimentos histrica e socialmente
produzidos pela humanidade.
A autogesto no trabalho, profunda-
mente pedaggica, tambm se estende
autogesto escolar, o que signifca
dizer que na perspectiva da EDUCAO
OMNILATERAL e da ESCOLA UNITRIA
caberia aos trabalhadores e trabalha-
doras associados a refexo e a deciso
quanto aos modos de produo de co-
nhecimento utilizados na escola e em
outras instncias de formao vividas
no campo e na cidade. Para que possa-
mos nos contrapor pedagogia do ca-
pital, valeria perguntar em que medida
os processos de trabalho, entendidos
como processos educativos, tm per-
mitido a cada um dos trabalhadores e
trabalhadoras (e no apenas a alguns)
participar e decidir sobre os rumos da
produo. No que diz respeito ao pro-
cesso de trabalho escolar que envolve
crianas, jovens e adultos, como po-
demos garantir horizontalmente o
exerccio de falar, escutar, duvidar, cri-
ticar, sugerir e decidir?
As prticas de produo associa-
da e autogesto nos encaminham para
a possibilidade de realizao de uma
utopia: a sociedade dos produtores
livres associados (o que pressupe
a negao do capitalismo, entendido
por Marx como uma sociedade pro-
dutora de mercadorias, cujo objetivo
a produtividade geral do capital). Se os
processos de produo da vida social
se confguram como processos de pro-
duo de saberes, haveremos de ter em
conta as experincias associativas que
vo se tecendo em meio s contradi-
es entre capital e trabalho. poss-
vel afrmar que, nessas experincias, a
cultura do trabalho caracteriza-se pela
unidade da diversidade de culturas
e experincias vividas coletivamente
por trabalhadores e trabalhadoras no
percurso do seu fazer-se como classe
trabalhadora (Thompson, 1987), o que
tm repercutido em um vasto repert-
rio de saberes do trabalho associado
(Fischer e Tiriba, 2009a e 2009b).
O trabalho de produzir a vida asso-
ciativamente pressupe o aprendizado
de novas relaes sociais. Assim a es-
cola do trabalho pode se tornar escola
do trabalho associado, constituindo-se
como escola-comuna (Pistrak, 2009)
onde crianas, jovens ou adultos apren-
dem a autogesto. Afnal, na perspecti-
va de uma sociedade dos produtores
livres associados, o sentido da educa-
o no pode ser seno o [de] rasgar
a camisa de fora da lgica incorrigvel
do sistema: perseguir de modo plane-
jado e consistente uma estratgia de
rompimento com o controle exerci-
do pelo capital, com todos os meios
disponveis (Mszros 2005, p. 35).
Experienciar prticas coletivas de
trabalho , sem dvida, a principal escola
para aprender o que signifca produzir
e gerir associativamente e de forma au-
togestionria o trabalho e a vida. Atual-
mente, no entanto, essa no tem sido a
nossa principal escola. Trata-se, ento,
619
P
Produo Associada e Autogesto
de um longo e contraditrio proces-
so de instituio de novas prticas so-
ciais, e, ao mesmo tempo, de reflexo
crtica sobre elas para produzir uma
nova cultura. A autogesto das coope-
rativas por trabalhadores e trabalha-
doras, baseada em decises tomadas
democraticamente, pelo coletivo dos
associados, nos ncleos de base, nas as-
sembleias e nas demais instncias de
deciso, vai tecendo novos saberes,
valores e, portanto, uma nova cultura.
No caso do MST, a instituio escola
considerada um lugar em que prti-
cas com base na autogesto devem ser
institudas. preciso ocupar a escola e
l tambm fazer o aprendizado da au-
tonomia e da autogesto, por meio de
mecanismos de exerccio do poder, na
interface da escola com o seu entorno.
Trata-se de uma disputa de hegemonia
no conjunto das prticas sociais, em
diferentes, mas articulados, tempos e
espaos da vida social. Defender uma
organizao do poder escolar baseada
na democracia direta compartilhada por
todos os sujeitos da comunidade esco-
lar representa a possibilidade de con-
frontar a heterogesto e a meritocracia
escolar, que expressam e ao mesmo
tempo alimentam a ordem vigente.
Como prtica social e parte inte-
grante de um projeto societrio alter-
nativo ao sistema capital, a autogesto
materializa-se no exerccio de tornar
horizontais as relaes que diversos
produtores associados estabelecem en-
tre si, no campo ou na cidade. Para alm
da ideia de para cada scio um voto,
o desafo que todos os trabalhadores
e as trabalhadoras (e no apenas alguns)
possam, nos limites impostos pelo ca-
pital, tornar-se senhores do proces-
so de produzir a vida associativamente.
Como nos indica Gramsci (1982), no
horizonte da emancipao das classes
trabalhadoras, o projeto educativo
que todos os trabalhadores possam se
tornar governantes de si e de seu traba-
lho, controlando aqueles que transito-
riamente o dirigem. As dimenses edu-
cativas do trabalho de produzir a vida
associativamente se manifestam, entre
outras, nas cooperativas de trabalhado-
res do MST e em diversas associaes
dos movimentos que compem a Via
Campesina, por exemplo. Tambm se
manifestam no exerccio de participa-
o dos estudantes nos processos de
trabalho e na gesto coletiva da escola
ou de outra instncia de formao hu-
mana. Em sntese, a produo associada
e a autogesto situam-se no contexto de
afrmao e de formao de trabalhado-
res e trabalhadoras para a construo de
uma sociedade dos produtores livre-
mente associados. Parafraseando Marx
(1980, p. 50), o pai o trabalho asso-
ciado (garantido pela propriedade e/ou
posse coletiva dos meios de produo)
e a me a terra (onde so criadas e
recriadas as condies para tornar ho-
rizontais as relaes econmico-sociais,
culturais e educacionais).
Para saber mais
BOTTOMORE, T. Dicionrio do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1993.
BRUNO, L. B. O que autonomia operria. So Paulo: Brasiliense, 1990.
GUILLERM, A.; BOURDET, Y. Autogesto: uma mudana radical. Rio de Janeiro:
Zahar, 1976.
Dicionrio da Educao do Campo
620
FISCHER, M. C. B.; TIRIBA, L. De olho no conhecimento encarnado sobre trabalho
associado e autogesto. In: CANRIO, R.; RUMMERT, S. (org.). Mundos do trabalho e
aprendizagem. Lisboa: Educa, 2009a. p. 174-188.
______; ______. Saberes do trabalho associado. In: CATTANI, A. D. et al.
Dicionrio internacional da outra economia. So PauloCoimbra: Almedina, 2009b.
p. 293-298.
GRASMCI, A. Os intelectuais e a organizao da cultura. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1982.
MANDEL, E. Controle operrio, conselhos operrios, autogesto. So Paulo: Centro
Pastoral Vergueiro, 1988.
MARX, K. O capital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1980. Livro 1.
______. O capital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1998. Livro 3.
MSZROS, I. A educao para alm do capital. So Paulo: Boitempo, 2005.
PISTRAK, M. M. (org.). A escola-comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
THOMPSON, E. P. A formao da classe operria inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987. V. 1: A rvore da liberdade.
VENDRAMINI, C. R. A relao entre trabalho, cooperao e educao nas pesquisas
sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Perspectiva, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianpolis, v. 26, n. 1, p. 119-147, jan.-jun. 2008.
P
PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
(PNDH)
Paulo Vannuchi
Em junho de 1993, aconteceu em
Viena, na ustria, a mais importante
conferncia sobre direitos humanos
j realizada pela Organizao das Na-
es Unidas (ONU). O Brasil teve
participao destacada e ficou res-
ponsvel pela redao do documento
conclusivo daquele evento, que reuniu
mais de dez mil pessoas de 171 pa-
ses. Entre as centenas de propostas
aprovadas, tiveram maior importncia
duas inovaes: 1) a recomendao de
que todos os pases da ONU elabo-
rassem um plano nacional de direitos
humanos; 2) a afirmao do princpio
da indivisibilidade.
Alm desses dois pontos centrais,
a conferncia reforou a indicao
para que fosse criado, em dezem-
bro do mesmo ano, pela Assembleia
Geral da ONU, o Alto Comissariado
para os Direitos Humanos, sediado
desde ento em Genebra, na Sua. Um
de seus titulares foi o brasileiro Sergio
Vieira de Mello, morto num atentado
no Iraque em 2003.
621
P
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)
A indivisibilidade dos direitos huma-
nos apresentada sempre ao lado das
palavras universalidade e interdependncia.
Universal signifca que, para ser titu-
lar desses direitos, basta ser humano:
de qualquer pas, idade, gnero, cor da
pele, condio econmica, religio,
cultura, ideias polticas e opo sexual.
Interdependncia signifca que os di-
reitos vida, liberdade de expres-
so, alimentao, participao po-
ltica, crena religiosa, educao,
sade e cultura esto sempre ligados
entre si. A garantia de um deles depen-
de do respeito a todos os demais.
A formulao da indivisibilidade
foi um ponto de virada porque, desde
antes da Declarao Universal dos Di-
reitos Humanos, de 1948, fortes con-
trovrsias cercaram o equilbrio entre os
eixos simbolizados pelos ideais de liber-
dade, igualdade e fraternidade, da Revolu-
o Francesa de 1789. Aquela revoluo
marca a ascenso ao poder da nova bur-
guesia revolucionria, cuja importncia
tinha crescido na Europa nos sculos
anteriores, mas sem que pudessem rom-
per com sua condio subalterna ante a
nobreza feudal.
Vitoriosa e j no poder, a nova eli-
te poltica capitalista passou a enfren-
tar a presso exercida por outro ator
social, a moderna classe trabalhadora,
que passou a exigir os mesmos direi-tos
que tinham servido de bandeiras revo-
lucionrias burguesia no momento
anterior, de ruptura das estruturas feu-
dais. Nasceram e cresceram as lutas ope-
rrias, sindicais e socialistas, exigindo
a materializao dos mesmos ideais
de liberdade, igualdade e fraternidade.
Concretamente falando: luta por leis
de proteo ao trabalho, salrios decen-
tes, combate explorao econmica,
direito de voto, de participao poltica
e de organizao sindical, liberdade de
opinio etc.
A burguesia detentora do poder,
como regra geral, respondeu com re-
presso, violncia e desqualifcao das
reivindicaes apresentadas pelas maio-
rias excludas. Abandonou os ideais da
Revoluo Francesa. Aquelas bandeiras
tinham servido sua presso contra o
velho regime. Porm a nova elite no
admitia que liberdade, igualdade e fra-
ternidade servissem, agora, caminhada
popular na mesma direo, rumo a uma
sociedade sem nenhum tipo de explora-
o econmica ou excluso poltica.
Nenhum direito social, at hoje,
foi conquistado pela classe trabalhado-
ra, em qualquer pas do mundo, sem
que houvesse muita luta, presso, or-
ganizao, mobilizao e, muitas vezes,
sangue derramado por aqueles que cla-
mavam por justia.
Quando, em 1993, a Conferncia de
Viena aprovou o conceito de indivisibi-
lidade, pretendia superar uma anteposi-
o que j durava desde o sculo XIX.
Grosso modo, a elite burguesa sempre ar-
gumentou que a sociedade capitalista,
do mercado e da livre iniciativa, garante
os direitos civis e polticos, ou seja, os
chamados direitos de liberdade. E que
esses so os mais importantes. Os mo-
vimentos populares e sindicais, por sua
vez, colocavam os temas da igualdade
econmica e social com fora, sem
desprezar a conquista de direitos po-
lticos, mas deixando brechas, algumas
vezes, para a leitura de que a liberdade
pode fcar em segundo plano.
Tanto que, no sculo XX, o ci-
clo de revolues socialistas iniciado
na Rssia de 1917 com Lenin e depois
Stalin, bem como outras experincias
do chamado socialismo real que tive-
ram seu teto no desmoronamento do
Dicionrio da Educao do Campo
622
Muro de Berlim e na desagregao da
Unio Sovitica, em 1989 e 1992 res-
pectivamente, no conseguiu construir
um sistema poltico democrtico. E as
ditaduras sempre geram burocracias
opressoras, tornando-se inevitvel o
desfecho de derrota.
Criada em 1945, a ONU estabele-
ceu como seu objetivo assegurar um
ambiente de paz e segurana entre os
pases, para que nunca mais se repetisse
o horror da Segunda Guerra Mundial
e do nazismo, que custou ao mundo
mais de 50 milhes de vidas humanas,
com 6 milhes de judeus extermina-
dos pelo simples fato de serem judeus
e duas bombas atmicas jogadas so-
bre populaes civis em Hiroshima
e Nagasaki.
S pode existir paz e segurana
numa sociedade em que exista justia
e liberdade. Por isso, a Declarao Uni-
versal dos Direitos Humanos, aprova-
da pela ONU em 1948, valeu como o
seu primeiro programa poltico mais
amplo. Isto : s haveria paz se fossem
respeitados os trinta artigos daquele
documento. A declarao abre com a
afrmao de que todos os seres hu-
manos nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos e convoca cada pas
signatrio a garantir a seus povos uma
vida de justia e liberdade.
Acontece que uma declarao,
nas regras da ONU, uma espcie de
documento genrico, que no impe
obrigaes e deveres compulsrios
aos pases. Por isso, comeou a ser
discutido e preparado um instrumento
(jargo que pode se referir a declara-
es, convenes, pactos e tratados)
detalhando o contedo e a forma desse
compromisso dos Estados, bem como
estabelecendo mecanismos de controle
e monitoramento.
Somente em 1966 se conseguiu pro-
duzir esse resultado. Contudo, as diver-
gncias agudas sobre a importncia dos
direitos de liberdade ou dos direitos
de igualdade no ambiente da Guerra
Fria, que dividia o mundo entre as li-
deranas norte-americana e sovitica,
impediu que houvesse um documento
nico. Na mesma Assembleia Geral, a
ONU aprovou dois pactos, o dos Di-
reitos Civis e Polticos e o dos Direi-
tos Econmicos, Sociais e Culturais.
Nessa separao revelava-se a velha
tenso entre direitos de liberdade e di-
reitos de igualdade que Viena buscaria
resolver ao adotar o conceito de indivi-
sibilidade, ao lado da universalidade e
da interdependncia.
Entre esses trs conceitos, indivi-
sibilidade o mais forte e mais carre-
gado de signifcado histrico. Signifca
que os chamados direitos de liberdade
no dispensam os direitos de igualda-
de, e vice-versa. Quando so garantidas
as liberdades polticas, mas ignorada a
igualdade econmica e social, os di-
reitos humanos esto sendo violados.
Vale o mesmo para os pases onde
as liberdades so suprimidas em nome da
igualdade. Os direitos civis e polticos
so to importantes quanto os direitos
econmicos, sociais e culturais, no
podendo existir hierarquia entre eles.
A recomendao para que todos os
pases-membros da ONU elaborassem
um Plano Nacional de Direitos Hu-
manos tambm foi um ponto de vira-
da. At ento, a agenda dos direitos
humanos era sempre um programa de
controle, fscalizao, denncia e co-
brana sobre cada pas. Com a nova
proposta, as naes estavam convoca-
das a elaborarem, elas mesmas, luz
de suas concretas condies, um plano
frmando compromissos e metas de to-
623
P
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)
dos os poderes pblicos. Viena reco-
mendou tambm que a elaborao des-
se plano nacional contasse com ampla
participao da sociedade civil, isto ,
organizaes e movimentos sociais, sin-
dicatos, ONGs, igrejas e universidades.
Essa recuperao de informaes
histricas necessria para se compreen-
der melhor a histria dos planos nacio-
nais de direitos humanos no Brasil e,
principalmente, a grande polmica de-
sencadeada, em 2010, em torno do lan-
amento do terceiro Programa Nacional
de Direitos Humanos (PNDH-3)
1
terceira verso do plano nacional de
direitos humanos brasileiro pelo pre-
sidente Luiz Incio Lula da Silva.
PNDH-1 e PNDH-2
Entre 1964 e 1985, o Brasil esteve
submetido a uma ditadura militar-civil
cuja superao s se completou, de
fato, com a promulgao da Consti-
tuio de outubro de 1988. Estudando
com ateno os livros, documentos e
jornais sobre as lutas populares no
Brasil antes do perodo ditatorial, nota-
se que os temas dos direitos humanos
raramente so abordados. As bandeiras
de justia, igualdade, combate explo-
rao e direitos dos pobres esto pre-
sentes, mas quase nunca h a meno
aos direitos humanos. como se esti-
vssemos na pr-histria brasileira da
afrmao desses direitos.
Foi no enfrentamento da violao
sistemtica de direitos humanos pratica-
da pela ditadura que comeou a nascer
e a se fortalecer uma nova conscincia
nacional a respeito da importncia do
assunto. O regime de 1964 reprimiu sin-
dicatos de trabalhadores e organizaes
estudantis, cassou mandatos parlamen-
tares e obrigou milhares ao exlio, eli-
minou as eleies livres, imps censura
imprensa e s manifestaes artsticas,
prendeu opositores e torturou, matou e
eliminou os corpos de militantes que se
engajaram na resistncia.
Sendo prioritria, naquele perodo,
a luta pela democracia, entende-se por
que a viso formada sobre os direitos
humanos se resumia quase inteiramente
aos direitos civis e polticos: liberda-
de. Antes de 1964 e durante a dita-
dura sempre ocor reram l utas por
direitos econmicos e sociais. Predo-
minava, porm, a impresso de que
direitos humanos eram apenas os direi-
tos de participao poltica, expresso
do pensamento, garantia de defesa num
processo justo, proteo contra prises,
torturas e desaparecimentos por causa
da militncia poltica. Direitos econ-
micos e sociais, como posse da terra
para viver e produzir, casa para morar,
sade, educao, transporte pblico e
trabalho decente, s pouca gente com-
preendia que tambm faziam parte dos
direitos humanos.
A Constituio de 1988 marcou o
reencontro do pas com a democracia
institucional plena, mas fcava claro
que ainda seria longa a caminhada para
transformar o Brasil num pas onde
os direitos humanos fossem satisfato-
riamente respeitados. Nesse sentido, a
Constituio, longe de ser o ponto f-
nal de chegada, representava um ponto
de partida muito importante. Den-
tro de sua moldura, estava desenhada
a estrada para avanar, ano a ano, na
construo dos direitos ainda no asse-
gurados. A democracia uma reinven-
o permanente da poltica, explica a
flsofa Marilena Chau (2001).
Em 1989, Fernando Collor de Mello
foi eleito presidente da Repblica e
teve seu mandato interrompido pela
Dicionrio da Educao do Campo
624
vitoriosa luta popular, exigindo seu
impeachment. Seguiu-se o mandato-
tampo de Itamar Franco e, depois
dele, dois governos sucessivos de
Fernando Henrique Cardoso e dois
de Lula. Deixando um pouco de lado
as diferenas ideolgicas e polticas en-
tre esses dois governos, muitos avaliam
que houve uma continuidade de 16 anos
de avanos do Estado brasileiro no entro-
samento com os organismos e tratados
internacionais da ONU e da Organiza-
o dos Estados Americanos (OEA) em
defesa dos direitos humanos, bem como
nas polticas internas voltadas para a de-
fesa e a promoo desses direitos.
O impulso a favor da democracia
tornou-se to vigoroso com as mobiliza-
es das Diretas J, em 1984, que mes-
mo nos governos de Jos Sarney, Collor
e Itamar possvel localizar mudanas
positivas nessa direo, sobretudo no
que se refere adoo, pelo Brasil, dos
principais instrumentos internacionais
nesse campo. Por exemplo, no Governo
Jos Sarney, o Brasil aderiu a duas im-
portantes convenes da ONU Con-
veno contra a Tortura e Outros Tra-
tamentos ou Penas Cruis, Desumanos
ou Degradantes e conveno sobre os
Direitos da Criana , alm de reconhe-
cer, com pequena ressalva, a Conveno
Americana dos Direitos Humanos, que
cria as duas instituies de proteo
da OEA, a Comisso Interamericana
de Direitos Humanos, sediada em
Washington, e a Corte Interamericana
de Direitos Humanos, sediada em San
Jos, na Costa Rica. No Governo Collor
de Mello, sendo chanceler Celso Lafer,
o Brasil aderiu aos dois pactos da ONU
j mencionados, aprovados em 1966:
o Pacto dos Direitos Civis e Polticos e o
Pacto dos Direitos Econmicos, Sociais
e Culturais.
Durante o Governo Itamar Franco,
sendo chanceler Fernando Henrique
Cardoso, o Brasil promoveu dilogos
com a sociedade civil para preparar uma
forte atuao na Conferncia de Viena,
voltando dela com elevado prestgio
pelo desempenho de liderana. Tornou-
se um dos primeiros pases do mundo a
concretizar a deliberao a respeito da
necessidade de formulao dos planos
nacionais de direitos humanos.
O Brasil lanou seu primeiro Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos
em 13 de maio de 1996, com um decre-
to presidencial de Fernando Henrique
Cardoso; foi lanado como programa,
e no como plano, devido ao enten-
dimento de que um plano precisa ter
elementos concretos, datas e quanti-
fcaes que so dispensveis em um
programa. Ele foi discutido e desenha-
do em seis seminrios regionais So
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Belm, Recife e Natal , com a partici-
pao de 334 especialistas e represen-
tantes de 210 entidades, sendo levado
ento a debates, em abril de 1996, na
I Conferncia Nacional de Direitos
Humanos, promovida pela Comis-
so de Direitos Humanos da Cmara
dos Deputados.
Esse primeiro PNDH sistemati-
za nada menos do que 228 propostas,
abrangendo reas de responsabilidade
de diversos ministrios, separadas em
objetivos de curto, mdio e longo pra-
zos, referentes a garantias do direito
vida, combate tortura, segurana das
pessoas, luta contra a impunidade, li-
berdade de expresso, enfrentamento
do trabalho forado, igualdade perante
a lei, direitos de crianas e adolescen-
tes, das mulheres e da populao negra
e indgena, de idosos, de pessoas com
defcincia etc.
625
P
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)
Em 13 de maio de 2002, ltimo
ano do segundo mandato de Fernando
Henrique Cardoso, foi lanado o
PNDH-2, cujo avano mais importante,
em comparao com a primeira edio,
uma abordagem mais ampla dos direitos
econmicos, sociais e culturais, resultado
da avaliao j contida na apresentao
do PNDH anterior, de que ele se con-
centrava muito nos temas dos direitos
civis. Essa incorporao atendeu a uma
reivindicao central da IV Conferncia
Nacional de Direitos Humanos, reali-
zada pela Cmara dos Deputados em
1999. As propostas de reviso e atua-
lizao do PNDH-1 foram tambm dis-
cutidas em seminrios regionais e esti-
veram sob consulta pblica, via internet,
durante trs meses, resultando em 518
propostas governamentais organizadas
em decreto presidencial.
PNDH-3
O Governo Lula teve incio em
2003, trazendo como grande marca o
tema central dos direitos econmicos,
sociais e culturais, e o combate fome
e extrema pobreza. No plano dos di-
reitos civis e polticos, props-se a for-
talecer os mecanismos de democracia
participativa, realizando ao longo de
oito anos mais de setenta conferncias
nacionais sobre todos os temas de in-
teresse social.
Em suas etapas municipais, regio-
nais, estaduais e nacionais, essas confe-
rncias chegaram a mobilizar em torno
de 5 milhes de brasileiras e brasileiros
que integravam instituies pblicas
ou entidades da sociedade civil rela-
cionadas a temas como igualdade ra-
cial; direitos da mulher, de crianas e
adolescentes, dos idosos, de pessoas
com defcincia e do segmento LGBT
(lsbicas, gays, bissexuais e travestis);
segurana alimentar; meio ambiente; se-
gurana pblica; economia solidria;
sade; educao; sade mental; comu-
nicaes; cidades; agricultura familiar
etc. O Brasil comeou a perceber que,
sem diminuir a importncia essencial
do parlamento e da atuao dos re-
presentantes eleitos pelo voto popular
(vereadores, deputados estaduais, de-
putados federais e senadores), a demo-
cracia se fortalece quando os cidados
podem participar diretamente nos de-
bates para elaborar polticas pblicas.
Nesse contexto, tornava-se obriga-
trio que a elaborao da terceira ver-
so do Programa Nacional de Direitos
Humanos correspondesse a esse salto
na participao democrtica. Assim
que, discursando em janeiro de 2008,
num evento do dia internacional que a
ONU definiu para lembrar as vtimas
do holocausto nazista, Lula convocou
o Brasil a promover uma ampla jorna-
da de discusses, debates e semin-
rios para atualizar o PNDH. Esse
verdadeiro mutiro nacional marcou
a celebrao, tambm, do 60 ani-
versrio da Declarao Universal dos
Direitos Humanos.
Em abril foi convocada por decreto
presidencial a XI Conferncia Nacio-
nal de Direitos Humanos, promovida
e coordenada de forma tripartite pelo
Executivo Federal, pela Comisso de
Direitos Humanos da Cmara dos De-
putados e por um frum de entidades
nacionais de direitos humanos, com-
posto de organizaes da sociedade ci-
vil. O tema central da XI Conferncia
era a reviso e atualizao do PNDH.
Foi constitudo um Grupo de Trabalho
Nacional, com uma Executiva, respon-
svel pela conduo desse processo,
sendo incorporados tambm represen-
Dicionrio da Educao do Campo
626
tantes do Poder Judicirio, do Minis-
trio Pblico e da Defensoria Pblica.
Dentro do governo federal, as ativida-
des foram centralizadas pela Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, que
Lula tinha promovido a ministrio j
no incio de seu governo.
Realizaram-se, ento, conferncias
municipais, regionais e estaduais nos me-
ses seguintes, alm de 137 confern-
cias livres sobre diferentes temas,
preparando a fase final que acontece-
ria em Braslia em dezembro daquele
ano, com a presena do presidente da
Repblica e vrios ministros. Com o
lema Democracia, desenvolvimento
e direitos humanos superando as de-
sigualdades, cerca de 14 mil pessoas
participaram diretamente desses deba-
tes em suas distintas fases, culminan-
do com a participao de 2 mil pes-
soas, entre as quais 1.200 delegados
escolhidos nas etapas estaduais, nes-
sa etapa conclusiva.
Foi aprovada ento, nessa XI Con-
ferncia Nacional dos Direitos Huma-
nos, realizada nos dias 15 a 18 de de-
zembro de 2008, a espinha dorsal do
que viria a ser o decreto presidencial de
Lula, publicado em 21 de dezembro
de 2009, instituindo o PNDH-3. Esse
intervalo de um ano foi consumido em
vrios meses de dilogo e negociao
entre representantes dos poderes p-
blicos e as representaes da sociedade
civil para sistematizar o texto a ser pro-
posto ao presidente da Repblica.
A bancada governamental dessa
negociao era integrada por vrios mi-
nistrios e se preocupou em ajustar ou
modifcar propostas aprovadas na XI
Conferncia que pudessem conter even-
tuais problemas de constitucionalidade
ou graves impedimentos oramentrios.
A representao dos movimentos so-
ciais, por sua vez, se empenhou no sen-
tido de que a redao fnal incorporasse,
quanto fosse possvel, aquilo que havia
sido aprovado no debate democrtico.
Negociaes desse tipo so difceis,
muitas vezes envolvem momentos de
tenso e litgio, mas so fundamentais
na convivncia democrtica. De modo
geral, as diferentes representaes se
sentiram satisfeitas com o produto do
seu trabalho. Faltava, ento, uma etapa
fnal, decorrente da deciso conjunta
do Grupo de Trabalho Nacional de se
avanar mais um passo na comparao
com as edies anteriores do PNDH:
o decreto presidencial no seria pro-
posto apenas pela Secretaria de Direi-
tos Humanos e sim por todos os mi-
nistrios que aceitassem partilh-lo e
promov-lo. Foram necessrios, ento,
muitos meses de debate interministe-
rial aparando arestas e promovendo ex-
plicaes, convencimento e ajustes.
O PNDH-3 foi lanado num grande
evento pblico em 21 de dezembro
de 2009. A grande imprensa, muito
despreparada para entender as questes
envolvendo direitos humanos, preferiu
destacar apenas o fato de que, pela
primeira vez, a ministra-chefe da Casa
Civil e candidata presidencial apoia-
da por Lula, Dilma Roussef, apareceu
em pblico sem usar a peruca utilizada
durante uma terapia para tratamento de
cncer. As fotos estamparam, quando
muito, seu rosto em lgrimas ao entre-
gar o Prmio Nacional de Direitos Hu-
manos a Ins Etienne Romeu, ex-presa
poltica que Dilma conhecia desde a
juventude e nica sobrevivente da Casa
da Morte, que os torturadores do regi-
me de 1964 montaram em Petrpolis
para eliminar opositores da resistncia.
Na apresent ao do PNDH-3,
Lula escreveu:
627
P
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)
[...] reafirmo que o Brasil fez
uma opo definitiva pelo for-
tal eci mento da democraci a.
No apenas democracia pol-
tica e institucional, grande an-
seio popular que a Constituio
de 1988 j materializou, mas
democracia tambm no que diz
respeito igualdade econmica
e social. (Silva, 2010, p. 11)
Afrma ainda que o PNDH-3 re-
presenta um verdadeiro roteiro para
seguirmos consolidando os alicerces
desse edifcio democrtico (Silva, 2010,
p. 11), lembrando tambm que os direitos
humanos devem ser observados como
ao integrada de governo e, mais ain-
da, como verdadeira poltica de Estado,
com prosseguimento sem sobressaltos
quando houver alternncia de partidos
no poder, fato que natural e at indis-
pensvel na vida democrtica (ibid.).
Numa sntese, pode-se considerar
que os principais avanos do PNDH-3
na comparao com as duas primeiras
verses do programa foram:
Ampla participao democrtica em a)
sua elaborao e discusso, envol-
vendo compromissos dos poderes
pblicos e participao dos movi-
mentos sociais em todas as unida-
des da Federao, acentuando a im-
portncia dos aspectos federativos
presentes em todas as polticas p-
blicas de proteo e promoo de
direitos humanos, o que signifca o
reconhecimento de que as respon-
sabilidades tambm cabem aos mu-
nicpios e estados.
Transversalidade (interministeriali- b)
dade) nas suas formulaes, apon-
tando nominalmente as reas res-
ponsveis pela implantao de cada
proposta, no mbito do governo
federal. Nada menos do que 31
ministrios assinam a exposio de
motivos, encaminhada a Lula, soli-
citando o decreto presidencial.
Incluso de recomendaes aos po- c)
deres Judicirio e Legislativo para
que assumam suas responsabilida-
des em relao a diversos itens do
PNDH. Foi adotada a palavra re-
comendao porque a Constituio
estabelece independncia e autono-
mia para cada poder republicano,
mas o PNDH-3 inovou ao frisar que
os trs poderes possuem responsa-
bilidades equivalentes. No que se
refere ao Poder Executivo, as pro-
postas valem como determinaes, e
no como recomendaes apenas.
Criao de um Comit de Acompa- d)
nhamento e Monitoramento, inte-
grado por 21 ministrios, que con-
vidou representantes da sociedade
civil para suas reunies.
Previso de que metas, prazos e re- e)
cursos necessrios implantao do
PNDH sejam defnidos e aprovados
em planos de ao bienais (aqui, sim,
a palavra plano, conforme j expli-
cado antes).
Organizao de suas 521 aes f)
programticas em seis grandes ei-
xos orientadores, que equilibram as
duas geraes de direitos humanos,
ampliando a abordagem sobre os di-
reitos civis e polticos e discorrendo
amplamente sobre direitos econmi-
cos, sociais, culturais e ambientais.
Esses eixos orientadores so os
seguintes:
1) Interao democrtica entre Estado e
sociedade civil: participao popular
na discusso de todas as polticas
pblicas por meio de: conferncias;
conselhos; oramentos; controles
externos sobre rgos pblicos;
Dicionrio da Educao do Campo
628
ouvidorias; sistemas de dados e in-
dicadores; relatrios anuais; meca-
nismos de iniciativa popular como
plebiscitos e referendos; alm da
prestao de contas aos organismos
da ONU e da OEA.
2) Desenvolvimento e direitos humanos: ge-
rao e distribuio de renda; sus-
tentabilidade ambiental; reforma
agrria; combate fome; economia
solidria e cooperativismo; cautelas
perante a expanso das monocultu-
ras e o manejo forestal predatrio;
combate ao trabalho infantil; pro-
teo das populaes ribeirinhas
e indgenas em grandes projetos
de infraestrutura; fortalecimento da
agricultura familiar e agroecolgica;
tecnologias socialmente inclusivas.
3) Universalizao dos direitos em um con-
texto de desigualdades: direito sade,
habitao, educao pblica de
qualidade; cultura, lazer e esportes;
direitos das crianas e adolescentes;
igualdade racial; direitos da mulher;
povos indgenas; pessoas com def-
cincia; direitos dos idosos; direito
diversidade sexual; liberdade reli-
giosa e Estado laico.
4) Segurana pblica, acesso justia e com-
bate violncia: erradicao da tor-
tura; sistema prisional; grupos de
extermnio; programas de proteo
a vtimas e testemunhas; programas
de proteo aos defensores de di-
reitos humanos; mediao pacfca
de confitos; combate criminali-
zao de movimentos sociais; cau-
telas necessrias na execuo dos
mandados de reintegrao de pos-
se nos casos de ocupao de terras
ou de moradias por movimentos
populares.
5) Educao e cultura em direitos humanos:
introduo e aprofundamento dos
temas relativos aos direitos huma-
nos em todas as etapas do ensino
formal; valorizao das experin-
cias da chamada educao no for-
mal (associaes, sindicatos, mo-
vimentos, igrejas, clubes etc.) em
direitos humanos; discusso sobre a
importncia da mdia na divulgao
e construo de uma cultura social
de respeito diversidade e ao plu-
ralismo, coibindo programas que
incitam a violncia e o preconceito.
6) Direito memria e verdade: comple-
mento dos passos j dados no re-
conhecimento da responsabilidade
do Estado brasileiro pelas violaes
de direitos humanos no contexto da
represso poltica durante o regime
de 1964 (lei sobre mortos e desa-
parecidos e lei criando a Comisso
de Anistia); abertura de todos os
arquivos e informaes ainda no
abertos sobre a represso poltica;
instituio da Comisso Nacional
da Verdade; resgate da histria e da
memria dos que foram mortos na
luta contra a ditadura.
Reaes ao PNDH-3
Logo aps seu lanamento, o
PNDH-3 foi alvo de um ataque con-
servador bem articulado, que durou
vrios meses e tentou obter vantagens
eleitorais para a candidatura de oposi-
o a Lula nas eleies presidenciais de
2010. Essa ofensiva reacionria mani-
pulou buscando assustar a cidadania
menos informada sobre direitos huma-
nos antigos preconceitos contra os
direitos da mulher (questes do abor-
to) e de homossexuais (unio civil est-
vel), alm de vrios outros temas.
O estopim desse ataque foi a rea-
o do prprio Ministrio da Defesa do
Governo Lula aos termos com que o
629
P
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)
PNDH-3 apresentava a proposta de se
criar uma Comisso Nacional da Verda-
de, com o objetivo de examinar todas as
violaes aos direitos humanos pratica-
das no contexto da represso poltica.
A mdia hegemnica, que nos lti-
mos anos vem radicalizando sua abor-
dagem partidarizada e sempre se ops
ao Governo Lula, aproveitou essa di-
vergncia interna do prprio governo
para desfechar uma artilharia de crticas
ao contedo do programa. Para reagir
a isso, algumas redaes e propostas
do PNDH-3 receberam ajustes numa
verso que foi republicada em maio de
2010, com alguns recuos. Sem com-
prometer ou desqualificar a profunda
natureza democrtica do programa, as
mudanas buscaram demonstrar que o
Governo Lula estava aberto a crticas
e se dispunha a promover aperfeioa-
mentos em busca de um consenso
mais amplo.
Tendo como atores principais os
grandes veculos da mdia, as entida-
des de ruralistas, setores conservado-
res do Judicirio e do Legislativo, par-
tidos da direita e segmentos religiosos,
o ataque ao PNDH-3 pautou-se por
escandalosas distores a respeito do
que o texto do programa propunha.
S raramente cuidaram de ouvir as
duas partes, como recomendam os
bons manuais de redao na imprensa.
Entre os pontos criticados, tiveram
destaque as alegaes de que:
era revanchismo pretender apurar 1)
as torturas, mortes e desapareci-
mentos do perodo ditatorial;
era agresso ao direito de proprie- 2)
dade e interferncia sobre a esfera
do Judicirio a proposta de media-
o pacfca de confitos em ocupa-
es de terra, por recomendar que
fossem ouvidos os trabalhadores
envolvidos;
o programa continha ranos 3)
contra o agronegcio (quando na
verdade ele alertava para os peri-
gos do envenenamento do planeta
pelos agrotxicos e recomendava
prioridade produo de alimentos
e ao fortalecimento da agricultura
familiar);
o decreto fazia recomendaes ao 4)
Judicirio e ao Legislativo que agre-
diam a Constituio (como se reco-
mendao fosse uma ordem);
o decreto defendia o casamento 5) gay
(quando na verdade defendia os di-
reitos constitucionais da populao
LGBT, incluindo o direito unio
homoafetiva);
o aborto era um assassinato (quando 6)
na verdade o PNDH-3 buscava asse-
gurar a autonomia e os direitos da mu-
lher nessa delicada questo, to carre-
gada de ideias religiosas e tabus);
o PNDH-3 pretendia controlar e 7)
censurar a imprensa (quando na ver-
dade chamava seus rgos a se com-
prometerem com a defesa dos direi-
tos humanos e coibirem o incentivo
violncia e s discriminaes);
pretendia-se eliminar os smbolos 8)
religiosos, sendo que um bispo cat-
lico chegou a dizer que o PNDH-3
queria retirar o Redentor do alto
do Corcovado (quando na verdade
propunha apenas respeitar o carter
laico do Estado brasileiro, evitando
que smbolos religiosos, de uma
nica religio, fossem expostos nos
estabelecimentos da Unio como se
aquela fosse a religio obrigatrio
para todos).
Na verdade, todo esse festival de
distores e o virtual linchamento
do PNDH-3 signifcaram, agora sim,
Dicionrio da Educao do Campo
630
uma verdadeira revanche contra os
avanos democrticos e populares obti-
dos durante o perodo Lula. Por ou-
tra parte, a grande imprensa omitiu
os muitos pronunciamentos em favor
do PNDH-3 que foram aprovados em
reas progressistas do Legislativo e do
Judicirio, bem como por entidades
representativas da sociedade civil e
dos movimentos populares. Manifes-
taram apoio a Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), a Central nica dos
Trabalhadores (CUT), a Confedera-
o Nacional dos Trabalhadores da
Agricultura (Contag), o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), a Unio Nacional dos Estu-
dantes (UNE), a Federao Nacional
dos Jornalistas, associaes de defen-
sores pblicos e do Ministrio Pblico,
a Federao Nacional dos Mdicos, o
Conselho Federal de Psicologia e par-
tidos polticos, como o Partido dos
Trabalhadores (PT), Partido Socialista
Brasileiro (PSB), Partido Democrtico
Trabalhista (PDT), Partido Comunista
do Brasil (PCdoB) e Partido Socialis-
mo e Liberdade (Psol). Isso sem fa-
lar na total unidade demonstrada por
toda a militncia e todas as entidades
nacionais ligadas especificamente aos
direitos humanos em defesa do
PNDH-3, que tambm foi apoiado
publicamente pela Alta Comissria
das Naes Unidas para os Direitos
Humanos, a sul-africana Navy Pilay,
pela Reunio de Altas Autoridades em
Direitos Humanos e Chancelarias do
Mercosul e Pases Associados e por
autoridades da OEA.
Ao fm e ao cabo, fracassou o re-
sultado eleitoral esperado por quem
promoveu o ataque. No fnal do Go-
verno Lula, foi institudo ofcialmente
o Comit de Monitoramento, que
j vem cuidando de acompanhar o
cumprimento das mais de quinhentas
aes programticas em todas as reas
do governo federal. Est em tramita-
o avanada no Legislativo a criao
da Comisso Nacional da Verdade. O
Supremo Tribunal Federal j decidiu
que deve ser respeitado o direito cons-
titucional do segmento LGBT unio
homoafetiva. Todos os demais temas
voltaram a ser debatidos e trabalha-
dos sem os dios, preconceitos e agres-
ses do ataque conservador de 2010.
O PNDH-3 precisa seguir adiante,
como importante passo no sentido de
concretizar muitas das promessas ainda
no cumpridas da democracia brasileira.
Nota
1
Essa verso pode ser lida na ntegra, e reproduzida, a partir do endereo da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidncia da Repblica: http://www.direitoshumanos.gov.br/pndh.
Para saber mais
BRASIL. Decreto n 1.904, de 13 de maio de 1996: institui o Programa Nacional de
Direitos Humanos I. Braslia: Presidncia da Repblica, 1996. Disponvel
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1904.htm. Acesso em: 25
out. 2011.
______. Decreto n 4.229, de 13 de maio de 2002: dispe sobre o Programa Na-
cional de Direitos Humanos PNDH, institudo pelo decreto n 1.904, de 13
631
P
Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pronera)
de maio de 1996, e d outras providncias. Braslia: Presidncia da Repblica,
2002. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/
D4229impressao.htm. Acesso em: 25 out. 2011.
______. Decreto n 7.037, de 21 de dezembro de 2009: aprova o Programa Nacional
de Direitos Humanos PNDH-3, e d outras providncias. Braslia: Presidn-
cia da Repblica, 2009. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm. Acesso em: 25 out. 2011.
______. SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDNCIA DA REPBLICA. Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). Braslia: Secretaria de Direitos
Humanos da Presidncia da Repblica, 2010. p. 11-15. Disponvel em: http://
www.direitoshumanos.gov.br/pndh. Acesso em: 25 out. 2011.
CARVALHO, J. M. de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2001.
CHAU, M. S. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. So Paulo:
Cortez, 2001.
MAYBURY-LEWIS, B.; RANINCHESKI, S. (org.). Desafos aos direitos humanos no Brasil
contemporneo. Braslia: VerbenaCapes, 2011.
MONDAINE, M. Direitos humanos no Brasil. So Paulo: Contexto, 2009.
SILVA, L. I. da. Apresentao. In: BRASIL. SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA
PRESIDNCIA DA REPBLICA. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3).
Braslia: Secretaria de Direitos Humanos da Presidncia da Repblica, 2010. p. 11-
15. Disponvel em: http://www.direitoshumanos.gov.br/pndh. Acesso em: 25 out.
2011.
P
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAO NA
REFORMA AGRRIA (PRONERA)
Clarice Aparecida dos Santos
O Programa Nacional de Educao
na Reforma Agrria (Pronera) uma po-
ltica pblica do governo federal, espe-
cfca para a educao formal de jovens
e adultos assentados da Reforma Agrria e
do crdito fundirio e para a formao
de educadores que trabalham nas esco-
las dos assentamentos ou do seu entorno
e atendam a populao assentada.
Os projetos educacionais do
Pronera envolvem alfabetizao, anos
iniciais e finais do ensino fundamen-
tal e ensino mdio na modalidade de
educao de jovens e adultos (EJA),
ensino mdio profissional, ensino
superior e ps-graduao, incluindo
neste nvel uma ao denominada
RESIDNCIA AGRRIA.
Dicionrio da Educao do Campo
632
O programa foi criado em 16 de
abril de 1998, por portaria do ento
Ministrio Extraordinrio da Poltica
Fundiria (MEPF), num contexto de
ascenso da luta pela Reforma Agrria
que aliava as condies de forte organi-
zao e mobilizao dos Sem Terra por
todo o territrio nacional sensibilida-
de da sociedade brasileira em torno da
causa, mobilizada aps os massacres de
Corumbiara, em Rondnia, em 1995,
e de Eldorado dos Carajs, no Par,
em 1996. Os movimentos sociais do
campo souberam bem aproveitar este
ambiente favorvel Reforma Agrria
para trazer a pblico outras pautas nor-
malmente esquecidas ou desconhecidas
pelas autoridades, entre elas a situao
da Educao no Campo, notadamente
a falta de escolas, e a falta de educado-
res para as poucas que existiam, o que
impunha uma condio de acesso ape-
nas aos anos escolares iniciais, repro-
duzindo, nos assentamentos, a mesma
lgica de negao histrica do direito,
aos camponeses, de acesso aos nveis
mais elevados de escolaridade.
A necessidade de um programa
de educao especfco para a popu-
lao da Reforma Agrria justifcava-
se, poca, pela constatao expressa
em um estudo denominado Censo da
Reforma Agrria (Schmidt, Marinho
e Rosa, 1997) encomendado pelo
Ministrio Extraordinrio da Poltica
Fundiria, em 1997, ao Conselho dos
Reitores das Universidades Brasileiras
(Crub) de que nos projetos de assen-
tamento (PAs) havia um ndice de anal-
fabetismo acima da mdia verifcada
no campo, e um ndice de escolaridade
extremamente baixo, ambos decorren-
tes da ausncia do poder pblico mu-
nicipal ou estadual na organizao das
condies que assegurassem educao
para esta parcela da populao que aos
poucos, pela instalao dos PAs, foi se
estabelecendo nestes novos territrios.
importante ressaltar ser comum que
prefeitos e governadores reputem ao
Instituto Nacional de Colonizao e
Reforma Agrria (Incra) a responsabi-
lidade pelas polticas pblicas voltadas
aos agricultores assentados.
No ano de 2005, foi publicado o re-
sultado da I Pesquisa Nacional de Edu-
cao na Reforma Agrria (I Pnera),
realizada pelo Incra/Pronera, em con-
junto com o Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais (Inep),
do Ministrio da Educao (MEC). O
estudo, censitrio, pesquisou a situa-
o de escolaridade da populao e a
situao das 8.679 escolas localizadas
nos assentamentos e concluiu que, em
mdia, 23% da populao declarava-se
analfabeta; a oferta de educao funda-
mental at os quatro anos iniciais atin-
gia patamares aceitveis, mas a educa-
o fundamental completa e o ensino
mdio eram negligenciados para aquela
populao; e menos de 1% tinha aces-
so ao ensino superior.
Em razo destes resultados, o
Pronera, que at ento executava ma-
joritariamente projetos de alfabetiza-
o e escolarizao em sries iniciais,
passou a incentivar projetos de ensino
fundamental completo e nvel mdio.
Com o desenvolvimento destes pro-
jetos, a consequente concluso deste
nvel de ensino e a necessidade de for-
mao de professores para as escolas
conquistadas para os PAs, os prprios
movimentos sociais passaram a de-
mandar projetos de cursos superiores,
inicialmente restritos rea de Peda-
gogia e licenciaturas, posteriormente
ampliados para outras reas, como as
de Cincias Agrrias.
633
P
Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pronera)
No ano de 2004, pela fora e am-
plitude de suas aes, o Pronera pas-
sou a integrar o Plano Plurianual (PPA)
do governo federal, instrumento por
meio do qual assegurada a incluso
de ao especfca no Oramento Ge-
ral da Unio (OGU). Assim, a partir do
OGU de 2005, o Pronera passou a in-
tegrar o oramento da Unio com pre-
viso de recursos para a execuo de
suas aes, o que constituiu mais um
avano na perspectiva do planejamen-
to das aes, uma vez expressa a pu-
blicidade e o compromisso do governo
em execut-las.
Em junho de 2009, por meio da in-
cluso do artigo n 33 na lei n 11.947, o
Congresso Nacional autorizou o Poder
Executivo a instituir o Pronera. Em 4 de
novembro de 2010, o presidente da Re-
pblica editou o decreto n 7.352, que
institui a Poltica Nacional de Educao
do Campo e o Pronera (Brasil, 2010b).
A lei e o decreto constituem avanos
no que se refere ao novo status conferi-
do ao Pronera, de poltica permanente,
instituda no mbito do ordenamento
jurdico do Estado brasileiro, sendo es-
tes os instrumentos necessrios conti-
nuidade da poltica independentemente
do governo em exerccio.
Tais instrumentos ganham ainda
maior importncia quando se conside-
ra que se trata de uma poltica voltada
para os camponeses e suas famlias, en-
volvidos em uma poltica correlata, a da
Reforma Agrria, cujo tema carrega em
si alto grau de confitividade e polmica
no mbito do Poder Executivo, do Po-
der Legislativo e do Poder Judicirio.
E os componentes desta confitividade
afetam de maneira defnitiva uma po-
ltica educacional como o Pronera por-
que, em seus princpios, ele afrma a
indissociabilidade entre os projetos
educativos que se desenvolvem nas
universidades, nas escolas tcnicas e
nas escolas do campo com estes sujei-
tos, e um projeto de desenvolvimento
de campo que tem a Reforma Agrria
como vetor.
Para alm destes elementos da his-
tria, institudo, o Pronera se afrma
igualmente com um carter instituinte
pois, pelos seus princpios e pela sua
forma, permitiu mudanas signifcati-
vas nos projetos educacionais desen-
volvidos nas instituies de ensino,
nos vrios nveis e nos mais diversos
campos do conhecimento.
O Pronera instituiu possibilidades
de ressignifcao do contedo e da
metodologia dos processos de educa-
o formal, por meio dos princpios
bsicos da participao e da multiplica-
o. A participao se materializa pelo
fato de que a indicao das demandas
educacionais feita pelas comunida-
des das reas de Reforma Agrria e suas
organizaes, que, em conjunto com os
demais parceiros, decidiro sobre a ela-
borao, o acompanhamento e a avalia-
o dos projetos. J a multiplicao se
realiza porque a educao dos assenta-
dos visa ampliao no s do nmero
de pessoas alfabetizadas e formadas
em diferentes nveis de ensino, mas
tambm garantir educadores, profssio-
nais, tcnicos, agentes mobilizadores e
articuladores de polticas pblicas para
as reas de Reforma Agrria.
Esses princpios dizem respeito
intencionalidade organizativa dos pro-
jetos, que, articulados, efetivamente
permitem a entrada dos camponeses
e suas organizaes no interior das
instituies de ensino, para pensar,
juntamente com os professores, todo
o processo. Esse modo de desen-
volver as aes, comum e exigido na
Dicionrio da Educao do Campo
634
elaborao dos projetos do Pronera,
produziu, no mbito da prpria nor-
mativa do programa, expressa no seu
Manual de Operaes, o que se denomina
Princpios orientadores das prticas
(Brasil, 2011). So eles: o princpio do
dilogo, que diz respeito a uma dinmica
de aprendizagem-ensino que assegure
o respeito cultura do grupo, a valo-
rizao dos diferentes saberes e a pro-
duo coletiva do conhecimento; o
princpio da prxis, como um proces-
so educativo que tenha por base o mo-
vimento aorefexoao e a pers-
pectiva de transformao da realidade,
uma dinmica de aprendizagem-ensino
que ao mesmo tempo valorize e pro-
voque o envolvimento dos educandos
em aes sociais concretas, ajudando
na interpretao crtica e no aprofun-
damento terico necessrio a uma atu-
ao transformadora; e o princpio da
transdisciplinaridade, assegurando que os
processos educativos contribuam para
a articulao de todos os contedos
e saberes locais, regionais e globais, de
forma que nas prticas educativas os
sujeitos identifquem as suas necessi-
dades e potencialidades.
Pode-se afrmar, desta forma, que a
presena dos camponeses, como sujei-
tos coletivos de direitos, no ambiente
acadmico, tem fortalecido a perspec-
tiva de novas prticas nos campos do
ensino e da pesquisa, no como novi-
dade pedaggica, mas como prxis, re-
sultado de uma interao entre sujeitos
historicamente estranhos da tratar-
se de uma interao que nem sem-
pre pacfca, mas, ao contrrio,
normalmente tensa e confitiva e, por
isso mesmo carregada de potencia-
lidades emancipatrias.
O Pronera pela sua dinmica insti-
tui, igualmente, novas formas de acesso
e organizao do processo educativo
formal. Uma das principais mudanas
inauguradas pelo programa refere-se
entrada coletiva dos camponeses nas
instituies de ensino. Os cursos se ins-
tituem em carter especial e so auto-
rizados, tanto pelo Incra quanto pelas
instituies de ensino, para uma turma
especfca. Esta caracterstica amplia o
conceito de poltica afrmativa no que
diz respeito ao acesso e permanncia
no sistema educativo, uma vez que o
fnanciamento envolve, para alm dos
custos do curso, a cobertura dos custos
de permanncia dos estudantes nas ins-
tituies, como o transporte, hospeda-
gem, alimentao e material didtico-
pedaggico.
Outra caracterstica importante diz
respeito aos tempos e espaos educa-
tivos, pela adoo da metodologia da
alternncia na organizao dos cursos
de nvel mdio e superior. Os tempos
educativos divididos em dois perodos
tempo escola e tempo comunidade
asseguram, nos projetos, a dimenso
da indissociabilidade entre os conheci-
mentos sistematizados no ambiente
escolar e/ou acadmico e os conhe-
cimentos presentes e historicamente
construdos pelos camponeses, nos
seus processos de trabalho de organi-
zao das condies de reproduo da
vida no campo e nos processos organi-
zativos de classe. Os espaos educati-
vos da escola/universidade e do campo
so duas particularidades de uma mes-
ma totalidade que envolve o ensino, a
pesquisa e as prticas, em todas as reas
do conhecimento e da vida social.
Por estas condies, o programa
tem sofrido uma srie de questiona-
mentos, pela via de aes civis pbli-
cas (ACP), ou de aes dos rgos de
controle, como o Tribunal de Contas
635
P
Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pronera)
da Unio (TCU). Houve trs aes ci-
vis pblicas contra os cursos de Agro-
nomia, Direito e Medicina Veterinria,
em parceria com as universidades fe-
derais de Sergipe (UFS), Gois (UFG)
e Pelotas (UFPel), respectivamente.
Na base de todas as aes, a alegao
de que os cursos, realizados para tur-
mas especfcas de assentados, aten-
tam contra o princpio constitucional
da isonomia de acesso ao ensino su-
perior, constituindo-se em privilgio
aos assentados, condio de que no
desfrutam os demais grupos sociais.
Aes estas agravadas ainda mais pelo
histrico preconceito de parte dos re-
presentantes dessas instituies do Es-
tado, ao afrmarem que os camponeses,
pelo fato de viverem e trabalharem no
campo, no necessitam de ensino su-
perior, mas apenas de conhecimentos
tcnicos bsicos para o trabalho na
agricultura. No caso do curso de Di-
reito, foram movidas duas aes, sen-
do que na primeira, a justifcativa para
coibir a entrada dos camponeses num
curso especial de Direito se baseava no
fato de esta ser uma rea voltada para
o meio urbano.
Em todos os casos, recursos im-
petrados pelo Incra e pelas universi-
dades tiveram acolhida nas instncias
do Poder Judicirio. O relatrio do de-
sembargador do Superior Tribunal de
Justia (STJ) designado para oferecer
parecer no caso do curso de Medicina
Veterinria, alm de ter acatado as ra-
zes apresentadas em defesa do curso,
constitui importante referncia para a
afrmao do direito dos camponeses
universidade:
8. Entre os princpios que vincu-
lam a educao escolar bsica e
superior no Brasil est a igual-
dade de condies para o acesso
e permanncia na escola (art. 3,
I, da lei n 9.394/1998). A no
ser que se pretenda conferir
carter apenas retrico ao prin-
cpio de igualdade de condies para
o acesso e permanncia na es-
cola, deve-se a esta assegurar a
possibilidade de buscar formas
criativas de propiciar a natureza
igualitria do ensino.
9. Polticas afrmativas, quando
endereadas a combater genu-
nas situaes fticas incompa-
tveis com os fundamentos e
princpios do Estado social, ou a
estes dar consistncia e efccia,
em nada lembram privilgios,
nem com eles se confundem.
Em vez de funcionarem por
excluso de sujeitos de direitos,
estampam nos seus objetivos e
mtodos a marca da valorizao
da incluso, sobretudo daqueles
aos quais se negam os benef-
cios mais elementares do patri-
mnio material e intelectual da
Nao. Frequentemente, para
privilegiar basta a manuteno
do status quo, sob o argumento
de autoridade do estrito respei-
to ao princpio da igualdade.
10. Sob o nome e invocao
do mencionado princpio, pra-
ticam-se ou justificam-se algu-
mas das piores discriminaes,
ao transform-lo em biombo
retrico e elegante para ene-
voar ou disfarar comporta-
mentos e prticas que negam
aos sujeitos vulnerveis direi-
tos bsicos outorgados a todos
pela Constituio e pelas leis.
Em verdade, dessa fonte no
jorra o princpio da igualdade,
Dicionrio da Educao do Campo
636
mas uma certa contraigualda-
de, que nada tem de nobre,
pois referenda, pela omisso
que prega e espera de admi-
nistradores e juzes, a perpe-
tuao de vantagens pessoais,
originadas de atributos indivi-
duais, hereditrios ou de casta,
associados a riqueza, conheci-
mento, origem, raa, religio,
estado, profisso ou filiao
partidria.
(Brasil, 2010c)
Na mesma linha de reao de seto-
res do Estado refratrios ampliao da
participao social no ambiente acad-
mico e, de maneira particular, entrada
coletiva de camponeses em determina-
dos cursos, o Pronera sofreu a reao a
esta forma de gesto colegiada e cole-
tiva, notadamente participao direta
dos movimentos sociais e sindicais do
campo. Acrdo de 2008 do Tribunal de
Contas da Unio (Brasil, 2008), deter-
minou ao Incra a excluso da participa-
o dos movimentos sociais na gesto
dos projetos do Pronera, considerando-
os entes estranhos administrao pblica,
em que pese estar na Constituio Fe-
deral e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educao Nacional (LDB), no apenas
recomendado, mas estabelecido que
os processos educacionais devem ter a
participao das comunidades na sua
gesto, e de a mesma LDB considerar,
no seu artigo 1, os movimentos sociais
como agentes educativos.
Por outro lado, a materialidade e a
dinmica do Pronera permitiram que se
ampliasse o debate sobre a instituio
de polticas pblicas de Educao do
Campo com estas caractersticas para
outros segmentos do campo, como
agricultores familiares e quilombolas,
entre outros. Pode-se afrmar que o
Pronera um programa indutor de no-
vas polticas pblicas nesta perspectiva,
como a LICENCIATURA EM EDUCAO
DO CAMPO, sob gesto do Ministrio
da Educao.
Nos seus primeiros dez anos, o pro-
grama logrou importantes resultados
quantitativos. Foram centenas de pro-
jetos desenvolvidos, em parceria com
mais de sessenta instituies de ensi-
no, que alfabetizaram, escolarizaram
e capacitaram cerca de 400 mil traba-
lhadores rurais assentados. Tais resul-
tados impactaram signifcativamente a
reduo da taxa mdia de analfabetis-
mo nos territrios da Reforma Agrria,
ainda que esta se mantenha alta para o
padro de uma sociedade que se pro-
pe um desenvolvimento com justia
social. A Pesquisa de Qualidade na
Reforma Agrria (PQRA), realizada e
publicada pelo Incra no ano de 2010
indicava uma taxa mdia de analfabe-
tismo de 15,8% nos assentamentos.
Alm disso, os ndices de escolaridade
continuam ainda muito baixos: em m-
dia, apenas 27% da populao concluiu
o ensino fundamental (Brasil, 2010a).
O Pronera produziu, no mbito do
debate acadmico, o dilogo com uma
nova perspectiva de produo do co-
nhecimento e de pesquisa; legitimou o
confito no ambiente da universidade,
ao reconhecer os camponeses como su-
jeitos coletivos de direitos, que entram,
coletivamente, como turma especfca
no ensino superior; e estabeleceu um
rompimento conceitual, ao reconhec-
los como portadores de conhecimento,
e no apenas como objeto de pesquisa.
Os novos sujeitos polticos campo-
neses que emergiram das lutas surgidas
entre o fnal do sculo XX e o incio
do sculo XXI da questo agrria, do
debate sobre um novo projeto de
637
P
Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pronera)
agricultura articulado com a questo
ambiental e dos direitos humanos e
sociais necessitam ser reconhecidos
pelas suas prticas e pelo acmulo de
conhecimento construdo no mbi-
to de suas organizaes, e devem ser
identifcados nas polticas educacionais
como portadores de tal patrimnio.
To importante quanto os resul-
tados quantitativos o signifcado do
Programa como poltica pblica con-
quistada pelos movimentos sociais,
ainda que num ambiente de adversida-
de. inegvel a dimenso do Pronera
como espao desta interseo entre o
Estado, as instituies de ensino e
os movimentos sociais, especialmen-
te entre estes dois ltimos, pois apro-
xima e faz o encontro entre dois
mundos historicamente apartados,
dado que os processos de formao
humana costumam ser apartados dos
processos de trabalho.
O Pronera constitui, assim, uma
poltica pblica reconhecida, por um
lado, pelo exerccio de um papel a ela
destinado de complementaridade em
relao s polticas educacionais exe-
cutadas pelo Ministrio da Educao,
pelos estados e municpios, e, por ou-
tro lado, como um dos instrumentos
de emancipao e cidadania dos cam-
poneses, pelos princpios e pela for-
ma de implantao de seus projetos, o
que dialoga com a estratgia de supera-
o da histrica condio de subalter-
nidade dos camponeses aos interesses
dominantes, o que o coloca na condi-
o de um territrio campons con-
quistado, na esfera do Estado. Entre-
tanto, h de se reconhecer seu limite
no contexto das lutas e das disputas na
perspectiva da construo de uma nova
hegemonia, tambm no campo da edu-
cao, uma vez que mudanas profun-
das na educao pblica brasileira se fa-
ro por meio do envolvimento de todos
os interessados na educao pblica e,
mais especifcamente, na educao p-
blica que interessa aos trabalhadores, na
perspectiva das transformaes.
Para saber mais
ARRUDA, R. Unio fnancia universidade para quadros do Movimento Sem Terra.
O Estado de So Paulo, So Paulo, 27 jul. 2008. Caderno A, p. 4.
AZEVEDO, J. L. de. A educao como poltica pblica. 2. ed. aum. Campinas: Autores
Associados, 2001.
BRASIL. Constituio 1988. 14. ed. atual. Braslia: Cmara dos Deputados,
Coordenao de Publicaes, 2000.
______. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA (INCRA).
Manual de operaes do Pronera. Ed. rev. e atual. Braslia: MDAIncra, 2011. Dispo-
nvel em: http://www.incra.gov.br/portal/images/arquivos/manual_pronera_e_
portaria_publicados.pdf. Acesso em: 6 out. 2011.
______. ______. Pesquisa de Qualidade na Reforma Agrria (PQRA). Braslia: MDA
Incra, 2010a. Disponvel em: http://www.pqra.incra.gov.br. Acesso em: 4 jul. 2011.
______. ______; INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANSIO TEIXEIRA (INEP). Pesquisa Nacional sobre Educao na Reforma Agrria (Pnera).
Braslia: IncraInep, 2005.
Dicionrio da Educao do Campo
638
______. MINISTRIO DA EDUCAO (MEC). Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996:
estabelece as diretrizes e bases da educao nacional. Braslia: MEC, 1996.
______. PRESIDNCIA DA REPBLICA. Decreto n 7.352/2010, de 4 de novembro
de 2010: dispe sobre a poltica de educao do campo e o Programa Nacional
de Educao na Reforma Agrria. Dirio Ofcial, Braslia, Seo 1, p. 1-3, 5 nov.
2010b.
______. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA. Recurso especial n 1.179.115 RS
(2010/0020403-6). Relator: Ministro Herman Benjamin. Dirio da Justia
Eletrnico, Braslia, n. 692, 12 nov. 2010c. Disponvel em: http://dignitatis-
assessoria.blogspot.com/2010/11/acordao-stj-pronera-veterinaria-vitoria.html.
Acesso em: 5 out. 2011.
______. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO (TCU). Acrdo n 2.653/2008. Braslia:
TCU, 2008.
______. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (4 REGIO). Ao civil pblica n
2005.70.00.003167-7 Terceira Turma. Relator: Vnia Hack de Almeida. D.O.E.,
Porto Alegre, 7 fev. 2007. Disponvel em: http://www.trf4.jus.br/trf4/jurisjud/intei-
ro_teor.php?orgao=1&numeroProcesso=200570000031677&dataPublicacao=
07/02/2007. Acesso em: 6 out. 2011.
CALDART, R. S. Sobre Educao do Campo. In: SANTOS, C.A. (org.). Campo
polticas pblicas educao. Braslia: MDAIncra, 2008. p. 67-86.
CHAU, M. A sociedade democrtica. In: MOLINA, M. C.; SOUZA JNIOR, J. G.;
TOURINHO NETO, F.C. (org.). Introduo crtica ao direito agrrio. So Paulo: Imprensa
Ofcial, 2002. p. 331-340.
FERNANDES, B. M. Educao do Campo e territrio campons no Brasil. In:
SANTOS, C. A. (org.). Campopolticas pblicaseducao. Braslia: MDAIncra, 2008.
p. 39-66.
HFLING, E. M. Estado e polticas (pblicas) sociais. Cadernos Cedes, Campinas, n. 55,
p. 30-41, 2001.
MARQUES, M. I. Lugar do modo de vida tradicional na modernidade. In: ______;
OLIVEIRA, A. U. (org.). O campo no sculo XXI: territrio de vida, de luta e de cons-
truo da justia social. So Paulo: Casa Amarela, 2004. p. 145-158.
MOLINA, M. C. A contribuio do Pronera na construo de polticas pblicas de educao
do campo e desenvolvimento sustentvel. 2003. Tese (Doutorado em Desenvolvimento
Sustentvel) Centro de Desenvolvimento Sustentvel, Universidade de Braslia,
Braslia, 2003.
POULANTZAS, N. O Estado, o poder, o socialismo. So Paulo: Paz e Terra, 2000.
RAMOS, M. Cota para os amigos. Revista poca, So Paulo, n. 528, p. 56,
30 jun. 2008.
639
P
Programa Nacional de Educao na Reforma Agrria (Pronera)
RIO GRANDE DO SUL. JUSTIA FEDERAL DE PELOTAS (4 REGIO). Ao civil pbli-
ca n 2007.71.10.005035-8/RS. Sentena. Everson Guimares Silva (Juiz Federal
Substituto). Pelotas, RS, 20 mar. 2009.
SANTOS, C. A. dos. Educao do Campo e polticas pblicas no Brasil: a instituio de
polticas pblicas pelo protagonismo dos movimentos sociais do campo na luta
pelo direito educao. 2009. Dissertao (Mestrado em Educao) Faculdade
de Educao, Universidade de Braslia, Braslia, 2009.
SILVA, C. E. M. Polticas pblicas e desenvolvimento rural. In: MARQUES, I. M.;
OLIVEIRA, A. U. (org.). O campo no sculo XXI: territrio de vida, de luta e de cons-
truo da justia social. So Paulo: Casa Amarela, 2004. p. 335-352.
SCHMIDT, B. V.; MARINHO, D. N. C.; ROSA, S. L. C. (org.). I Censo da Reforma
Agrria. Estudos Avanados, So Paulo, v. 1, n.1, p. 7-37, 1997.
641
Q
Q
QUESTO AGRRIA
Joo Pedro Stedile
Objeto do estudo da
questo agrria
O termo questo agrria utilizado
para designar uma rea do conhecimen-
to humano que se dedica a estudar, pes-
quisar e conhecer a natureza dos pro-
blemas das sociedades em geral relacio-
nados ao uso, posse e propriedade
da terra. Ao se fazer o estudo da for-
ma de organizao socioeconmica do
meio rural de qualquer pas, est-se es-
tudando a questo agrria daquele pas.
Porm, durante muito tempo, o termo
foi utilizado principalmente como sin-
nimo dos problemas agrrios existen-
tes e, mais reduzidamente, quando, em
determinada sociedade, a concentra-
o da propriedade da terra impedia o
desenvolvimento das foras produtivas
na agricultura. E essa forma de interpre-
tar a questo agrria tem uma histria
que precisa ser conhecida.
A origem da expresso vem dos
primeiros estudiosos que, a partir do
sculo XVIII e at o sculo XX, anali-
saram o desenvolvimento do modo de
produo capitalista, fcando conheci-
dos como pensadores clssicos. Ao
investigarem o comportamento do ca-
pital na organizao da produo agr-
cola e em relao propriedade da ter-
ra, esses pensadores concluram que,
medida que o modo de produo capi-
talista se desenvolvia, com sua lgica e
leis, a propriedade da terra foi se con-
centrando nas mos de menor nmero
de proprietrios capitalistas. Ou seja, o
advento do capitalismo como modo de
produo predominante, combinado
com o regime poltico republicano, que
havia introduzido o direito proprie-
dade privada de bens e de mercadorias,
trouxe como consequncia o fato de
a terra, antes vista como um bem da na-
tureza sob controle monoplico das oli-
garquias ou cls (no perodo do feuda-
lismo), tornar-se agora uma mercadoria
especial, sujeita propriedade privada.
Em seus estudos sobre o desenvolvi-
mento do capitalismo na agricultura, Karl
Marx (1988, tomo 3, Teoria da renda da
terra) chamou a terra de mercadoria
especial, pois, com base nos conceitos
da economia poltica, no era possvel
classifc-la como uma mercadoria: a
terra no fruto do trabalho humano,
um bem da natureza; portanto, no tem
valor em si. No entanto, ao se introdu-
zir nesse bem da natureza o direito sua
propriedade privada e, com ele, a cerca,
a delimitao de tamanhos etc. , a terra
passou a ser regida pelas mesmas regras
do capitalismo. Assim, cada vez que o
capitalista agrcola ganha mais dinheiro,
tem mais lucros e acumula capital, ele
vai comprando mais terras de outros
proprietrios privados. Ou seja, o mes-
mo movimento de acumulao de capital
que ocorre na indstria e no comrcio
passa a ocorrer tambm na propriedade
da terra, pela tendncia lgica do capi-
talismo a ir produzindo concentrao da
propriedade da terra.
Dicionrio da Educao do Campo
642
Historicamente, a propriedade pri-
vada da terra foi se consolidando a par-
tir das revolues burguesas, do estabe-
lecimento das regras republicanas e da
organizao do Estado burgus. Nesse
regime, todos os cidados passaram a
ter direito propriedade de terras, des-
de que tivessem dinheiro-capital para
compr-las do seu ocupante, ou, se
fossem terras pblicas, do Estado.
medida que o capitalismo evoluiu
da fase mercantil para o capitalismo
industrial, como decorrncia do pro-
cesso de acumulao de capital, houve
tambm uma crescente concentrao
da propriedade da terra. Ao analisarem
o comportamento do capitalismo que
levava contnua concentrao da pro-
priedade da terra, alguns pesquisadores
da poca defenderam a tese de que a
concentrao da propriedade da terra se trans-
formara numa contradio e, portanto, num
problema agrrio para o desenvolvimento do
capitalismo industrial. Segundo essa tese,
o capitalismo industrial precisava, para o
seu crescimento, que se desenvolvesse
um mercado interno de consumidores
dos bens da indstria. Ao concentrar
a propriedade da terra e manter os
camponeses sem terra e, portanto,
despossudos de renda , esse modelo
freava o desenvolvimento do mercado
interno e das foras produtivas.
A essa situao, que ocorreu em
alguns dos pases da Europa ocidental
que primeiro ingressaram na etapa in-
dustrial, que os pensadores clssicos
atriburam a condio de existncia de
um problema agrrio. Assim sendo,
num primeiro momento, a expresso
problema agrrio das sociedades capi-
talistas nasceu como sinnimo da ele-
vada concentrao da propriedade da
terra, que impedia o desenvolvimento
do mercado interno.
Aqui no Brasil, esse reducionismo
de que o problema agrrio se resumia
na ocorrncia ou no de concentrao
da propriedade como fator inibidor do
capitalismo foi infuenciado pela di-
vulgao de A questo agrria, de Karl
Kautsky (1968). O estudo de Kautsky
bem especfco: ele analisa, luz das
leis da economia poltica, o compor-
tamento do capitalismo na agricultura
da Alemanha, do fnal do sculo XIX
at o incio do sculo XX. E nosso
colonialismo intelectual e acadmico
nos levou a crer que a questo agrria
se resumiria s teses defendidas por
Kautsky para a sociedade alem de
determinado perodo histrico.
Agros = terra
O verbete agrrio tem sua origem
na palavra grega agros, sinnimo de ter-
ra. Portanto, todas as palavras portu-
guesas que possuem o prefxo agro se
referem a atividades relacionadas com
a terra, o solo. O termo agri-cultura, por
exemplo, est relacionado com todas
as atividades de cultivar a terra, como
lavouras, hortas ou rvores etc., e at
mesmo a pecuria uma atividade den-
tro da agricultura; j agri-cultor diz res-
peito arte, ao conhecimento, profs-
so daquele que sabe cultivar a terra.
O conceito de questo
agrria hoje
O significado do conceito de
questo agrria como originalmente
interpretado pelos pensadores clssi-
cos evoluiu nas ltimas dcadas. Hoje
h um entendimento generalizado
de que a questo agrria uma rea do
conhecimento cientfco que procura
estudar, de forma genrica ou em ca-
643
Q
Questo Agrria
sos especfcos, como cada sociedade
organiza, ao longo de sua histria, o
uso, a posse e a propriedade da terra. Essas
trs condies possuem caractersticas
diferentes, ainda que complementares.
Cada sociedade tem uma forma es-
pecfca de usar a natureza, de organizar
a produo dos bens agrcolas. E o seu
uso vai determinar que produtos so
cultivados, para atender a que necessi-
dades sociais e que destino se d a eles.
A posse da terra refere-se a quais
pessoas e categorias sociais moram
em cima daquele territrio e como
vivem nele.
E a propriedade uma condio
jurdica, estabelecida a partir do capita-
lismo, que garante o direito de uma pes-
soa, empresa ou instituio que possua
dinheiro-capital comprar e ter a proprie-
dade privada de determinada rea da na-
tureza, podendo cerc-la e ter absoluto
controle sobre ela, impedindo que ou-
tros a ela tenham acesso. Essa condio
jurdica estabelecida por leis da ordem
institucional de cada pas que transfor-
ma a terra numa mera mercadoria que
se pode comprar e vender, e da qual se
pode ser proprietrio absoluto.
Ao se estudar a questo agrria de
determinada sociedade, em determi-
nado perodo histrico, analisa-se como
aquela sociedade organiza a produo
dos bens agrcolas, a posse de seu ter-
ritrio e a propriedade da terra. E, para
cada aspecto estudado de cada socie-
dade em cada perodo histrico, sero
encontrados diferentes problemas
agrrios, surgidos como resultado
das contradies criadas pelas for-
mas de organizao presentes naquela
sociedade. Por exemplo, pode-se estu-
dar a questo agrria no Brasil durante
o perodo colonial, no qual as carac-
tersticas principais so o trabalho es-
cravo, o monoplio da propriedade da
terra pela Coroa e a posse entregue em
concesso de uso apenas a alguns gran-
des latifundirios. Da mesma forma,
pode-se estudar a questo agrria no
fnal do sculo XX, caracterizada pelas
infuncias do capitalismo globalizado,
pelas empresas agrcolas transnaciona-
lizadas e pelo capital fnanceiro.
frequente, porm, encontrar-se
ainda na literatura especializada da eco-
nomia poltica a terminologia ques-
to agrria apenas como sinnimo de
problema agrrio, estando esses pro-
blemas agrrios reduzidos existncia
ou no da concentrao da proprie-
dade da terra como fator inibidor do
desenvolvimento do capitalismo.
Estudos clssicos sobre
o desenvolvimento do
capitalismo na agricultura
Na literatura clssica sobre o tema,
existem diversos estudos realizados
acerca da questo agrria dos pases em
que o capitalismo industrial se desen-
volveu primeiro. Os pensadores que
interpretaram a questo agrria desses
pases construram diferentes teses so-
bre a natureza do desenvolvimento do
capitalismo na agricultura.
Karl Marx (1988, tomo 1, cap. 24)
estudou o desenvolvimento do capita-
lismo na agricultura na Inglaterra du-
rante a transio do capitalismo mer-
cantil para o capitalismo industrial
(fnal do sculo XVI at meados do
sculo XIX). E as formas especfcas
descritas pelo autor para aquela forma de
capitalismo receberam a denominao
de via inglesa do desenvolvimento do
capital na agricultura.
Karl Kautsky (1968), como men-
ci onado, fez o mesmo estudo em
Dicionrio da Educao do Campo
644
relao Alemanha, abordando o f-
nal do sculo XIX e o incio do sculo
XX, e as caractersticas descritas por
ele receberam a denominao de via
prussiana, uma referncia ao antigo
Imprio Prussiano, que imprimia ca-
ractersticas semelhantes a toda aquela
regio da Europa Central.
Vladimir Ulianov, o Lenin, fez um
estudo do mesmo perodo tratado no
trabalho de Kautsky sobre as caracte-
rsticas do capitalismo na agricultura
da Rssia, denominando-as de via
junker,
1
numa referncia forma como
o latifundirio local havia se transfor-
mado em fazendeiro capitalista.
Lenin tambm realizou estudos
semelhantes acerca do desenvolvi-
mento do capitalismo na agricultura
nos Estados Unidos no perodo que
abrange do final do sculo XIX at o
incio do sculo XX. As caractersticas
especfcas desse processo receberam a
denominao de via farmer ou via
americana, em referncia ao predom-
nio da agricultura familiar-capitalista
decorrente da colonizao democrti-
ca, pela qual todas as famlias de agri-
cultores tiveram o direito de acesso
mesma quantidade de terra, distribu-
da pelo Estado.
H tambm diversos estudos clssi-
cos que analisam o comportamento da
questo agrria imposto pelo capitalis-
mo nas colnias. Em todas as colnias
do hemisfrio sul houve basicamente
duas formas de organizao da questo
agrria: a plantation, que associava gran-
des extenses de terra, produo para
exportao e trabalho escravo; e as ha-
ciendas, implantadas, sobretudo, pelo
capitalismo espanhol nas suas colnias,
e que combinaram trabalho servil, pro-
duo para a exportao e produo
para o mercado interno.
Finalmente, encontramos na li-
teratura a anlise da questo agrria
em pases com condies edafocli-
mticas
2
mais difceis para a produ-
o agrcola anual. o caso de pases
montanhosos ou com invernos rigo-
rosos, como a Sua, ou das regies
desrticas, como a Siclia. Esses es-
tudos foram realizados por Giovanni
Arrighi na dcada de 1960, e o desen-
volvimento do capitalismo na agri-
cultura nessas reas recebeu a deno-
minao de via sua.
3
A questo agrria no Brasil
A questo agrria no Brasil, inter-
pretada como a anlise das condies
de uso, posse e propriedade da terra na
nossa sociedade, j foi objeto de muitos
estudos sobre os diferentes perodos da
histria, e existe farta bibliografa so-
bre o tema. Embora sempre haja inter-
pretaes especfcas ou divergentes, a
maioria dos pesquisadores considera
ter predominado, no perodo colonial,
a plantation como forma de organizao
capitalista na agricultura brasileira do
perodo. Com a entrada da economia
na etapa do capitalismo industrial, a
partir da dcada de 1930 e durante todo
o sculo XX, a agricultura brasileira se
modernizou, intensifcando-se os in-
vestimentos capitalistas. Esse perodo
foi resumido, na tese de Jos Graziano
da Silva (1982), como de moderniza-
o dolorosa, porque desenvolveu as
foras produtivas do capital na produ-
o agrcola, porm excluiu milhes de
trabalhadores rurais, que foram expul-
sos para a cidade ou tiveram de migrar
para as fronteiras agrcolas, em busca
de novas terras.
Sobre a natureza da questo agrria
nas ltimas duas dcadas (1990-2010),
645
Q
Questo Agrria
h dois enfoques bsicos. O primeiro,
defendido por pesquisadores que se
somam viso burguesa da agricultura,
argumenta que existe um intenso de-
senvolvimento do capitalismo na agri-
cultura brasileira, que aumentou enor-
memente a produo e a produtividade
da terra. Para essa concepo, a con-
centrao da propriedade e seu uso j
no representam um problema agrrio
no Brasil, pois as foras capitalistas
resolveram os problemas do aumento
da produo agrcola a seu modo, e a
agricultura se desenvolve muito bem,
do ponto de vista capitalista. Ou seja, a
agricultura uma atividade lucrativa,
com aumento permanente da pro-
duo e da produtividade agrcolas.
O outro enfoque, de pensadores
marxistas, crticos, analisa que a forma
como a sociedade brasileira organi-
za o uso, a posse e a propriedade dos
bens da natureza ocasiona ainda gra-
ves problemas agrrios e de natureza
econmica, social, poltica e ambiental.
Esses problemas aparecem no elevado
ndice de concentrao da propriedade
da terra apenas 1% dos propriet-
rios controla 46% de todas as terras;
no elevado ndice de concentrao da
produo agrcola, em que apenas 8%
dos estabelecimentos produzem mais
de 80% das COMMODITIES AGRCOLAS
exportadas; na distoro do uso de
nosso patrimnio agrcola, pois 80%
de todas as terras so utilizadas ape-
nas para produzir soja, milho e cana-
de-acar, e na pecuria extensiva; na
dependncia econmica externa que
a agricultura brasileira est submetida,
por causa do controle do mercado, dos
insumos e dos preos pelas empresas
agrcolas transnacionais; e na subordi-
nao ao capital fnanceiro, pois a pro-
duo agrcola depende cada vez mais
das inverses do capital fnanceiro, que
adianta recursos, cobra juros e divide a
renda gerada na agricultura.
Do ponto vista social, percebem-
se esses problemas na extrema desi-
gualdade social que essa estrutura
econmica gera no meio rural brasilei-
ro, onde existem 7 milhes de pessoas
que vivem ainda na pobreza absoluta e
14 milhes de adultos analfabetos. O
programa Bolsa Famlia, distribudo
para 11 milhes de famlias que passam
necessidades alimentcias, revelador
da tragdia social no pas. Alm disso,
a maioria dos jovens que vive no meio
rural no tem acesso ao ensino funda-
mental completo (oito anos), nem ao
ensino de nvel mdio e muito menos
ao ensino superior.
H, tambm, um enorme passivo
ambiental resultante da forma preda-
dora da explorao capitalista na agri-
cultura brasileira, que degrada o solo e
contamina rios e lenis freticos, alm
de desmatar sem nenhum controle,
desrespeitando inclusive as leis ambien-
tais do Cdigo Florestal. O Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovveis (Ibama)
aplicou multas por crimes ambientais
a grandes fazendeiros brasileiros, no
valor total aproximado de 8 bilhes de
reais, segundo o noticirio da imprensa
ao longo de 2011, que, no entanto, no
foram pagas.
A tecnologia utilizada pelo modo
capitalista de produzir na agricultura
brasileira est baseada no uso intensivo
da mecanizao e dos venenos agrco-
las. E essas duas formas, alm de expul-
sarem a mo de obra e a populao do
campo, representam uma agresso per-
manente ao meio ambiente, trazendo
como consequncia desequilbrios am-
bientais que afetam toda a populao,
mesmo a que mora na cidade. Pesquisa
Dicionrio da Educao do Campo
646
coordenada pelo mdico e pesquisa-
dor Wanderlei Pignati, da Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMT), no
perodo de 2000 a 2010, na regio de
monocultivo da soja do estado, revelou
que at o leite materno de mulheres
que vivem nas cidades da regio esta-
va contaminado por venenos agrcolas
assimilados do meio ambiente, da gua
ou de alimentos contaminados.
Esses so exemplos de como h,
ainda na atualidade, segundo essa cor-
rente de pesquisadores, um grave pro-
blema agrrio na sociedade brasileira.
Notas
1
O termo junker era usado no meio rural russo da poca como sinnimo de fazendeiro rico;
provvel que tenha sido adotado por causa da proximidade da Rssia com a Alemanha.
2
Condies caractersticas de cada regio, relacionadas com a fertilidade natural do solo, a
quantidade de gua e sol, e as condies de clima para agricultura.
3
Para cada modelo de desenvolvimento capitalista na agricultura aqui expresso h farta
literatura, que j est disponvel em portugus.
Para saber mais
KAUTSKY, K. A questo agrria. Rio de Janeiro: Laemmert, 1968.
LINHARES, M. Y.; SILVA, F. C. T. Terra prometida: uma histria da questo agrria no
Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
MARTINS, J. de S. Os camponeses e a poltica no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1986.
MARX, K. O capital. So Paulo: Nova Cultural, 1988. (Os economistas).
MITSUE, M. A histria da luta pela terra no Brasil e o MST. So Paulo: Expresso
Popular, 2001.
SILVA, J. G. da. A modernizao dolorosa: estrutura agrria, fronteira agrcola e traba-
lhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
STEDILE, J. P. A questo agrria no Brasil. So Paulo: Expresso Popular, 2005. 5 v.
______. Bibliografia bsica sobre a questo agrria no Brasil. Fortaleza: Edies
Nudoc/UFCMuseu do Cear/Secretaria da Cultura do Estado do Cear,
2005.
______. Questo agrria no Brasil. 11. ed. rev. So Paulo: AtualSaraiva, 2011.
647
Q
Quilombolas
Q
QUILOMBOLAS
Simone Raquel Batista Ferreira
de presena negra africana e de seus
descendentes. No territrio colonizado
pelo Estado portugus e batizado
Brasil, os termos quilombo e quilombo-
las foram utilizados para caracterizar
os sujeitos e grupos sociais organiza-
dos em torno da contestao ao sis-
tema hegemnico escravista. Seguin-
do a tradio banto, o termo quilombo
foi trazido e utilizado por africanos e
afrodescendentes para caracterizarem
seus territrios de resistncia ante o siste-
ma colonial escravista. Quilombolas tor-
naram-se os seus habitantes, aqueles
que se rebelavam com a situao de es-
cravizao e marginalizao em que se
encontravam, nela forosamente inse-
ridos, como trabalhadores explorados
exausto, capturados e arrancados de
seus territrios originrios, comprados
e vendidos como mercadoria.
Tambm no territrio coloniza-
do pelo Estado espanhol a Amrica
Espanhola a resistncia escravido
africana se fez presente: cimarrones eram
os escravos fugidos, e palenques, os seus
espaos fortifcados.
Esses dados revelam formas de
organizao de pessoas e grupos so-
ciais de origem africana que resistiam
escravizao a que foram submetidos
pelo sistema colonial europeu inaugura-
do nos sculos XV e XVI, e consoli-
dado com a expanso territorial de
Portugal e Espanha sobre outros terri-
trios e seus povos originrios. Nessa
relao colonial, a frica e a Amrica
eram criadas como espaos habitados
por povos primitivos, selvagens e atrasados,
Uma conversa acerca do termo
quilombolas deve trazer tona a histo-
ricidade desses sujeitos sociais e dos
conceitos que os representam. Se em
reas banto da frica, klomb signif-
cava sociedades de homens guerrei-
ros, no Brasil colonial a denominao
quilombola passou a designar homens e
mulheres, africanos e afrodescenden-
tes, que se rebelavam ante a sua situa-
o de escravizados e fugiam das fazen-
das e de outras unidades de produo,
refugiando-se em forestas e regies de
difcil acesso, onde reconstituam seu
modo de viver em liberdade. Findo o
sistema escravista, o termo quilombola
foi passando por releituras e adqui-
rindo outros signifcados, como o de
sujeito de direitos, resultante de conquis-
tas jurdicas do movimento negro pe-
rante o Estado brasileiro.
Da frica ao Brasil colonial
Na frica, a palavra klomb origi-
nria dos povos de lngua banto, e tem
a conotao de sociedades guerreiras,
constitudas por homens oriundos de
diversas linhagens e organizados em es-
truturas centralizadas baixo disciplina
militar, no contexto histrico dos s-
culos XVI e XVII caracterizado por
confitos pelo poder, por cises e alian-
as entre grupos e pelas migraes em
busca de novos territrios (Munanga,
1995-1996).
No mesmo perodo, este tipo de
organizao societria tambm podia
ser encontrado em outros territrios
Dicionrio da Educao do Campo
648
enquanto a Europa nascia como vetor
da civilizao e da modernidade, e seu de-
senvolvimento capitalista era projetado
como caminho nico a ser seguido por
toda a humanidade.
No mesmo sentido, elegia-se como
nica a histria do expansionismo eu-
ropeu sobre os demais povos, classi-
ficados como sem histria. Uma pre-
tensiosa histria mundial se inau-
gurava, ignorando e tornando in-
visveis diversas histrias milenares,
seus sujeitos e sua diversidade de sa-
beres. No territrio colonizado deno-
minado Amrica, a diversidade de
povos astecas, maias, aimars, incas e
chibchas, dentre outros ficou reduzi-
da limitante categoria de ndios,
enquanto os axntis, iorubs, zulus,
congos e bacongos, entre outros povos
trazidos foradamente como escravos
do territrio colonizado denominado
frica, foram reduzidos classifica-
o de negros (Quijano, 2005).
Com essas classifcaes, o projeto
colonizador estabelecia, portanto, que
o caminho a ser seguido por todos os
povos seria aquele protagonizado pe-
los europeus de pele branca, capitalis-
tas e cristos categorias que foram
identifcadas como elementos de supe-
rioridade , enquanto os demais povos
no europeus, no brancos, no capita-
listas e no cristos foram inseridos
na esfera da inferioridade.
Esses povos originrios foram trans-
formados em trabalhadores forados
do sistema colonial, seja pela servi-
do indgena, seja pela escravido
negra africana a qual fomentou
o mais lucrativo comrcio colonial no
Atlntico. Ao serem dominados pela
lgica do capitalismo europeu em ex-
panso, seus territrios ancestrais pas-
saram a ter a funo de gerar riquezas
para os imprios colonizadores, com o
saque dos recursos naturais, como ma-
deiras nobres e minrios, e a produo
de mercadorias agrcolas e semielabo-
radas, como o acar, em grandes lati-
fndios, sob o poder da classe senhorial.
O escravismo colonial sempre ge-
rou variadas formas de resistncia, ora
coletivas, ora mais individuais (Reis
e Gomes, 1996), como as fugas, o sui-
cdio, o assassinato de senhores e feito-
res, a formao de irmandades negras
e os quilombos.
Quilombolas ou calhambolas torna-
ram-se identidades de mulheres e
homens negros africanos e afrodes-
cendentes que se insubordinavam em
relao ordem colonial no territrio
Brasil, fugindo das fazendas escravis-
tas ou outras unidades de produo e
refugiando-se em reas de difcil aces-
so. Nesses locais, constituam seus no-
vos territrios os quilombos , abertos a
todos os segmentos oprimidos da so-
ciedade e organizados em permanente
estado de defesa e com base nas ativida-
des familiares de produo destinadas
preferencialmente subsistncia: agri-
cultura, pesca, caa, coleta e outras for-
mas de extrativismo.
Em algumas comunidades negras
rurais, ainda viva a memria desses
acontecidos e a familiaridade com o
conceito: , os escravos fugiam, pe-
gavam era nome de calhambola. Tava
escondido no mato (entrevista com
morador da Comunidade Quilombo-
la de So Domingos, territrio Sap
do Norte, Esprito Santo, realizada
em 2005).
Essa memria revela um imagin-
rio onde o termo calhambolas (ou qui-
lombolas) fcou associado fgura de
fugitivos, em decorrncia de serem
identifcados pelo olhar colonial como
649
Q
Quilombolas
negros fugidos, que deveriam ser
capturados pelas foras repressoras.
Da signifcao de espao de resistncia,
o termo quilombo (e sua derivao qui-
lombolas) adquiria novo signifcado na
linguagem do colonizador: espao de
negros fugidos.
Enquanto negros fugidos da es-
cravido, os quilombolas foram objeto de
busca e captura por parte dos senhores
de terras, das autoridades polticas pro-
vinciais e das foras policiais. Durante
todo o escravismo colonial, foi intensa
a troca de correspondncias entre esses
sujeitos dominantes da ordem estabe-
lecida, revelando as constantes fugas
e enfatizando a necessidade de sua re-
presso e da captura dos fugitivos.
No entanto, se por um lado essa tro-
ca de correspondncias mostra as arti-
culaes do aparelho repressor colo-
nial, por outro revela o grande temor
provocado pelos negros fugidos
nos grupos sociais dominantes, no s
porque suas fugas lhes traziam preju-
zos de ordem material, mas tambm,
sobretudo, porque seu movimento de
rebelio e ruptura em relao situa-
o de escravizado ameaava a ordem
estabelecida (Azevedo, 1987).
Quilombolas eram os sujeitos e gru-
pos sociais que se libertavam da escra-
vizao imposta, negando a inferiori-
dade que lhes era atribuda pela ordem
colonial (Quijano, 2005). E nos quilom-
bos, eles se organizavam pela tica da
campesinidade modo de viver basea-
do no trabalho familiar sobre a terra,
como patrimnio a ser transmitido s
novas geraes (Woortmann, 1990).
Presente tambm em diversos outros
grupos sociais, esse modo de viver
contrapunha-se ordem latifundiria e
monocultora colonial, regida pela lgi-
ca da acumulao desigual de riquezas,
na qual terra, natureza e gente eram
transformadas em mercadoria.
Com o fm do escravismo colonial,
o termo quilombola foi adquirindo ou-
tros signifcados, que devem ser con-
textualizados historicamente.
Da identidade tnica
quilombola e seus
sujeitos de direitos
A identidade tnica uma forma de
organizao estrategicamente elaborada
pelos grupos sociais para afrmar suas
diferenas em relao ao outro (Barth,
2000). Em cada contexto histrico e geo-
grfco, essa identidade reformulada
pelos grupos sociais, no intuito de ma-
nifestar suas especifcidades.
A construo da identidade quilom-
bola sempre caminhou em contraste
com o sistema hegemnico. No caso
dos africanos escravizados e forosa-
mente trazidos como mercadoria para
o mundo colonial, a identidade negra foi
sendo tecida como instrumento de afr-
mao das prprias origens, de sua an-
cestralidade e de seus saberes. Quan-
do se rebelavam, fugiam e constituam
os quilombos, organizavam-se enquanto
quilombolas, identidade que passava a
representar os sujeitos da resistncia ante
o sistema colonial escravista.
Com o fim do sistema escravocra-
ta, o primeiro retorno do termo qui-
lombolas ao discurso oficial do Estado
brasileiro ocorreu durante o processo
constituinte de 1988. Baseando-se
no significado da resistncia e trazen-
do a questo da reparao dos danos
provocados pela escravido negra, o
movimento negro encaminhou a dis-
cusso referente necessidade de se
reconhecerem direitos singulares aos
Dicionrio da Educao do Campo
650
afrodescendentes e de incorpor-los
Carta Magna.
Essa conquista constitucional que
reconhece parte da populao negra
brasileira como sujeito de direitos foi
consolidada no artigo 68 do Ato das
Disposies Constitucionais Transi-
trias, que assim determina: Aos rema-
nescentes das comunidades dos qui-
lombos que estejam ocupando suas
terras, reconhecida a propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir-
lhes os ttulos especficos.
Embora timidamente inserida ao
fnal do texto da Constituio Federal
de 1988, essa conquista abria um novo
campo para os direitos tnicos no sis-
tema jurdico brasileiro: pela primeira
vez, o Estado reconhecia algum direito
de parte da populao negra, qual de-
nominou remanescentes das comuni-
dades dos quilombos. No entanto, sua
referncia a remanescentes os carac-
teriza como quase extintos ou em processo
de desaparecimento, podendo o qualifca-
tivo ser interpretado como relativo a
grupos ou indivduos, diminuindo
a importncia da afrmao coletiva
do direito.
Aps a publicao do artigo 68
das Disposies Transitrias, muitas
demandas foram apresentadas por di-
versas comunidades negras rurais ao
Estado brasileiro, visando obten-
o da propriedade defnitiva das ter-
ras ocupadas. No entanto, a aplicao
do artigo 68 esbarrava na defnio dos
sujeitos do direito e nos procedimentos
para a titulao de suas terras.
Da parte do Estado brasileiro, as
primeiras tentativas de regulamentao
do artigo 68 afrmavam que os rema-
nescentes das comunidades dos qui-
lombos deveriam comprovar a ocupa-
o da terra que pleiteavam, mediante
a apresentao de documentos e cer-
tifcao antropolgica. Essas deter-
minaes restringiam enormemente as
possibilidades de titulao das terras,
pois abstraam a realidade dessas pos-
ses sem documentao e os processos
expropriatrios historicamente sofri-
dos pelas comunidades.
Um signifcativo avano foi con-
quistado pelo movimento negro, cuja
articulao poltica resultou na pro-
mulgao do decreto presidencial
n 4.887/2003, que considerou como
remanescentes das comunidades dos
quilombos os grupos tnico-raciais,
segundo critrios de autoatribuio, com
trajetria histrica prpria, dotados de
relaes territoriais especfcas, com
presuno de ancestralidade negra re-
lacionada com a resistncia opresso
histrica sofrida (Brasil, 2003).
Ao incorporar o princpio da
autoatribuio, baseado na Conveno
n 169 da Organizao Internacional do
Trabalho (OIT), promulgada em 1989
e tambm conhecida como Convnio
sobre Povos Indgenas e Tribais, o de-
creto n 4.887/2003 avana no sentido
do entendimento da identidade tnica des-
ses grupos. A autoatribuio passa a ser
o elemento fundamental para que o gru-
po seja reconhecido pelo Estado como
sujeito do direito, sujeito a quem cabe indi-
car os prprios critrios que fundamen-
taro a demarcao de seus territrios.
O procedimento para a identifcao
e a delimitao desses territrios par-
te da memria coletiva de seus mora-
dores, que passam a ressignifcar suas
prprias histrias de vida. Saber-se
dono de direitos assegurados pelo Es-
tado faz ampliar a conscincia da signi-
fcao poltica da identidade tnica para
a afrmao do territrio de direito (Walsh
e Garcia, 2002).
651
Q
Quilombolas
Em seu processo de construo
identitria, as comunidades quilombo-
las do territrio Sap do Norte (mu-
nicpios de Conceio da Barra e So
Mateus, no Esprito Santo) dialogam com
diversas defnies dos termos quilombo
e quilombolas, e elaboram as suas pr-
prias, como organizao de pessoas
oprimidas, comunidade que luta por
objetivos comuns, pela terra e liberda-
de, o negro e suas origens, o que
luta para ter direitos. Essas defnies
trazem tanto a dimenso da resistncia
negra quanto a reconstruo de ele-
mentos da ancestralidade africana re-
elaborados no espao-tempo presente,
revelando a mobilizao e a organiza-
o do grupo em prol da aplicao do
artigo 68 (ODwyer, 2006).
Nesse sentido, medida que a or-
ganizao tnica dessas comunidades
avana, amplia-se a dimenso da resis-
tncia presente nos termos quilombos e
quilombolas, os quais passam a ser asso-
ciados a aspectos histricos, culturais e
raciais dos grupos. A afrmao tnica
produz uma nova valorizao da mem-
ria e das prprias histrias vividas: Vo-
cs so quilombo porque sabem contar
a histria do lugar (entrevista com mo-
rador da Comunidade Quilombola do
Angelin, Territrio do Sap do Norte,
Esprito Santo, realizada em 2005).
A memria coletiva traz elementos
que testemunham a pertena territorial
dessas comunidades, como aqueles rela-
cionados sua ancestralidade e ao pero-
do da escravido; s suas formas pecu-
liares de linguagem presentes nas cate-
gorias nativas; aos seus saberes oriun-
dos da observao, leitura e usos do
ambiente; s suas prticas de cura; aos
seus rituais religiosos e festivos; e
s suas redes de parentesco, trocas
e solidariedade.
Essas particularidades histricas,
culturais e sociais comprovam a pre-
sena dos grupos em seus territrios e
constituem elementos representativos
da resistncia negra. Ademais, funda-
mentam a organizao tnica quilombola
ante o Estado brasileiro, exigindo-lhe
polticas de reparao em relao ao pro-
cesso que lhes foi imposto de escravi-
zao, desterritorializao, explorao
e discriminao.
Assim como durante o sistema co-
lonial escravista, a identidade tnica qui-
lombola continua explicitando a situao
de confito historicamente vivenciada
por sujeitos e comunidades negras, que
passam a se organizar enquanto movi-
mento social, visando mudana do
lugar social at ento ocupado por elas
(Porto-Gonalves, 2003). No entanto,
muito alm da caracterizao colonial de
negros fugidos e das determinaes
jurdicas do Estado brasileiro, a identida-
de quilombola caminha na desconstruo
da inferioridade que foi ideologicamente
atribuda pelo sistema colonial a todos
e quaisquer elementos da negritude.
Para saber mais
ALMEIDA, A. W. B. de. Os quilombos e as novas etnias. In: ODWYER, E. C. (org.).
Quilombos: identidade tnica e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.
p. 43-82.
AZEVEDO, C. M. M. de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginrio das elites
sculo XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
Dicionrio da Educao do Campo
652
BARTH, F. Os grupos tnicos e suas fronteiras. In: ______. O guru, o iniciador. Rio
de Janeiro: Contracapa, 2000.
BRASIL. Decreto n 4.887, de 20 de novembro de 2003: regulamenta o procedi-
mento para identifcao, reconhecimento, delimitao, demarcao e titulao
das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que
trata o art. 68 do Ato das Disposies Constitucionais Transitrias. Dirio Ofcial,
da Unio Braslia, 21 nov. 2003. Disponvel em: http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/legis-
lacao/legislacao-docs/quilombola/decreto4887.pdf. Acesso em: 5 out. 2011.
MUNANGA, K. Origem e histrico do quilombo na frica. Revista USP, n. 28,
p. 56-63, dez.-fev. 1995-1996.
ODWYER, E. C. Os quilombos e as fronteiras da antropologia. Antropoltica,
Niteri, n. 19, p. 91-112, 2 sem. 2005.
PORTO-GONALVES, C. W. Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade
seringalista (seringal) territorialidade seringueira (a reserva extrativista). Braslia:
Ibama, 2003.
QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e Amrica Latina. In:
LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e cincias sociais
perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 227-278.
REIS, J. J.; GOMES, F. (org.). Liberdade por um fo: histria dos quilombos no Brasil.
So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
WALSH, C.; GARCA, J. El pensar del emergente movimiento afroecuatoriano:
Refexiones (des)de un proceso. In: MATO, D. (org.). Estudios y otras prcticas intelec-
tuales latinoamericanas en cultura y poder. Caracas: ClacsoCeap, Universidad Central
de Venezuela, 2002. p. 317-326.
WOORTMANN, K. Com parente no se neguceia: o campesinato como ordem
moral. Anurio Antropolgico, v. 69, p. 11-73, 1990.
Q
QUILOMBOS
Renato Emerson dos Santos
O conceito de quilombo encontra-se
em pleno processo de redefnio desde
que se iniciou a aplicao do disposi-
tivo da Constituio Federal de 1988
que prev a titulao das terras para
as comunidades remanescentes de qui-
lombos. A ressemantizao do conceito
ocorre pela convergncia de tradies
discursivas (sobretudo aquelas pela Re-
forma Agrria e antirracismo) que, no
bojo da defnio dos sujeitos de direi-
tos, promove uma releitura do passado
e do presente e da histria e das relaes
sociais que constituem os quilombos.
653
Q
Quilombos
A primeira acepo para o termo
remete aos agrupamentos de fugiti-
vos (negros e, em menor proporo, no
negros) do sistema escravocrata, a par-
tir do passado colonial brasileiro. Nesse
sentido, o quilombo aparece como uma
das formas de resistncia escravido
imposta, sobretudo, a africanos seques-
trados e trazidos para as Amricas.
Essa confgurao na formao
colonial do territrio traz diversos
signifcados e interpretaes para os
quilombos. Eles eram sinnimos de li-
berdade para uns e ameaa (de roubos,
de libertao de escravizados, de guer-
rilhas etc.) para outros. Para muitos
escravos fugidos (e tambm homens li-
vres desprovidos de recursos dentro
da ordem escravocrata), eles represen-
tavam a possibilidade de insero num
sistema de produo e repartio social
mais igualitria, sendo, com isso, um
modelo alternativo de sociedade que
engendrava um confronto com o mo-
delo escravista.
Tais signifcados expressam a diver-
sidade de inseres e relaes territo-
riais dos quilombos dentro da ordem
escravocrata. Havia quilombos em
guerrilha contra fazendas e ncleos de
ocupao, outros estabeleciam com
eles relaes de troca (comercial, social
etc.), outros, ainda, encontravam-se em
situaes de isolamento (relativo ou
absoluto). A onipresena do quilombo
na formao social escravocrata en-
gendrava essa diversidade, bem como
a existncia de quilombos com portes
bastante diferenciados, que iam desde
ncleos com dezenas de habitantes at
outros bastante populosos casos de
Palmares, em Alagoas, ou do Negro
Cosme, no Maranho.
Todas essas menes remetem a
um tipo de quilombo, estruturado
a partir da fuga dos escravos, organiza-
do em torno de atividades produtivas.
Tal concepo de quilombo a indi-
cada pelo Conselho Ultramarino de
Portugal em 1740, que o defne como
toda habitao de negros fugidos, que
passem de cinco, em parte despovoada,
ainda que no tenham ranchos levanta-
dos e nem se achem piles nele. Tal
acepo, segundo Almeida, estrutura-
se em cinco pilares analticos:
1) a fuga; 2) uma quantidade
mnima de fugidos; 3) o isola-
mento geogrfco, em locais de
difcil acesso e mais prximos
de uma natureza selvagem
que da chamada civilizao;
4) moradia habitual, referida no
termo rancho; 5) autoconsu-
mo e capacidade de reproduo,
simbolizados na imagem do pi-
lo de arroz. (1999, p. 14-15)
A partir do artigo n 68 do Ato das
Disposies Constitucionais Transit-
rias da Constituio Federal de 1988,
esse conceito de quilombo comea a
ser redefnido. O enunciado do artigo
diz: Aos remanescentes das comuni-
dades de quilombos que estejam ocu-
pando suas terras reconhecida a pro-
priedade defnitiva, devendo o Estado
emitir-lhes os ttulos respectivos. Esse
dispositivo constitucional vai permitir
que as lutas quilombolas sofram uma
transformao na percepo que a so-
ciedade tem dos quilombos, efetuando-
se uma reconfgurao simblica (com
a atribuio de uma dimenso positiva)
do ser descendente de escravos na qual
se confere relevo dimenso da resis-
tncia escravido.
A nfase na resistncia contraria uma
tese bastante comum na formao es-
colar de grande parte da populao
Dicionrio da Educao do Campo
654
brasileira: a de que os africanos foram
escolhidos como fora de trabalho por
se adaptarem e, em certa medida, acei-
tarem a escravido, diferentemente do
indgena, que no a aceitava e fugia.
Essa verso alimentava, no cotidiano
escolar, a reproduo de esteretipos
pejorativos nos educandos negros e
contribua para a sustentao do racis-
mo na escola. Alm disso, a meno
quilombagem, no raro, remetia apenas
ao Quilombo dos Palmares, como se
ele fosse o nico (e exceo) em toda a
formao escravocrata.
Grande parte da populao brasilei-
ra, portanto, desconhecia o fenmeno
da quilombagem, e a Constituio de
1988 abre o caminho para a conscien-
tizao sobre a no aceitao da condi-
o imposta de escravido, mostrando
a resistncia e a luta como intrnsecas
aos escravizados. O quilombo reemer-
ge, ento, como smbolo de lutas dos
negros (no passado e no presente),
signifcado que vinha sendo constru-
do pelo movimento negro brasileiro
o jornal O Quilombo, organizado por
Abdias do Nascimento na dcada de
1940, e a eleio do dia 20 de novem-
bro, data do assassinato do lder Zumbi
dos Palmares, como Dia da Conscin-
cia Negra, so exemplos dessa cons-
truo pelo movimento social.
A aplicao do preceito constitu-
cional vai ensejar disputas acerca de
interpretaes sobre os quilombos,
processo no qual ocorre uma redef-
nio e um alargamento conceitual.
O deslocamento do alcance do con-
ceito de expresso de uma forma de
organizao e existncia no passado
para defnidor de direitos no presente
impulsiona uma releitura da formao
do territrio brasileiro e, nesse sentido,
constitui novas formas de articulao
entre passado e presente o que cria
novas possibilidades de futuro para as
comunidades quilombolas. As defni-
es que vo surgindo, e que ressal-
tam a formao de sujeitos coletivos,
processos identitrios, territorialidades
e de patrimnio cultural, entre outros
aspectos mobilizados como traos dia-
crticos constituintes de sujeitos de
direitos, retiram da histria o monop-
lio na instituio de representaes do
que ou no quilombo.
Essa perda do monoplio no
ruptura com fatos histricos, mas sim
reelaborao de leituras da histria,
permitindo emergir o que muitas vezes
era ocultado. Assim, alm das comuni-
dades e ncleos formados a partir da
fuga, ganha importncia histrica a
multiplicidade de processos originrios
de comunidades negras engendradas
por e com base nas relaes de escravi-
do: comunidades surgidas em antigas
senzalas e em fazendas abandonadas,
ou por heranas, doaes ou direito
de uso conferidos por proprietrios
com o fm da escravido, bem como
a compra de terra durante e depois da
escravido, so apenas alguns exemplos
da origem de comunidades relacionadas
com a ordem escravocrata (durante sua
vigncia ou em seu processo de derro-
cada). Ignorar tais processos ou negar
s comunidades assim geradas a con-
dio de sujeitos de direitos coletivos
ruptura com o fato histrico de que,
dentro da ordem escravocrata, muitas
vezes existia mais continuidades do
que isolamento entre elas e os quilom-
bos formados por fuga.
O que se impe a compreenso
de processos sociais que engendram
formas espaciais que podem durar mais
do que eles prprios, transformando-
se em rugosidades no espao. Essas
formas no apenas se mantm, mas,
pela sua propriedade de inrcia di-
655
Q
Quilombos
nmica (so prticos inertes), so re-
funcionalizadas por novos processos
espaciais que elas tambm infuenciam.
A ressignifcao do passado escravo-
crata, ao tomar em conta a dimenso
processual do fm da escravido (em
vez de operar com a ideia de que ela
foi extinta numa mesma data, em todo
o territrio nacional), deve ento in-
corporar seus legados e continuidades
na transio para o trabalho livre, e
observar as formas de insero das co-
munidades negras na nova ordem. Nas
ltimas dcadas antes do ano de 1888,
data ofcial da abolio da escravatura,
bem como nas dcadas seguintes, o
Brasil, a exemplo de outros pases nas
Amricas, experimentou um projeto
de branqueamento da populao. Tal
projeto, executado com descontinuida-
des no espao e no tempo, teve como
uma de suas dimenses constitutivas a
difuso de um iderio de superioridade
racial do branco sobre os no brancos,
o que ajudou a organizar os mercados
de trabalho livre (assalariado ou no)
segundo hierarquias raciais. Com isso,
a assimilao inferiorizante de popu-
laes negras (nos espaos agrrios e
urbanos) na sociedade de classes trou-
xe como marcas a discriminao, a des-
qualifcao (de indivduos, de grupos,
de patrimnios culturais, de formas
comportamentais etc.) e a segregao
de base racial.
Tais processos engendraram e con-
solidaram comunidades negras, ru-
rais e urbanas, e grafagens espaciais dos
padres de relaes raciais hierrquicos
da sociedade brasileira ps-abolio da
escravatura. A ideologia do racismo
foi assim refuncionalizada no sculo
XX, seja dentro do projeto nacional
agrari st a- expor t ador- i mi grant i st a
(Vainer, 1990), seja no processo de
industrializao (compreendido como
a forma hegemnica das relaes
capitalistas) e sua extenso ao cam-
po, a chamada modernizao (social)
da agricultura.
A racializao das relaes sociais
emerge, portanto, como mais uma
dimenso de dominao, explorao
e dominao. No campo, a emer-
gncia dos quilombolas, enquanto
modalidade de campesinato negro
(Gomes, F. S., 2006) que se enuncia
como sujeito coletivo, evidencia que
a no considerao da racialidade nas
relaes de espoliao , na verdade,
um alisamento analtico do territrio
(Deleuze e Guattari, 1997), no con-
templando a gama de relaes que
constituem as condies concretas
das experincias cotidianas de indi-
vduos e grupos. Se ao nos remeter-
mos ao passado podemos pensar os
quilombos como sendo a expresso
da luta de classes entre senhores e
escravos, na contemporaneidade eles
aparecem como expresso da multipli-
cidade de hierarquias constitutivas do
sistema capitalista assim como o g-
nero, a cultura, a religiosidade e a clas-
se, entre outras (Grosfoguel, 2010).
A prpria racialidade das relaes
sociais no padro brasileiro deve ser com-
preendida como um fenmeno multi-
dimensional. Raa um fenmeno e
conceito social, no biolgico (Quijano,
2007). Na condio de reguladora de
comportamentos e relaes, a raa no
uma varivel social independente em
absoluto, estando comumente associa-
da a outras variveis. dessa forma que
o racismo se manifesta nas experin-
cias concretas de indivduos e grupos,
em diferentes eixos de discriminao:
pela cor/fentipo corpreo, pela cultu-
ra, pela religiosidade, por prticas cul-
turais, por saberes, entre outros. Isso
explica a pluralidade (de organizaes
Dicionrio da Educao do Campo
656
e de agendas) da luta antirracismo do
movimento negro brasileiro e permite
compreender a luta quilombola como
interseo entre o antirracismo e a luta
pela democratizao do acesso terra
(no campo e na cidade).
Os quilombos esto inseridos no
fuxo da luta antirracismo, sendo a pr-
pria promulgao do Ato das Disposi-
es Constitucionais Transitrias, que
lhes confere o direito titulao, parte
dessa luta resultado e condio da
sua confgurao atual. A complexida-
de da luta do movimento negro, com
suas variantes, vai permitir a multipli-
cidade de dilogos em convergncia
na luta quilombola, com intercmbios
de problemticas, bandeiras e agendas de
luta e reivindicaes. O alargamento
do escopo da luta quilombola, de uma
luta pela titulao da terra para uma lu-
ta pelo territrio se d nessa imbrica-
o de mltiplas dimenses: lutar pelo
territrio signifca buscar manter (e,
mesmo, reconstituir) prticas, saberes,
sociabilidades, formas de relao com
a natureza e patrimnios culturais e
histricos (memrias), entre outros
aspectos inerentes aos processos de
territorializao de cada grupo (Arruti,
2002). Em cada comunidade, tais agen-
das assumem confguraes variadas,
com maior ou menor peso, mas a ar-
ticulao das comunidades em luta
evidencia a importncia da dimenso
territorial dos quilombos.
A opo de reivindicao da titula-
o coletiva, em vez do parcelamento
individual de propriedades, parte da
luta pelo territrio. A valorizao de
prticas e regimes fundirios em ampla
medida baseados no uso comum re-
sultado e condio das territorialidades
construdas no seio das comunidades:
a coletividade e a comunalidade como
condies para a vida, em oposio
valorizao da individualidade. Isso se
remete diretamente a origens comuns,
dadas pela ancestralidade africana
e/ou pelos laos sanguneos entre os
membros do grupo. A memria de um
ancestral comum (matriarca, patriarca,
uma famlia ou um conjunto pequeno
de ncleos familiares originrios, di-
menso de origem que substitui o tem-
po histrico por um tempo mtico)
trao diacrtico demarcador de identi-
dade que, na verdade, equilibra hierar-
quias entre os indivduos no presente e
refora a supremacia do coletivo sobre
as individualidades.
Os processos de reconfgurao
identitria quilombola compreendem a
reproduo das formas de existncia,
a transmisso de patrimnio cultural,
a valorizao da origem comum e dos
laos sanguneos, entre outros, de ma-
neira que o grupo reconstitui e mantm
sua memria do passado para (re)ela-
borar sua existncia tnica no presen-
te. Dissociar tais dimenses da forma
como encaminhada a luta pela terra
(titulao coletiva) bloqueia a percep-
o de que esse campesinato negro vive
experincias diferenciadas no capitalis-
mo brasileiro, e tem na valorizao de
suas matrizes de relaes sociais (cultu-
rais, de ancestralidade, de africanidades,
entre outras) estratgias fundamentais
de resistncia e sobrevivncia.
Trao marcante dessa luta pelos
territrios quilombolas a manuten-
o e a valorizao de relaes com a
natureza, que aparecem, entre outras,
em prticas etnobotnicas e agroe-
colgicas (Gomes, A., 2009), que se
particularizam e singularizam na articu-
lao sistmica da vida de quilombolas:
plantas e plantios associam dimenses
como religiosidade, ritos e manifestaes
657
Q
Quilombos
culturais, alimentao, esttica (do inte-
rior e/ou do exterior da casa, da rua ou
da comunidade), medicina e mesmo
atividades econmicas. Uma mesma
planta pode cumprir vrias dessas (e
mesmo outras) funes, evidencian-
do a indissociabilidade delas para a vida
nessas matrizes de relaes sociais. Isso
no elimina valorizaes mais especf-
cas dentro de sistemas de saberes que
vo defnir algumas espcies mais como
plantas litrgicas utilizadas em ri-
tuais ou integradas ao cotidiano (por
exemplo, como proteo na porta de
casas) , plantas de cura/medicinais,
que podem estar num quintal, na rua
ou numa rea vazia, de uso coletivo, ou
plantas alimentares, entre outras.
Essas relaes so reproduzidas e
mantidas por redes de saberes transmi-
tidos oralmente, por ritos religiosos/
culturais ou pela prpria observao de
exemplos de usos. assim que se cons-
titui um entrelaamento entre diversi-
dade biolgica e diversidade cultural,
com heterogneas misturas de espcies
que j compunham etnobotnicas afri-
canas e espcies autctones, presentes
em grotes, matas ciliares e outros am-
bientes de territorializao de comu-
nidades quilombolas. A manuteno
desses costumes e tradies base para
sustentos, para a reproduo do gru-
po enquanto coletividade (reproduo
material, simblica), mas tambm, ine-
quivocamente, forma de resistncia
s mltiplas dimenses do capitalismo.
Por exemplo, a preservao de uma
etnobotnica de origem africana por
meio das chamadas farmcias vivas
permite a manuteno do controle so-
bre a sade e o bem-estar, controle que
vem sendo expropriado pela indstria
farmacutica como resultado da apro-
priao de saberes, do seu monoplio
e dos epistemicdios. Manter e utilizar
plantas medicinais resistir a uma
dimenso de alienao do capital con-
cernente relao homemnatureza,
aquilo que Milton Santos denominou
avano do meio tcnico-cientfco-
informacional (Santos, 2002). tam-
bm uma contraposio forma mo-
derno-colonial e eurocntrica de mane-
jo da agricultura, de homogeneizao
de cultivos e espcies, e de valorizao da
dimenso comercial das plantas em de-
trimento de outras dimenses da vida.
no seio dessa complexidade de
formas de territorializao e insero
socioespacial das comunidades que
so engendradas lutas, resistncias,
processos identitrios... Os quilom-
bos passam a representar uma mo-
dalidade de representao de uma
existncia coletiva (Almeida, 1999,
p. 18). A condio de remanescente
no deve, portanto, considerar apenas
uma forma de existncia no passado;
deve levar em conta a multiplicidade
de formas do presente.
Para saber mais
ALMEIDA, A. W. de. Os quilombos e as novas etnias. In: LEITO, S. (org.). Direitos
territoriais das comunidades negras rurais. So Paulo: Instituto Socioambiental, 1999.
p. 5-18.
ARRUTI, J. M. Territrios negros. Koinonia. Territrios Negros Egb: Relatrio
Territrios Negros. Rio de Janeiro: Koinonia, 2002.
Dicionrio da Educao do Campo
658
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil plats capitalismo e esquizofrenia. So Paulo:
Editora 34, 1997. V. 5.
GOMES, A. Rotas e dilogos de saberes da etnobotnica transatlntica negro-africana: terrei-
ros, quilombos, quintais da Grande BH. 2009. Tese (Doutorado em Geografa)
Programa de Ps-Graduao em Geografa, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2009.
GOMES, F. S. Histrias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio
de Janeiro, sculo XIX. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
GROSFOGUEL, R. Para descolonizar os estudos de economia poltica e os estudos
ps-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global.
In: SANTOS, B. de S.; MENESES, M. P. (org.). Epistemologias do Sul. So Paulo: Cortez,
2010. p. 455-491.
QUIJANO, A. O que essa tal de raa? In: SANTOS, R. E. (org.). Diversidade, espao
e relaes tnico-raciais: o negro na geografa do Brasil. Belo Horizonte: Autntica,
2007. p. 43-52.
SANTOS, M. A natureza do espao. So Paulo: Edusp, 2002.
VAINER, C. B. Estado e raa no Brasil. Notas exploratrias. Estudos Afro-Asiticos,
Rio de Janeiro, n. 18, p. 103-118, 1990.
659
R
R
REFORMA AGRRIA
Joo Pedro Stedile
Reforma Agrria um programa de
governo que busca democratizar a pro-
priedade da terra na sociedade e garantir
o seu acesso, distribuindo-a a todos que a
quiserem fazer produzir e dela usufruir.
Para alcanar esse objetivo, o prin-
cipal instrumento jurdico utilizado em
praticamente todas as experincias exis-
tentes a desapropriao, pelo Estado,
das grandes fazendas, os LATIFNDIO,
e sua redistribuio entre campone-
ses sem-terra, pequenos agricultores
com pouca terra e assalariados rurais
em geral.
H, no entanto, diversas formas de
obteno de terra pelo Estado, para
eliminar a grande propriedade. A pri-
meira e mais usada o instrumento da
desapropriao. Estabelecidos os crit-
rios de classifcao de latifndios e/ou
grandes propriedades que devem ser
repartidos, o governo emite um de-
creto desapropriando, ou seja, trans-
ferindo a propriedade privada daquela
rea do fazendeiro/proprietrio capita-
lista para o Estado. Para haver essa
transferncia de titularidade, o gover-
no indeniza o ex-proprietrio mediante
critrios de valores defnidos pelas leis
de cada pas. Esses valores podem ser
simblicos ou podem ser os mesmos
preos praticados no mercado. Feita
a transferncia da propriedade da fa-
zenda para o Estado, ele organiza um
projeto de distribuio daquela terra
s famlias de agricultores sem-terra da
regio que assim o reivindicarem.
O segundo instrumento a expro-
priao ou confsco. quando a titu-
laridade da propriedade dos grandes
fazendeiros transferida para o Estado
sem nenhuma indenizao ou pagamen-
to de valores. Essa situao depende
da legislao existente em cada pas, e
uma punio por irregularidades pra-
ticadas pelo fazendeiro.
H casos intermedirios em que
o governo no paga pelas terras, mas
indeniza o proprietrio pelas benfei-
torias que porventura haja na fazenda,
como casas, galpes, cercas. No Brasil,
tem ocorrido essa situao quando os
fazendeiros entram em terra pblica,
sem que possuam o direito legal sobre
elas; o governo, ento, retira-os da ter-
ra pblica, indenizando as benfeitorias
que tenham feito.
No caso brasileiro, a desapropria-
o se d por meio de um decreto que
transfere de forma compulsria a
propriedade das terras para o Estado,
mediante indenizao. Existe ainda
a modalidade de compra negociada
com o fazendeiro (decreto n 433, de
24 de janeiro de 1992), em que se ne-
gociam valores de indenizao sem
que haja necessidade de decreto desa-
propriatrio. A possibilidade de confs-
co, que no prev qualquer pagamento,
ocorre, no Brasil, no caso de fazendas
utilizadas para contrabando, atividades
do narcotrfico ou plantio de plan-
tas psicotrpicas como a maconha,
por exemplo.
Dicionrio da Educao do Campo
660
H dez anos aguarda votao na
Cmara dos Deputados a proposta de
emenda constitucional n 438/2001,
j aprovada no Senado, que imporia a
expropriao e o confsco de todas as
fazendas em que for encontrado regi-
me de trabalho anlogo escravido.
A bancada dos parlamentares ligados
ao latifndio tem impedido a votao
desse projeto.
Projetos de colonizao
Em diversos pases pouco povoa-
dos e onde existe enormes reas dis-
ponveis que ainda so de domnio
pblico ou de propriedade do Estado,
foram aplicados programas de dis-
tribuio dessas terras para uso dos agri-
cultores. As terras so pblicas, no h
ainda propriedade privada, esto desa-
bitadas ou muitas vezes os governos as
apropriam das populaes nativas, po-
vos indgenas que nelas habitavam por
tempos imemorveis. Foi o que aconte-
ceu, por exemplo, na distribuio das
terras do Oeste dos Estados Unidos
entre 1862 e 1910, e o que acontece no
Brasil at hoje, com a distribuio das
terras pblicas da Amaznia Legal, em
projetos de colonizao.
Muitos governos fazem programas
de distribuio dessas reas para agri-
cultores, transformando-os ento em
proprietrios privados. A distribuio
dessas terras constitui projetos de co-
lonizao, que so diferentes dos pro-
gramas de Reforma Agrria, pois estes
implicam a democratizao da terra e a
eliminao do latifndio.
Tipos de Reforma Agrria
Ao longo da histria moderna, mas,
sobretudo, a partir do desenvolvimento
do capitalismo industrial, muitos pases
e governos implementaram programas
de Reforma Agrria. Esses programas,
que surgiram ainda no sculo XIX, ti-
nham como objetivo garantir o direito
terra e construir sociedades mais de-
mocrticas, procedendo-se uma distri-
buio mais justa de um bem da natu-
reza que, a rigor, deveria ser de toda a
populao que vive naquele territrio.
As caractersticas e a natureza dos
processos de distribuio de terra e
desapropriao dos latifndios variam
muito nos diferentes pases, dependen-
do das circunstncias histricas e das
condies geogrfcas e edafoclim-
ticas
1
de cada pas. Assim, com base
nas diversas experincias de Reforma
Agrria ocorridas em todo o mundo,
pode-se aglutin-las e classifc-las em
diferentes tipos de Reforma Agrria.
Para efeito deste Dicionrio, vamos
procurar descrev-las de forma sucin-
ta; o leitor/estudioso dever buscar li-
teratura especializada para aprofundar-
se na compreenso das caractersticas e
detalhes de cada experincia concreta
em determinado pas.
Reforma Agrria clssica
Assim so considerados aqueles pro-
gramas de governo para desapropria-
o e distribuio massiva de terras que
ocorreram durante o processo de in-
dustrializao. Esse tipo de Reforma
Agrria foi o primeiro realizado pelo
Estado burgus. Sua caracterstica prin-
cipal o fato de essas reformas terem
sido feitas com legislao aplicada por
governos da burguesia industrial. O
objetivo principal desses governos era
aplicar o direito republicano e demo-
crtico de garantir a todos os cidados
o acesso terra e tambm desenvolver
661
R
Reforma Agrria
o mercado interno para a indstria, com
a distribuio de terra e renda aos cam-
poneses at ento desprovidos de bens.
Em geral, todas as experincias de
Reforma Agrria clssica foram mas-
sivas e amplas. Ou seja, estabeleceram
um limite mximo de tamanho da pro-
priedade rural e desapropriaram todas
as fazendas acima desse limite. Por outra
parte, procuraram distribuir e atender a
todas as famlias de camponeses que qui-
sessem trabalhar na terra.
Do ponto de vista poltico, sua
aplicao representou uma aliana en-
tre a burguesia industrial e comercial
e os camponeses contra os interesses
da oligarquia rural, que concentrava a
propriedade da terra.
As reformas agrrias clssicas tive-
ram incio nos pases industrializados
da Europa Ocidental, em meados do
sculo XIX, e se estenderam at o ps-
Segunda Guerra Mundial.
Pode-se considerar que a lei de ter-
ras do governo Abraham Lincoln, nos
Estados Unidos, promulgada no meio
da guerra civil, em 1862, tambm foi
uma Reforma Agrria clssica. Essa
lei garantiu a todos os cidados que
morassem no territrio dos Estados
Unidos o direito de acesso a 100 acres de
terra (o equivalente a mais ou menos
80 hectares). Nem mais, nem menos. E
isso era autoaplicvel pelos prprios ci-
dados. O objetivo era quebrar o poder
econmico do latifndio escravocrata
do Sul e buscar uma justa distribui-
o das terras da fronteira agrcola do
Oeste, extorquidas dos povos indge-
nas, mediante a sua eliminao ou pelo
confnamento em reservas. Apesar des-
sa origem, essa lei benefciou mais de
6 milhes de famlias de agricultores
de 1862 a 1910. E distribuiu mais de
300 milhes de hectares de terras.
Entre a Primeira e a Segunda Guerras
Mundiais, cerca de 20 pases da Europa
Oriental aplicaram leis de Reforma
Agrria, por meio de governos das bur-
guesias locais que distriburam terras
aos camponeses. Nesse caso, suspeita-
se que a motivao principal no era o
desenvolvimento do mercado interno,
pois eram pases de baixo nvel indus-
trial, mas sim o medo de que a Revolu-
o Russa de 1917 se alastrasse para os
pases vizinhos.
Depois da Segunda Guerra Mun-
dial, as foras militares intervencionis-
tas dos Estados Unidos promoveram
leis de Reforma Agrria em alguns pa-
ses da sia por eles invadidos e con-
trolados durante a guerra. E assim, a
manu militari, foram feitas reformas
agrrias amplas no Japo, nas Filipinas
e na provncia chinesa de Taiwan, que,
por ser uma ilha, foi protegida pelas
foras armadas norte-americanas da
revoluo popular maosta. Aps 1956,
fez-se uma Reforma Agrria tambm
na Coreia do Sul.
Reforma Agrria anticolonial
Durante os processos de indepen-
dncia poltica das colnias da Amrica
Latina, houve tambm algumas expe-
rincias de Reforma Agrria. Foram
promovidas no contexto de uma nova
ordem poltica de vocao nacionalis-
ta que tratou de desapropriar as terras
dos latifundirios subalternos s me-
trpoles, distribuindo-as entre os cam-
poneses sem-terra locais.
A maior de todas as experincias
desse tipo foi a do Haiti, realizada a
partir de 1804. Ela foi muito importan-
te para a populao haitiana, pois com-
binou a libertao da escravido do
jugo poltico francs com a implantao
Dicionrio da Educao do Campo
662
da repblica e a distribuio massiva da
terra aos camponeses, ex-escravos.
No Paraguai, durante o governo re-
publicano de Jos Gaspar de Francia,
no perodo de 1811 a 1816, tambm
houve, at seu governo progressista ser
derrubado do poder pelas foras locais
conservadoras, um intento de Reforma
Agrria, com distribuio de terras aos
camponeses de origem guarani, porm
de forma limitada.
E no Uruguai, durante o governo de
Jos Artigas, a partir de 1811, houve um
intento, mais limitado ainda, de distri-
buio de terras aos camponeses criollos,
em terras de estancieiros espanhis.
Reforma Agrria radical
Caracteriza-se pela tentativa da
erradicao do latifndio e pela dis-
tribuio da terra realizada pelos pr-
prios camponeses. Esses processos
excluram a necessidade de o Estado
burgus criar leis de Reforma Agrria,
realizando-se no bojo de revoltas po-
pulares mais amplas.
O primeiro exemplo histrico de
Reforma Agrria radical o da Revo-
luo Mexicana, ocorrida de 1910 a
1920, quando os camponeses, liderados
por Pancho Villa no norte e Emiliano
Zapata no sul, armaram-se e, sob o
lema Terra para quem nela trabalha,
distriburam as terras entre si, expul-
sando ou fuzilando os latifundirios.
Mesmo com a Revoluo Mexicana
derrotada e seus lderes mortos, a bur-
guesia nacional que tomou o poder ao
fnal teve de respeitar a distribuio das
terras que fora feita sem a lei e sem a
normatizao do Estado.
A segunda experincia a Revo-
luo Popular na Bolvia, entre 1952
e 1954, quando, repetindo o caso me-
xicano, os camponeses se armaram,
marcharam sobre a capital La Paz, im-
puseram um governo revolucionrio e,
ao longo desse processo, expropriaram
todas as grandes propriedades e as dis-
triburam entre si, sem lei e sem o po-
der do Estado. Nesse caso, a histria se
repetiu. A revoluo foi derrotada, os
camponeses voltaram para as suas co-
munidades, mas o novo poder poltico
respeitou a distribuio das terras feita
durante o processo.
Reforma Agrria popular
Consiste na distribuio massiva de
terras a camponeses, no contexto de pro-
cessos de mudanas de poder nos quais
se constituiu uma aliana entre governos
de natureza popular, nacionalista, e os
camponeses. Desses processos resulta-
ram leis de Reforma Agrria progressis-
tas, populares, aplicadas combinando-se
a ao do Estado com a colaborao dos
movimentos camponeses.
Onde esse tipo de Reforma Agrria
ocorreu, ele no afetou necessariamen-
te o sistema capitalista, e seu grau de
abrangncia esteve relacionado com os
processos de mudanas sociais, econ-
micas e polticas havidas em cada pas.
Algumas dessas reformas tiveram re-
sultados que perduram at os dias de
hoje, outras foram derrotadas e os fa-
zendeiros desapropriados recuperaram
suas terras.
H muitos exemplos desse tipo de
Reforma Agrria. Citamos aqui apenas
os casos mais notrios ou que tiveram
maior infuncia sobre outros pases e
governos. A mais importante experin-
cia de Reforma Agrria popular foi
a que ocorreu durante o processo da
Revoluo Chinesa, no perodo que vai
663
R
Reforma Agrria
de 1930 a 1950. Na medida em que o
Exrcito Vermelho e o Partido Comu-
nista iam liberando territrios, eram
tambm aplicados processos de distri-
buio de terras, que uniam o poder do
governo revolucionrio, popular, com
os camponeses, que tambm estavam
engajados no Exrcito Vermelho. O
objetivo principal era garantir terra a
todos os camponeses que viviam nos
povoados rurais, base da organizao
social do interior da China e, por meio
dela, trabalho para todos, eliminando-
se as rendas pagas aos latifundirios e
criando-se condies para a produo
de alimentos para todos.
Na dcada de 1950, houve expe-
rincias de Reforma Agrria popular
nas margens do rio Nilo, durante o
Governo Nasser, no Egito; e no nor-
te do Vietnam, nas reas liberadas dos
franceses. Existiu ainda a tentativa de
Reforma Agrria na Guatemala no cur-
to espao do governo de Jacobo Arbenz
(1951-1954).
Depois, na dcada de 1960, tivemos
as experincias mais conhecidas de
Cuba, que, ao longo de sua histria, fez
trs Reformas Agrrias, com natureza
e amplitude diferentes, mas a primei-
ra, logo aps a Revoluo Popular de
1959, teve uma natureza essencialmen-
te popular. A outra experincia, mais
recente, foi a da Revoluo Sandinista,
na Nicargua, entre 1979 e 1989, que
tambm desenvolveu um processo de
Reforma Agrria popular.
Reforma Agrria parcial
Logo aps a Segunda Guerra Mun-
dial, com a efervescncia da luta de
classes e o reascenso de movimentos
revolucionrios em diversos pases da
Amrica Latina, frica e sia, os go-
vernos locais, de cunho burgus e alia-
dos do imperialismo, obrigaram-se a
implantar polticas de Reforma Agrria.
Estas, no entanto, em geral no tiveram
um carter massivo e amplo, uma vez
que esses governos tambm eram com-
postos pelas oligarquias rurais.
O Governo Kennedy, nos Estados
Unidos, durante a dcada de 1960, che-
gou a fazer presses para que governos
conservadores seus aliados implan-
tassem polticas de Reforma Agrria,
como forma de conter o mpeto de
mudanas que havia no continente. Seu
governo props a necessidade de re-
formas agrrias clssicas, numa famo-
sa conferncia realizada em Punta del
Este, no Uruguai, em 1961, pois ima-
ginava que, sendo a maior parte da po-
pulao rural, uma Reforma Agrria
poderia produzir reformas que evitas-
sem mudanas mais radicais, como ha-
via ocorrido recentemente em Cuba.
Nessa conferncia, criou-se o Insti-
tuto Interamericano de Cincias Agr-
rias (IICA), com sede na Costa Rica,
que tinha por objetivo servir de re-
taguarda a esses processos. Assim,
houve alguns intentos de Reforma
Agrria em alguns pases, porm par-
ciais, no atingindo a maioria dos lati-
fndios, e poucas famlias camponesas
foram benefciadas.
Pode-se incluir nessas experincias
diversos casos de Reforma Agrria
ocorridos na Amrica Latina no pe-
rodo 1964-1970, como as do Chile,
durante o governo de Eduardo Frei
(1964-1970), do Peru, durante o gover-
no militar de Velasco Alvarado (1968-
1975) e do Equador (1963-1966) e de
Honduras (1963-1980), governados
por juntas militares. A Reforma Agr-
ria mexicana realizada durante o gover-
no do general Lzaro Crdenas (1934-
Dicionrio da Educao do Campo
664
1940) teve certa amplitude; foi dirigida
pelo governo progressista, mas no
conseguiu atender a todas as famlias
de camponeses sem-terra.
Reforma Agrria de
liberao nacional
Experincias ocorreram basica-
mente nos pases da frica, a partir da
dcada de 1960, durante o processo de
luta pela independncia e descoloni-
zao. No contexto dessas vitrias, a
maioria dos governos se apoderou das
terras utilizadas, de propriedade de
colonos europeus, em geral fazendei-
ros capitalistas brancos. Essas terras
foram ento distribudas das mais di-
ferentes formas para as comunidades e
lderes tribais. Em alguns casos, foram
seguidos critrios mais democrticos
que procuravam atender a todos os
camponeses que quisessem terra.
Os casos que tiveram maior ampli-
tude foram os processos de liberao
nacional e distribuio de terras na
Tanznia, Moambique, Angola, Guin-
Bissau, Congo, Lbia e Arglia. No
entanto, houve tambm processos
de liberao nacional em que, depois da
independncia, os novos governantes
fzeram acordos com os fazendeiros
capitalistas brancos e no distriburam
a terra aos camponeses, como acon-
teceu no Qunia, no Zimbabwe e na
frica do Sul.
Reforma Agrria socialista
Realizada em diversos pases no
contexto de processos revolucionrios
que buscavam tambm a superao do
capitalismo e a construo do modo de
produo socialista.
As reformas agrrias socialistas se
baseiam no princpio de que a terra
pertence a toda a nao. Portanto, no
pode existir propriedade privada da
terra, nem compra e venda de terra. E
o Estado organiza as diversas formas
de uso e propriedade social das terras.
As formas sociais de uso e propriedade
mais adotadas foram o associativismo
de base, em pequenos grupos de fam-
lias, empresas sociais autogestionrias,
cooperativas de produo e empre-
sas estatais. Cada pas, de acordo com
suas condies objetivas e subjetivas,
teve a predominncia de uma ou outra
forma de propriedade social.
Nos processos de Reforma Agrria
socialista, a produo foi planejada pelo
Estado de acordo com as necessidades
de toda a sociedade e induzida para ser
aplicada pelas diferentes formas de or-
ganizao da produo e da terra.
Os casos mais conhecidos desse
tipo de Reforma Agrria foram as ex-
perincias na Rssia, em especial no
perodo do governo de Josef Stalin
(1924-1953), mas houve tambm expe-
rincias na Iugoslvia, Coreia do Norte,
Alemanha Oriental, Ucrnia e outros
pases do chamado bloco sovitico.
A China tentou fazer uma Reforma
Agrria socialista durante o perodo da
Revoluo Cultural, na dcada de 1960,
mas ela foi infrutfera; depois, nos anos
1980, o pas voltou s origens, com a
Reforma Agrria popular. Cuba tambm
tentou avanar para uma Reforma Agr-
ria socialista a partir de 1975, estimulan-
do novas foras coletivas de produo e
ampliando o peso das empresas estatais
no campo, em especial na produo da
cana-de-acar; porm, depois da crise
de 1989, voltou aos processos anterio-
res de Reforma Agrria popular.
665
R
Reforma Agrria
Poltica de assentamentos rurais
So aqueles programas de governo
que procuram distribuir terras a fam-
lias de camponeses, utilizando-se da
desapropriao ou compra da terra dos
fazendeiros. So, porm, limitados na
abrangncia e no afetam a estrutura
da propriedade da terra (ver ASSENTA-
MENTO RURAL).
So polticas parciais, que atendem
aos camponeses, mas no so massivas,
e por isso funcionam mais para resol-
ver problemas sociais localizados ou
atender populaes mobilizadas que
pressionam politicamente o governo.
O governo dos Estados Unidos,
principalmente, tem estimulado essa
poltica em muitos pases, mediante
aes e recursos do Banco Mundial,
que ajuda a fnanciar a compra de ter-
ras dos fazendeiros. Os programas do
Banco Mundial fcaram conhecidos
como CRDITO FUNDIRIO, Banco da
Terra etc. e foram aplicados nos pases
de maior tenso na disputa pela terra,
como Brasil, Filipinas, frica do Sul,
Guatemala, Colmbia e Indonsia.
A Reforma Agrria no
Brasil
Com base na defnio de Refor-
ma Agrria e nas tipologias ocorridas
nas experincias histricas dos povos,
pode-se concluir que no Brasil nun-
ca houve um processo de Reforma
Agrria. Por isso, a concentrao da
propriedade da terra aumenta a cada
ano, como resultado da lgica de acu-
mulao do capital. Os ndices de Gini
2
relativos a 2006, medidos pelo censo
agropecurio do Instituto Brasileiro de
Geografa e Estatstica (IBGE) revela-
ram que a concentrao maior agora
do que em 1920, quando o pas havia
acabado de sair da escravido.
Durante o Governo Joo Goulart
(1961-1964) houve uma tentativa de
Reforma Agrria clssica, pregada para
toda a Amrica Latina pela Comisso
Econmica das Naes Unidas para a
Amrica Latina (Cepal) e expressa no
projeto organizado pelo ento minis-
tro do Planejamento Celso Furtado.
No entanto, logo aps o anncio do
envio do projeto de lei ao Congresso,
o governo foi derrubado (1 de abril
de 1964).
Seguiram-se vinte anos de regime
militar, que priorizou apenas progra-
mas de colonizao, distribuindo as
terras pblicas na fronteira agrcola
da Amaznia Legal para camponeses
sem-terra e, sobretudo, para grandes
fazendeiros e empresas capitalistas do
Centro-Sul.
A partir de 1984-1985, foi retoma-
do o regime democrtico, com o res-
surgimento dos movimentos sociais
camponeses. At o momento, porm,
no houve acmulo sufciente de for-
as polticas para implementar progra-
mas massivos de Reforma Agrria, in-
dependentemente de sua natureza.
H ainda diversas polmicas na so-
ciedade brasileira em relao ao tema
da Reforma Agrria: elas aparecem na
imprensa, no governo, na academia e
mesmo entre os movimentos sociais do
campo. Primeiro, a expresso Refor-
ma Agrria continua sendo utilizada
no Brasil apenas como sinnimo de
desapropriao de alguma fazenda e
da poltica de assentamentos rurais.
A segunda polmica sobre haver ou
no necessidade de uma verdadeira Re-
forma Agrria. As foras conservado-
Dicionrio da Educao do Campo
666
ras presentes no governo, na impren-
sa e na academia defendem a ideia de
que o Brasil j resolveu seu problema
agrrio; portanto, no h necessidade
de uma Reforma Agrria do tipo cls-
sico. Do ponto de vista do capitalis-
mo, agora em sua fase de dominao
pelo capital fnanceiro e pelas empresas
transnacionais, de fato, no h neces-
sidade de democratizao da propriedade
da terra como fator indutor do desen-
volvimento do mercado interno e das
foras produtivas no campo, como o
caso na fase do capitalismo industrial.
H, no entanto, na sociedade bra-
sileira, foras populares e sociais que
defendem ainda a possibilidade de uma
Reforma Agrria clssica como a pre-
vista no projeto de Celso Furtado du-
rante a dcada de 1960. Para esses seto-
res, no Brasil, h ainda a possibilidade
e a necessidade de uma Reforma Agr-
ria do tipo clssico, pois existem em
torno de 120 milhes de hectares de
terra considerados grandes proprie-
dades improdutivas e que, portanto,
no desempenham a sua funo social.
E seria possvel, sem afetar as reas
dominadas pelo capital e pelo agrone-
gcio, desapropriar essas fazendas e
distribu-las aos camponeses sem-terra
visando-se gerao de emprego, ao
desenvolvimento do mercado interno
e soluo do problema social dos mi-
lhes de trabalhadores sem-terra. Ela,
porm, no feita por falta de vonta-
de poltica da burguesia industrial bra-
sileira, que no v necessidade, pelos
motivos elencados anteriormente, de
apoiar uma Reforma Agrria clssica
que elimine o latifndio da realidade
agrria brasileira. At porque, o capita-
lismo brasileiro mesclou nas empresas
as diversas formas de capital comercial,
industrial e fnanceiro, capitais que so
tambm grandes proprietrios de fa-
zendas e controlam amplos setores da
produo e do comrcio agrcolas.
Os movimentos sociais do campo
articulados na Via Campesina, como
o Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST), o Movimento
dos Pequenos Agricultores (MPA), o
Movimento das Mulheres Camponesas
(MMC Brasil), o Movimento dos Atin-
gidos por Barragens (MAB), o Movi-
mento das Comunidades Quilombolas
e o Movimento dos Pescadores e Pesca-
doras do Brasil, defendem a necessidade
de uma Reforma Agrria popular.
A proposta de Reforma Agrria po-
pular por estes movimentos defendida
tem caractersticas similares s que se
aplicaram historicamente em outros pa-
ses, mas apresenta especifcidades que
levam em conta a realidade brasileira.
Em termos gerais, ela compreende a
necessidade de um amplo processo de
desapropriao das maiores proprie-
dades, estabelecendo-se inclusive um
limite mximo da propriedade rural
no Brasil a proposta dos movimen-
tos que o limite mximo seja de at
35 mdulos (o mdulo varia de regio
para regio, mas a mdia do limite na-
cional fcaria em 1.500 hectares) e
sua distribuio a todas as 4 milhes
de famlias de camponeses sem-terra
ou com pouca terra que ainda vivem no
meio rural brasileiro. Combina a distri-
buio de terras com a instalao de
agroindstrias cooperativas em todas as
comunidades rurais, para que haja um
desenvolvimento das foras produtivas
e para que os trabalhadores rurais pos-
sam auferir a renda do valor agregado
s matrias-primas agrcolas pelo pro-
cesso de industrializao. Compreen-
de a necessidade de adoo de novas
tcnicas agrcolas, baseadas na agroe-
667
R
Reforma Agrria
cologia, que consigam aumentar a pro-
dutividade das reas e do trabalho em
equilbrio com a natureza e sem uso
de venenos agrcolas. Prev, ainda, a de-
mocratizao da educao formal, ga-
rantindo o acesso escola desde o ensi-
no fundamental at o ensino superior a
todos os jovens que vivem no campo
e a superao completa do analfabe-
tismo entre os trabalhadores adultos.
Alm disso, implica um programa na-
cional de mecanizao agrcola baseado
em pequenas mquinas e ferramentas,
que permita aumentar a produtivida-
de do trabalho, diminuindo o esforo
fsico humano, sem expulso da mo
de obra do campo. E, fnalmente, com-
preende um amplo programa de va-
lorizao das manifestaes culturais
do meio rural em geral vinculado aos
hbitos alimentares, msicas, cantorias,
poesias, celebraes religiosas e fes-
tas rurais. Essas so as caractersticas
fundamentais de uma proposta de Re-
forma Agrria popular para a realidade
brasileira nos tempos atuais.
Notas
1
Condies caractersticas de cada regio relacionadas com a fertilidade natural do solo, a
quantidade de gua e sol, e as condies de clima para agricultura.
2
O ndice de Gini serve para medir desigualdades (de terra, de renda, de riqueza, de acesso
a bens etc.) e varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais igualitria a distribuio, mais prximo
de 0 fca o ndice, e quanto maior a desigualdade, mais prximo de 1 ele fca.
Para saber mais
BOGO, A. Lies da luta pela terra. Salvador: Memorial das Letras, 1999.
BRASIL. Decreto n 433, de 24 de janeiro de 1992: dispe sobre a aquisio de im-
veis rurais, para fns de reforma agrria, por meio de compra e venda. Braslia:
Presidncia da Repblica, 1992.
CARTER. M. Combatendo a desigualdade social: o MST e a Reforma Agrria no Brasil.
So Paulo. Editora da Unesp, 2010.
DINCAO, M. da C. (org.). Reforma Agrria: signifcado e viabilidade. Petrpolis:
Vozes, 1982.
FERNANDES, B. M. A formao do MST no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2000.
GRAZIANO NETO, F. A tragdia da terra. So Paulo: Iglu/Editora da Unesp, 1990.
______. Qual reforma agrria? Terra, pobreza e cidadania. So Paulo: Gerao
Editorial, 1996.
LEAL, L. (org.). Reforma Agrria na Nova Repblica. So Paulo: CortezEduc, 1985.
LERRER, D. Reforma agrria: os caminhos do impasse. So Paulo: Garoni, 2003.
MARTINS, J. de S. Reforma agrria: o impossvel dilogo. So Paulo: Edusp, 2000.
MEDEIROS, L. S. de. Histria dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: Fase, 1989.
Dicionrio da Educao do Campo
668
______; LEITE, S. (org.). Assentamentos rurais: mudana social e dinmica regional.
Rio de Janeiro: Mauad, 2004.
MITSUE, M. A histria da luta pela terra no Brasil e o MST. So Paulo: Expresso
Popular, 2001.
ROCHA, J.; BRANDFORD, S. Rompendo a cerca. So Paulo: Casa Amarela. 2003.
SILVA, J. G. da. A Reforma Agrria no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1971.
______. Caindo por terra. So Paulo: Busca Vida, 1987.
______. Buraco negro: a Reforma Agrria na Constituinte. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1989.
STEDILE, J. P. (org.). A questo agrria no Brasil: programas polticos. So Paulo:
Expresso Popular, 2005. V. 3.
______; FERNANDES, B. M. Brava gente brasileira: a trajetria do MST e a luta pela
terra no Brasil. So Paulo: Perseu Abramo, 1999.
VEIGA, J. E. da. A Reforma Agrria que virou suco: uma introduo ao dilema agrrio
no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1990.
Pginas na rede de computadores que tratam da
questo agrria no Brasil
ASSOCIAO BRASILEIRA DE REFORMA AGRRIA (ABRA) entidade de pesquisa e
estudos: http://www.abrareformagraria.org.br.
COMISSO PASTORAL DA TERRA (CPT) organismo de pastoral das Igrejas Catlica
e Luterana: http://www.cpt.org.br.
CONFEDERAO NACIONAL DA AGRICULTURA (CNA) representao sindical dos
patres na agricultura: http://www.cna.org.br.
CONFEDERAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA (CONTAG)
representao sindical dos trabalhadores na agricultura: http://www.contag.org.br.
DATALUTA ncleo de pesquisa e dados estatsticos de confitos no campo
da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Campus de Presidente Prudente:
http://www.dataterra.org.br.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA (INCRA): http://www.
incra.gov.br.
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST): http://www.mst.org.br.
NCLEO DE ESTUDOS AGRRIOS E DESENVOLVIMENTO RURAL (NEAD) ncleo de
estudo e dados do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio: http://www.nead.
gov.br.
669
R
Renda da Terra
R
RENDA DA TERRA
Joo Pedro Stedile
Renda da terra uma teoria ge-
ral dentro da rea da economia poltica
que procura estudar e explicar como
funciona a lgica do capital na organi-
zao da produo agrcola no modo
de produo capitalista.
Karl Marx foi o principal estudioso
que, no sculo XIX, procurou desven-
dar com detalhes como funcionava a
lgica do desenvolvimento do capital
na organizao da produo de todos
os bens na sociedade. Em seu mtodo
de trabalho, ele aproveitou as pesqui-
sas e refexes que haviam sido feitas
por outros pensadores mais antigos, e por
alguns de seus contemporneos, entre
eles Franois Quesnay, Adam Smith,
David Ricardo, Stuart Mill e Thomas
Robert Malthus. Marx se baseou nos
estudos que seus antecessores fzeram e
no funcionamento real do capitalismo
industrial para elaborar as teorias cls-
sicas que explicam a lgica do capital
na organizao da produo e que es-
to reunidas nas teorias da mercadoria,
do valor, da mais-valia, da acumulao
e da reproduo ampliada do capital.
Entre 1848 e 1883, perodo em que
produziu suas principais teorias, Marx
estudou o funcionamento do capitalis-
mo por meio de pesquisas empricas
na agricultura inglesa e nas fbricas, no
auge do desenvolvimento do capitalis-
mo industrial.
1
No entanto, ao estudar a forma
como o capital se desenvolvia e orga-
nizava a produo na agricultura, Marx
concluiu que havia particularidades
e especifcidades relacionadas com a
natureza, o ciclo da produo, o limi-
te fsico da unidade de produo e a
disperso dos produtores capitalistas.
Assim, a teoria que explicava o fun-
cionamento do capital dentro de uma
fabrica no era sufciente para expli-
car a realidade do capital na produo
agrcola. Ele percebeu, portanto, que
havia muitas diferenas entre a atuao
do capital na indstria, no comrcio e
na agricultura.
Na indstria e no comrcio se for-
mava uma taxa mdia de lucro por
ramo de atividade. Os capitalistas con-
corriam entre si, dentro do mesmo
ramo, para conseguir maior produtivi-
dade do trabalho e taxas de lucro mais
altas. Assim, os capitalistas que obti-
vessem taxas menores de lucro, abaixo
da mdia, teriam menor capacidade de
acumulao e de crescimento e tende-
riam a ir falncia ou suas empresas
serem compradas por outros capitalis-
tas. E esse processo gerava uma con-
centrao permanente do capital num
mesmo ramo de produo.
J na agricultura, Marx percebeu
que a taxa mdia de lucro no se dava
por produto agrcola, mas era deter-
minada pela utilizao de todas as ter-
ras na produo de todos os produtos
agrcolas colocados no mercado. A es-
sas caractersticas especfcas da forma
de funcionamento do capital na agri-
cultura Marx chamou de teoria geral da
renda da terra.
Contudo, como j ressaltamos aci-
ma, Karl Marx usou como mtodo
de trabalho os estudos preliminares
Dicionrio da Educao do Campo
670
de outros autores, seus antecessores,
sobre as especifcidades do capital na
agricultura. Ele partiu das concepes
elaboradas sobretudo por Adam Smith,
Johann Karl Rodbertus, David Ricardo
e Thomas Robert Malthus, que trata-
ram do tema usando tambm a deno-
minao de renda da terra. Marx se
apropriou dessa designao e a utilizou
como referncia teoria do desenvol-
vimento do capital na agricultura.
Feita esta contextualizao terico-
histrica, vamos aos conceitos funda-
mentais construdos por Marx.
Taxa mdia de lucro
na agricultura
Na agricultura capitalista, exis-
tem em cada pas, em geral, milhares
de produtores capitalistas, donos dos
meios de produo, que aplicam seu
capital na organizao da produo
de mercadorias agrcolas. Essas mer-
cadorias podem ser alimentos para
seres humanos ou animais, matrias-
primas para a indstria do vesturio,
txtil e de calados, mercadorias para
construo civil ou pata a obteno
de energia, como carvo e lenha. Mais
recentemente surgiram novas merca-
dorias de origem agrcola, que so os
chamados AGROCOMBUSTVEIS (etanol,
leo diesel vegetal, lcool etc.) no
vocabulrio da imprensa em geral,
tambm so conhecidos pela expres-
so biocombustveis.
Os produtores capitalistas e os
agricultores em geral precisam da terra,
que um bem da natureza fundamen-
tal para a produo dessas mercadorias.
Marx defende a tese de que na agricul-
tura se forma uma taxa mdia de lucro
entre todos os produtores capitalistas,
independentemente do tipo de produto
e do tamanho da rea de terra utilizada.
Essa taxa mdia de lucro ser deter-
minada por todos os produtores, seja
aqueles que obtm elevadas taxas com
produtos mais lucrativos, seja aqueles
que atuam nas piores terras, distan-
tes do mercado e com produtos menos
rentveis. Todos eles tero garantida
uma taxa mdia de lucro.
Essa assertiva se comprova na pr-
tica, pois, caso um capitalista que atua
em terras menos frteis, mais distan-
tes etc. no tivesse lucro, ele abando-
naria a produo daquele produto e
migraria somente para aqueles que ge-
rassem lucro. E, ao longo do tempo,
teramos a produo de apenas poucos
produtos na agricultura, independen-
temente das necessidades da sobrevi-
vncia humana. Portanto, mesmo nas
piores terras, e nas piores condies de
produo, o fazendeiro capitalista tem
direito a ter lucro.
E como a taxa mdia de lucro
formada pela mdia de todos os pro-
dutores de todos os ramos de produ-
o, cada vez que um produto agrcola
aumenta muito a sua taxa de lucro par-
ticular, imediatamente infuencia para
que a taxa mdia suba, fazendo, por-
tanto, que aumente a taxa de lucro de
todos os demais produtores agrcolas.
Portanto, quando um produto
agrcola sobe de preo no mercado,
por qualquer motivo, ele aumenta a
taxa de lucro daquele produtor, e in-
flui no aumento da taxa mdia dos
demais, influenciando para que haja
aumento de preo mdio em todos
os produtos agrcolas daquela regio
ou universo.
Essa assertiva tambm se revela
verdadeira at os dias de hoje.
671
R
Renda da Terra
Renda da terra
H um limitante na produo ca-
pitalista de bens agrcolas, que a
existncia da terra, do espao fsico
necessrio. Afnal, s possvel produ-
zir mercadorias agrcolas sobre a terra.
Mesmo quando se aplicam tcnicas es-
pecifcas de produo em estufas ou de
hidroponia, que usa alto componente
de gua e fertilizantes lquidos, essas
instalaes necessitam de um espao e
clima determinado. E a terra um bem
da natureza, limitado no espao.
No isso o que acontece na in-
dstria. A instalao de uma ou de v-
rias fbricas no determinada pelo
fator terra ou pela limitao de espao.
Como a produo industrial se con-
centra em pequenos espaos, pos-
svel instalar um nmero indefnido
de novas fbricas, em muitos lugares,
sem estar limitado pela inexistncia de
terra. Nesse caso, o espao fsico no
limitante. E, teoricamente, a expan-
so de novas fbricas para produzir a
mesma mercadoria no estaria limita-
da pela necessidade de mais terrenos
para sua instalao, pois o espao fsi-
co ocupado por uma fbrica reduzi-
do e tanto o planeta quanto o territrio
de um pas permitiriam sua expanso
quase infnita.
Com o desenvolvimento do modo
de produo capitalista, introduziu-se
na sociedade o direito propriedade
privada da terra. Ou seja, como par-
te da lgica do capitalismo, os Estados
republicanos, sob a hegemonia da classe
burguesa, garantiram o direito da pro-
priedade privada sobre um bem da na-
tureza, como uma espcie de segurana
dada pelo Estado aos capitalistas que
investissem seu capital na agricultura.
E a terra, apesar de no ser fruto do
trabalho humano, e portanto no ter
valor, passou a ter preo um preo
determinado por essa condio de pro-
priedade privada, para quem tivesse ca-
pital para investir nela.
Do regime jurdico-poltico do di-
reito propriedade privada de um es-
pao da natureza que surgiu, ento, o
monoplio da propriedade da terra,
por parte daqueles que tivessem maior
dinheiro-capital para se apropriar dela.
Pois se a terra limitada pela existncia
na natureza, seria muito difcil que to-
dos os cidados de uma mesma socie-
dade tivessem i guai s condi es de
dinheiro e que houvesse terras de ex-
plorao agrcola para todos.
A teoria da renda da terra procura
explicar que os capitalistas, ao investi-
rem seus capitais na compra e manu-
teno da propriedade da terra, depois
cobram de toda a sociedade uma es-
pcie de taxa de retorno desse capital,
embutindo nos preos agrcolas uma
renda extra, acima do lucro mdio, pelo
simples fato de serem proprietrios
privados daquela terra. Ento, podera-
mos dizer que a renda da terra um va-
lor acima do lucro mdio que todos os
produtores capitalistas auferem e que
inserido no valor das mercadorias agr-
colas vendidas, mas que se destina ape-
nas aos que so proprietrios da terra.
Essa renda da terra resultante ape-
nas do fato de existir a propriedade pri-
vada da terra. Por isso, Marx chamou a
esse tipo de renda auferida pelos pro-
prietrios capitalistas da terra de renda da
terra absoluta porque se refere a um di-
reito privado, adquirido de forma abso-
luta, que ningum contesta em funo do
regime poltico existente no capitalismo
o qual determina a propriedade privada
dos meios de produo e, no caso, tam-
bm de um bem da natureza.
Dicionrio da Educao do Campo
672
Mas ateno: nem todos os capi-
talistas da agricultura auferem a renda
da terra absoluta, apenas aqueles que
so proprietrios da terra. Alguns capi-
talistas no proprietrios inclusive pa-
gam a renda da terra. Se um fazendei-
ro capitalista organiza a produo de
mercadorias agrcolas, mas no possui
a propriedade da terra, certamente ele
precisar arrend-la. E, portanto, con-
seguir obter uma taxa mdia de lucro,
porm ter de pagar, ou seja, transferir
uma parcela de seu lucro ao propriet-
rio da terra, que no investe na produ-
o, mas cobra um pedgio pelo uso
da sua propriedade.
E como seria determinado o valor
dessa renda da terra absoluta? Os pen-
sadores clssicos nos deram a pista:
o valor mdio do arrendamento que
caracteriza o valor da renda da terra
absoluta, praticado em cada sociedade.
Renda da terra diferencial
Ao seguir suas pesquisas, Marx
descobriu que as condies especfi-
cas de produo so diferentes de um
fazendeiro-capitalista para outro, por
causa da localizao, das condies das
terras, da proximidade ou no do mer-
cado etc. Essa enorme diferenciao,
no entanto, no se d na indstria,
onde, em um mesmo ramo, as condi-
es de produo so bastante simi-
lares. Por exemplo, entre as fbricas
de calados, o sistema de produo
basicamente o mesmo, com a mesma
tecnologia, as mesmas mquinas, as
mesmas condies, variando apenas a
escala de produo. Na agricultura,
portanto, alguns capitalistas do cam-
po obtm um lucro extraordinrio,
acima da taxa mdia de lucro obtida
pela maioria dos outros fazendeiros.
A essa taxa de lucro extraordinrio,
que apenas alguns fazendeiros capita-
listas obtm, Marx chamou renda da
terra diferencial.
Marx tentou explicar as razes para
que apenas alguns fazendeiros obtives-
sem essa taxa de lucro extraordinrio.
E a primeira explicao encontrada foi
que alguns produtores capitalistas pos-
suem terras mais frteis, que precisam
de menos adio de adubos, e, portan-
to, tm menor custo e obtm maior
produtividade fsica das plantas ou ani-
mais. H ainda situaes em que as fa-
zendas, mesmo no tendo essas condi-
es naturais de fertilidade, possuem
uma caracterstica geogrfca particular:
esto mais prximas do mercado con-
sumidor, das cidades ou do porto de
exportao, o que gera menor custo
de transporte, oportunidades de me-
lhores preos nas entressafras etc. Ao
lucro extraordinrio recebido pelos fa-
zendeiros capitalistas essas condies
particulares, Marx chamou renda da
terra diferencial I.
Porm o estudo da realidade da
agricultura revelou que havia tambm
alguns fazendeiros que obtinham um
lucro extraordinrio, acima dos demais,
por outra razo: porque conseguiam
administrar seu capital constante aplica-
do em mquinas e benfeitorias de uma
forma mais produtiva do que a maioria
dos outros fazendeiros. Ou seja, com-
parando dois ou mais fazendeiros que
tivessem as mesmas condies de fer-
tilidade das terras, igual proximidade
do mercado e produzissem um mesmo
produto agrcola, alguns deles organi-
zavam o processo produtivo com um
nmero de mquinas mais apropriado,
que levou a uma produtividade do tra-
balho maior do que a de seus vizinhos
fazendeiros. Por exemplo, dois fazen-
673
R
Renda da Terra
deiros possuem mil hectares de terra
cada um, produzem soja e tm a mes-
ma produtividade fsica: 45 sacos de
soja por hectare. Porm um deles, em
vez de ter dez tratores pequenos, e por-
tanto dez tratoristas, investiu em cinco
tratores maiores, que conseguem culti-
var os mesmos mil hectares, com ape-
nas cinco tratoristas. Com isso, esse
fazendeiro ter uma produtividade do
trabalho, de seus empregados, maior
do que o fazendeiro vizinho. A esse se-
gundo tipo de renda diferencial Marx
chamou renda da terra diferencial II.
Preo da terra
A terra um bem da natureza e,
portanto, no fruto do trabalho hu-
mano. Pela teoria geral do valor, os
bens, as mercadorias s tm valor no
mundo capitalista quando so fruto
do trabalho. E, inclusive, seu valor se
mede pela soma dos dias de trabalho
necessrios em mdia para produzi-lo,
seja no tempo pregresso, na forma das
matrias-primas e ferramentas necess-
rias, seja no trabalho imediato da pro-
duo daquele bem. Com base nessa
teoria, a terra no fruto de trabalho,
logo, ela no tem valor.
Como ento explicar que a terra no
tem valor, mas tem um preo? A ex-
plicao dos pensadores clssicos ante-
riormente citados que a propriedade
privada da terra a transformou numa
mercadoria especial, que pode ser com-
prada por qualquer pessoa que pague
por ela. Na verdade, quando se compra
uma terra, no se compra o valor tra-
balho que haveria dentro dela, mas sim
um direito de explorao. Por isso, ela se
transformou numa mercadoria especial,
uma mercadoria-fetiche, porque o que
as pessoas compram um direito.
E como se determina o preo des-
sa mercadoria especial, que em geral
fxado por hectare, na moeda de cada
pas? Segundo os pensadores clssicos,
o preo da terra na verdade a renda
absoluta acumulada. Ou, em outras pa-
lavras, uma antecipao do lucro que
um capitalista faz ao ex-proprietrio da
terra, transferindo a ele certo valor em
dinheiro, na expectativa de poder ob-
ter de volta esse capital, ao longo do
tempo.
Em muitas regies agrcolas do
Brasil e de todo o mundo, muitas vezes
o preo mdio da terra fxado em di-
nheiro, pelo equivalente do volume de
mercadorias que se pode obter naquela
terra, o que, no fundo, representa tam-
bm a possibilidade de obteno do
lucro mdio, com aquela determinada
produo. Assim, por exemplo, em reas
de soja, fxa-se o preo do hectare de
terra pelo preo de mercado de 30
sacos de soja. No exemplo concreto,
como a produtividade seria de 45 sacos
por hectare, o capitalista comprador
est antecipando ao vendedor parte da
renda absoluta que ele obteria se ele
mesmo fosse utilizar a terra.
Por outra parte, quando um fazen-
deiro ou campons organiza a produo
agrcola numa determinada rea, ele apli-
ca dias de trabalho sobre a terra nua, na
forma de preparo para agricultura (por
exemplo, desmatamento ou sistematiza-
o da rea em curvas de nveis), cons-
truo de benfeitorias, bens, cercas etc.
Esses dias de trabalho que se incorpo-
ram propriedade tambm so contabi-
lizados no preo mdio da terra. Assim,
duas reas iguais, localizadas na mesma
regio, voltadas para o mesmo produto,
podem ter preos diferentes pelo fato de
uma delas ter tambm um valor agregado
por mais trabalho realizado nela.
Dicionrio da Educao do Campo
674
Como a teoria nos explica, se o pre-
o mdio das terras determinado pela
expectativa e possibilidades reais de lu-
cro a ser obtido dela, na vida real das so-
ciedades capitalistas, cada vez que sobe
a taxa de lucro na agricultura, sobem
tambm os preos por hectare de ter-
ra. E cada vez que cai a taxa mdia de
lucro da agricultura, caem tambm os
preos por hectare de terra.
A especulao com os
preos da terra
medida que o capitalismo foi se
desenvolvendo e hegemonizando as
condies de produo na agricultura,
os capitalistas perceberam que a terra
era uma mercadoria especial e fnita,
pois o tamanho das terras determina-
do pela natureza. No se pode aumen-
tar seu tamanho, portanto seu acesso
estaria limitado a alguns proprietrios.
Com essa perspectiva, muitos capitalis-
tas que no estavam vinculados ao se-
tor agrcola, nem tinham interesse em
produzir mercadorias agrcolas, passa-
ram a investir seu capital-dinheiro na
compra do direito de ter terra, como
uma forma de reserva de valor para
seu capital-dinheiro. Por ser um direi-
to, essa terra seria, ao mesmo tempo,
facilmente negocivel, quando os pre-
os oscilassem para acima do que foi
pago. Formou-se ento um mercado
de disputa das terras pelos capitalistas
que possuem dinheiro e no necessa-
riamente tm interesse em produzir na
agricultura. Eles aplicam o dinheiro
comprando o direito de determinadas
reas de terra; quando a taxa de lucro
sobe, e portanto os preos das ter-
ras aumentam, eles as revendem para
obter maiores margens de lucro nessa
operao comercial-especulativa.
H uma segunda forma de prtica
de especulao sobre o preo das ter-
ras. Ela ocorre nas regies de fronteira
agrcola, onde as terras ainda no es-
to incorporadas propriedade priva-
da dos capitalistas. Em alguns pases
ou em algumas regies dentro dos pa-
ses como, aqui no Brasil, o caso da
regio amaznica , h ainda muitas
terras que no possuem proprietrios.
Elas talvez sejam utilizadas de forma
comunitria, por populaes locais e
nativas, ou podem ser consideradas
terras pblicas, de domnio do Estado.
Nessas regies, muitos capitalistas es-
peculadores se apoderam das terras, to-
mando posse delas ou comprando-as,
a preos simblicos, das comunida-
des locais. Depois essas terras so cer-
cadas e registradas como propriedade
privada. Aps o registro, seus compra-
dores promovem o desmatamento e a
melhoria do acesso a estradas, prepa-
ram as terras para o cultivo e revendem
a outros capitalistas por preos mais
valorizados, obtendo assim altas taxas
de lucro.
Nota
1
O conjunto das teorias de Marx sobre o funcionamento do capitalismo est reunido na
obra clssica O capital: crtica da economia poltica. Durante o sculo XX, outros pesquisadores
contemporneos recuperaram escritos e anotaes do Marx que revelam seu mtodo de
trabalho, suas pesquisas e os comentrios que fazia aos autores que o antecederam. As refe-
xes anotadas nos cadernos manuscritos de Marx foram editadas, como Grundrisse, Teorias
da mais-valia, Manuescritos de Marx e, ainda, no tomo IV de O capital.
675
R
Represso aos Movimentos Sociais (Campo e Cidade)
Para saber mais
KAUTSKY, K. A questo agrria. Rio de Janeiro: Laemmert, 1968. Cap. 5: O carter capitalista
da agricultura moderna.
MARX, K. O capital. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1974. L. 3, v. 4.
______. O capital. So Paulo: Nova cultural, 1988. (Os economistas, 5).
______. Teoras sobre la plusvala. Buenos Aires: Grijalbo, 1975. T. 3.
ROSENBERG, D. Comentarios a El capital. Mxico, D. F.: Universidad Autnoma de Mxico,
1977. (Apostilas de la Unam).
UMBELINO, A. de O. Modo capitalista de produo e agricultura. So Paulo: tica, 1990.
R
REPRESSO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS
(CAMPO E CIDADE)
Maurcio Campos dos Santos
Represso um conceito amplo que
abrange diversos tipos de aes, leva-
das a cabo pelas elites dominantes, de-
tentoras do poder econmico, poltico
e militar para impedir, paralisar ou derrotar
as lutas travadas pelos movimentos sociais.
Inclui a violncia (represso fsica)
como ao de ltima instncia, mas
tambm a JUDICIALIZAO das lutas
e dos lutadores (ou seja, seu enqua-
dramento em processos judiciais, nor-
malmente com base na legislao penal)
e todas as aes culturais, ideolgicas e
miditicas utilizadas para obter apoio
social e para justifcar e favorecer (em
uma palavra, legitimar) as aes violen-
tas e judiciais.
Todas as modalidades de represso
podem ser efetuadas tanto por agentes
privados a servio direto das elites (pis-
toleiros, grupos paramilitares, empresas
de segurana privada, imprensa corpo-
rativa, escritrios de advocacia, grupos
culturais e religiosos etc.) quanto pelo
Estado. As aes violentas realizadas
por agentes privados (principalmen-
te pistoleiros, sicrios e paramilitares)
so na maior parte das vezes ilegais e
deveriam ser combatidas pelo Estado,
mas na realidade h uma enorme coni-
vncia dos diferentes poderes estatais
(Executivo, Legislativo e Judicirio)
com tais crimes, sendo que muitos gru-
pos armados privados so organizados
e formados dentro do prprio apare-
lho estatal. Uma vez que a ao estatal
reveste-se de uma legitimidade de princ-
pio, posto ser considerada expresso
da vontade da coletividade (por todas
as concepes do Estado que negam
seu carter ou fundamento de classe), vamos
nos concentrar nela.
Desde a origem do Estado moder-
no, a represso ofcial aos movimentos,
protestos e lutas sociais tem sido justi-
fcada como uma represso a delitos, ou
seja, como aes necessrias para a ma-
nuteno da ordem e da normalidade da
Dicionrio da Educao do Campo
676
sociedade, equiparveis represso
criminalidade comum. Assim, o mesmo
aparato policial utilizado para controlar
e reprimir delitos individuais ou aes
ilegais no motivados pela defesa cole-
tiva de direitos e objetivos emancipat-
rios tem sido, em geral, utilizado na re-
presso fsica aos movimentos sociais e
revolucionrios. Isso tambm se aplica
maior parte do aparato judicirio-penal
(juzes e promotores, legislao penal e
sistema prisional etc.).
Nesse aspecto, fcaram famosas
no Brasil as palavras de Washington
Lus, presidente da Repblica no incio
do sculo XX (1926-1930), de que A
questo social caso de polcia. Com
efeito, a legislao defensora da pro-
priedade privada e das condies para
o lucro e a acumulao do capital tornava
e ainda torna muitas aes dos movi-
mentos sociais potencialmente ilegais
(mas no ilegtimas), permitindo a sua
equiparao a condutas delituosas. S
progressivamente, a custa de muitas
lutas e sacrifcios, direitos e liberdades
(como o direito de greve) foram sendo
conquistados, atenuando em parte a
identifcao entre lutas e delitos.
No obstante, em diversos perodos
histricos e regies do mundo, regimes
de exceo criaram todo um aparato de
represso explicitamente voltado para
a represso poltica e social, compreen-
dendo desde polcias polticas (a Gestapo
nazista continua sendo um dos exem-
plos mais representativos), at a legisla-
o e os tribunais de exceo. As lutas con-
tra tais regimes, como aquelas lutas so-
ciais na Amrica Latina que levaram ao
fm dos regimes ditatoriais civis-militares
dos anos 1970 e 1980, buscaram con-
quistar direitos e garantias que impe-
dissem a ressurgncia de tais situaes
de exceo generalizada. De toda for-
ma, no h dvida que, hoje em dia,
a legitimidade dos regimes de exceo
declarados muito reduzida, e eles so
casos isolados no mundo.
Diante das conquistas de liberdades
e garantias polticas e sociais logradas pe-
los movimentos populares, as elites
dominantes tm buscado novas for-
mas de legitimao da represso. Uma
delas a instituio e a manuteno de
uma legislao excepcional, ou simples-
mente a criao de situaes localizadas
de exceo de fato, sem a revogao
total das liberdades, mas que permite
suspender ou derrogar garantias de in-
divduos, grupos ou situaes particu-
lares. O principal exemplo, generaliza-
do em todo o mundo, so as chamadas
leis antiterroristas, que se tornaram mais
duras na ltima dcada, mas na verda-
de nunca deixaram de vigorar, mesmo
nos pases mais democrticos. Outro
exemplo importante so as leis e medidas
contra a imigrao, claramente voltadas
contra refugiados e imigrantes de pa-
ses mais pobres do que o pas onde so
aplicadas. Estados de emergncia tempor-
rios, justifcados por surtos de crimina-
lidade, realizao de grandes eventos
internacionais ou mesmo catstrofes
naturais (como terremotos, enchentes
ou furaces), tambm tm se tornado
muitos frequentes.
Entretanto, a principal forma que
vem se afrmando na busca por legiti-
mar velhas e novas formas de repres-
so o aprofundamento da tradicional
identifcao entre lutas e delitos, entre
lutadores sociais e criminosos, tudo
isso visando a uma mais profunda ju-
dicializao dos movimentos, sua vi-
gilncia permanente e sua fragmenta-
o, recuo e paralisia. Essa tendncia
o que chamamos propriamente crimina-
lizao dos movimentos e dos protestos sociais,
677
R
Represso aos Movimentos Sociais (Campo e Cidade)
que no nova em si mesma, mas tem
adquirido dimenses assustadoras nas
ltimas dcadas.
Para entendermos a criminalizao
dos movimentos como ela ocorre hoje,
preciso recapitular alguns aspectos
da evoluo econmica, social e cul-
tural das sociedades capitalistas nos
ltimos trinta anos aproximadamente,
principalmente na Amrica Latina e no
Caribe. A depresso econmica mundial
iniciada em meados dos anos 1970, e a
adoo de polticas neoliberais cada vez
mais generalizadas que se seguiu a ela,
gerou grande aumento do desemprego
estrutural, e intensifcao da precariza-
o do trabalho e da concentrao do capital,
incluindo a concentrao da propriedade
da terra. Acompanhando o aprofunda-
mento da globalizao capitalista, as redes
criminosas internacionais se expandiram,
valendo-se tanto das facilidades de cir-
culao internacional de capitais quan-
to da disponibilidade de mo de obra
para atividades criminosas, em decor-
rncia do desemprego e da precariza-
o (Ziegler, 2003).
Paralelamente, ideologias e culturas
individualistas e antissolidrias fortalece-
ram-se, e mais ainda aps o colapso
dos regimes de socialismo de Estado na
antiga Unio das Repblicas Socialistas
Soviticas (URSS) e no Leste Europeu,
fazendo ressurgir uma profunda reao
ao fenmeno da criminalidade crescente
que no busca questionar suas causas
e conexes econmicas, polticas e so-
ciais, mas que simplesmente se baseia
no medo e na exigncia de represso e
de endurecimento penal (Longo e Korol,
2008). Os indivduos e comunidades
pobres, e em especial a juventude, e seus
locais de moradia e convivncia passam
a ser vistos coletivamente como a fonte
do crime e da violncia; e isso justifca
crescentes e graves violaes cometi-
das pelo Estado contra seus direitos,
bem como a militarizao crescente de
reas pobres da cidade e do campo e
do espao pblico em geral um conjun-
to de ideias e prticas que se denomina
hoje criminalizao da pobreza, fenme-
no que no novo, mas tem adquirido
grandes propores atualmente.
A criminalizao da pobreza acom-
panhada da crescente importncia da-
da segurana nas polticas pblicas, e
tambm nas relaes privadas. A segu-
rana pblica, mesmo quando chama-
da segurana cidad
1
ou segurana
democrtica,
2
passa a ser apresentada
como prioridade absoluta e acaba vin-
culando-se a polticas internacionais de
segurana, justifcadas pelo combate
ao terrorismo ou pelo combate ao
narcotrfco, que comearam a ganhar
corpo nas Amricas em 1995, com a
elaborao da Doutrina da Coopera-
o para a Segurana Hemisfrica dos
Estados Unidos da Amrica, adotada
pela Organizao dos Estados Ameri-
canos (OEA).
3
A segurana pblica passa a ser,
assim, a sucessora das doutrinas de se-
gurana nacional da poca das ditaduras
civis-militares na Amrica Latina, e ser-
ve de justifcativa para a manuteno
de diversos instrumentos e legislaes
de exceo (Longo e Korol, 2008).
Todo esse ambiente de exceo,
suspenso de garantias e direitos e de
militarizao dos espaos e da vida p-
blica em geral utilizado para a crimi-
nalizao e a represso aos movimentos
sociais. Embora nenhum movimento
contestador escape a esse cerco da
segurana, so os movimentos oriundos
dos setores mais pobres da cidade e do cam-
po seus alvos principais. E isso ocorre,
em primeiro lugar, como consequncia
Dicionrio da Educao do Campo
678
direta da criminalizao, no s dos
pobres que buscam se organizar e lutar
coletivamente, mas da pobreza em ge-
ral. Em segundo lugar, porque, ao con-
trrio dos setores mais formalizados
da classe trabalhadora, que conquista-
ram, ao longo de dcadas, legitimidade
e algumas garantias para suas formas
de luta tpicas (como greves), os seto-
res excludos, em seus movimentos
mais avanados e organizados, utilizam
formas de luta no inteiramente novas,
mas que se generalizam cada vez mais e
alcancem grandes propores na atua-
lidade, formas de luta que atingem
diretamente os direitos do capital e
da propriedade privada (como ocupa-
es de terras, terrenos e imveis, blo-
queios de estradas e vias pblicas etc.),
e as legislaes que os protegem.
A criminalizao dos movimentos
sociais permite que se intensifque, de
diferentes maneiras, a represso a eles:
a 1) judicializao das lutas e dos luta-
dores passa a ser mais frequente,
e mesmo que no resulte em con-
denaes, os milhares de proces-
sos abertos acabam conseguindo
seu objetivo de manter militantes
e movimentos recuados e paralisa-
dos, exigindo que muitos recursos e
tempo dos movimentos sejam utili-
zados em defesas jurdicas;
a 2) vigilncia sobre os movimentos
torna-se mais prxima e contnua,
inclusive por parte dos servios se-
cretos de inteligncia, que recebem
novos poderes e, assim, podem co-
lher informaes para se antecipar
s aes dos movimentos;
a 3) represso fsica encontra novas
justifcativas e a impunidade das
violaes de direitos cometidas au-
menta, uma vez que os abusos so
classifcados como excessos indi-
viduais dos agentes do Estado en-
volvidos, que estariam agindo sob a
tenso exigida pelo suposto com-
bate criminalidade e pela suposta
necessidade de manuteno da or-
dem; isso explica a repetio de
chacinas e massacres cometidos por
policiais e militares no Brasil a partir
da dcada de 1990, por exemplo.
A criminalizao, e a represso que
a acompanha, relaciona-se, portanto,
com a deslegitimao das lutas e dos mo-
vimentos sociais, que so apresentados
como delituosos e no como expresso
de vontades solidrias e afrmao de
direitos fundamentais. Nesse proces-
so de deslegitimao, tm papel fun-
damental os grandes meios de comunicao
corporativos, pela maneira como omitem
informaes sobre os movimentos ou
as apresentam de forma distorcida. Na
maior parte do tempo, a grande mdia
omite completamente e busca invisibi-
lizar os movimentos, suas motivaes,
sua histria, sua organizao e com-
posio. Quando uma ao dos movi-
mentos normalmente aes diretas,
como manifestaes, ocupaes e blo-
queios obriga a grande mdia a no
mais ignor-los, ela continua omitindo
suas motivaes e demandas, focando
a informao nos supostos aspectos
de desordem, confuso, bagun-
a das lutas, sem dar palavra aos pr-
prios lutadores e lutadoras, ao mesmo
tempo em que privilegia as verses
apresentadas pelo Estado (comumente
pela polcia).
A criminalizao nem sempre tem
como objetivo destruir completamente
os movimentos; pode servir simples-
mente para mant-los sob controle e dentro
dos limites permitidos pela ordem capitalista.
O Estado, paradoxalmente, argumenta
que, diante das conquistas democrti-
679
R
Represso aos Movimentos Sociais (Campo e Cidade)
cas e dos direitos garantidos pela lei,
os movimentos devem se restringir a
reivindicaes institucionais, como po-
lticas pblicas, e utilizar para isso s
os meios institucionais convencionais,
como a representao parlamentar.
Esse discurso acaba sendo absorvido e
reproduzido por aqueles setores insti-
tucionalistas dos movimentos, que no
compreendem o carter irreconcilivel das
contradies de classe e creem na iluso de
superar a desigualdade, a opresso e a
explorao sem transformar radical-
mente o regime econmico e social.
Em relao a isso, preciso reafr-
mar que a conquista de liberdades, di-
reitos formais e garantias constitucio-
nais muito importante, mas por si s
no altera a realidade socioeconmica
desigual e perversa construda ao lon-
go de sculos de violncias. Se, por um
lado, a ordem constitucional prov
direitos e garantias formais (na letra da
lei), por outro sanciona a concentrao da
propriedade e do poder econmico nas mos
de uns poucos, o que foi construdo ao
longo de um doloroso processo de es-
poliao, totalmente ilegtimo, que na
Amrica Latina incluiu o genocdio e
o roubo de terras dos povos origin-
rios (indgenas) e a escravizao de
vrios povos africanos.
Dessa maneira, no Brasil, por
exemplo, embora a Constituio de
1988 seja muito avanada nos objeti-
vos colocados, nos princpios estabele-
cidos e nos direitos e garantias defni-
dos, estabelecendo inclusive restries
ao direito de propriedade na defnio
de sua funo social, o Brasil continua
sendo, na prtica, um dos pases com
maior concentrao da propriedade da
terra (rural e urbana) em todo o mun-
do, e a legislao ordinria permite a
proteo dessas propriedades mediante
a utilizao de formas brutais de vio-
lncia. Trata-se, entretanto, de latifn-
dios e grandes propriedades totalmente
ilegtimos, pois foram construdos com
base no despojo das terras indgenas,
no trabalho escravo e nas formas mais
cruis de explorao e esmagamento
da resistncia popular.
Essa denncia da perversidade e
dos fundamentos ilegtimos da ordem
econmica e social do capital faz parte
do contnuo esforo que os movimen-
tos sociais devem realizar para relegiti-
mar suas organizaes e suas lutas ante
as vrias estratgias de criminalizao.
De maneira geral, isso signifca reafr-
mar que a luta dos movimentos sociais
busca no fnal das contas a construo
de uma nova sociabilidade, igualitria,
solidria e livre, capaz de efetivar os
direitos fundamentais vida, sade,
educao, cultura e ao trabalho, que
sempre so prioritrios e devem se so-
brepor aos direitos ao lucro e acu-
mulao do capital.
A criminalizao dos movimentos
ser enfraquecida, em primeiro lugar, se
os prprios movimentos populares de-
senvolverem uma posio clara e uma
denncia coerente da criminalizao
da pobreza: comum que os militan-
tes dos movimentos reajam sua cri-
minalizao, exigindo que no sejam
tratados como bandidos, como se os
abusos e violaes de direitos come-
tidos em nome do suposto combate
criminalidade fossem de alguma
maneira justifcveis. Admitir a viola-
o de direitos fundamentais em nome
da segurana pblica fragiliza os
movimentos e abre campo para a sua
prpria criminalizao. preciso ter
uma compreenso clara do fenmeno
da criminalidade, suas origens e cone-
xes, e de como s a luta anticapitalista
Dicionrio da Educao do Campo
680
e pela vigncia dos direitos humanos
fundamentais permite um efetivo en-
frentamento das redes criminosas.
Por outra parte, para fazer frente
aos meios de comunicao corporati-
vos e sua atividade de desinformao
e distoro, necessrio construir uma
ampla rede de comunicao popular alter-
nativa, utilizando tecnologias no s
tradicionais, mas tambm mais atuais.
Por fim, fica evidente a necessi-
dade de ampliar o conhecimento dos
militantes dos movimentos sobre
direitos humanos seus fundamentos,
sua histria, e inclusive suas con-
tradies, suas formas de defesa e
aplicao , bem como de construir
redes de advogados, juristas e defen-
sores de direitos que apoiem os mo-
vimentos contra violaes.
Notas
1
Expresso utilizada em pases como Argentina e Chile, por exemplo.
2
Expresso utilizada na Colmbia e na Amrica Central, por exemplo.
3
Documentos, resolues e outras informaes sobre a doutrina podem ser consultados
na pgina da Comisso de Segurana Hemisfrica, do Conselho Permanente da OEA. Ver
http://www.oas.org/csh/portuguese/default.asp.
Para saber mais
AGAMBEN, G. Estado de exceo. So Paulo: Boitempo, 2011.
BUHL, K.; KOROL, C. (org.). Criminalizao dos protestos e movimentos sociais. So
Paulo: Instituto Rosa Luxemburg Stiftung, 2008.
HOLLOWAY, T. L. Polcia no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1997.
LENIN, V. I. O Estado e a revoluo. In: ______. Obras escolhidas em seis tomos.
Moscou: Progresso; Lisboa: Avante!, 1985. V. 3, p. 189-289.
LONGO, R.; KOROL, C. Criminalizao dos movimentos sociais na Argentina.
In: BUHL, K.; KOROL, C. (org.). Criminalizao dos protestos e movimentos sociais. So
Paulo: Instituto Rosa Luxemburg Stiftung, 2008. p. 18-77.
LUXEMBURG, R. Milicia y militarismo. In: ______. Obras escogidas. Mxico, D. F.:
Era, 1978. p. 85-101.
MOTTA RIBEIRO, A. M.; IULIANELLI, J. A. (org.). Narcotrfco e violncia no campo. Rio
de Janeiro: DP&A, 2000.
RODRIGUES, T. Trfco, guerras e despenalizao. Le Monde Diplomatique Brasil,
n. 26, p. 6-7, set. 2009.
THERBORN, G. Cmo domina la clase dominante? Madri: Siglo XXI, 1979.
WACQUANT, L. Da escravido ao encarceramento em massa: repensando a ques-
to racial nos Estados Unidos. In: SADER, E. Contragolpes: seleo de artigos da
New Left Review. So Paulo: Boitempo, 2006. p. 11-30.
ZIEGLER, J. Senhores do crime. So Paulo: Record, 2003.
681
R
Residncia Agrria
R
RESIDNCIA AGRRIA
Fernando Michelotti
Residncia Agrria uma modalida-
de especfca de curso de especializao
(ps-graduao lato sensu) atendida pelo
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAO NA
REFORMA AGRRIA (PRONERA). Essa mo-
dalidade de curso orienta-se pelos objeti-
vos, princpios, diretrizes e fundamentos
legais mais gerais do Pronera. Apesar
disso, possui objetivos e diretrizes espe-
cfcos, voltados para o fortalecimento da
relao entre assistncia tcnica, Educa-
o do Campo e desenvolvimento.
Diferentemente das demais modali-
dades de cursos atendidos pelo Pronera,
o Residncia Agrria atende, alm dos
assentados e benefcirios diretos da
poltica de Reforma Agrria, um pbli-
co mais amplo: tambm podem partici-
par desses cursos os profssionais que
atuam nos programas de assistncia
tcnica e de educao em assentamen-
tos de Reforma Agrria em localidades
camponesas, bem como egressos de
cursos superiores com potencialidade
de atuao nessas localidades.
A proposio de uma ao especf-
ca de Residncia Agrria no mbito da
Educao do Campo, em especial
do Pronera, fundamenta-se numa lei-
tura de que a concepo hegemnica
de ensino superior em Cincias Agr-
rias no Brasil orientada pelo modelo
de desenvolvimento rural do agrone-
gcio. Trs questes-chave emergem
dessa hegemonia, relacionadas tanto
com o processo de formao de no-
vos profssionais quanto com a produ-
o de conhecimento por essas insti-
tuies de ensino:
a prioridade dada modernizao 1)
do latifndio e dos grandes estabele-
cimentos agropecurios e forestais,
identifcados como as principais for-
as impulsionadoras do desenvolvi-
mento rural, mediante a produo
em monoculturas de larga escala e
voltadas para a exportao;
a adoo de uma matriz tecnolgica 2)
de carter industrialista, baseada no
uso intensivo de insumos qumicos
e mecnicos, na manipulao gen-
tica e na homogeneizao e simpli-
fcao da natureza, fundamentada
na cincia moderna;
a relao marginal com as diferen- 3)
tes fraes do campesinato por
meio de prticas de extenso rural,
atuando no sentido de sua subordi-
nao ao modelo hegemnico, pela
induo a uma especializao pro-
dutiva, homogeneizao e simpli-
fcao da natureza e adoo da
matriz tecnolgica do agronegcio.
Como consequncia dessa concep-
o, os profssionais de Cincias Agr-
rias egressos das instituies de ensi-
no superior tendem a desconhecer a
realidade camponesa, fortalecendo-se
a ideia de que trabalhar no campo do
agronegcio o nico horizonte profs-
sional possvel. Por outra parte, mesmo
quando esses profssionais vo atuar
em localidades camponesas, carecem de
formao que lhes permita compreen-
der as especifcidades da unidade de
produo camponesa, seja do ponto
de vista da gesto e da organizao so-
cial e produtiva, seja do ponto de vista
Dicionrio da Educao do Campo
682
da relao com a natureza. Assim, es-
ses profssionais tm difculdade para
romper com a matriz tecnolgica na
qual se formaram, mesmo que ela no
se mostre a mais adequada para a so-
luo dos problemas ecolgicos e pro-
dutivos camponeses, inclusive pela au-
sncia de produo de conhecimentos
no interior das instituies superiores
vinculados a esse tipo de demanda.
A hegemonia do agronegcio no
ensino superior em Cincias Agrrias
no Brasil mostra-se especialmente
problemtica para o Movimento pela
Educao do Campo, em especial para
o Pronera, por dois motivos. Em pri-
meiro lugar, pelo reconhecimento que
esse programa tem da universidade p-
blica como um espao institucional de
produo do conhecimento tcnico-
cientfco indispensvel formao
acadmica articulada Reforma Agr-
ria e ao desenvolvimento rural (S,
2009, p. 373). Em segundo lugar, pela
perspectiva de indissociabilidade, na
Educao do Campo, da trade campo
poltica pblicaeducao (Caldart,
2008), na qual o conceito de campo
evidencia a disputa por certo projeto
de desenvolvimento do campo que tem
na produo camponesa a sua centrali-
dade. Portanto, em ltima instncia, a
intencionalidade principal do Progra-
ma Residncia Agrria constituir-se
em poltica capaz de estimular a pro-
duo de conhecimento sobre e para o
campesinato, no mbito das Cincias
Agrrias, nas universidades pblicas,
com base na pesquisa e extenso em
reas de Reforma Agrria (Molina,
2009, p. 19).
Nessa perspectiva, os cursos de es-
pecializao do Programa Residncia
Agrria objetivam contribuir com a
formao dos profssionais que atuam
ou que viro a atuar nos processos de
assistncia tcnica numa perspectiva
que rompa com essa concepo he-
gemnica. Para tanto, seus contedos
concentram-se em trs grandes grupos
de questes: questo agrria/questo
camponesa; agroecologia/sistemas fa-
miliares de produo; e extenso rural/
Educao do Campo. Busca-se, dessa
forma, ampliar as refexes tericas
dos profssionais de assistncia tcnica,
de modo a descortinar o projeto hege-
mnico de desenvolvimento do campo
e a reconhecer a existncia do campe-
sinato e suas especifcidades.
A abordagem da questo agrria
nesses cursos pretende provocar nos
educandos uma refexo sobre o proje-
to hegemnico de desenvolvimento do
campo na formao econmica e social
brasileira, estudando suas razes hist-
ricas em articulao com as dinmicas
mais gerais de expanso do capital, a
atuao do Estado e das polticas p-
blicas na sua induo e as tendncias de
destruio ou subordinao do campe-
sinato. Ao mesmo tempo, objetiva uma
leitura das lutas camponesas, em suas
diversas expresses, como processos
de resistncia destruio ou subordi-
nao, mas tambm como possibilidade
de construo de projetos contra-
hegemnicos e emancipatrios. Dessa
forma, problematiza-se a temtica do
desenvolvimento do campo para alm
da viso unilateral predominante na
formao em Cincias Agrrias.
Com a temtica da agroecologia
nesses cursos espera-se no apenas uma
ruptura com a matriz tecnolgica in-
dustrialista aplicada agricultura, co-
nhecida como matriz da REVOLUO
VERDE, mas, sobretudo, romper com o
prprio paradigma cientfco que a sus-
tenta. Nessa perspectiva, a cincia mo-
683
R
Residncia Agrria
derna perde a condio de nica forma
legtima de produo de conhecimento,
reconhecendo-se a importncia da pro-
duo de conhecimento pelos cam-
poneses, com toda a sua diversidade
de experincias histricas acumuladas.
Para isso, o dilogo de saberes entre
camponeses e academia passa a ser
fundamental na construo do para-
digma agroecolgico.
Porm, alm da refexo sobre a
matriz tecnolgica e cientfca, prope-
se identifcar quem so os agentes que
podem materializar uma agricultura
de base agroecolgica. O agroneg-
cio, pautado na lgica da acumulao
de lucro e na racionalidade industrialis-
ta, organiza sua produo com base em
relaes sociais de assalariamento, que
pressupem a explorao do trabalho,
e na simplifcao extrema da nature-
za, sendo, portanto, estruturalmente
predatrio. As unidades de produo
camponesas ao contrrio, guiam-se
por uma racionalidade cujo elemento
central a reproduo social da fam-
lia, em todas as suas dimenses, e pela
no separao entre os que trabalham
e os que organizam a produo, consti-
tuindo uma unidade indissocivel entre
as esferas da produo e do consumo
(Costa, 2000, p. 114-118). Essas carac-
tersticas especfcas do campesinato
criam uma maior tendncia de busca
da diversifcao produtiva e da sobe-
rania alimentar que faz a agricultura
camponesa representar, estruturalmen-
te, maior possibilidade de convivncia
com uma natureza diversifcada e com
o estabelecimento de sistemas de pro-
duo baseados nos princpios e estra-
tgias da agroecologia.
Com a temtica da extenso rural,
espera-se refetir com os educandos
dos cursos de especializao eles
mesmos j envolvidos no universo de
trabalho da assistncia tcnica como
assentados e/ou extensionistas ou
ainda com egressos de cursos superio-
res com potencial de engajamento so-
bre as concepes e perspectivas desse
quefazer. Paulo Freire j provocava
essa refexo, ao questionar o sentido
de domesticao do campons em-
butido na ideia de extenso como es-
tender, transferir conhecimentos do
que tudo sabe ao que nada sabe (Freire,
1983). Por isso, j alertava que o co-
nhecimento pressupe uma relao
dialgica entre o agrnomo-educador
e o campons, uma relao problema-
tizadora da realidade que se pretende
compreender e transformar.
Nessa perspectiva, Freire (1983)
enxerga o assentamento de Reforma
Agrria (tomando o exemplo histrico
do Chile) no apenas como unidade de
produo, mas como unidade pedag-
gica, na qual so educadores no ape-
nas os professores, mas os agrnomos
e todos os que atuam no seu processo
de desenvolvimento. Refora-se, assim,
a ideia do profssional da assistncia
tcnica como um educador do campo,
capaz de atuar como mediador no di-
logo entre saberes acadmicos e cam-
poneses, no de forma mecnica, como
uma ponte que liga duas ilhas, mas
construindo as representaes sociais
dos mundos que pretende interligar, o
campo de relaes que torna possvel
essa interligao e a si prprio, como
mediadores (Neves, 2006, p. 52-53).
Em que pese sua importncia na
fundamentao da ruptura com a con-
cepo dominante do ensino superior
de Cincias Agrrias, esses contedos
e refexes tericas propostos para os
cursos de especializao, no entanto,
no so suficientes para a formao
Dicionrio da Educao do Campo
684
dos profssionais de assistncia tcni-
ca/educadores do campo. O elemento
fundamental desse processo formati-
vo a vivncia dos educandos e dos
seus educadores nos cursos de espe-
cializao nas localidades camponesas.
Casimiro chama ateno para a impor-
tncia desse processo de vivncia, ou
vivncias, em que professores, agricul-
tores, estudantes, tcnicos mergulham
em uma realidade de forma intensiva
para aprender e ensinar (2009, p. 31).
Da o prprio nome Residncia Agr-
ria, que a diferencia da ideia de um cur-
so de especializao comum, cada vez
mais aligeirado, e enfatiza a perspectiva
de insero e permanncia, por longos
perodos, dos estudantes universitrios
nos assentamentos e localidades cam-
ponesas (Molina, 2009, p. 17).
Com essa vivncia nos assentamen-
tos e localidades camponesas, prope-
se ainda uma forte articulao com as
aes concretas de assistncia tcnica
existentes, sobretudo por meio dos
programas fnanciados pelo prprio
Instituto Nacional de Colonizao e Re-
forma Agrria (Incra) e pelo Ministrio
do Desenvolvimento Agrrio (MDA),
mediante a Poltica Nacional de As-
sistncia Tcnica e Extenso Rural
(Pnater). Dessa articulao, espera-se
que a Residncia Agrria no apenas
estude a assistncia tcnica, mas, so-
bretudo, contribua com a sua execuo
(Molina, 2009, p. 20).
Por isso, a importncia do dilogo
entre as prprias famlias e organiza-
es camponesas, os profssionais da
assistncia tcnica que atuam nas loca-
lidades e, em especial, mas no exclu-
sivamente, os estudantes e professores
universitrios dos cursos de Cincias
Agrrias. Esse dilogo no fca restri-
to vivncia na localidade camponesa,
mas se prolonga s outras dimenses da
formao acadmica, posto que esses
trs sujeitos assentados que fzeram
sua graduao por meio do Movimento
pela Educao do Campo, profssionais
de assistncia tcnica que atuam nas
reas de assentamento e egressos
das universidades que fzeram estgios
de vivncia durante sua formao
compem o grupo de educandos dos
cursos de especializao.
Do ponto de vista metodolgico, a
expectativa gerada pela vivncia pro-
longada nas reas de assentamento e
demais localidades camponesas que
os educandos do curso e seus educa-
dores orientadores os professores
universitrios possam compreender,
a partir do dilogo entre os sujeitos en-
volvidos no processo, ou seja, campo-
neses e suas organizaes, profssionais
de assistncia tcnica e acadmicos, o
campo como lcus de produo de co-
nhecimento. Da decorre a opo pela
formao em alternncia de tempos e
espaos no Programa Residncia Agr-
ria, mas, como alerta Casimiro (2009,
p. 34), rompendo com uma viso frag-
mentada, comum em muitas institui-
es de ensino de Cincias Agrrias,
na qual o tempo no campo o tempo
da prtica e o tempo na universidade,
o da teoria. Ao contrrio, busca-se, na
alternncia de tempos e espaos, to-
mar a realidade do campo como ponto
de partida, identifcando-a com ba-
se em diagnsticos e dilogos, dos quais
emergem as questes fundamentais
para o estudo aprofundado ao longo
do curso e para o confronto com a abs-
trao terica e com a experimentao
laboratorial. Isso gera conhecimentos
novos que, por serem fragmentados
e especfcos, s podem fazer sentido
se, num movimento de sntese, forem
685
R
Residncia Agrria
permanentemente confrontados com a
realidade do campo e de seus sujeitos
que so, portanto, no apenas ponto de
partida, mas tambm ponto de chegada
desse movimento dialtico da constru-
o do conhecimento.
Por isso, reafrma-se que a principal
intencionalidade do Programa Residn-
cia Agrria, para alm da formao de
algumas turmas de profssionais es-
pecialistas, provocar a aproximao
das instituies de ensino em Cin-
cias Agrrias ao universo campons
e Reforma Agrria, infuenciando
na introduo e no fortalecimento de
uma produo de conhecimento capaz
de responder s demandas de desen-
volvimento do campo na perspectiva
camponesa. Ao aproximar docentes
e discentes universitrios do universo
da Reforma Agrria, o Programa Re-
sidncia Agrria faz-lhes um convite
ao engajamento na construo de um
projeto contra-hegemnico e emanci-
patrio de campo.
Em vista da experincia j materia-
lizada pelo Programa Residncia Agr-
ria, essa proposta comeou a ser gesta-
da no interior da coordenao nacional
do Programa Nacional de Educao na
Reforma Agrria, ao se perceber que,
apesar da boa recepo que o progra-
ma vinha tendo em muitas institui-
es brasileiras de ensino superior, o
envolvimento nos cursos de Cincias
Agrrias era muito reduzido. Por isso,
a coordenao do Pronera comeou a
propor aes concretas de envolvi-
mento desse segmento da educao
superior na educao do campo. Ape-
sar da hegemonia conservadora nos
cursos de Cincias Agrrias, o Pronera
buscou estabelecer um dilogo mais
direto com as universidades de Cin-
cias Agrrias que j tivessem expe-
rincia acumulada em aes de ensino,
pesquisa ou extenso relacionadas com
a Reforma Agrria, com a assistncia
tcnica e com o movimento estudantil
de Agronomia, que, atravs da Federa-
o dos Estudantes de Agronomia do
Brasil (Feab), j realiza estgios de vi-
vncia em assentamentos rurais desde
1987 (Costa, 2006, p. 40).
O Programa Residncia Agrria foi
criado em 2004, pela portaria n 57 do
Ministrio do Desenvolvimento Agr-
rio, de 23 de julho de 2004, e da nor-
ma de execuo MDA/Incra n 42, de
2 de setembro de 2004. Ofcialmente,
foi denominado Programa Nacional
de Educao do Campo: Formao de
Estudantes e Qualifcao Profssional
para a Assistncia Tcnica. O progra-
ma teve incio como um projeto piloto
diretamente vinculado ao Ministrio do
Desenvolvimento Agrrio, com forte
parceria com o Incra, o que englobava
os docentes de universidades pblicas e
movimentos sociais do campo, em es-
pecial o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) e a Confede-
rao Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag).
Esse projeto piloto foi organizado
em duas fases: na primeira, quinze uni-
versidades pblicas das cinco regies
do pas organizaram estgios de vivn-
cia nos projetos de assentamento e em
localidades rurais para alunos dos cur-
sos de Cincias Agrrias que estavam
no ltimo semestre. As localidades es-
colhidas para as vivncias deveriam ser
atendidas por programas de assistncia
tcnica, sendo que profssionais des-
ses programas atuavam como tcnicos
orientadores de campo. Nesse estgio
de vivncia, os alunos, seus tcnicos
orientadores e os professores das uni-
versidades, em dilogo com as famlias
Dicionrio da Educao do Campo
686
e suas organizaes, realizaram diag-
nsticos que apontassem prioridades
de pesquisa e assistncia tcnica. Na se-
gunda fase, cinco dessas universidades
realizaram cursos de especializao, em
parceria com as demais universidades
envolvidas na primeira fase, compon-
do turmas tanto com os egressos dos
cursos de Cincias Agrrias que parti-
ciparam da primeira fase quanto com
os tcnicos orientadores de campo das
mais diversas formaes acadmicas.
Essa experincia piloto foi realizada no
perodo de 2004 a 2006 (Molina et al.,
2009; Costa, 2006).
Aps uma etapa de avaliaes, em
2008, dessa experincia piloto, o Pro-
grama Residncia Agrria foi incor-
porado pelo Programa Nacional de
Educao na Reforma Agrria como
uma ao especfca dos cursos de es-
pecializao (ps-graduao lato sensu),
sendo que a vivncia dos egressos em
assentamentos, organizada pela pr-
pria universidade que pleiteia o proje-
to, deve ser condio prvia.
Para saber mais
CALDART, R. S. Sobre Educao do Campo. In: SANTOS, C. A. (org.). Campo
polticas pblicaseducao. Braslia: MDAIncra, 2008. p. 67-86.
CASIMIRO, M. I. E. C. Uma residncia para as cincias agrrias: saberes coletivos
para um projeto campons e universitrio. In: MOLINA, M. C. et al. (org.). Educa-
o do Campo e educao profssional: a experincia do Programa Residncia Agrria.
Braslia: MDA, 2009. p. 29-38.
COSTA, F. de A. Formao agropecuria da Amaznia: os desafos do desenvolvimento
sustentvel. Belm: Ncleo de Altos Estudos Amaznicos, Universidade Federal
do Par, 2000.
COSTA, M. I. E. Uma residncia para as cincias agrrias: saberes coletivos para um
projeto campons e universitrio. 2006. Dissertao (Mestrado em Poltica e
Gesto Ambiental) Centro de Desenvolvimento Sustentvel, Universidade de
Braslia, Braslia, 2006.
FREIRE, P. Extenso ou comunicao? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
MOLINA, M. C. Residncia Agrria: concepes e estratgias. In: ______ et al.
(org.). Educao do Campo e educao profssional: a experincia do Programa Residn-
cia Agrria. Braslia: MDA, 2009. p. 17-28.
______ et al. (org.). Educao do Campo e educao profssional: a experincia do Pro-
grama Residncia Agrria. Braslia: MDA, 2009.
NEVES, D. P. Importncia dos mediadores culturais para a promoo do desen-
volvimento social. In: MOURA, E. G.; AGUIAR, A. C. F. (org.). O desenvolvimento
rural como forma de ampliao dos direitos no campo: princpios e tecnologias. So Luiz:
Uema, 2006. p. 27-64.
S, L. M. A Questo camponesa e os desafos do Programa Residncia Agrria.
In: MOLINA, M. C. et al. (org.). Educao do Campo e educao profssional: a experin-
cia do Programa Residncia Agrria. Braslia: MDA, 2009. p. 372-385.
687
R
Revoluo Verde
R
REVOLUO VERDE
Mnica Cox de Britto Pereira
A introduo em larga escala, a
partir da dcada de 1950, em muitos
pases do mundo, inclusive no Brasil,
de variedades modernas de alta pro-
dutividade foi denominada Revoluo
Verde. Esse ciclo de inovaes, cujo
objetivo foi intensifcar a oferta de
alimentos, iniciou-se com os avanos
tecnolgicos do ps-guerra, com um
programa de valorizao do aumento
da produtividade agrcola por meio de
uma tecnologia de controle da natureza
de base cientfco-industrial, a fm de
solucionar a fome no mundo, visto que
na poca se considerava a pobreza, e
principalmente a fome, como um pro-
blema de produo.
Com base nessa lgica, a Revoluo
Verde foi concebida como um pacote
tecnolgico insumos qumicos,
sementes de laboratrio, irrigao, me-
canizao, grandes extenses de terra
conjugado ao difusionismo tecnolgi-
co, bem como a uma base ideolgica
de valorizao do progresso. Esse pro-
cesso vinha sendo gestado desde o s-
culo XIX, e, no sculo XX, passou a
se caracterizar como uma ruptura com
a histria da agricultura.
Porm, desde o incio existiram con-
trovrsias. Os defensores da Revoluo
Verde afrmavam que somente com a
melhoria das tcnicas de produo seria
possvel acabar com a escassez e a de-
pendncia de alimentos; consideravam-
na, assim, como uma soluo para a
crise de alimentos. A nova tecnologia
gentico-qumica conheceu o xito em
meados dos anos 1960, com resultados
de grande produtividade. Contudo, fo-
ram surgindo crticas em decorrncia
dos inmeros impactos sociais e am-
bientais gerados por ela, com destaque
para a perda de variedades antigas e a
perda irrecupervel de material genti-
co e de alternativas alimentcias.
Por um lado, h os que abordam a
Revoluo Verde apenas como enfoque
tecnolgico e consideram que os pro-
blemas que dela decorrem podem ser
resolvidos mediante inovaes tecno-
lgicas. Por outro, h os que concebem
a Revoluo Verde como um proble-
ma sob os aspectos social, econmico,
poltico, cultural, agronmico e ecol-
gico, e, portanto, avaliam que a Revo-
luo Verde causou grandes mudanas
estruturais, no cabendo analis-la da
viso de uma neutralidade cientfca.
Afrmam que a Revoluo Verde foi
veculo de desigualdade social, bem
como obstculo ao desenvolvimento
dos camponeses, vi sto que el es se
tornaram dependentes de empre-
sas globais fabricantes dos pacotes
tecnolgicos. Alm disso, as polticas
de desenvolvimento que privilegiaram
o vis tcnico acabaram por deixar de
lado mudanas sociais e estruturais,
tais como a Reforma Agrria.
O processo de modernizao da
agricultura ao longo do sculo XX le-
vou a grandes transformaes e a uma
ruptura no modo de conceber a agri-
cultura. Podemos considerar a Revolu-
o Verde como um novo paradigma,
quando comparado com a chamada
Primeira Revoluo Agrcola, que diz
Dicionrio da Educao do Campo
688
respeito intensifcao do uso da ter-
ra, porm referenciada nos recursos e
ciclos ecolgicos endgenos. A Primei-
ra Revoluo Agrcola ocorreu a partir
do sculo XVIII, quando a integrao
entre atividades agrcolas e pecurias
na agricultura permitiu o plantio de
forragens em sistemas de rotao com
outras culturas, levando a grande me-
lhoria da fertilidade dos solos, com a
integrao dos ciclos ecolgicos e, so-
bretudo, a valorizao das variedades
locais e da autonomia do agricultor.
Em meados do sculo XIX, a for-
mulao de teorias cientfcas com base
em experimentos levou aos adubos
qumicos e seleo de caractersti-
cas genticas nas plantas, como resul-
tado dos trabalhos do qumico Justus
von Liebeg que criou o laboratrio
de qumica e descobriu que as plantas
alimentcias cresciam melhor e tinham
maior valor nutritivo quando eram
adicionados ao seu cultivo elementos
qumicos e dos experimentos com
ervilhas feitos por Gregor Mendel com
o objetivo de entender as caractersti-
cas hereditrias dos seres vivos. Assim,
o cultivo da terra pelos agricultores
com base na fertilizao do solo pela
matria orgnica realizado por milnios
foi sendo substitudo pela utilizao de
substncias qumicas, orientada por
tcnicos e vendedores, levando adu-
bao qumica industrial. A seleo de
variedades vegetais, realizadas des-
de o incio da agricultura, passou a
ser controlada em laboratrios, com
a seleo de linhagens vegetais que
passaram a ser chamada de varieda-
des melhoradas. Tambm ocorre-
ram transformaes da matriz ener-
gtica de produo, com a introduo
do motor de combusto interna, no
lugar da trao animal, fonte de ener-
gia de base renovvel da agricultura
tradicional camponesa.
Foram modifcaes radicais e que
transformaram a base da agricultura: o
conhecimento milenar prtico do pr-
prio agricultor foi substitudo pelo
conhecimento cientfco; os ciclos eco-
lgicos locais, pautados nos recursos
endgenos, foram substitudos por in-
sumos exgenos industriais; o trabalho
que era realizado em convivncia com
a natureza foi fragmentado em partes
agricultura, pecuria, natureza, socie-
dade , e cada esfera passou a ser con-
siderada em separado, quebrando-se
a unidade existente entre ser humano
e natureza.
Os sistemas diversifcados rotacio-
nais foram substitudos por sistemas
especializados em monoculturas, basea-
dos no pacote tecnolgico da Revoluo
Verde, em insumos industriais (adubos
qumicos, agrotxicos, motores com-
busto interna, variedades de plantas e
animais de laboratrio considerados de
alto potencial produtivo), no conheci-
mento tcnico-cientfco, nas grandes
extenses de terra (latifndios) e na
irrigao. Essas transformaes resul-
taram em xodo rural, dependncia da
agricultura em relao indstria e s
corporaes, dependncia do agricul-
tor da cincia e da indstria, desterrito-
rializao dos camponeses, invaso cul-
tural e contaminao do ser humano e
do ambiente como um todo. A Revolu-
o Verde contribuiu para marginalizar
grande parte da populao rural.
A categoria chave do paradigma da
Revoluo Verde a chamada varieda-
de de alto rendimento (VAR), conside-
rada smbolo da agricultura moderna
de monoculturas. Essas variedades so
inferidas como sementes milagrosas
que, por suas caractersticas, teriam um
689
R
Revoluo Verde
rendimento maior do que os cultivos
tradicionais que elas substituem. Um
equvoco, visto que VAR uma cate-
goria reducionista. A agricultura da
Revoluo Verde substitui a interao
simbitica entre solo, gua, plantas
e animais da agricultura camponesa
pela integrao de insumos, sementes
e produtos qumicos. Sua estratgia
aumentar a produtividade de um ni-
co componente de uma propriedade
rural custa de reduzir outros com-
ponentes do sistema e de aumentar
os insumos externos. Ela substitui os
ciclos ecolgicos por fluxos lineares
de insumos qumicos. Assim, novas
variedades foram chamadas de muito
produtivas mesmo que, no que diz res-
peito aos ecossistemas, no o sejam.
importante esclarecer que o material
gentico no pode ser artificialmente
criado; apenas pode ser recombinado.
As variedades laboratoriais no foram
criadas: elas se originaram de plantas
e de animais selecionados por campo-
neses em seus territrios por muitas
geraes e milnios.
O pacote da Revoluo Verde
baseia-se em monoculturas genetica-
mente uniformes (cultivos homog-
neos de variedades de laboratrio); j
os sistemas agrcolas tradicionais so
complexos e extremamente diversos
(cultivos diversifcados com sementes
nativas milenares de grande variabilida-
de gentica), e sua produo tambm
envolve a conservao das condies
de produtividade. A cada ciclo produ-
tivo da agricultura de base camponesa,
so utilizadas sementes nativas, solo
fertilizado por processos ecolgicos da
natureza manejados pelos agricultores,
gua do ambiente, que so recursos
endgenos que foram mantidos por
geraes, visto que a agricultura nativa
tem como base em seu conhecimento
tradicional a interao soloplanta
guaecossistema. O solo visto como
uma unidade viva, rico em organismos
que fazem a aerao e a decomposio
da matria orgnica, renovam os nu-
trientes e fertilizam o solo de um ci-
clo para o outro. Uma agricultura que
projeta futuro para humanidade e para
o planeta.
Na Revoluo Verde, para cada safra,
novos i nsumos externos, como se-
mentes, adubos qumicos, agrotxicos,
petrleo e irrigao, so necessrios e
precisam ser adquiridos. As sementes
melhoradas somente so produtivas
com base no pacote tecnolgico. Sem
os insumos adicionais, seu desempe-
nho inferior ao das variedades nati-
vas. Portanto, o termo variedades de
alto rendimento pode ser considerado
enganoso, pois no pelas caractersti-
cas intrnsecas que as variedades apre-
sentam alta produtividade.
Alm disso, com o estreitamento
das bases genticas da agricultura, as
culturas ficaram fragilizadas e vulne-
rveis a desequilbrios, s chamadas
pragas e doenas (que decorrem
de aumento da populao de uma ou
outra espcie por causa de desequi-
l bri os ecol gi cos nas i nteraes
ecolgicas da cadeia alimentar), e s
variaes climticas.
A agricultura tradicional de base
camponesa responsvel pela conser-
vao das condies de produtividade.
A base dessa agricultura sustentvel,
ao passo que a agricultura de base in-
dustrial que usa o pacote da Revoluo
Verde no conserva as condies de
produtividade. Ela considera o solo
como substrato, adiciona a ele adubo
qumico e gua, e prepara-o com o uso
de mquinas.
Dicionrio da Educao do Campo
690
As variedades nativas no so pro-
duzidas somente para o mercado: so
cultivadas para produzir comida, for-
ragem para os animais e fertilizantes
orgnicos para o solo, e podem ser con-
sideradas, sob vrios aspectos, melho-
res do que as chamadas melhoradas
cientifcamente por seleo de certas
caractersticas que respondem bem ao
pacote. Por exemplo, uma variedade
antiga de trigo e uma variedade de alto
rendimento produzem 1.000 kg de ma-
tria bruta. A variedade nativa produz
300 kg de gros e 700 kg de palha
que tem vrios usos no sistema agr-
cola tradicional , enquanto a de alto
rendimento produz 500 kg de gros e
500 kg de palha, priorizando a produ-
o como mercadoria para venda.
As monoculturas, que privilegiam
algumas variedades apenas, acabam
por ameaar a grande diversidade de
espcies nativas e seus usos mltiplos.
O pacote da Revoluo Verde foi cria-
do para substituir a diversidade em
dois nveis: monoculturas de gros,
que substituram os cultivos mistos e a
rotao de culturas diversas, e base ge-
ntica limitadssima. Quando h subs-
tituio dos sistemas nativos diversif-
cados por plantaes com sementes do
pacote da Revoluo Verde, a diversi-
dade ameaada e sua perda irrepa-
rvel. Da podermos ressaltar que est
em curso uma eroso gentica, com
perda de material gentico de inmeras
variedades nativas no aproveitadas, as
quais, se no forem plantadas, acabaro
sendo extintas, levando extino de
suas sementes.
Podemos chamar ateno para as
caractersticas diversas dessas sementes
melhoradas, destacando, por exem-
plo, que a alimentao vem sendo trans-
formada: a diversidade alimentar e a
riqueza nutricional foram sendo subs-
titudas por alimentos homogneos
que no oferecem balano nutricional
saudvel. O que produzido pelo pa-
cote acaba por precisar ser enriqueci-
do industrialmente, um paradoxo do
modelo da Revoluo Verde. O arroz
irrigado, por exemplo, em decorrncia
da poluio gerada pelo uso crescente
de agrotxicos (inseticidas, herbicidas
etc.), extinguiu grande parte da fauna
dos rios, destruindo importante fonte
local de protena: o peixe.
A segurana alimentar das socie-
dades em vrias partes do mundo est
ameaada, assim como a soberania
alimentar, visto que foi sendo impos-
to o mesmo pacote tecnolgico para
os vrios continentes, um pacote que
utiliza grandes extenses de terras nos
pases em desenvolvimento e trabalho
precarizado, ameaando o controle da
agricultura pela diversidade de grupos
camponeses por todo o mundo. H
um confronto entre diferentes modos
de fazer agricultura: uma agricultura do
agronegcio, hegemnica e homog-
nea em disputa com uma agricultura de
base camponesa.
O saber local faz uso mltiplo da
diversidade, as variedades locais dos
sistemas agrcolas diversifcados so
selecionadas para satisfazer esses usos
mltiplos. A destruio da diversidade
e a criao da uniformidade envolvem
simultaneamente a destruio da esta-
bilidade e a criao da vulnerabilidade.
As variedades introduzidas pelo pacote
da Revoluo Verde nas monoculturas
aumentam o uso de insumos externos
no ambiente e introduzem impactos
ecolgicos graves e destrutivos. Adu-
bos qumicos e agrotxicos poluem os
solos e guas. A irrigao e a reduo
e escassez de biomassa vegetal levam a
691
R
Revoluo Verde
alteraes na recarga de gua dos len-
is freticos, alterando o regime hdri-
co e secando nascentes.
No pacote da Revoluo Verde, a
perda dos usos mltiplos para alm do
uso para o mercado no considerada:
os custos ecolgicos so deixados de
fora como externalidades, assim como
os sistemas de saber nativos so de-
gradados e desaparecem. O modelo da
Revoluo Verde pode ser caracteriza-
do como um sistema insustentvel sob
o aspecto social e ecolgico.
O sistema de saber dominante
incompatvel com igualdade e justia,
pois despreza a diversidade e a plurali-
dade de sujeitos, desconsiderando uma
srie de caminhos que leva ao conhe-
cimento da natureza. O reducionismo
nele embutido implica o desapareci-
mento da percepo de diversidade, de
mltiplas possibilidades; por conse-
guinte, leva monocultura da mente,
que acaba por ter em seu mapa mental
exclusivamente o modelo homogneo
como possvel e as alternativas, que
sempre existiram e existiro no so
mais vistas, percebidas ou considera-
das. Com a Revoluo Verde, o ser hu-
mano passou a reduzir a diversidade
em vez de aument-la. Genes, varieda-
des, sabores, alimentos mantidos por
milnios na interao entre cultura e
natureza transformaram-se em mer-
cadorias apropriadas pelas corpora-
es. O conhecimento da natureza e
a reproduo da vida esto ameaados
pelo processo de dominao e difuso
do pacote da chamada agricultura mo-
derna da Revoluo Verde.
Para saber mais
ALTIERI, M. Agroecologia: bases cientfcas para uma agricultura sustentvel. Porto
Alegre: Agropecuria; Rio de Janeiro: AS-PTA, 2002.
EHLERS, E. O que agricultura sustentvel. So Paulo: Brasiliense, 2008.
HOBBELINK, H. (org.). Biotecnologia: muito alm da Revoluo Verde. Porto Alegre:
Traduo, 1990.
PETERSEN, P. (org.). Agricultura familiar camponesa na construo do futuro. Rio de
Janeiro: AS-PTA, 2009.
SHIVA, V. Monoculturas da mente. So Paulo: Gaia, 2003.
693
S
S
SADE NO CAMPO
Fernando Ferreira Carneiro
Andr Campos Brigo
Alexandre Pessoa Dias
O conceito ampliado de sade est
expresso no artigo 196 da Constituio
Federal de 1988, que afrma: A sade
direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante polticas sociais e
econmicas que visem reduo do
risco de doena e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitrio s
aes e servios para sua promoo,
proteo e recuperao.
Falar em sade no campo do ponto
de vista tanto humano quanto ambien-
tal signifca falar de determinantes so-
ciais, riscos, agravos, ateno, promo-
o e vida numa perspectiva justa. A
sade deve ser vista como um processo
histrico de luta coletiva e individual
que expressa uma conquista social dos
povos de um determinado territrio
(Pinheiro et al., 2009).
O avano no processo de moder-
nizao agrcola no Brasil, caracte-
rizado por concentrao de terras,
expanso de monocultivos, uso intensi-
vo de equipamentos e modelo produtivo
qumico-dependente de AGROTXICOS e
fertilizantes sintticos, vem induzindo
processos de desterritorializao que
repercutem sobre o modo de vida dos
trabalhadores do campo e das comuni-
dades. Esse processo de desterritoriali-
zao do CAMPESINATO, de insegurana
alimentar e de contaminao ambien-
tal e humana modifca as relaes de
trabalho, e seus riscos conformam
um contexto em que emergem novas
necessidades, com graves repercusses
na sade, notadamente das popula-
es do campo e da foresta (Pessoa,
2010), onde os altos nveis de pobreza
e as difculdades de acesso a bens e ser-
vios so histricos.
Os resultados dos diversos estu-
dos sobre as condies de sade des-
ses grupos evidenciam um perfl mais
precrio quando comparadas s da po-
pulao urbana. No campo, ainda exis-
tem importantes limitaes de acesso e
qualidade nos servios de sade, bem
como uma situao defciente de sa-
neamento ambiental. As condies de
sade nas reas de REFORMA AGRRIA
esto entre as questes com pior ava-
liao pelas famlias, em termos de sua
melhora aps serem assentadas (Leite
et al., 2004).
Sade e modelo de
desenvolvimento
Josu de Castro (2003), um dos
maiores estudiosos da questo da fome
no mundo, j fazia a crtica da orientao
de nossa poltica agrcola em 1946, por
ter sido inicialmente direcionada pelos
colonizadores europeus e depois pelo ca-
pital estrangeiro. Essa poltica enfatizou
a produo para a exportao, em vez de
priorizar a agricultura camponesa, capaz
de matar a fome do povo brasileiro.
Dicionrio da Educao do Campo
694
A MODERNIZAO DA AGRICULTURA no
Brasil, ao provocar migraes expressi-
vas do campo para a cidade, determi-
nou alteraes nos padres de adoe-
cimento e mortalidade da populao
do pas. A partir da dcada de 1960,
intensifcam-se as transformaes no
meio rural, que repercutem negati-
vamente nas condies de vida e na sa-
de dos trabalhadores do campo. Essas
transformaes foram se processando
no nvel da produo em si e tambm no
mbito das relaes patroempre-
gado. O campons, ao ser expulso da
terra, passou a residir nas periferias
das cidades, encontrando no mercado
a possibilidade de oferecer a sua for-
a de trabalho para grandes empreen-
dimentos agrcolas. s suas condies
de sade j debilitadas acresceram-se
novos padres de desgaste, que se tra-
duziram em envelhecimento precoce,
morte prematura e doenas cardiovas-
culares, degenerativas e mentais, entre
outras (Alessi e Navarro, 1997).
A poltica econmica neoliberal
vigente nas ltimas dcadas vem res-
tringindo o papel do Estado (Vianna,
1998), o que contribui para que a po-
pulao do campo continue com gran-
des dificuldades de acesso aos servios
pblicos bsicos. Uma das expresses
desse modelo tambm est na moder-
nizao conservadora da agricultura
brasileira (Delgado, 2002), que con-
centra a propriedade da terra, precari-
za as condies de trabalho e tem im-
pactado os ecossistemas. As famlias
expulsas da terra acabam migrando
para as cidades em busca de trabalho e
melhores condies de acesso sade
e a outros servios.
O aprofundamento da crise ecol-
gica da agricultura na ltima dcada,
com a liberao da venda dos TRANS-
GNICOS, associado ao consumo cres-
cente de venenos agrcolas, levaram o
Brasil a se tornar, desde 2008, o pas
que mais utiliza agrotxicos no mun-
do. Os impactos socioambientais desse
modelo de agricultura tm se agravado
e se concentram justamente nas popu-
laes que vivem em piores condies
de moradia, saneamento, renda, acesso
a servios de sade e educao.
Polticas de sade
para o campo
Evidenciadas principalmente na
dcada de 1950 e no incio da dca-
da de 1960, as aes e campanhas de
combate s endemias rurais estiveram
associadas aos projetos e ideologias do
desenvolvimento. Entre os argumentos
elencados para essas aes, estavam a
recuperao da fora de trabalho no
campo, a modernizao rural, a ocu-
pao territorial e a incorporao de
espaos saneados lgica da produo
capitalista (Lima et al., 2005).
A evoluo das polticas de sade
para o campo no Brasil esteve principal-
mente associada aos interesses econ-
micos ligados garantia de mo de obra
sadia para a explorao dos recursos na-
turais, como ocorreu na explorao da
borracha; ou para apaziguar os nimos
dos movimentos sociais do campo e sua
capacidade de organizao, como ocor-
reu com as Ligas Camponesas e a conse-
quente criao do Fundo de Assistncia
ao Trabalhador Rural (Funrural) (Pinto,
1984). Criado em 1971 a partir do Esta-
tuto do Trabalhador Rural, de 1963, o
Funrural permitiu formalmente o aces-
so dos trabalhadores rurais, com cartei-
ra de trabalho assinada, a um modelo de
assistncia sade tipicamente urbano e
curativo (Carneiro et al., 2007).
695
S
Sade no Campo
Embora a Constituio de 1934
afrmasse o direito previdncia social
a todos os trabalhadores brasileiros, a
populao rural s teve acesso pro-
teo social no incio dos anos 1970.
Essa conquista, em plena ditadura mi-
litar e perodo de desenvolvimento da
REVOLUO VERDE, deveu-se grada-
tiva mobilizao dos trabalhadores ru-
rais desde os anos 1950, expressa no
crescimento da organizao sindical e
em movimentos como as Ligas Cam-
ponesas em torno da reivindicao por
Reforma Agrria e pela extenso ao
campo de polticas trabalhistas e so-
ciais (Delgado, 2002).
A VIII Conferncia Nacional de
Sade (CNS), realizada em 1986, signi-
fcou o marco poltico de construo
da Reforma Sanitria Brasileira, for-
necendo as bases para as defnies
da Constituio de 1988. O relatrio
desta conferncia defne a sade como
um direito de todos e dever do Esta-
do, afrma a necessidade de se criar um
sistema nico de sade, estabelece os
princpios e diretrizes para esse sistema
e cria o conceito ampliado de sade:
a sade resultante das condies
de alimentao, habitao, educao,
renda, meio ambiente, trabalho, trans-
porte, emprego, lazer, liberdade, acesso
e posse da terra e acesso servios de
sade (Brasil, 1986, p. 4).
Passados dois anos, os artigos da
Constituio Federal que se referem
especificamente sade (art. 196 a
200) foram regulamentados pelas Leis
Orgnicas da Sade (leis n 8.080/1990
e n 8.142/1990). Importante conquis-
ta do movimento sanitrio a noo
de sade como produo social. Po-
rm, o acesso e a posse da terra no
est includo no conceito de sade re-
conhecido pelo Estado brasileiro, pelo
menos no da forma explcita como
constava no relatrio da VIII CNS.
Essa mudana refete as difculdades
impostas pelos grandes proprietrios
de terras na construo de uma polti-
ca de sade para o campo, pois a con-
centrao de terras causa estrutural
da desigualdade social no Brasil, tendo,
portanto, grande impacto na sade das
populaes do campo e da cidade.
Em todas as CNS realizadas aps a
constituio do Sistema nico de Sade
(SUS), da IX a XIII, nas quais a par-
ticipao da sociedade garantida en-
quanto princpio do sistema de sade,
as questes de sade no campo sempre
aparecem de forma detalhada em v-
rias propostas, reforando a necessida-
de da implementao de medidas para
garantir o acesso dessas populaes s
aes e aos servios de sade.
Atendendo a reivindicaes dos
movimentos sociais do campo rela-
tivas necessidade de construo de
uma poltica de sade para o campo,
em 2003 o Ministrio da Sade criou
o Grupo da Terra, formado com re-
presentao de todas as reas do
Mi ni stri o da Sade, da Agn-
ci a Nacional de Vigilncia Sanitria
(Anvisa), da Fundao Nacional de
Sade (Funasa) e da Fundao Oswaldo
Cruz (Fiocruz), alm de representantes
dos governos estaduais e municipais
e da sociedade civil organizada: MO-
VIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS
SEM TERRA (MST), Confederao Na-
cional dos Trabalhadores na Agricultu-
ra (Contag), MOVIMENTO DAS MULHERES
CAMPONESAS (MMC BRASIL), COMISSO
PASTORAL DA TERRA (CPT), Marcha das
Margaridas e Coordenao Nacional
de Articulao das Comunidades Ne-
gras Rurais Quilombolas (Conaq), com
a posterior agregao do Conselho
Dicionrio da Educao do Campo
696
Nacional de Seringueiros (CNS). Ape-
sar de reservar em torno de 75% dos
assentos para os representantes do go-
verno at o fm de 2009, o Grupo da
Terra abriu a possibilidade de reconhe-
cimento das populaes enquanto su-
jeitos da construo da poltica, sendo
estabelecidas maiores pontes de dilo-
go entre saberes.
A proposta de Poltica Nacional
de Sade Integral das Populaes do
Campo e da Floresta (PNSIPCF) foi
apresentada e aprovada por unanimi-
dade, no Conselho Nacional de Sade,
em agosto de 2008. Entretanto, desde
ento, fcou paralisada no mbito da
Comisso Tripartite, aguardando pac-
tuao entre os representantes dos
gestores da sade. Finalmente, em
2 de dezembro de 2011, o Ministrio
da Sade publicou a portaria n 2.866,
que institui a PNSIPCF. O texto da po-
ltica reconhece a necessidade de supe-
rao do modelo de desenvolvimento
agrcola hegemnico na busca de rela-
es homemnatureza responsveis e
promotoras da sade e a extenso de
aes e servios de sade que atendam
as populaes, respeitando suas espe-
cifcidades. Para isso, assume a trans-
versalidade como estratgia poltica
e a intersetorialidade como prtica
de gesto, norteadoras da execuo das
aes e servios de sade voltados s
populaes do campo e da foresta,
cabendo ao Ministrio da Sade garan-
tir a implantao da PNSIPCF (Brasil,
2011) atravs do Grupo da Terra
(Brasil, 2005).
Com o estmulo do Grupo da Ter-
ra e a presso de movimentos sociais
como o MST, o principal avano em
termos da sade para o campo que o
Sistema nico de Sade apresentou
nos ltimos anos foi a expanso da
Estratgia Sade da Famlia (ESF) para
essas populaes, em especial para os
assentamentos da Reforma Agrria e
de remanescentes de quilombos. A ESF
oferece servios que podem ter gran-
de impacto na reduo e no controle de
algumas doenas e mortes por exem-
plo, na reduo da mortalidade infan-
til. Se, por um lado, a expanso da ESF
representa avanos, por outro, esses
avanos so limitados e at mesmo
contraditrios caso no estejam arti-
culados com a efetiva incorporao da
PNSIPCF ao SUS. Volta-se para uma
poltica direcionada por tecnocratas e
profundamente infuenciada pela ra-
cionalidade biomdica, planejada para
os espaos urbanos, portanto, como
polticas de sade para o campo e no
do campo.
Historicamente, as populaes do
campo sempre enfrentaram a desconti-
nuidade das aes de polticas de sade
e de modelos que no se consolidaram, e
uma fragmentao de iniciativas que
ainda contribuem para seus altos n-
veis de excluso e discriminao pelos
servios de sade. Como lies para se
pensar em novas polticas para essas
populaes, deve-se ressaltar o fracas-
so das propostas de carter desinte-
grado, centralizado, curativo, urbano e
no universais.
Por uma sade do campo
Atualmente, quase 30 milhes de
pessoas vivem em reas consideradas
rurais (Instituto Brasileiro de Geografa
e Estatstica, 2011), ou seja, tm seus
modos de vida e sua (re)produo social
relacionados com o campo, as forestas
e as guas. So camponeses, agriculto-
res familiares, indgenas, quilombolas,
ribeirinhos, atingidos por barragens,
697
S
Sade no Campo
caiaras, extrativistas, artesos, cabo-
clos, comunidades de terreiros, fundos
de pasto, extrativistas, entre outras co-
munidades tradicionais. Alm desses, h
ainda os trabalhadores rurais sem-terra
e os trabalhadores temporrios, muitos
deles expulsos do campo.
Desde as dcadas de 1970 e 1980,
algumas organizaes no governamen-
tais (ONGs) e centros de formao em
agricultura alternativa vm desenvol-
vendo e apoiando experincias de pro-
duo saudvel alternativas ao modelo
de agricultura da Revoluo Verde, em
nosso pas. Essas experincias compar-
tilham valores e princpios antagnicos
queles do AGRONEGCIO: produo
diversifcada, relaes homemnature-
za produtoras de sade, autonomia dos
agricultores sobre o modo de produ-
o da vida, valorizao das prticas e
conhecimentos tradicionais do povo,
entre outros.
Essas experincias iniciais tiveram
grande importncia na formao do
movimento agroecolgico no Brasil,
que cresceu e ganhou fora nos lti-
mos dez anos, tendo como marco a
realizao do I Encontro Nacional de
Agroecologia em 2002. Organizaram-
se redes de agroecologia de diferentes
biomas que se renem na Articulao
Nacional de Agroecologia. Muitos en-
contros, feiras, congressos e jornadas
de agroecologia foram realizados nesse
perodo, em que os movimentos so-
ciais que fazem parte da VIA CAMPESI-
NA, entre eles o MST, incorporaram a
agenda da produo agroecolgica. E
criaram-se escolas e cursos de Agro-
ecologia. Tambm deve-se destacar
o papel de vrios sindicatos de tra-
balhadores rurais e a organizao da
Associao Brasileira de Agroecologia
(ABA), que rene tcnicos, professo-
res e pesquisadores. Nesse movimen-
to, os agricultores e as agricultoras so
considerados educadores e os princi-
pais protagonistas.
Entre essas experincias, est a valo-
rizao dos cuidadores populares em
sade e do trabalho de raizeiros, partei-
ras e benzedeiras; dos conhecimentos
passados de gerao em gerao; de re-
mdios caseiros preparados com ervas
medicinais; e daqueles que cuidam da
sade das famlias e das comunidades
e que conhecem os efeitos positivos da
alimentao saudvel. No se trata
de negar a importncia do acesso aos
servios pblicos de sade, mas da ne-
cessidade de dilogo entre as diferentes
racionalidades de cuidados em sade.
O encontro crescente entre pro-
fssionais e pesquisadores de sade
entre eles certamente trabalhadores
da ESF com o movimento agro-
ecolgico, os educadores e cuidadores
populares e os trabalhadores rurais
organizados indica que a construo de
um projeto de sade do campo est em
curso. Esse projeto est representado
no s pelo aumento do nmero de
pesquisas sobre a sade das popu-
laes do campo, tanto de denncia
dos impactos do modelo de produo
agrcola dominante quanto das alter-
nativas em construo, mas tambm
em cursos protagonizados de forma
autnoma pelos trabalhadores rurais
organizados, conjuntamente com tra-
balhadores e instituies pblicas de
sade. O fortalecimento de campos
da sade, como os da educao po-
pular em sade e da sade ambien-
tal, por intermdio da I Confern-
cia Nacional de Sade Ambiental
(Brasil, 2010), realizada em dezembro
de 2009, exemplo dos espaos por
que passam esses encontros.
Dicionrio da Educao do Campo
698
A produo saudvel, as tcnicas
de saneamento ambiental e ecolgico,
a valorizao de prticas e conheci-
mentos tradicionais, a defesa da biodi-
versidade, as escolas do campo geridas
pelos movimentos sociais, a gerao de
renda proveniente de agroindstrias
na forma de cooperativas e as mobi-
lizaes sociais so exemplos de aes
que tm levado a maior autonomia dos
territrios e devem nortear no apenas
polticas pblicas promotoras da sade
do campo, como tambm a constru-
o de polticas de sade do campo.
Para saber mais
ALESSI, N. P.; NAVARRO, V. L. Health and Work in Rural Areas: Sugar Cane
Plantation Workers in Ribeiro Preto, So Paulo, Brazil. Cadernos de Sade Pblica,
v. 13, supl. 2, p. 111-121, 1997.
BRASIL. MINISTRIO DA SADE. Portaria GM n 2.460, de 12 de dezembro de 2005: dis-
pe sobre a criao do Grupo da Terra. Braslia: Ministrio da Sade, 2005. Dis-
ponvel em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/gab05/gabdez05.htm. Acesso em:
26 out. 2009.
______. ______. Portaria GM n 2.866, de 2 de dezembro de 2011: institui, no m-
bito do Sistema nico de Sade (SUS), a Poltica Nacional de Sade Integral
das Populaes do Campo e da Floresta (PNSIPCF). Braslia: Ministrio da Sa-
de, 2011. Disponvel em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/
prt2866_02_12_2011.html. Acesso em: 20 dez. 2011.
______. ______. CONFERNCIA NACIONAL DE SADE, 8. 1986. Relatrio. Disponvel em:
http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/home.html. Acesso em: 23 out. 2006.
______. ______. CONFERNCIA NACIONAL DE SADE AMBIENTAL, 1. 2009. Relat-
rio fnal. Braslia, 2010. Disponvel em: http://189.28.128.179:8080/cnsa. Acesso
em: 25 jun. 2010.
CARNEIRO, F. F. et al. A sade das populaes do campo: das polticas ofciais
s contribuies do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Cadernos de Sade Coletiva, v. 15, p. 209-230, 2007.
CASTRO, J. A geografa da fome o dilema brasileiro: po ou ao. 3. ed. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2003.
DELGADO, G. C.; CARDOSO JUNIOR, J. C. (org.). A universalizao de direitos sociais no
Brasil: a previdncia rural nos anos 90. 2. ed. Braslia: Ipea, 2002.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo 2010. Rio de
Janeiro: IBGE, 2011. Disponvel em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/censo2010/primeiros_resultados/default_primeiros_resultados.
shtm. Acesso em 10 jun. 2011.
LEITE, S. et al. (org.). Impacto dos assentamentos: um estudo sobre o meio rural brasi-
leiro. Braslia: Instituto Interamericano de Cooperao para a Agricultura, Ncleo
699
S
Sementes
de Estudos Agrrios e Desenvolvimento Rural; So Paulo: Editora da Unesp,
2004.
LIMA, N. T. et al. (org.). Sade e democracia: histria e perspectivas do SUS. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.
PESSOA, V. M. Tecendo ateno integral em sade ambiental e sade do trabalhador na
ateno primria sade em Quixer Cear. 2010. Dissertao (Mestrado em Sade
Pblica) Programa de Ps-graduao em Sade Pblica, Universidade Federal
do Cear, Fortaleza, 2010.
PINHEIRO, M. M. T. et al. Sade no campo. In: GT SADE E AMBIENTE DA ABRASCO
(org.). Caderno de texto I Conferncia Nacional de Sade Ambiental. Rio de
Janeiro: Abrasco, 2009. p. 25-29.
PINTO, V. G. Sade para poucos ou para muitos: o dilema da zona rural e das pequenas
localidades. Braslia: Ipea, 1984.
VIANNA, M. L. T. W. A americanizao (perversa) da seguridade social no Brasil: estrat-
gias de bem-estar e polticas pblicas. Rio de Janeiro: RevanIuperj, 1998.
S
SEMENTES
Eitel Dias Maic
Encontramos nos livros de histria
que, teoricamente, h 20 mil anos se
iniciou o processo de domesticao das
espcies, mediante a domesticao de
plantas silvestres. Desde os primrdios
da agricultura, a semente assumiu pa-
pel fundamental na vida do homem. O
processo de domesticao foi inicial-
mente inconsciente; depois, ocorreu
de forma deliberada.
A domesticao levou a perdas no
mecanismo de proteo natural; isso se
deve ao fato de a populao inicial ser
selvagem e heterognea, e, em seu es-
tado natural, muitas vezes as sementes
possurem dormncia e germinarem em
at trs estaes. A dormncia decorre
da existncia de substncias inibidoras
nas glumas e glumelas que envolvem as
sementes e que servem de mecanismos
de defesa e perpetuao das espcies.
Com o avano da domesticao e
o agrupamento das sementes em se-
menteiras, ocorreu a primeira interfe-
rncia no processo agrcola: o medo
da perda dos cereais para alimentao
causada pelo clima fez o homem colher
as plantas que germinavam primeiro e
que possuam embries mais vigorosos
(no dormentes), em detrimento das
plantas que apresentavam maior dif-
culdade de emergncia inicial e que,
portanto, eram eliminadas no processo
de colheita. Isto levou competio
entre as sementes cultivadas de forma
agrupada na sementeira.
As sementes em sementeiras es-
to expostas s mesmas condies e
Dicionrio da Educao do Campo
700
a presses climticas, ocorrendo a se-
leo de espcies de germinao rpi-
da, nas quais as sementes so ricas em
acares, mas pobres em protenas e
gorduras. Alm disso, o processo de
colheita das plantas selvagens na poca
da domesticao das sementes, quando
as mesmas passaram a ser cultivadas
nas sementeiras, reduziu ou eliminou
os mecanismos de defesa natural das
plantas, tais como dormncia, inv-
lucro espesso, sementes pequenas e
numerosas, pequenas inforescncias,
caules, embries frgeis e debulha fcil
da semente, que pode ser levada pelo
vento e pela gua a longas distncias.
Porm a domesticao das espcies
trouxe um incremento da diversidade,
pela mutao e os ciclos de hibridao,
surgindo ento as variedades locais em
diversas regies do mundo. As varieda-
des locais passaram a fazer parte de um
sistema agrcola, e esto entrelaadas com
diferentes prticas de cultivos e com a cul-
tura humana, a ecologia e a histria local.
Aps a domesticao das espcies
selvagens que hoje fazem parte da sua
dieta alimentar, o homem buscou sa-
ciar a defcincia de alimento pela ma-
nuteno e reproduo de sementes,
no apenas na forma de alimento, mas
tambm para satisfazer outras necessi-
dades, como festas e rituais. Aps do-
mesticar a semente, o agricultor criou
uma dependncia, e por que no dizer
tambm uma interao e uma ambi-
guidade imensas, com a semente, pois
aps isso a maioria das espcies fcou
totalmente dependente do manejo hu-
mano para a sua perpetuao.
Centros de origem
Estima-se que os povos pr-hist-
ricos alimentavam-se de mais de 1.500
espcies de plantas e que pelo menos
500 dessas espcies e variedades tm
sido cultivadas ao longo da histria.
Atualmente, apenas 30 vegetais culti-
vados perfazem 95% da dieta humana,
e o trigo, arroz, milho e soja repre-
sentam mais de 85% do consumo de
gros. Por milhares de anos, o homem
multiplicou e melhorou suas sementes,
chegando a domesticar e selecionar,
em algumas localidades, como ocorreu
nas Filipinas, 33 mil variedades de ar-
roz. No Afeganisto, os camponeses
chegaram a selecionar e a melhorar 12
mil variedades de trigo.
At h duzentos anos, a vida era
sedentria; nesse perodo, comearam
a ocorrer mudanas no comportamen-
to da humanidade, com a migrao do
campo para as cidades e o surgimento
dos grandes sistemas mercantilistas.
At ento ainda havia alta diversidade
de plantas no planeta, mas, nos dois
ltimos sculos, a humanidade cresceu
e comeou a sofrer transformaes,
ocorrendo tambm o incio da ero-
so gentica
1
e a perda da diversidade
gentica. Como exemplo, podemos
mencionar que, h duzentos anos, os
ndios americanos consumiam em
torno de 1.200 espcies diferentes de
plantas cultivadas.
Em 1850, nas ilhas Galpagos,
na Amrica do Sul, Charles Darwin
observou as variaes entre plantas e
animais que viviam na mesma regio;
ele constatou que, medida que muda-
vam de ambiente, as espcies sofriam
pequenas mudanas, alm de compro-
var a sobrevivncia dos mais fortes.
Darwin e de Candolle realizaram os
primeiros estudos sobre as origens das
plantas cultivadas. Por volta de 1885,
de Candolle afrmou que nos centros de
origem (locais onde se identifcou a
701
S
Sementes
origem de determinadas espcies), as
plantas ainda eram encontradas no seu
estado natural e selvagem e com o m-
ximo de diversidade gentica.
Foi, porm, Vavilov, agrnomo
russo diretor do Instituto de Investiga-
es Cientfcas de Leningrado, quem
efetivamente identifcou os centros de
origem das plantas cultivadas, criando
os chamados Centros de Vavilov. En-
tre 1920 e 1950, o pesquisador formou
uma equipe e fez levantamentos em
vrias partes do mundo totalizando
a rea estudada sessenta pases para
tentar entender a origem das plantas
cultivadas e concluiu que havia na Terra
onze zonas de diversifcao de plantas
cultivadas. Vavilov agrupou essas onze
zonas em oito centros de origem. Por
defnio, os centros de origem so in-
dependentes, esto separados por bar-
reiras naturais dentro de uma rea geo-
grfca desertos, oceanos, cadeias de
montanhas e forestas, entre outros ,
e cada um pode ser identifcado por de-
terminado grupo de espcies. Os cen-
tros de origem defnidos por Vavilov
esto distribudos da seguinte maneira:
Chins: o mais antigo e de maior 1)
contribuio dentre os centros. Fo-
ram listadas 136 espcies presentes
nesse centro, entre elas caqui, laran-
ja, limo, ameixa, nectarina, psse-
go, pera, soja, feijo, gergelim, ch.
Indiano: considerado o segundo 2)
centro em importncia, com 117
espcies, entre elas coco, manga,
arroz, milheto, gro-de-bico, berin-
jela, inhame, pepino, pimenta, juta
e algodo arbreo;
2a) Indo-malaio: considera-
do complementao do Centro
Indiano, inclui todas as ilhas da
Malsia e da Indonsia, e suas
principais espcies so coco,
banana, inhame, pomelo e cana-
de-acar.
Asitico Central: um centro me- 3)
nor que os anteriores, localizado a
noroeste da ndia, na regio ocupa-
da pelas antigas repblicas da des-
membrada Unio Sovitica e pela
regio ocidental da China. O centro
produz melo, pera, uva, trigo, cen-
teio (centro secundrio), ervilha,
lentilha, gergelim, linho, cenoura
e rabanete.
Oriental Prximo: tem como regio 4)
mais importante a sia Menor e in-
clui entre suas espcies melo, fgo,
pera, uva, trigo (centro primrio), ce-
vada, centeio (centro primrio),
aveia, lentilha e alfafa.
Mediterrnico: esse centro agrupa 5)
o norte da frica e o sul da Europa,
ou seja, toda a regio do mar Me-
diterrneo, e produz algumas esp-
cies, em geral de sementes grandes:
trigo, aveia, feijo-fava, brassicas
(couve, repolho, rcula, mostarda
etc.), azeitona e alface foram des-
critos como espcies desse centro.
Abissnia: localizada na regio da 6)
frica conhecida atualmente como
Etipia, distingue-se pelo grande
nmero de cereais. Encontram-se
zoneados nesse centro trigo, ceva-
da, gro-de-bico, mileto africano,
mamona e caf.
Mexicano do Sul e Centro-Ame- 7)
ricano: composto tambm pelas
Antilhas. A lista de espcies englo-
ba frutferas de clima tropical de
grande importncia para o nosso
pas, alm de culturas totalmente
adaptadas ao Brasil, entre elas mi-
lho, pimenta, feijo, sisal, algodo,
abbora e moranga.
Dicionrio da Educao do Campo
702
Sul-Americano: compreende a re- 8)
gio da cordilheira dos Andes,
especialmente Bolvia, Colmbia,
Equador e Peru. Abacate, caju, ma-
mo, goiaba, cacau, batata-doce,
batatinha, feijo-lima, tomate, algo-
do, fumo, maracuj e goiaba esto
descritos nesse centro;
8a) Chilo: uma das subdivi-
ses do Centro Sul-Americano,
sendo o menor de todos em n-
mero de espcies. Batatinha e
moranguinho so plantas desse
centro.
8b) Brasileiro-Paraguaio: ou-
tra subdiviso do Centro Sul-
Americano. Abacaxi, castanha-
do-par, jabuticaba, maracuj,
cacau, mandioca, amendoim,
cacau, seringueira, estevia e
guaran so espcies originrias
desse centro.
Nota-se que a maioria das plantas
tem seu local de origem em pases do
Terceiro Mundo, que so ricos em bio-
diversidade mas pobres em capital. J
os chamados pases ricos, extrema-
mente pobres em germoplasmas ve-
getais originais, so importadores de
germoplasmas dos pases pobres, mas
so eles os que realmente lucram com a
biodiversidade local, pois suas institui-
es de pesquisas e empresas, muitas
vezes por meio de prticas de biopira-
taria, conseguem levar germoplasmas
para seus programas de melhoramento,
produzindo variedades melhoradas.
Mais recentemente, h cem anos,
inicia-se o processo de modernizao
da agricultura, com a intensifcao da
utilizao de produtos qumicos e com
a mecanizao, a irrigao e a introdu-
o de variedades melhoradas, ocor-
rendo tambm o incio da formao de
monoplios e a introduo de registros
e patentes biolgicas. A ttulo de curio-
sidade, a primeira patente registrada foi
a do leite materno artifcial, registrada
pela IGB Farb, uma juno das empre-
sas alems, Basf, Hoechst e Bayer, con-
glomerado hoje denominado Bayer
Crops and Life Science.
Quanto s sementes, comearam a
ser criadas hbridos delas. A primeira
planta a sofrer a hibridao foi o mi-
lho. O incio da pesquisa, pelo cientista
George Hanrison Shull, ocorreu em
1909, e a comercializao das sementes
se deu a partir de 1920, nos Estados
Unidos. No Brasil, o incio do melho-
ramento do milho ocorreu em 1932,
no Instituto Agronmico de Campinas
(IAC), e os primeiros hbridos, descen-
dentes do milho cateto, foram lanados
em 1939.
A expanso da fronteira agrcola
causou presso em todos os ecossiste-
mas terrestre, ocorrendo uma eroso
gentica jamais vista na humanidade, e
muitas espcies foram dizimadas.
No entanto, surgiram aglomeraes
de multinacionais e transnacionais,
muitas vezes mais ricas do que mui-
tos pases, cuja nica viso a do lu-
cro e da dominao. Uma das formas
de dominao o controle sobre as
sementes. Por exemplo, um pas como
o Brasil, com a sua dimenso agrcola
e sua megadiversidade, no possui ne-
nhuma empresa nacional de mdio ou
de grande porte produtora de semen-
tes de milho: todas foram adquiridas
por empresas transnacionais.
Alm disso, h um trabalho muito
intenso da grande mdia mundial de
propaganda da REVOLUO VERDE, am-
parado na sua pretensa capacidade de
resolver o problema da fome mundial.
A nova fase da Revoluo Verde est
703
S
Sementes
direcionada para os organismos gene-
ticamente modifcados (OGMs) os
chamados transgnicos. As grandes
multinacionais mantm a produo
de seus cultivares melhorados visando
elevar cada vez mais a taxa de produti-
vidade; na prtica, esses cultivares so
muito homogneos e estticos em rela-
o s adversidades locais, como clima,
doenas e pragas. Essas caractersticas
conferem ao cultivar um padro nico:
caso ocorra a incidncia de uma praga
ou de uma doena durante um culti-
vo, toda a populao do cultivar ser
atacada. Os cultivares so produzidos
para responder a pacotes tecnolgicos
e sua vida curta, sendo necessrios
constantes aprimoramentos e lana-
mento de novas sementes (hbridas
e transgnicas).
Diferenas entre as classes
de sementes
Existem muitas dvidas no nos-
so meio sobre as sementes, principal-
mente sobre o que signifcam as ter-
minologias crioula, variedade, hbrida,
transgnica, certifcada etc. Abaixo,
defne-se sucintamente algumas classes
de sementes:
Semente crioula
o material cultivado localmente,
gerao aps gerao, o que determina
a sua adaptao comunidade onde est
sendo cultivado, pelos camponeses que
ali habitam. A semente selecionada
pelo mtodo de seleo massal.
2
Como
exemplo, podemos citar as diversas va-
riedades de milho, feijo e alface, entre
outros, dos quais os agricultores pos-
suem as sementes por vrias geraes,
sementes que so constantemente plan-
tadas e multiplicadas localmente.
medida que o agricultor seleciona as
sementes durante certo perodo de
tempo, ele as melhora e aclimata s va-
riaes de um local.
Semente variedade
So aquelas de todas as espcies que
possuem uma designao a qual pode
sofrer variaes, da o nome variedade,
que uma subclassifcao da espcie.
Como exemplo, temos o caso do mi-
lho, que a espcie, j a variedade pode
ser a Dente de Co ou Mato Grosso,
por exemplo. As variedades tambm
podem ter sofrido melhoramento ge-
ntico ou ser oriundas de cruzamen-
tos realizados por empresas pblicas
ou privadas. Como exemplo, temos a
variedade de milho BRS Planalto, de-
senvolvida pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuria (Embrapa).
Semente hbrida
Um hbrido sempre resulta de um
material variedade ou crioulo. O mto-
do de hibridao simples: ocorre o
retrocruzamento de uma mesma planta
que vai originar como produto dessa
autofecundao plantas raquticas que
sero cruzadas com outro material.
Posteriormente, as plantas so colhidas
e criam-se linhagens que vo ser testa-
das por um perodo de tempo, geral-
mente de trs a oito anos. Geralmente,
as plantas so selecionadas por sua
produtividade. No Brasil, so lanados
em torno de duzentos hbridos de mi-
lho por ano. Em geral, as sementes de
hbridos, quando replantadas na safra
seguinte, produzem de 25 a 50% menos,
e essa produo diminui cada vez mais,
medida que vo sendo replantadas.
Dicionrio da Educao do Campo
704
Semente transgnica
um mtodo de criao de se-
mentes que no envolve processos da
natureza, sendo realizado mediante en-
genharia gentica. Esse mtodo modi-
fca os genes das plantas, que recebem
genes de outros organismos os quais,
muitas vezes, nem pertencem ao reino
vegetal, como vrus e agrobactrias,
entre outros. Um exemplo o da soja
transgnica, que recebe genes da tulipa
hbrida (uma for), do vrus do mosaico
da couve-for (uma hortalia), de uma
bactria de solo (a Agrobacterium sp CP4)
e de uma bactria que vive em simbio-
se com outras plantas (Agrobacterium
tumefacium), alm de trs fragmentos de
genes desconhecidos. Geralmente, os
transgnicos necessitam de um marca-
dor,
3
que um antibitico. Outro pro-
blema que so materiais patenteados;
portanto, o agricultor paga royalties pelo
invento, que so os genes modifcados,
e no pela semente.
Semente certificada
a semente originria da reprodu-
o de uma semente bsica por pro-
dutores registrados no Registro Nacio-
nal de Sementes e Mudas (Renasem),
do Ministrio da Agricultura Pecuria
e Abastecimento (Mapa). As sementes
certifcadas possuem duas categorias:
C1 (semente certifcada de primeira
gerao) e C2 (semente certifcada de
segunda gerao). No primeiro ano,
planta-se uma semente bsica e se
obtm uma semente C1; no segundo
ano, ao se plantar uma C1, obtm-se
uma semente C2. As sementes certif-
cadas so utilizadas pela indstria se-
menteira e, dependendo de sua classe,
so vendidas aos agricultores.
Semente gentica
a semente obtida mediante pro-
cesso de melhoramento de plantas; ge-
ralmente, produzida por instituies
de pesquisa ou empresas sementeiras.
um material de reproduo sob a res-
ponsabilidade e o controle direto de seu
obtentor ou introdutor. Suas classes so
sementes variedades comerciais, hbri-
das e transgnicas. Possuem valor de
venda muito alto, porque os melhoristas
ou as instituies de pesquisas cobram
um valor elevado pelos novos materiais
genticos inventados por eles no mo-
mento da comercializao.
Semente bsica
a semente obtida pela multipli-
cao de semente gentica realizada de
forma a garantir sua identidade genti-
ca e sua pureza varietal.
Sementes S1 e S2
So categorias de sementes origina-
das do plantio de sementes certifcadas
C1 ou C2. A semente S1 (selecionada de
primeira gerao) produzida a partir
de sementes C1 ou C2 e d origem a uma
semente S2 (selecionada de segunda ge-
rao). Apesar de no serem certifcadas,
so produzidas e comercializadas por
produtores registrados no Renasem.
Legislao e produo de
sementes no Brasil
No Brasil, existe regulamentao
legal das sementes estabelecida pela
lei n 10.711, de 5 de agosto de 2003,
pelo decreto n 5.153, de 23 de julho
de 2004 e pela instruo normativa
n 9, de 2 de junho de 2005.
705
S
Sementes
No projeto de produo de sementes
BioNatur, a semente crioula apresenta
as seguintes caractersticas, que devem
compor o seu conceito, construdo con-
juntamente com os agricultores e com as
comunidades produtoras de sementes:
a) uma variedade local, ou regional, de
domnio dos povos indgenas, das co-
munidades locais ou quilombolas ou de
pequenos agricultores; b) composta
de gentipos com ampla diversidade ge-
ntica; c) est adaptada a um habitat espe-
cfco; e d) resultado da seleo natu-
ral, combinada com a seleo feita pelos
agricultores no ambiente local.
Para a experincia de produo
de sementes BioNatur, as sementes
tm um significado amplo. Semente
vida: base de alimento, de multi-
plicao, de sobrevivncia, de auto-
nomia, de liberdade, de perpetuao,
de poder popular, de independncia, de
autossuficncia. Antes, as sementes
pertenciam aos povos camponeses e
indgenas; pertenciam a toda a comu-
nidade. Eram um bem comum, um
smbolo da vida e, em muitas cultu-
ras, eram vistas como algo sagrado.
Na atualidade, as sementes se torna-
ram mercadoria. Representam apenas
negcios, lucros, a explorao e o
domnio de grandes empresas capita-
listas multinacionais dos produtores
rurais de todo o mundo.
Notas
1
Eroso gentica a perda de materiais genticos decorrente da seleo de cultivares mais
produtivos, levando reduo do cultivo de espcies anteriormente cultivadas.
2
Seleo massal um mtodo de seleo de plantas feito por meio de similaridades feno-
tpicas, como tamanho das plantas, cor das folhas etc.
3
Os laboratrios utilizam marcadores moleculares para a identifcao de novos cultivares.
Para saber mais
BRASIL. Decreto n 5.153 de 23 de julho de 2004: aprova o Regulamento da Lei
n 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispe sobre o Sistema Nacional de Se-
mentes e Mudas SNSM, e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia,
26 jul. 2004. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Decreto/D5153.htm. Acesso em: 10 out. 2011.
______. Instruo normativa n 9, de 2 de junho de 2005: aprova as normas
para produo, comercializao e utilizao de sementes. Dirio Ofcial da Unio,
Braslia, seo 1, p. 4, 10 jun. 2005. Disponvel em: http://www.aefor.org/
wp-content/uploads/2010/07/RENASEM.pdf. Acesso em: 11 out. 2011.
______. Lei n 10.711 de 5 de agosto de 2003: dispe sobre o Sistema Nacional
de Sementes e Mudas e d outras providncias. Dirio Ofcial da Unio, Braslia,
6 ago. 2003. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/
L10.711.htm. Acesso em: 10 out. 2011.
CARDOSO, E. T.; SILVA FILHO, P. M. Apostila do curso de Produo de Sementes, mi-
nistrado na Bionatur, em 1 de dezembro de 2005. Capo do Leo: Embrapa/
SNTEscritrio de Negcios de Capo do Leo, 2005.
Dicionrio da Educao do Campo
706
GEORGE, R. A. T. Produccin de semillas de plantas hortcolas. Madri: Mundi-Prensa,
1989.
MOREIRA, V. R. R.; CAPELESSO, E. Orientaes para uma agricultura de base ecolgica no
pampa gacho. Bag: Grfca Instituto de Menores, 2006.
______; CORTEZ, C.; CORREA, C. E. Bionatur Sementes, patrimnio dos povos a servio da
humanidade. Braslia: ANCA, 2006.
SILVA, E. C. A. da. Polinizao em culturas anuais: soja, girassol e feijo. In: CONGRES-
SO BRASILEIRO DE APICULTURA, 13. Anais... Florianpolis, 2000. (CD-ROM).
S
SINDICALISMO RURAL
Leonilde Servolo de Medeiros
No Brasil, embora haja notcias de
alguns sindicatos de trabalhadores ru-
rais criados j na dcada de 1930, so-
mente no incio dos anos 1960 regu-
lamentado o direito sindicalizao da
categoria, numa conjuntura em que eles
emergiam como atores na cena poltica.
Essa regulamentao tem sua origem
quer nos confitos que ocorriam em di-
versas locais no campo brasileiro, quer
na ao de diferentes agentes de me-
diao que impulsionaram a organiza-
o dos trabalhadores e os apoiaram na
criao de sindicatos. Entre eles, desta-
caram-se o Partido Comunista e a Igre-
ja Catlica. As Ligas Camponesas, em-
bora inicialmente mostrando-se crticas
organizao sindical, endossaram-
na no momento em que se intensif-
cou a criao de sindicatos, em especial
em Pernambuco.
Os confitos que ento possuam
maior visibilidade tinham diversas ver-
tentes: lutas pela posse da terra, envol-
vendo posseiros versus pretensos pro-
prietrios; disputas em torno de prazos
de contratos de arrendamento; tenses
entre os trabalhadores que moravam
com suas famlias no interior das pro-
priedades e trabalhavam numa determi-
nada cultura comercial (cana-de-acar,
caf etc.), mas tinham acesso moradia
e a um pedao de terra para plantio de
vveres. Nesse caso, tratava-se de lutas
por melhor remunerao, mas que, em
algumas situaes, envolviam tambm
o acesso terra.
Ao longo dos anos 1950 e 1960,
esses segmentos se organizaram em
associaes locais, reuniram-se em en-
contros regionais, estaduais e mesmo
nacionais, e comearam a consolidar
algumas bandeiras de luta: Reforma
Agrria, direitos trabalhistas, regula-
mentao de contratos de parceria e
arrendamento e direito sindicaliza-
o. Em torno deste ltimo ponto,
havia grande disputa, uma vez que as
entidades patronais ento existentes
principalmente a Confederao Rural
Brasileira (CRB) e a Sociedade Rural
Brasileira (SRB) (ver ORGANIZAES DA
CLASSE DOMINANTE NO CAMPO) argu-
mentavam que havia uma unidade de
interesses entre todos os que viviam no
campo, fossem patres ou emprega-
707
S
Sindicalismo Rural
dos, e, portanto, bastava uma nica or-
ganizao que os representasse. Assim,
essas entidades reagiram fortemente
ideia de que os trabalhadores pudes-
sem se organizar em sindicatos, pois
consideravam que, se criados, trariam
para o meio rural tenses classistas que
at ento, segundo eles, s existiam
nas cidades.
Quando, no incio dos anos 1960,
num contexto de ampliao e fortale-
cimento das lutas, foi regulamentada
pelo governo federal a sindicalizao
dos trabalhadores rurais, foram tam-
bm defnidas quatro categorias de en-
quadramento: trabalhadores na lavou-
ra, trabalhadores na produo extrativa
rural, trabalhadores na pecuria e pro-
dutores autnomos (aqueles que exer-
ciam a atividade rural sem empregados,
em regime de economia familiar). A
partir da, houve um grande esforo de
transformar as associaes j existentes
em sindicatos e de criar essas entidades
onde no havia nenhuma organizao
prvia. Tratava-se de buscar condies
legais para fundar federaes estaduais
e, depois, uma confederao nacional.
Como diversas foras polticas atua-
vam no campo tentando organizar os
trabalhadores Partido Comunista
Brasileiro (PCB), diferentes vertentes
da Igreja Catlica, Ao Popular (AP),
Ligas Camponesas , elas concorriam
pelo controle dos sindicatos, de forma
a obter a direo das federaes, e da
confederao nacional que seria criada
posteriormente. Essa disputa permeava
o prprio Estado, uma vez que o Minis-
trio do Trabalho tinha a prerrogativa
de reconhecer sindicatos, federaes
e a confederao. Assim, quem tinha
maior infuncia na Comisso Nacional
de Sindicalizao Rural tambm tinha
maior possibilidade de ter seus sin-
dicatos reconhecidos (Medeiros, 1989;
Novaes, 1987; Stein, 1991).
Fruto desse processo e expressando
determinado arranjo de foras, em fnal
de 1963 foi fundada a Confederao
Nacional dos Trabalhadores na Agricul-
tura (Contag). Nela, o PCB fcou com a
presidncia (Lyndolpho Silva, que tam-
bm era presidente da Unio dos La-
vradores e Trabalhadores Agrcolas do
Brasil, criada em 1954, e que agregava
associaes de lavradores de diversos
pontos do pas) e a tesouraria (Nestor
Veras), alm da maioria dos cargos.
A AP fcou com a secretaria (Sebastio
Loureno de Lima). Na composio ge-
ral, a Igreja Catlica, que tivera impor-
tante papel na criao de sindicatos no
Nordeste e no Sul do pas, fcou com
dois cargos pouco importantes.
O sindicalismo rural
durante o regime militar
A Confederao Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura foi reconhecida
em janeiro de 1964. Logo depois, so-
breveio o golpe militar e, com ele, uma
forte represso sobre as organizaes
de trabalhadores. Diversas lideranas fo-
ram mortas ou tiveram de passar para a
clandestinidade. No meio rural, muitos
sindicatos recm-criados desapareceram,
e houve interveno do Ministrio do
Trabalho naqueles com maior enraiza-
mento social. O mesmo aconteceu em
diversas federaes e tambm na Contag.
No se tratava de eliminar os sindicatos,
mas sim o perigo comunista, e, por
meio de intervenes, dar uma nova di-
reo poltica s organizaes existentes.
Na maior parte dos casos, os intervento-
res eram ligados Igreja Catlica.
No ano seguinte, as diferentes cate-
gorias de enquadramento sindical foram
Dicionrio da Educao do Campo
708
fundidas numa s. Por determinao do
Ministrio do Trabalho, por meio da por-
taria n 71, de 2 de fevereiro de 1965, pas-
saram a existir no campo somente sindica-
tos de trabalhadores rurais, envolvendo uma
diversidade de situaes: assalariados,
posseiros, arrendatrios, parceiros,
proprietrios de terra que trabalhavam
em regime de economia familiar etc.
As entidades patronais tambm tiveram
de se adequar nova regulamentao: as
associaes municipais preexistentes e que
constituam a base das federaes esta-
duais e da Confederao Rural Brasileira
foram transformadas em sindicatos rurais.
A entidade nacional que os reunia passou
a se chamar Confederao Nacional da
Agricultura (CNA).
Apesar da represso e da interven-
o generalizada nos sindicatos de tra-
balhadores, a memria das lutas e dos
direitos obtidos era muito forte em
alguns locais, e confitos continuavam
a ocorrer. Logo aps o golpe, j come-
aram a ser articuladas aes para colo-
car, na direo de algumas federaes,
trabalhadores que, ligados ao sindica-
lismo cristo, eram comprometidos
com as principais bandeiras de luta do
perodo anterior. Como resultado, em
fnais de 1967, articulou-se uma chapa
de oposio para a direo da Contag,
liderada por Jos Francisco da Silva,
proveniente da zona canavieira de
Pernambuco e formado pela Igreja Ca-
tlica e pelo Movimento de Educao
de Base (MEB). Compondo-se com al-
guns membros da direo proveniente
do perodo de interveno, essa chapa
ganhou a eleio e assumiu a direo
da Contag.
A Contag controlava extensa rede
sindical, difusa por diversos pontos do
pas, com orientaes polticas diversas e,
em muitos casos, dominada pelo poder lo-
cal e pouco afeita a enfrentamentos. Com
a aprovao do Fundo de Assistncia ao
Trabalhador Rural (Funrural) em 1971,
essa rede cresceu ainda mais em alguns
estados, pois os sindicatos tornaram-se
mediao privilegiada para que os traba-
lhadores recebessem direitos previdenci-
rios (aposentadoria, auxlio-doena, pen-
so), assistncia mdica e dentria. Muitos
prefeitos apressaram-se em criar sindica-
tos onde eles no existiam, como tentativa
de ampliar sua clientela poltica.
Apesar dessas circunstncias e da
heterogeneidade de suas bases, ao lon-
go dos anos 1970, a Contag difundiu,
por meio de seus boletins, cursos de
formao, encontros regionais e tem-
ticos, e da atuao de suas assessorias
educacionais e jurdicas, noes tanto
de direito terra quanto de direitos tra-
balhistas. O sistemtico encaminhamento
de relatrios de confitos fundirios ao go-
verno federal, acompanhados de pedidos
de desapropriao de terras por interesse
social, nos termos do Estatuto da Terra,
no se desdobrava, no entanto, a no ser
pontualmente, em formas de ao cole-
tiva que garantissem a permanncia dos
trabalhadores na terra. Foram raras as de-
sapropriaes ocorridas, mas, apesar dessa
conduo administrativa dos confitos e
de sua pouca efccia em termos de sustar
despejos e evitar a expulso de trabalha-
dores do interior das propriedades, no
se deve subestimar a capacidade que essas
iniciativas tiveram de traduzir os confi-
tos no campo na linguagem da Reforma
Agrria, construindo a juno entre o de-
sejo de acesso terra e uma possibilidade
de poltica agrria, formatada por uma
legislao aprovada pelo prprio regime
militar (o Estatuto da Terra). Em outros
locais, a legislao trabalhista era a ncora
poltica para a luta por salrios, por indeni-
zaes em caso de expulses das fazendas
709
S
Sindicalismo Rural
e tambm pelo acesso terra, como o
caso da demanda pelo cumprimento da
lei que garantia aos trabalhadores da cana-
de-acar o acesso a dois hectares de terra
para plantio de subsistncia (Houtzager,
2004; Medeiros, 1989; Palmeira, 1985).
Resistncia na terra contra ameaas
de expulso, busca de melhores salrios
e condies de trabalho, demanda por
melhores preos para os produtos agr-
colas, lutas por direitos previdencirios
eram alguns dos temas recorrentes que
emergiam, quer por causa das diferen-
tes formas de insero no processo
produtivo e da diversidade de interes-
ses, quer pelas diferenciaes regionais
prprias a um pas do tamanho e com-
plexidade do Brasil. Os congressos da
Contag eram momentos em que essa
diversidade se visibilizava e nos quais
se expressavam as diferenas entre os
segmentos que faziam parte do amplo
guarda-chuva que a categoria trabalhador
rural representava; mas tambm eram a
ocasio em que se reafrmava a unidade
de representao em torno dos sindi-
catos, federaes e confederao, e se
consolidavam bandeiras de luta.
A emergncia de novas
organizaes e a perda do
monoplio da Contag
Na segunda metade dos anos 1970,
as prticas sindicais contaguianas bem
como o prprio modelo de organi-
zao sindical por ela construdo come-
aram a ser postos em cheque, como
resultado da intensifcao dos confi-
tos e da emergncia de mobilizaes.
Surgiram novas propostas organiza-
tivas, com diferentes relaes com o
sindicalismo, que confguravam sinais
da fragilizao do padro de ao e da
organizao sindical vigentes. Dentre
esses fenmenos, podem-se destacar,
entre outros:
ocupaes de terra em vrios pon-
tos do pas, em especial no Sul, e que
acabaram por gerar novo formato
organizativo, mais fuido. Se, num
primeiro momento, emergiam com
uma forte relao com alguns sindi-
catos, logo depois frmaram o Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) como uma fora
autnoma que, desde ento, passou
a pesar decisivamente nos destinos
das lutas por terra no pas;
os atingidos pela construo de
barragens, que passaram a deman-
dar reassentamento ou a questionar
a prpria construo de barragens.
Nesse processo, emergiram organi-
zaes prprias (como o caso da
Comisso Regional dos Atingidos
por Barragens, tambm no Sul, e,
bem depois, do MOVIMENTO DOS
ATINGIDOS POR BARRAGENS MAB,
de alcance nacional) ou estabelece-
ram-se rearranjos organizacionais
no interior do sindicalismo, como
a criao do Polo Sindical do Sub-
mdio So Francisco, uma experi-
ncia indita de articulao local
de sindicatos de estados diferentes
(Pernambuco e Bahia);
os seringueiros, que, ameaados
de expulso da terra, passaram a
lutar por permanecer na floresta,
tentando impedir sua derrubada
por meio de mobilizaes deno-
minadas empates. Os sindicatos
eram seu principal suporte, mas,
em meados dos anos 1980, foi
criada uma organizao prpria,
o Conselho Nacional dos Serin-
gueiros, articulando seringueiros
e extrativistas de diversas regies
do Norte do pas;
Dicionrio da Educao do Campo
710
as quebradeiras de coco, que exi-
giam o livre acesso aos babauais
para coleta dos frutos, gerando
tambm associaes com formato
prprio, dando destaque presena
das mulheres.
as mulheres, que, organizando-se
tanto nos sindicatos quanto em mo-
vimentos em busca de igualdade de
direitos em relao aos homens, em
especial no que se refere ao acesso
terra, mas questionando tambm
tradicionais arranjos das atividades
domsticas e direitos costumeiros
de herana, passaram a exigir mais
espao nas instncias de represen-
tao, sindicais ou no.
Para complexifcar ainda mais o
quadro, surgiram tambm experimen-
tos organizativos sindicais que ques-
tionavam o modelo de sindicalismo
existente. o caso das chamadas opo-
sies sindicais. Apoiadas pela COMISSO
PASTORAL DA TERRA (CPT), no incio
dos anos 1980, articularam-se em tor-
no da Central nica dos Trabalhadores
(CUT) e passaram a fazer sistemtica
oposio ao sindicalismo contaguiano.
Desde a redemocratizao, as diver-
gncias no interior do sindicalismo
de trabalhadores rurais se acirravam,
opondo o sindicalismo cutista e o con-
taguiano em torno de temas como a
estrutura sindical, o presidencialismo
muito comum nas direes, as decises
esto mais centralizadas em uma nica
pessoa, que tem maior controle sobre o
sindicato e as formas mais adequadas
de mobilizao dos trabalhadores e de
fazer presso sobre o Estado.
A Contag, por sua vez, desde o seu
III Congresso Nacional, realizado em
1979, ao mesmo tempo em que de-
fendia a unidade de representao,
assumia que a presso e a mobilizao
dos trabalhadores eram importantes
instrumentos de luta. Sob seu comando
ocorreram, j em 1980, manifestaes
pblicas por melhores preos para os
produtos agrcolas, com o fechamento
de estradas e ocupaes de praas no
Sul do pas, bem como greves de as-
salariados rurais que, iniciando-se com
os canavieiros de Pernambuco, esten-
deram-se por todo o Nordeste e alguns
estados do Sudeste. Engajando-se for-
temente nas lutas pelo fm do regime
militar, a Contag desempenhou impor-
tante papel na incorporao da Refor-
ma Agrria como uma das bandeiras
da Aliana Democrtica articulao de
foras que se opunham ao regime
militar e apoiou a proposta do Plano
Nacional de Reforma Agrria (PNRA)
elaborada no incio da Nova Repbli-
ca. Com isso, buscava adequar-se aos
novos tempos de abertura poltica e re-
construir a hegemonia do sindicalismo
de trabalhadores sobre a conduo dos
confitos no campo.
Relaes CUT/Contag
Em 1986, no II Congresso da CUT,
foi criada uma Secretaria Nacional dos
Trabalhadores Rurais. No congresso se-
guinte, em 1988, essa secretaria foi trans-
formada em Departamento Nacional dos
Trabalhadores Rurais (DNTR), o que
signifcava maior autonomia poltica, ad-
ministrativa e fnanceira. Essas instncias
organizavam os sindicatos cutistas. Do
ponto de vista da lgica de ao, prevale-
ceu a ideia de fexibilidade, ou seja, com
base na avaliao local, era possvel criar
sindicatos por ramos de produo ou
conservar o desenho existente, disputar
federaes ou criar estruturas estaduais
autnomas. Em So Paulo, por exemplo,
o DNTR apoiou a criao da Federao
711
S
Sindicalismo Rural
dos Empregados Rurais Assalariados
do Estado de So Paulo (Feraesp). Nos
estados do Sul, endossou a criao de
sindicatos de avicultores, fumicultores
e suinocultores. Dessa forma, os sin-
dicalistas cutistas exercitavam o prin-
cpio da liberdade e autonomia sindi-
cais, bem como a crtica unicidade,
defendida pela Contag, que advogava
que o sindicato dos trabalhadores rurais
deveria ser a nica instncia de repre-
sentao da categoria. Esses sindica-
listas tambm procuravam intensificar
as aes coletivas.
Desde a sua consolidao, o sindica-
lismo cutista disputou diversas federa-
es, em alguns casos por meio de chapa
prpria, em outros em composio com
as diretorias fis s linhas da Contag.
Em 1991, a disputa estendeu-se eleio
para a direo da Contag, que tambm
culminou numa composio. Se no fnal
dos anos 1980, no campo cutista, falava-
se que a Contag j no tinha mais flego
poltico, o prprio fato de ser arduamente
disputada mostra seu signifcado, que ora
aparecia relacionado infraestrutura ma-
terial de que dispunha, ora ao patrimnio
poltico e histrico que representava para
os trabalhadores rurais.
A experincia de composio poltica
entre linhas sindicais distintas na direo
da Contag teve efeitos diferenciados. Um
deles foi o estmulo a um processo, que j
vinha em curso, de disputa de federaes,
em alguns casos privilegiando-as em de-
trimento da construo dos departamen-
tos estaduais de trabalhadores rurais. No
que diz respeito s concepes cutistas, a
simples presena de algumas de suas lide-
ranas na direo no trouxe mudanas
visveis na prtica da Contag. No entan-
to, houve mudanas na sua estrutura de
gesto, como o caso, por exemplo,
da constituio de secretarias por frente de
luta que agilizavam a tomada de decises e
se dispunham a produzir maior descentra-
lizao decisria e ganhos em termos de
encaminhamento das lutas sindicais.
Em 1995, a Contag fliou-se CUT.
No entanto, esse fato no fez que as di-
versas federaes estaduais resistentes
aos princpios cutistas os adotassem,
trazendo novas tenses para o interior
da estrutura sindical de trabalhadores
rurais. A questo que permanecia era a
de at onde a cultura sindical dominante
no campo fora modifcada, uma vez que
para isso era preciso mais do que a disputa
pelo controle de aparelhos e a mudana
de pessoas.
Alguns dilemas
A fliao da Contag CUT no re-
solveu alguns dos dilemas centrais do
sindicalismo. Em vrias situaes, quan-
do se rompia, por vezes abruptamente,
com prticas tidas como assistenciais
atribudas ao sindicalismo contaguiano,
constatava-se o abandono do sindicato
por grande nmero de associados, o que
sugeria difculdades de alguns sindicalis-
tas em sintonizarem-se com as demandas
do cotidiano dos trabalhadores e de as
traduzirem em uma linguagem mobiliza-
dora. Muitas vezes, ansiosos por trazer
s bases as grandes questes, deixa-
ram de transformar em questes sindicais
as carncias cotidianas. Outro elemento
a ser considerado a persistncia do pre-
sidencialismo, que, fortemente arraigado
na cultura sindical, limita a participao
dos associados e dos demais membros da
diretoria. No entanto, seria ingnuo igno-
rar que a persistncia do presidencialismo
e da centralizao decisria so mecanis-
mos por meio dos quais as lideranas se
constituem e acumulam um capital
que lhes garante uma situao de poder,
Dicionrio da Educao do Campo
712
mecanismos que no podem ser alterados
por simples ato de vontade.
Para pensar nas difculdades dos sin-
dicatos, h que trazer ainda discusso al-
guns aspectos do processo de formao de
lideranas. Muitas vezes, a rpida ascenso
de direes para o plano regional, esta-
dual ou nacional ou mesmo a sua conver-
so para a luta poltico-partidria deixam
um vazio nas localidades. A formao de
lderes longa e tortuosa, no bastando
para isso sucesses de cursos e informa-
es. Por outra parte, h toda uma cultura
centralizadora e pouco participativa (no
s no sindicalismo, mas como um trao
da sociedade brasileira) que torna ainda
maior a difculdade de gerao de novos
quadros, no ritmo que a reproduo sin-
dical exige. O resultado a produo de
vazios polticos que desmobilizam os tra-
balhadores e os afastam do sindicato.
A persistncia de tenses foi acom-
panhada de um grande esforo de equa-
cionamento de questes e de tentativa
de unifcao de diretrizes e concepes,
consolidado no Projeto CUT/Contag
de Formao Sindical, iniciado em 1997,
e que resultou no esforo de produo de
um Projeto Alternativo de Desenvolvi-
mento Rural Sustentvel e Solidrio. Ao
mesmo tempo, ocorriam grandes mobi-
lizaes, como os Gritos da Terra e as
Marchas das Margaridas, que consolida-
vam as bandeiras de luta dos anos 1970.
Essas iniciativas acabaram por colocar
em destaque o lugar do que passou a se
chamar de agricultores familiares.
O aparecimento da
Federao dos Trabalhadores
na Agricultura Familiar
Nos estados do Sul do Brasil as
oposies sindicais fortaleceram-se,
mas no chegaram a ganhar as federa-
es. Mesmo com a fliao da Contag
CUT, e a consequente extino dos
Departamentos Estaduais dos Traba-
lhadores Rurais (DETRs), os sindica-
tos cutistas da regio mantiveram-se
atuando em conjunto, e dessa articula-
o surgiu uma ruptura no interior do
sindicalismo. Inicialmente, as difceis
relaes dos sindicatos cutistas com a
Federao de Santa Catarina, acabaram
gerando a criao, em 1997, da Federa-
o dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar do Estado de Santa Catarina
(Fetrafesc). O no reconhecimento des-
sa federao pela Contag acabou por
fortalecer a articulao dos sindicatos
cutistas da regio Sul que culminou com
a fundao, em 2001, da Federao dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar
da Regio Sul (Fetraf-Sul), abrangendo
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paran. Essa federao inovava em re-
lao tradio sindical de diferentes
maneiras. Apoiava-se em sindicatos de
agricultores familiares, rompendo com
a tradio unitria de representao
que vinha desde os anos 1960. Alm
disso, criava outra base federativa, que,
em 2005, se organizou como confe-
derao: a Fetraf Brasil. Em 2010, a
Fetraf Brasil tinha se frmado em qua-
se todos os estados do Brasil exceto
no Rio de Janeiro e no Esprito Santo,
na regio Sudeste, e na maior parte dos
estados da regio Norte (Acre, Amap,
Amazonas, Rondnia e Roraima). E a
Contag tinha federaes vinculadas
em todos. Dessa forma, os chamados
agricultores familiares passaram a ter
duplicidade de representao tanto no
plano estadual quanto no plano nacio-
nal: a Contag e a Fetraf.
Essa situao fez que, em 2009, a
Contag decidisse por se desfliar da
713
S
Sindicalismo Rural
CUT, que havia apoiado a criao da
Fetraf Brasil. Nesse momento, parte
das federaes contaguianas (Bahia,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paran, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina) j estava fliada
Confederao dos Trabalhadores do
Brasil (CTB), criada em 2007 a partir
de uma dissidncia do Partido Comu-
nista do Brasil (PCdoB); trs no es-
tavam ligadas a nenhuma central; e as
demais permaneciam vinculadas CUT
(Picolotto, 2010).
Ao longo dos ltimos anos de pro-
fundas mudanas no sindicalismo rural
brasileiro e de concorrncia pela repre-
sentao dos trabalhadores do campo,
a grande novidade foi a afrmao da
agricultura familiar como uma das prin-
cipais bandeiras das diferentes verten-
tes sindicais. Tanto a Contag quanto
a Fetraf, no entanto, mantm o acesso
terra como uma de suas reivindicaes
importantes, disputando com o MST,
em diversos lugares, a conduo dessas
lutas. Ao mesmo tempo, os assalaria-
dos rurais, cujas lutas tiveram impor-
tncia nos anos 1980, pouco a pouco
perderam o protagonismo, e, apesar
das suas condies adversas, no tm
encontrado no sindicalismo um canal
importante de representao.
Para saber mais
CENTRAL NICA DOS TRABALHADORES (CUT); CONFEDERAO DOS TRABALHADORES
NA AGRICULTURA (CONTAG). Desenvolvimento e sindicalismo rural no Brasil. So Paulo:
Projeto CUT/Contag, 1998.
HOUTZAGER, P. Os ltimos cidados: conflito e modernizao no Brasil rural
(1964-1995). So Paulo: Globo, 2004.
MEDEIROS, L. S. de. Histria dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: Fase,
1989.
NOVAES, R. R. Contag e CUT: continuidades e rupturas da organizao sindical
no campo. In: BOITO JUNIOR., A. (org.). O sindicalismo brasileiro nos anos 80. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1987.
PALMEIRA, M. A diversidade da luta no campo: luta camponesa e diferenciao do
campesinato. In: PAIVA, V. (org.). Igreja e questo agrria. So Paulo: Loyola, 1985.
PICOLOTTO, E. L. As mos que alimentam a nao: agricultura familiar, sindicalis-
mo e poltica. 2011. Tese (Doutorado em Cincias Sociais em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade) Programa de Ps-graduao em Cincias Sociais em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, Seropdica, 2011.
RICCI, R. Terra de ningum: representao sindical rural no Brasil. Campinas:
Editora da Unicamp, 1999.
STEIN, L. Sindicalismo e corporativismo na agricultura brasileira (1930-1945). 1991.
Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais) Programa de Ps-graduao em
Cincias Sociais, Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, So Paulo, 1991.
Dicionrio da Educao do Campo
714
S
SISTEMAS DE AVALIAO E CONTROLE
Luiz Carlos de Freitas
Os sistemas de avaliao e controle
so um conjunto de aes organizadas
na forma de sistema de procedimen-
tos para avaliar e controlar os resulta-
dos da educao. Insere-se dentro da
caracterstica do Estado a de regular
as atividades de interesse pblico, ca-
racterstica amplamente enfatizada pela
nova forma estatal que o capitalismo for-
jou, no mbito do neoliberalismo mais
recente, e na qual o Estado aparece
como um Estado mnimo que se isenta
das operaes, facilitando que o mer-
cado atue em reas antes reservadas
ao prprio Estado, que, portanto, atua
como um Estado avaliador: um Estado
que no faz, mas pretensamente ava-
lia quem faz (o mercado).
Essa viso ganhou fora, no Brasil,
durante a era Fernando Henrique
Cardoso. A exemplo de outras reas,
a educao tambm criou sua agn-
cia reguladora, com a transforma-
o do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Ansio
Teixeira (Inep) em centro de avaliao
e controle da educao brasileira. Alm
do plano federal, essas ideias tambm
penetraram, nestes ltimos vinte anos,
nas gestes de estados e municpios
brasileiros. E mesmo com algumas di-
fculdades de expanso durante a era
Luiz Incio Lula da Silva, foram sen-
do aplicadas em vrias esferas, tendo
o Inep se consolidado como agncia
reguladora da qualidade da educao
nacional. Assim, a responsabilidade
pela concepo, organizao, aplica-
o, processamento e divulgao dos
resultados das avaliaes nacionais est
concentrado no Inep.
Na educao bsica, a avaliao
feita pelo Sistema de Avaliao da Edu-
cao Bsica (Saeb), ao qual se integra
a Prova Brasil, que, junto com a prova
do Saeb, so dois exames complemen-
tares que compem o Sistema de Ava-
liao da Educao Bsica.
A prova do Saeb abrange estudantes
das redes pblicas e privadas do pas,
das reas urbana e rural, matriculados
na 4 ou na 8 sries (ou 5 e 9 anos)
do ensino fundamental e tambm no
3 ano do ensino mdio. So aplicadas
provas de Lngua Portuguesa e Mate-
mtica. A avaliao feita por amos-
tragem. Os resultados so computados
para cada unidade da federao e para
o Brasil como um todo.
A Prova Brasil uma avaliao cen-
sitria aplicada a todos os alunos de 4
e 8 sries do ensino fundamental p-
blico, das redes estaduais, municipais e
federais, do campo e da rea urbana,
em escolas que tenham no mnimo 20
alunos matriculados na srie avaliada.
A prova oferece resultados por escola,
municpio, unidade da federao e para
o Brasil como um todo.
Os resultados dessas provas fazem
parte do clculo do ndice de Desen-
volvimento da Educao Bsica (Ideb),
que leva em conta tambm a corres-
pondncia srieidade (defasagem ou
no) dos alunos. Todas as escolas p-
blicas do Brasil so avaliadas e tm seu
Ideb calculado e divulgado, sendo o
ndice comparado com as metas que
deveriam ser atingidas pelas escolas.
Ainda que alguns estados brasileiros
tambm tenham seus prprios siste-
715
S
Sistemas de Avaliao e Controle
mas de avaliao e controle, elaboran-
do os seus prprios ndices, o Ideb tem
alcance nacional.
Nesse mesmo nvel de escolarida-
de, existe ainda a Provinha Brasil, uma
avaliao diagnstica do nvel de alfa-
betizao das crianas matriculadas no
2 ano de escolarizao das escolas p-
blicas brasileiras. Essa avaliao acon-
tece em duas etapas: no incio e no
trmino do ano letivo. A aplicao em
perodos distintos possibilita aos pro-
fessores e gestores educacionais a rea-
lizao de um diagnstico mais preciso
sobre o que foi agregado na aprendi-
zagem das crianas, em termos de ha-
bilidades de leitura, dentro do perodo
avaliado. A avaliao dever ser aplica-
da tambm, nos prximos anos, para
acompanhar a aprendizagem de Mate-
mtica. A Provinha Brasil aplicada e
processada pelo prprio professor das
sries iniciais. Seu resultado no uti-
lizado para o controle da escola; serve
apenas para uso da prpria escola.
Para a avaliao da qualidade do
ensino mdio, foi criado o Exame
Nacional do Ensino Mdio (Enem).
Ao contrrio da Prova Brasil, ele no
obrigatrio e no aplicado nas es-
colas. Os alunos que desejam faz-lo
se inscrevem no Inep, que oferece
o exame em datas e locais especfcos. O
Enem tambm usado pelas universi-
dades como um dos elementos para se-
leo de alunos que pretendem entrar
no ensino superior.
No que diz respeito avaliao do
ensino superior, o Inep administra
o Sistema Nacional de Avaliao do
Ensino Superior (Sinaes), formado por
trs componentes principais: avaliao
das instituies, avaliao dos cursos e
avaliao do desempenho dos estudan-
tes. O Sinaes avalia todos os aspectos
que giram em torno desses trs eixos:
ensino, pesquisa, extenso, responsabi-
lidade social, desempenho dos alunos,
gesto da instituio, corpo docente e
instalaes, alm de vrios outros as-
pectos. Existe uma srie de instrumen-
tos complementares ao sistema: auto-
avaliao, avaliao externa, avaliao
dos cursos de graduao, instrumen-
tos de informao (censo e cadastro)
e o Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade), uma prova
que mede o nvel de desempenho dos
alunos das universidades e instituies
de ensino superior ao ingressarem e
quando eles se formam. Os resultados
das avaliaes possibilitam traar um
panorama da qualidade dos cursos e
das instituies de educao superior
no pas. Os processos avaliativos so
coordenados e supervisionados pela
Comisso Nacional de Avaliao da
Educao Superior (Conaes).
A existncia de sistemas de avalia-
o por si s no um mal. Eles for-
necem dados importantes sobre como
est evoluindo a educao. Entretanto,
a forma como tais sistemas foram im-
plantados no Brasil faz eles estarem
voltados mais para a cobrana e o con-
trole das escolas do que para a poltica
pblica posta em prtica pelos prprios
governos. Sistemas de avaliao geram
dados que deveriam, primeiramente,
ser utilizados pelos governos para reo-
rientarem as suas polticas pblicas e
monitorarem a evoluo da qualidade
da educao ao longo dos anos.
A avaliao deve ser, portanto,
voltada para o desenvolvimento e no
para o controle. Porm, no Brasil, a f-
losofa aplicada pelo Inep privilegia o
uso dos dados de avaliao de sistemas
como forma de controle, expondo pu-
blicamente as escolas crtica. Ocor-
re que tais sistemas de medio no
so precisos; no mximo fazem uma
Dicionrio da Educao do Campo
716
estimativa da situao da qualidade de
ensino em determinada escola e, mesmo
assim, baseada apenas na medio do
desempenho do aluno em um teste
de Portugus e Matemtica o que
insufciente para caracterizar a qualida-
de de uma escola. Alm da no avalia-
o de outras disciplinas, h tambm
outros aspectos do desenvolvimento
humano que no so considerados nos
sistemas de avaliao vigentes.
Pressionadas por esse tipo de con-
trole, as escolas so levadas a enfatizar
somente o ensino das disciplinas que
caem nos testes de avaliao, estrei-
tando a formao dos alunos. Muitas
formas de contracontrole so desen-
volvidas nas escolas para no serem
caracterizadas como defcientes, entre
elas fraudar provas, ensinando os alu-
nos no ato da aplicao dos testes, ou
desestimular os alunos com maiores
difculdades de aprendizagem a parti-
ciparem delas.
Outro problema que os testes so
elaborados com base na escola urbana,
mas tambm so aplicados s escolas do
campo, sem levar em conta as diferen-
as culturais, econmicas e sociais que
existem entre essas duas realidades.
Em contraposio a essa concep-
o dos sistemas de avaliao, pos-
svel pensar um processo que tenha a
perspectiva de fornecer informaes
teis a processos internos das escolas
destinados a pensar coletivamente a
prtica pedaggica e o desenvolvimen-
to dos alunos. Para tal, deve-se enfati-
zar a organizao do coletivo escolar
e estimul-lo a pensar os problemas
pedaggicos da escola, mobilizando-
o para garantir demandas da escola e,
ao mesmo tempo, comprometendo-o
com a melhoria dos processos escolares.
Para saber mais
FREITAS, L. C. Qualidade negociada avaliao e contrarregulao na escola
pblica. Educao e Sociedade, v. 26, n. 92, p. 911-933, 2005.
______ et al. Avaliao educacional: caminhando pela contramo. Petrpolis: Vozes,
2009.
SAUL, A. M. Avaliao emancipatria. So Paulo: Cortez, 1988.
S
SOBERANIA ALIMENTAR
Joo Pedro Stedile
Horacio Martins de Carvalho
Segurana alimentar uma polti-
ca pblica aplicada por governos de
diversos pases que parte do princ-
pio de que todas as pessoas tm o direi-
to alimentao e que cabe ao Estado
o dever de prover os recursos para que
as pessoas se alimentem. Para executar
essa poltica, os governos se utilizam
de diversos mecanismos: distribuio
de alimentos, cestas bsicas, tquetes
717
S
Soberania Alimentar
de refeies, instalao de refeitrios
populares subsidiados, alm de pro-
gramas de renda mnima e de cartes
para receber ajuda mensal em dinheiro,
como o caso, no Brasil, do programa
Bolsa Famlia.
Soberania alimentar o conjunto de
polticas pblicas e sociais que deve ser
adotado por todas as naes, em seus
povoados, municpios, regies e pases,
a fm de se garantir que sejam produ-
zidos os alimentos necessrios para a
sobrevivncia da populao de cada
local. Esse conceito revela uma pol-
tica mais ampla do que a segurana
alimentar, pois parte do princpio de
que, para ser soberano e protagonista
do seu prprio destino, o povo deve
ter condies, recursos e apoio neces-
srios para produzir seus prprios ali-
mentos. Acredita-se que, em todas as
regies do planeta, por mais diferentes
e inspitas que sejam, h condies de
produzir os alimentos adequados para
a populao local. Portanto, as polti-
cas pblicas dos governos, Estados e
instituies, e as polticas dos movi-
mentos de agricultores e da populao
em geral devem ser direcionadas para
garantir os recursos e as condies tc-
nicas necessrias para alcanar a con-
dio de produzir todos os alimentos
bsicos que um povo necessite em seu
prprio territrio.
Os conceitos de soberania alimen-
tar e de segurana alimentar tm sido
defendidos nas ltimas duas dcadas
como medidas pblicas necessrias para
combater os problemas mais trgicos
da humanidade: a fome, a desnutrio
e a alimentao aqum das necessidades
bsicas para a sobrevivncia digna.
Para se entender a importncia e
o significado dessas polticas e a na-
tureza de seus conceitos, necessrio,
antes, entender a natureza do proble-
ma da fome.
A fome e a desnutrio, que atin-
gem milhes de seres humanos, sem-
pre foram, ao longo da histria da
humanidade, um dos problemas so-
cioeconmicos mais graves da organi-
zao das sociedades. Sua ocorrncia
tem sido formalmente explicada por
diversos fatores: a) baixo conhecimen-
to de tcnicas de produo de alimen-
tos mais produtivas; b) disputa e perda
dos territrios mais frteis, aptos para
a produo de alimentos; c) ocorrncia
de fenmenos naturais que destroem
colheitas e fontes naturais de alimen-
tos; d) epidemias que atingem grande
parte da populao e impedem a pro-
duo de alimentos; e e) ocorrncia de
guerras generalizadas que no apenas
mobilizam os trabalhadores, mas tam-
bm inutilizam as reas agricultveis
para a produo de alimentos.
Durante o sculo XX, os povos
conseguiram se organizar de tal ma-
neira que a maioria desses fatores dei-
xou de ser suficiente para explicar a
ocorrncia de fome e desnutrio em
elevada parcela da populao mundial.
No entanto, a fome e a desnutrio
jamais atingiram tantas pessoas como
na era contempornea. Qual seria a
causa agora?
A explicao pode ser encontrada
nas teses defendidas, j na dcada de
1950, por Josu de Castro, quando su-
gere que a fome e a desnutrio no
so uma ocorrncia natural, mas resul-
tado das relaes sociais e de produ-
o que os homens estabelecem entre
si. De fato, a ocorrncia da fome, que
atingiu, em 2009, 1 bilho de seres hu-
manos ndice que, em 2010, recuou
para 925 milhes , tem suas causas no
controle da produo e da distribuio
Dicionrio da Educao do Campo
718
dos alimentos e na renda auferida
pelas pessoas.
Nunca antes na histria os ali-
mentos estiveram to concentrados e
sob o controle de uma mesma matriz
de produo. Nunca antes na histria
to poucas empresas oligopolizaram
o mercado internacional e tiveram tanto
controle sobre a produo e o comr-
cio de produtos alimentcios como ago-
ra. Estima-se que menos de cinquenta
grandes empresas transnacionais tm
o controle majoritrio da produo de
sementes e insumos agrcolas, e da pro-
duo e distribuio de alimentos em
todo mundo.
O direito alimentao um direi-
to de todos os seres humanos, inde-
pendentemente da condio social, cor
da pele, etnia, local de moradia, crena
religiosa, gnero ou idade. No entanto,
na atual fase do capitalismo globali-
zado, esse direito fundamental para a
sobrevivncia dos seres humanos vem
sendo sistematicamente violado como
resultado do controle que as grandes
empresas transnacionais tm sobre
o mercado de alimentos, subordinando o
acesso a eles s condies do lucro e
da acumulao. Portanto, as pessoas s
podem ter acesso aos alimentos quan-
do tm dinheiro e renda para compr-
los. Como em praticamente todas as
sociedades, e mais gravemente nos
pases do hemisfrio sul, h elevada
concentrao da renda, as populaes
pobres, majoritrias, que vivem nesses
pases sofrem as consequncias da falta
de acesso aos alimentos.
Vive-se uma situao mundial con-
traditria: nunca o planeta havia produ-
zido tantos alimentos, como resultado
das tcnicas agrcolas e da capacidade
de benefciamento e armazenamento;
ao mesmo tempo, nunca tantas pessoas
estiveram privadas do acesso a esse di-
reito humano, que fere a sobrevivncia
da prpria espcie.
As polticas pblicas de abasteci-
mento alimentar, sob responsabilidade
dos governos que controlam os apara-
tos estatais, esto subordinadas a foras
polticas determinadas pela macroeco-
nomia mundial e corroboradas pelas
prticas dos organismos multilaterais
de defesa dos mercados oligopolistas.
Assim, o Fundo Monetrio Internacio-
nal (FMI), a Organizao Mundial do
Comrcio (OMC), criada na dcada
de 1990, e o Banco Mundial sempre
defenderam, em primeiro lugar, os in-
teresses das empresas, encobertos pelo
manto da liberdade de circulao do ca-
pital e das mercadorias. E no mximo,
com o agravamento do problema do
abastecimento alimentar, aceitam pol-
ticas governamentais compensatrias,
que no afetam os interesses do merca-
do, para que a fome e a desnutrio no
se transformem em tragdias sociais
ou confitos polticos internacionais. O
organismo da Organizao das Naes
Unidas (ONU) criado para cuidar es-
pecifcamente do tema, a Organizao
das Naes Unidas para Alimentao e
Agricultura (FAO), est completamente
ausente e incapaz de propor polticas
de mudanas estruturais aos governos.
A FAO se transformou, nas ltimas
dcadas, em um organismo burocrti-
co de pesquisa e registro dos volumes
da fome e da desnutrio que atingem
a humanidade. Ajuda a denunciar,
porm no tem foras para combater
suas causas.
O professor suo Jean Ziegler,
consultor da ONU e um dos mais im-
portantes estudiosos contemporneos
do problema, adverte:
Uma das principais causas da
fome e da desnutrio de mi-
719
S
Soberania Alimentar
lhes de seres humanos a
especulao, que sobrevm, so-
bretudo, da Chicago Commo-
dity Stock Exchange [bolsa das
matrias-primas agrcolas de
Chicago], onde so estabeleci-
dos os preos de quase todos os
produtos alimentcios do mun-
do. (2008, p. 1)
Para resolver a crise atual, sugere-
se, entre outras medidas, impedir a es-
peculao de preos e volumes sobre
alimentos; vetar o uso de produtos
alimentcios para agrocombustveis;
mudar a poltica das instituies multi-
laterais de Bretton Woods
1
e da OMC,
que deveriam dar prioridade absoluta
aos investimentos nos produtos ali-
mentcios de primeira necessidade e
na produo local, incluindo sistemas
de irrigao, infraestrutura, sementes,
pesticidas etc.
O programa de distribuio de ali-
mentos para as populaes mais po-
bres dos pases perifricos promovido
pela FAO representa apenas um palia-
tivo: no alcana toda a populao em
situao de pobreza, e sua amplitude se
reduz cada vez mais. at certo pon-
to irnico que os alimentos distribu-
dos pelo Programa Alimentar Mundial
(PAM) para reduzir a fome de milhes
de pessoas e cujos fundos so cons-
titudos por doaes de vrios gover-
nos no mundo sejam adquiridos das
grandes empresas multinacionais no
mercado internacional de alimentos. E
as empresas tambm usam o programa
para induzir o consumo de alimentos
transgnicos, s vezes proibidos nos
pases recebedores, e/ou usam estoques
de alimentos que se encontram no li-
mite do vencimento do prazo de garan-
tia do valor nutritivo. Sua importncia
to limitada que o programa mundial
do PAM para todos os pases que tm
populaes famintas dispe de menos
recursos do que o programa Bolsa Fa-
mlia do governo brasileiro! E quando
comparamos os trilhes de dlares gas-
tos pelos governos dos pases do Norte
com socorros fnanceiros aos bancos na
crise econmica de 2008-2009, vemos o
quanto irrisria a aplicao de alguns
poucos milhes de dlares em ajuda
alimentar para o Sul.
Tudo leva a crer que, em nome da
competitividade na produo agropecu-
ria e forestal nos mercados mundiais,
as grandes empresas transnacionais e
no os governos nacionais que deve-
ro defnir e implantar as macropolticas
estratgicas de abastecimento alimentar
em todo o mundo. E isso no apenas
pelo controle das cadeias alimentares
mais importantes seja do ponto de vista
dos volumes negociados, dos produ-
tos de interesse da agroindustriali-
zao ou da padronizao dos alimen-
tos em todo mundo, mas tambm pelo
controle interno dos principais produ-
tos em dezenas de pases, tanto no co-
mrcio por atacado quanto no varejo,
por meio das cadeias multinacionais
de supermercados.
Essas macropolticas alimentares
mundiais j esto sendo parcialmen-
te consolidadas. Como afrmam Blas,
Weaver e Mundy em reportagem publi-
cada no Financial Times e reproduzida no
jornal Valor Econmico: as maiores em-
presas alimentcias do mundo (Nestl,
Monsanto, Bunge, Dreyfus, Kraft
Foods, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Unilever,
Tyson Foods, Cargill, Marte, ADM,
Danone) controlam 26% do mercado
mundial, e 100 cadeias de vendas di-
retas ao consumidor controlam 40%
do mercado global (2010). Resumin-
do, uma absurda minoria de empresas
e uns quantos multimilionrios que
Dicionrio da Educao do Campo
720
possuem aes dessas empresas con-
trolam enormes porcentagens de ali-
mentos, agroindstrias e mercados
bsicos para a sobrevivncia de bilhes
de seres humanos.
A padronizao dos alimentos pe-
las empresas transnacionais afeta di-
retamente os hbitos alimentares e as
prticas domsticas tradicionais das
populaes de proverem seus prprios
alimentos, com base nos biomas onde
vivem e na sua cultura alimentar cente-
nria. Para que se tenha uma ideia, as
hortas domsticas nos pases perifri-
cos e agrrios
[...] so, muitas vezes, verdadei-
ros laboratrios experimen-
tais informais, onde as espcies
autctones so transformadas,
estimuladas e cuidadas, sendo
experimentadas a fundo e usa-
das para obter produtos espe-
cfcos e, se possvel, variados.
Um estudo recente realizado na
sia mostrou que 60 hortas de
um mesmo povoado continham
cerca de 230 espcies vegetais
diferentes, e que a diversidade
de cada horta ia de 15 a 60 es-
pcies.
2
(Bunning e Hill, 1996)
Na ndia,
[...] as mulheres utilizam 150
espcies diferentes de plantas
para a alimentao humana e
animal e para os cuidados com
a sade. Em Bengala ocidental,
h 124 espcies de pragas
colhidas nos arrozais que tm
i mportnci a econmi ca para
os agricultores. Na regio de
Expana, em Veracruz, no M-
xico, os camponeses utilizam
cerca de 435 espcies da fora
e fauna silvestres, das quais 229
so comestveis.
3
(Shiva, 1998)
Essa biodiversidade est relacionada
com os padres alimentares e as prti-
cas de medicina preventiva, pois, alm
de um alimento saudvel e local, os
condimentos utilizados servem tambm
como remdios naturais preventivos
e garantidores da sade da populao.
Tudo isso est sendo destrudo pela sa-
nha do capital internacional, contribuin-
do para mais pobreza e fome, e levando
migrao das populaes.
Nas ltimas dcadas, hove uma
evoluo positiva sobre os termos e
conceitos utilizados para analisar o pro-
blema da fome e da desnutrio. Du-
rante a maior parte do sculo XX, o
assunto foi tratado como um problema
social decorrente de fenmenos natu-
rais. Porm, a obra de Josu de Castro
Geografa da fome (1963), traduzida para
mais de quarenta idiomas, consolidou
o conceito de que a fome um problema
social, resultante da forma de organizao so-
cial da produo e distribuio dos alimentos.
E sua contribuio terica foi to im-
portante que os governos reunidos nas
Naes Unidas lhe atriburam o cargo
de primeiro secretrio-geral da FAO na
dcada de 1950.
A teoria de Josu de Castro foi
combatida nas dcadas de 1960 e 1970,
no contexto da luta ideolgica duran-
te o perodo da Guerra Fria, com um
conceito introduzido e difundido pelo
governo dos Estados Unidos de que
o problema da fome era causado pela
baixa produtividade fsica das lavouras.
Portanto, era preciso difundir novas
tcnicas de produo agrcola baseadas
no modelo de agroqumicos, com uso
intensivo de adubos qumicos, vene-
721
S
Soberania Alimentar
nos agrcolas e mecanizao agrcola.
Esse pacote tecnolgico foi chamado
REVOLUO VERDE, pois o aumento da
produtividade fsica das lavouras elimi-
naria a fome e seria combatida a pro-
posta da Revoluo Vermelha defen-
dida pelas ideias socialistas.
O debate ideolgico foi to inten-
so durante as dcadas de 1960 e 1970
que o governo dos Estados Unidos
utilizou da sua influncia para que o
Prmio Nobel da Paz de 1970 fosse
entregue ao agrnomo estadunidense
Norman Borlaug, que se transformou
no principal propagandista mundial
da Revoluo Verde. E, assim, a maior
parte dos pases capitalistas sob influ-
ncia norte-americana passou a adotar
os mtodos e o pacote tecnolgico da
Revoluo Verde.
Nessa poca (dcada de 1970), a
fome atingia aproximadamente 60 mi-
lhes de pessoas em todo o mundo.
Passadas quatro dcadas da aplicao
da Revoluo Verde, a fome aumentou
dez vezes. O que se pode constatar, de
fato, que as tecnologias agrcolas
da Revoluo Verde foram, antes de
tudo, uma forma das empresas norte-
americanas difundirem e venderem,
em todo o mundo, suas mquinas, seus
adubos e seus venenos agrcolas. Me-
nos do que equacionar a problemtica
da fome e da desnutrio, o resultado
principal da Revoluo Verde foi a mais
intensa concentrao da propriedade
da terra e da produo, que ampliou
o xodo rural e as migraes entre
pases, ocasionando maior empobre-
cimento dos camponeses e mais fome
em todo o mundo. Nesse processo,
poucas e grandes empresas transnacio-
nais norte-americanas se transforma-
ram em grandes grupos internacionais
oligopolistas, controlando a oferta de
insumos para a agricultura, a produo
agrcola e o comrcio dos alimentos.
Na dcada de 1990, criou-se o con-
ceito de segurana alimentar. Esse
conceito, cujo intuito era que, nos
marcos dos direitos humanos, todas as
pessoas tivessem assegurado o direito
alimentao, cabendo aos governos
o dever de implantar polticas pblicas
que garantissem a oferta de alimentos
bsicos populao de seus pases, foi
sendo adotado e adaptado pela maior
parte dos governos, em consonncia
com as propostas da FAO. Assim, to-
das as pessoas supostamente teriam a
segurana da sobrevivncia, desde
que possussem rendimentos familiares
sufcientes para adquirir os alimentos.
As pessoas com baixos ou insufcien-
tes rendimentos poderiam ter acesso
aos alimentos bsicos que os governos,
direta ou indiretamente, ofertariam
a preos subsidiados ou mesmo por
meio de doaes, alimentos esses
considerados os necessrios para a
sua sobrevivncia.
Esse passo foi importante porque
se constituiu num compromisso ti-
co de todos os governos para resolver o
problema da fome, constatado em
parcelas da sua populao. Porm, as
polticas pblicas implantadas foram
insufcientes para dar conta das causas
da fome e da desnutrio.
Mais recentemente, surgiu um novo
conceito, o de soberania alimentar, intro-
duzido, em 1996, pela VIA CAMPESINA
Internacional, no contexto da Cpula
Mundial sobre a Alimentao (CMA),
realizada em Roma pela FAO. O de-
bate ofcial girava em torno da noo
de segurana alimentar, reafrmando-a
como o direito de toda pessoa a ter acesso a
alimentos sadios e nutritivos, em consonncia
com o direito a uma alimentao apropriada e
Dicionrio da Educao do Campo
722
com o direito fundamental a no passar fome.
No entanto, as organizaes campone-
sas e, em especial, as delegadas mulhe-
res presentes no frum paralelo CMA
foram crticas em relao aos termos
utilizados na discusso dos governos,
que, em sintonia com a hegemonia do
neoliberalismo e com os princpios
defendidos pela OMC, ajustaram a
defnio de segurana alimentar, ten-
tando vincular o direito alimentao
liberalizao do comrcio de alimentos,
abrindo caminho para fazer da alimenta-
o um grande e lucrativo negcio para
as empresas transnacionais, a indstria
qumica e de fast-food, entre outros.
As organizaes camponesas con-
trapuseram ento ao conceito de segu-
rana alimentar o conceito de soberania
alimentar. Partiram do principio de que
o alimento no uma mercadoria, um direi-
to humano, e a produo e distribuio
dos alimentos uma questo de so-
brevivncia dos seres humanos, sendo,
portanto, uma questo de soberania po-
pular e nacional. Assim, soberania ali-
mentar signifca que, alm de terem
acesso aos alimentos, as populaes de
cada pas tm o direito de produzi-los.
E isso que pode garantir a elas a so-
berania sobre suas existncias. O con-
trole da produo dos seus prprios
alimentos fundamental para que as
populaes tenham garantido o aces-
so a eles em qualquer poca do ano e
para que a produo desses alimentos
seja adequada ao bioma onde vivem,
s suas necessidades nutricionais e aos
seus hbitos alimentares. O alimento
a energia de que necessitamos para
a sobrevivncia, de acordo com o meio
ambiente onde vivemos e nos reprodu-
zimos socialmente.
A partir da, o conceito evoluiu
para a compreenso de que soberania
alimentar signifca que cada comunida-
de, municpio, regio, povo tm o direi-
to e o dever de produzir seus prprios
alimentos. Por mais difculdades natu-
rais que ocorram, em qualquer parte
do nosso planeta, as pessoas podem
sobreviver e se reproduzir dignamente.
J existe conhecimento cientfco acu-
mulado para enfrentar as difculdades
naturais e garantir a produo de ali-
mentos sufcientes para a reproduo
social dos seres humanos.
E se a produo e a distribuio
de alimentos fazem parte da soberania de
um povo, elas so inegociveis e no
podem depender de vontades polticas
ou prticas conjunturais de governos ou
empresas de outros pa ses. Como
advertia Jos Mart, j no incio do s-
culo XX, em relao dependncia da
Amrica Latina dos capitais estrangei-
ros: um povo que no consegue produ-
zir seus prprios alimentos um povo
escravo. Escravo e dependente do ou-
tro pas que lhe fornece as condies
de sobrevivncia.
Esse novo e transgressor concei-
to representa uma ruptura em relao
organizao dos mercados agrcolas
imposta pelas empresas transnacio-
nais e os governos neoliberais no seio
das negociaes da OMC e da FAO,
cujas orientaes polticas j tinham
violado as normas protecionistas para
a agricultura familiar e camponesa im-
plantadas por alguns governos nacio-
nalistas e populares, mediante impos-
tos sobre as importaes baratas de
alimentos, favorecendo o preo de ali-
mentos nacionais, outorgando faixas
de preos e mantendo os poderes dos
compradores pblicos.
A utopia de uma soberania alimentar
fundamental para o fortalecimento de
uma viso de mundo favorvel a uma
723
S
Soberania Alimentar
democratizao econmica, social,
tnica e de gnero contra-hegemnica
viso neoliberal de democracia. Essa
concepo recebeu um complemento
essencial em 2007, durante o Frum
Mundial pela Soberania Alimentar, rea-
lizado em Mali, cujo documento fnal, a
Declarao de Nylni, afrma:
A soberania alimentar um di-
reito dos povos a alimentos nu-
tritivos e culturalmente adequa-
dos, acessveis, produzidos de
forma sustentvel e ecolgica,
e seu direito de decidir seu pr-
prio sistema alimentcio e
produtivo. Isto coloca aqueles
que produzem, distribuem e
consomem alimentos no co-
rao dos sistemas e polticas
alimentrias, por cima das exi-
gncias dos mercados e das
empresas. (Frum Mundial pela
Soberania Alimentar, 2007)
Essa concepo defende os inte-
resses dos povos, seja para as geraes
atuais ou para as futuras. Oferece uma
estratgia para resistir, para defender os
regimes alimentares locais e a necessida-
de de os alimentos serem produzidos por
produtores locais, alm de desmantelar a
tese das empresas transnacionais de que
o livre comrcio seria a nica forma de
garantir a segurana alimentar.
A soberania alimentar d priorida-
de produo e ao benefciamento de
alimentos pelas economias locais e
sua distribuio por mercados locais e
nacionais, outorgando o poder de pro-
duo e oferta alimentar aos campone-
ses, aos agricultores familiares, aos pes-
cadores artesanais e s diversas formas
de pastoreio tradicional. E mais, trata a
produo alimentar, a distribuio e o
consumo, assim como o modelo tecno-
lgico, sobre a base da sustentabilidade
ambiental, social e econmica.
A soberania alimentar promove
o comrcio transparente que garan-
te no apenas renda digna para todos
os povos, mas tambm os direitos dos
consumidores de controlar sua prpria
alimentao e nutrio. Garante tam-
bm que os direitos de acesso e gesto
da terra, dos territrios, das guas, das
sementes, do gado e da biodiversidade
estejam nas mos daqueles que produ-
zem os alimentos. A soberania alimen-
tar supe novas relaes sociais livres
da opresso e das desigualdades entre
os homens e mulheres, entre povos,
entre grupos tnicos, entre classes so-
ciais e entre geraes.
As organizaes sociais e campone-
sas que construram o termo soberania
alimentar enfatizam a ideia de ele ser
mais do que um conceito. Trata-se de um
princpio e de uma tica de vida que
no respondem a uma defnio acad-
mica, mas emergem de um processo co-
letivo de construo, um processo par-
ticipativo, popular e progressivo que
foi se enriquecendo em seus conte-
dos como resultado de um conjunto de
debates e discusses polticas iniciadas
no prprio processo de conformao
da instncia que abriga as organizaes
camponesas crticas das atuais polticas
agrrias liberalizadoras e de alimentao.
Nos diversos documentos e declara-
es
elaborados coletivamente, ao con-
ceito de soberania alimentar foi agrega-
do o conjunto de direitos dos povos de
defnir suas prprias polticas de agri-
cultura e de alimentao, o que inclui
proteger o meio ambiente e os recur-
sos naturais, regulamentar a produo
agropecuria e o comrcio agrcola
interno para o desenvolvimento sus-
Dicionrio da Educao do Campo
724
tentvel, proteger os mercados locais
e nacionais contra as importaes e li-
mitar o dumping social e econmico de
produtos nos mercados. Materializa-
se no direito de decidir como organi-
zar o que produzir e como plantar, como
organizar a distribuio e o consumo
de alimentos de acordo com as neces-
sidades das comunidades, em quanti-
dade e qualidade suficientes, prio-
rizando produtos locais e variedades
nativas (Coordinadora Latinoamerica-
na de Organizaciones del Campo, 2010,
p. 23-25).
Mais recentemente, na Conferncia
Mundial dos Povos sobre Mudanas
Climticas e os Direitos da Me Terra,
realizada em Cochabamba, na Bolvia,
em abril de 2010, foi ratifcado que a
soberania alimentar se refere ao direito
dos povos de controlar suas prprias
sementes, terras e gua, garantindo,
por meio de uma produo local e cul-
turalmente apropriada, o acesso dos
povos a alimentos sufcientes, varia-
dos e nutritivos, em complementao
com a Me Terra, e aprofundando a
produo autnoma, participativa,
comunitria e compartilhada de cada
nao e povo. Nessa proposta, foram
afrmadas novas vises e conceituaes
baseadas no pensamento do Bom Viver
ou Bem Viver, o Sumak Kawsay, conceito
que nasce da herana ancestral andina
e latino-americana como alternativa
que vem se tecendo a partir das orga-
nizaes populares de base. E que, ao
mesmo tempo, est em consonncia
com os direitos dos povos de controlar
seus territrios, seus recursos naturais,
sua fertilidade, sua reproduo social
e a integrao entre etnias e povos de
acordo com interesses comuns, e no
apenas determinados pelo comrcio e o
lucro. E h tambm uma infuncia na
construo do conceito da viso femi-
nina do mundo, baseada na fertilidade
e na reproduo social da humanidade
em condies igualitrias e justas.
As declaraes e acordos sobre a
soberania alimentar construdos em f-
runs, seminrios e conferncias nacio-
nais e mundiais, contando com a parti-
cipao da maior parte das instituies
da sociedade civil, de movimentos
camponeses e de mulheres, e de al-
guns setores governamentais, infeliz-
mente ainda no tm tido ressonncia
prtica, com a sua transformao em
polticas pblicas pela maioria dos go-
vernos e pelos organismos multilate-
rais internacionais.
Notas
1
Com instituies multilaterais de Bretton Woods nos referimos ao Banco Mundial e ao
Fundo Monetrio Internacional. Essas instituies, assim como um sistema de regras e
procedimentos para regular a poltica econmica internacional, foram constitudas em ju-
lho de 1944, durante a Conferncia Monetria e Financeira das Naes Unidas, conhecida
posteriormente como as Conferncias de Bretton Woods (cidade localizada no estado de
New Hampshire, nos Estados Unidos) ou o sistema de Bretton Woods. As Conferncias
de Bretton Woods contaram com a presena de representaes de 44 naes ento aliadas,
como consequncia da Segunda Guerra Mundial.
2
[...] are often informal experimental stations in which they transfer, encourage and
tend indigenous species, trying them out and adopting them for their specifc and
maybe varied products. A recent study in Asia showed that 60 homegardens in one village
contained about 230 different plant species. Individual garden diversity ranged from 15 to
60 species.
725
S
Soberania Alimentar
3
In Indian agriculture women use 150 different species of plants for vegetables, fodder
and health care. In West Bengal 124 weed species collected from rice felds have economic
importance for farmers. In the Expana region of Veracruz, Mexico, peasants utilise about
435 wild plant and animal species of which 229 are eaten.
Para saber mais
AMIN, S. Las Luchas campesinas y obreras frente a los desafos del siglo XXI. Barcelona:
El Viejo Topo, 2005.
ARANHA, A. V. (org.). Fome Zero: uma histria brasileira. Braslia: Editora do
Ministrio do Desenvolvimento Social, 2010. 3 v.
BLAS, J.; WEAVER, C.; MUNDY, S. Cresce o temor por oferta de alimentos.
Valor Econmico, So Paulo, 3 set. 2010. Disponvel em: http://www.valor.com.br/
arquivo/845409/cresce-o-temor-por-oferta-de-alimentos. Acesso em: 18 out.2011.
BUNNING, S.; HILL, C. Farmers Rights in the Conservation and Use of Plant Genetic Resources:
Who are the Farmers? In: SUSTAINABLE DEVELOPMENT DEPARTMENT (SD), WOMEN IN
DEVELOPMENT SERVICE (SDWW), FAO WOMEN AND POPULATION DIVISION, June 1996.
Disponvel em: http://www.fao.org/sd/WPdirect/WPan0006.htm. Acesso em:
18 out. 2011.
CASTRO, J. Geografa da fome. 8. ed. So Paulo, Brasiliense, 1963. 2 v.
COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO (CLOC). Docu-
mento preparatrio ao congresso da CLOC 2010. Quito: Cloc, 2010.
FORO MUNDIAL SOBRE LA REFORMA AGRARIA (FMRA). Valencia (Espanha), 2004.
In: AGNCIA CARTA MAIOR, So Paulo, dez. 2004. Disponvel em: http://www.
cartamaior.com.br/templates/index.cfm?home_id=51&alterarHomeAtual=1.
Acesso em: 17 out. 2011.
FRUM MUNDIAL PELA SOBERANIA ALIMENTAR. Declarao de Nylni. Nylni (Mali),
2007. Disponvel em: http://www.wrm.org.uy/temas/mujer/Declaracion_
Mujeres_Nyeleni_PR.html. Acesso em: 19 out. 2011.
MOORE LAPP, F.; COLLINS, J.; ROSSET, P. Doce mitos sobre el hambre: un enfoque
esperanzador para la agricultura y la alimentacin del siglo XXI. Barcelona:
Icaria, 2005.
SERREAU, C. Solutions locales pour un desordre global. Paris: Actes Sud, 2010.
SHIVA, V. Monocultures, Monopolies, Myths and the Masculinisation of Agriculture. Nova
Delhi: Secretariat of Diverse Women for Diversity, Research Foundation for
Science, Technology and Ecology, 1998. Disponvel em: http://www.nodo50.org/
mujeresred/india-shiva.html. Acesso em: 18 out. 2011.
ZIEGLER, J. Aqueles que violam o direito nutrio. 2008. (Mimeo.). Disponvel em:
http://www.cebi.org.br/noticia.php?secaoId=5¬iciaId=698. Acesso em: 17
out. 2011.
Dicionrio da Educao do Campo
726
S
SUJEITOS COLETIVOS DE DIREITOS
Maria Lcia de Pontes
Os movimentos sociais do campo,
como sujeitos coletivos de direitos e
polticas, expressam e reafrmam a ca-
pacidade transformadora dos homens
e mulheres do campo, quando se mo-
vimentam em marchas e aes coleti-
vas buscando um objetivo comum. E,
assim, instituem, de forma autntica,
novos direitos, construindo na prtica
experincias transformadoras.
Direitos podem ser defnidos como
poderes/deveres que refetem as necessidades
de homens e mulheres dentro de uma sociedade
determinada, que ora podem recair sobre
bens materiais (direito de propriedade)
ou sobre aspectos da personalidade (di-
reito ao nome), podendo ainda referir-
se a princpios humanos (dignidade da
pessoa humana).
Para o positivismo jurdico (teoria
que predomina no pensamento e na
ideologia do Estado moderno), direi-
tos so aqueles reconhecidos e decla-
rados em normas jurdicas positivadas,
ou seja, elaboradas por representantes
eleitos para mandatos nas casas legisla-
tivas: Cmaras de Vereadores, Cmaras
de Deputados e Senado Federal.
A afrmao do processo legislati-
vo como mecanismo exclusivo para a
criao de direitos contribui para que
a ordem estabelecida na sociedade seja
mantida e reforada, pois, em geral,
nega-se a capacidade transformadora
das aes diretas dos excludos, aes
motivadas pela realidade social e base-
adas nas necessidades reais do povo e
que produzem as verdadeiras condi-
es para a criao de direitos.
Como parte da alienao que o pro-
cesso legislativo estimula, deve ser des-
tacada a imposio da obrigatoriedade
da aplicao da lei, sem possibilida-
de de questionamento direto pelos
cidados, os quais, apesar de exclu-
dos do processo legislativo, aceitam tal
imposio, no importando a falta de
coincidncia entre a regra legal e as ne-
cessidades reais do povo.
Como exemplo da obrigatoriedade
de aplicao de lei injusta, questiona-
da pelos movimentos sociais rurais,
citamos a regra que estabelece a proi-
bio de vistoria, pelo Instituto Nacio-
nal de Colonizao e Reforma Agrria
(Incra), em terra ocupada, no processo
de desapropriao para fns de Refor-
ma Agrria, regra que criminaliza a ao
poltica da ocupao e representa a pre-
miao de proprietrios que mantm a
improdutividade da terra, acirrando os
confitos entre excludos da terra, pro-
prietrios e representantes do Estado.
Os direitos no resultam da criao
abstrata de homens e mulheres letra-
dos e iluminados, afastados da reali-
dade social, mas so, enquanto expres-
so das necessidades humanas, os po-
deres/deveres defnidos pelas relaes que se
produzem dentro da sociedade, os quais,
atravessando o processo legislativo,
podem se transformar em direito po-
sitivado ou permanecer na sociedade
como prtica social, como o caso da
negociao da laje (parte da casa onde
fca o telhado) pelos moradores de fave-
las, chamado de direito de laje, que no
tem correspondncia em norma legal.
727
S
Sujeitos Coletivos de Direitos
A sociedade de mercado composta
por proprietrios e no proprietrios,
latifundirios e camponeses sem terra,
exploradores e explorados, includos e
excludos, sujeitos coletivos com interesses
diferentes e em geral inconciliveis, interes-
ses que, em confronto, resultam em
confitos e disputas permanentes.
O exerccio de um direito por um
dos grupos integrantes da sociedade
de mercado limita ou exclui o interes-
se do grupo contrrio; isso resulta em
confitos e aes de resistncia que colocam
o direito em movimento. Exemplif-
cando essa contradio, podemos citar
a ocupao coletiva de uma terra rural,
na qual temos cidados sem terra que,
buscando cumprir a ordem constitu-
cional da funo social da proprieda-
de, ocupam a terra, limitando com essa
ao o direito do proprietrio capita-
lista de exercer a especulao sobre a
terra ocupada, ou seja, o direito de dar
funo social a terra com a ao de
ocupao confronta-se com o direito
de especular do capitalista, confito
social que com frequncia levado ao
Poder Judicirio.
Os direitos resultam de um proces-
so social real e coletivo, e a ao co-
letiva dos movimentos sociais reafrma
a capacidade transformadora do povo
em movimento.
A criminalizao dos movimentos
sociais rurais tem como um de seus
principais objetivos a tentativa de limi-
tar a potencialidade transformadora e
a capacidade instituinte de direitos das
aes coletivas de resistncia; por isso,
comum uma maior criminalizao em
resposta a uma maior movimentao
dos trabalhadores.
A concentrao de terras e renda
no campo, produto da ao coletiva
dos latifundirios, que impediram a
Reforma Agrria e hoje movimentam o
agronegcio, produziu como resultado
da violncia instalada no campo a ne-
cessidade de organizao dos trabalha-
dores rurais.
Em resposta violncia produzida
pela propriedade capitalista da terra, os
trabalhadores rurais criaram um dos
principais movimentos de resistncia
no campo, o Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), surgido
na dcada de 1980, com o acmulo das
experincias dos movimentos sociais
do campo, como as Ligas Campone-
sas. O Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra instituiu a ao coletiva como
mola propulsora de transformao e criao
de direitos.
Os movimentos sociais do campo,
quando colocam em ao coletiva os
camponeses excludos da terra, reen-
contram direitos j reconhecidos abs-
tratamente nas legislaes nacionais e
internacionais, e negados pela prtica
capitalista de mercado. Dessa contra-
dio surgem os confitos sociais e a
afrmao de poder.
A ocupao coletiva de terras
uma das principais aes produzidas
pelos movimentos sociais do campo
enquanto forma instituinte, geradora de
direitos, evidenciando a modalidade co-
letiva da propriedade como resposta ef-
caz ao enfrentamento da expulso dos
pequenos agricultores e trabalhadores
do campo.
A fora da ao coletiva dos mo-
vimentos sociais rurais tem como re-
sultado concreto o questionamento do
individualismo como soluo para as
massas excludas de poder na socieda-
de de mercado.
O objetivo da propaganda individua-
lista negar a ao coletiva como ao
poltica necessria para a produo de
Dicionrio da Educao do Campo
728
novas formas de organizao social,
que resultem em relaes sociais mais
humanas e solidrias.
Da experincia de ocupao co-
letiva vivenciada pelo MST, decorre a
seguinte afrmao: propriedade legti-
ma da terra o resultado do exerccio
e da prtica dos no proprietrios! Ter-
ra abandonada, sem utilizao racional
ou que produza danos para a socieda-
de (plantao ilegal, ou utilizao de
mo de obra escrava) descumpre sua
funo social, portanto propriedade
ilegtima. Nesse caso, a ao poltica
do movimento social rural capaz de,
mediante a ocupao coletiva da terra,
corrigir a ilegitimidade da propriedade
quando os no proprietrios utilizam a
terra para plantar alimentos e morar.
A propri edade abandonada pe-
los proprietrios e ocupada pelos no
proprietrios em ao poltica e cole-
tiva transforma-se em propriedade le-
gtima. Podemos afrmar, ento, que a
propriedade da terra legtima quando
cumpre sua funo social. Por con-
sequncia, afrmamos tambm que a
propriedade da terra cumpre sua fun-
o social quando capaz de gerar au-
tonomia para os trabalhadores rurais,
que passam a retirar da terra ocupada
os frutos que ela produz, e quando
utilizada para moradia e trabalho.
Segundo Saule Junior, Librio e
Aurelli, num estudo sobre a funo so-
cial apresentado na Srie Pensando o
Direito (n. 7/2009), para Celso Antnio
Bandeira de Mello, estudioso do direito,
[...] no basta ser observada a
funo social da propriedade
como um bem que esteja cum-
prindo economicamente sua
funo, ou seja, a funo social
vista como a utilizao plena
do bem. No entanto, aduz que
no h uma preocupao com
a justia distributiva, ou seja, o
cumprimento da funo social
no est vinculado a um proje-
to de uma sociedade mais justa
e igualitria, que proporcione
oportunidades a todos os cida-
dos. (Saule Junior, Librio e
Aurelli, 2009, p. 107)
Reafrma-se, assim, o papel da ao
coletiva dos movimentos sociais para
transformar esse requisito da proprie-
dade em uma bandeira para a emanci-
pao dos trabalhadores sem-terra.
Os movimentos sociais, quando re-
sistem e enfrentam o confito social em
aes coletivas, encontram no Poder
Judicirio a tentativa de desqualifca-
o do seu poder transformador. Essa
desqualifcao se d com a passagem
do conflito social para o processo
judicial, que trata o confito como exce-
o normalidade, e nesse sentido ele
analisado, como caso individual, pelo
Estado-juiz. O Poder Judicirio trata o
confito social como confito localiza-
do e individualizado, apresentado em
um ambiente esttico e formal, local
denominado de processo, no qual os
sujeitos so despidos de suas particula-
ridades, vivncias e experincias, com
seus nomes apagados e transformados
apenas em partes: autor e ru. Alm
disso, o confito social encontra no Po-
der Judicirio a tentativa de desqualif-
cao de seu poder transformador.
Quando aprisionado no proces-
so judicial e levado ao Estado-juiz como
uma abstrao da realidade, o confito
social passa a ser analisado e desqua-
lifcado enquanto questionamento das
regras estabelecidas na sociedade. De-
pois do processo fnalizado, quando o
729
S
Sujeitos Coletivos de Direitos
juiz afrma o direito de cada uma das
partes do processo, o conflito deve
ser compreendido como solucionado
e imediatamente esquecido em um
arquivo judicial, valendo e vinculan-
do apenas os indivduos que partici-
param do conflito original, que res-
tar aprisionado definitivamente no
processo judicial.
Enquanto sujeito coletivo transfor-
mador, real e marcado pelas experin-
cias de lutas, o movimento social o
nico sujeito social capaz de desquali-
fcar a atividade do Estado-juiz em sua
ao de decidir o confito como caso in-
dividual. Para que tal desqualifcao se
produza, o confito deve ser libertado
do processo judicial esttico, com a
proposio pelos movimentos sociais
de aes externas ao Judicirio que re-
qualifquem o confito, devolvendo-o
para a realidade, por meio de marchas,
manifestaes de rua e viglias durante
os atos processuais.
Os movimentos sociais, ao assu-
mirem as aes coletivas de denncia
do processo judicial mediante aes
de rua, disputam espao na sociedade.
Como exemplo da requalifcao de con-
fitos aprisionados no processo judi-
cial mediante a ao coletiva dos mo-
vimentos sociais rurais, destaque-se
as manifestaes de rua em viglia a
julgamentos processuais, numa verda-
deira ao transformadora na esfera do
Poder Judicirio.
Ocupar todos os espaos de poder
com aes de resistncia representa o
exerccio necessrio para a transforma-
o da realidade. Nesse sentido, o espao
do Poder Judicirio, longe de ser um
espao privilegiado do movimento so-
cial, merece ser enfrentado com serie-
dade, criando-se redes de apoio jurdico
direo dos movimentos sociais
como j ocorre com o Poder Legislati-
vo , com a conscincia de que as aes
no podem ser tomadas de forma iso-
lada, afastando-se as aes diretas, mas
devem se interligar para que produzam
resultados positivos.
Os movimentos sociais e militantes
de direitos humanos j utilizam o espa-
o do Poder Legislativo como espao
em disputa, buscando garantir que os
direitos que protegem os trabalhadores
e excludos sejam positivados, virem lei.
Vale destacar uma interessante obser-
vao sobre esse fenmeno de Carlos
Miguel Herrera: a codifcao de di-
reitos do homem em uma declarao,
tal como aparece em fns do sculo
XVIII, expressa a tentativa de consti-
tucionalizar um movimento insurrecio-
nal (2008, p. 11).
Os movimentos sociais, com as
experincias vitoriosas de suas lutas
concretas, devem assumir seu lugar de
destaque na ao de transformar a rea-
lidade, contagiando, com suas aes
coletivas, as disputas travadas nos de-
mais espaos de poder.
Para saber mais
HERRERA, C. M. Estado, Constituio e direitos sociais. In: SOUZA NETO, C. P. de;
SARMENTO, D. (org.). Direitos sociais: fundamentos, judicializao e direitos sociais
em espcie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 7-35.
LANZELLOTTI BALDEZ, M. Sobre o papel do direito na sociedade capitalista ocupaes
coletivas: direito insurgente. Petrpolis: Centro de Defesa dos Direitos Humanos,
1989.
Dicionrio da Educao do Campo
730
LYRA FILHO, R. Para um direito sem dogmas. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1980.
SAULE JUNIOR, N.; LIBRIO, D.; AURELLI, A. I. (org.). Confitos coletivos sobre a posse e
a propriedade de bens imveis. Braslia: Secretaria de Assuntos Legislativos, Ministrio
da Justia, 2009. (Srie Pensando o Direito, 7/2009).
SOUSA JUNIOR, J. G. de. Movimentos sociais e prticas instituintes de direito: perspectivas
para a pesquisa sociojurdica no Brasil. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.
S
SUSTENTABILIDADE
Carlos Eduardo Mazzetto Silva
O debate que envolve a noo da
sustentabilidade passa pelo ascenso e a
popularizao do termo desenvolvimento
sustentvel. Por isso, este verbete est
bastante relacionado com verbete an-
terior que aborda o DESENVOLVIMENTO
SUSTENTVEL. Assim, a leitura de um
complementar leitura do outro, posto
que as nfases so distintas: o primei-
ro faz uma crtica do desenvolvimento
sustentvel enquanto discurso apro-
priado pelo capital na disputa ideol-
gica; o segundo aborda a sustentabili-
dade enquanto atributo da agricultura
camponesa e em contraponto ao de-
senvolvimento sustentvel.
Por onde chega o debate
sobre a sustentabilidade
Sustentabilidade um termo que
comea a fazer parte do debate pblico
a partir do que podemos chamar de ad-
vento da questo ambiental. Essa ques-
to ambiental, que comea a ser anun-
ciada nos anos 1960-1970, diz respeito
capacidade do planeta de sustentar as
sociedades humanas e seu nvel de con-
sumo de materiais e energia, e a conse-
quente produo crescente de dejetos
e poluio. Como a natureza no um
ajuntamento de recursos naturais alea-
trios, e sim um conjunto integrado
de unidades naturais, que chamamos de
ecossistemas, tal capacidade do planeta
se expressa concretamente na sustenta-
bilidade ou insustentabilidade dos ecos-
sistemas, pois so os seus fuxos, ciclos,
elementos e recursos que so atingidos
pela expanso da produo e consumo
das sociedades. Como os ecossistemas
so complexos, auto-organizados e au-
torreprodutveis, a insustentabilidade
pode ser gerada quando a interveno
humana desestrutura esse processo
de complexifcao, auto-organizao
e autorreproduo. Nos ambientes tro-
picais, como sabemos, a biodiversidade
joga um papel-chave na estabilidade e
equilbrio dos ecossistemas. Portanto,
j podemos afrmar que a homoge-
neizao das monoculturas um fator
de simplifcao e desestabilizao dos
ecossistemas naturais.
Aumentando a escala
No entanto, podemos aumentar a
escala desta anlise e falar de sociedades
sustentveis ou insustentveis. Se hoje
estamos discutindo a crise ambiental e a
problemtica da sustentabilidade por-
731
S
Sustentabilidade
que determinado modelo dominante
de sociedade ameaa a natureza, ou, se
quisermos dizer de outro modo, deter-
minada forma de relao sociedade
natureza nos trouxe a esta crise am-
biental que , na verdade, socioambien-
tal. Estamos falando das sociedades
ocidental-capitalistas que dominaram o
mundo nos ltimos quinhentos anos e
do modo industrial de apropriao da
natureza que se instituiu, a partir da Re-
voluo Industrial, no fnal do sculo
XVIII e viabilizou enorme acelerao
do processo de acumulao de capital,
s custas de uma tambm enorme ca-
pacidade de transformao de matria
e energia contidas nos ecossistemas e
em ilhas de recursos geologicamen-
te armazenados (petrleo, gs, jazidas
minerais etc.). A insustentabilidade ,
portanto, um problema civilizatrio do
tipo de civilizao ocidental dominan-
te, cuja relao com a natureza guiada
pelos seguintes fenmenos fundamen-
tais e associados:
perda do carter sagrado da me
Terra, que se transforma em Natureza-
objeto e Natureza-mquina na con-
cepo reducionista e mecanicista
da cincia moderna, operadora da
diviso do conhecimento em com-
partimentos estanques;
instituio progressiva da mercan-
tilizao da vida pela lgica e tica
prprias do capitalismo (Natureza-
mercadoria);
crescimento econmico acelerado
da produo e do consumo propi-
ciado pela tecnocincia moderna
e pela produo industrial, estimula-
do pela lgica da acumulao de capi-
tal e pelo crescimento populacional;
entendimento da natureza como
algo exterior e inferior vida hu-
mana, caracterizando uma viso
antropocntrica do mundo na qual
o homem o senhor e dominador
da natureza.
Da agricultura moderna
industrial ao agronegcio
global
A chamada modernizao da agri-
cultura uma expresso da ascenso
do modo industrial de apropriao da
natureza no campo. Alguns se referem
a esse processo como apropriacionismo,
mas a a referncia apropriao da
agricultura pela indstria. Essa apro-
priao est baseada na artifcializao
extrema dos agroecossistemas pela in-
troduo de enormes reas monocul-
turais, com material gentico melho-
rado pela indstria, uso intensivo da
mecanizao e de insumos industriais
sintticos (fertilizantes qumicos, agro-
txicos, raes, antibiticos, horm-
nios etc.). Todos conhecemos os efeitos
socioambientais perversos, fartamente
documentados, dessa modernizao.
Ela se expressa muito simbolicamen-
te hoje, nestes tempos de globalizao
econmica, por meio do termo agrone-
gcio, que radicaliza a noo de espao
rural, e dos recursos naturais nele con-
tidos, como mercadoria. Na sua estra-
tgia, a paisagem do campo, em vez da
diversidade dos sistemas camponeses
tradicionais e da sociabilidade coopera-
tiva das comunidades, estaria reduzida
a campos homogneos e montonos
de monocultivos sem gente.
Ressalte-se que essa lgica no
estritamente agro. Constitui tambm a
base de diversos complexos da econo-
mia global nas reas da siderurgia, ce-
lulose, energia etc. Portanto, para alm
do sistema agroalimentar global, o
espao rural e seus recursos esto a
Dicionrio da Educao do Campo
732
servio de um produtivismo acelerado
e guloso. uma lgica de desenvolvi-
mento que desterritorializa comuni-
dades e culturas e desloca, completa-
mente, o lugar de produzir e viver do
lugar de consumo. Os fuxos que ligam
os espaos rurais ao mundo so os
complexos globais, que demandam as
commodities do campo para suas cadeias
produtivas, as quais devem sustentar a
expanso do modelo de produo e de
consumo urbano-industrial. De susten-
tvel, portanto, esse desenvolvimento
no tem nada (Silva, 2008).
Modos camponeses de
apropriao da natureza
e sustentabilidade
Numa lgica contrria a esse mode-
lo, os modos camponeses de apropria-
o da natureza h 10 mil anos (adven-
to da agricultura) vm desenvolvendo
estratgias de adaptao diversifcada
aos ecossistemas (Toledo, 1996), nas
quais produo e consumo sempre es-
tiveram integrados e onde os espaos
rurais se constituam no s em terra
de trabalho, como disse Jos de Souza
Martins (1980), mas tambm em lu-
gares de vida, em habitats e territrios
nos quais natureza e cultura se articu-
lam em modos de vida comunitrios.
As paisagens camponesas, talvez com
algumas raras excees no contexto
europeu,
1
sempre foram biodiversas,
mesmo nas condies de expropriao
que marcaram sua histria, seja no feu-
dalismo, seja no colonialismo, seja ain-
da no capitalismo. Nesses contextos,
j est demonstrado que a economia
camponesa sempre foi de natureza no
capitalista, baseada no valor de uso e
visando reproduo familiar e comu-
nitria (Chayanov, 1981).
A defnio de Sevilla Guzmn (2000),
baseada na abordagem agroecolgica,
revela a articulao entre campesina-
to e modelos sustentveis de uso dos
ecossistemas:
O campesinato a forma de
manejo da natureza que, na
coevoluo social e ecolgica,
gerou cosmovises especfcas
(quer dizer, uma forma de vida
resultante de uma interpretao
da relao homemnatureza
que estabelece a articulao de
elementos para um uso mltiplo
da natureza), mediante as quais
desenvolve processos de produ-
o e reproduo sociais, culturais
e econmicos sustentveis ao
manter as bases biticas e iden-
titrias nele implicadas. (Apud
Carvalho, 2005, p. 195)
importante ressaltar que as ca-
ractersticas assinaladas por Sevilla
Guzmn so fruto de um saber local
(muitas vezes tambm ancestral) sofs-
ticado, oriundo dessa coevoluo his-
trica. Esse saber foi desprezado e tido
como atrasado pela cincia moderna,
sendo objeto de polticas de crdito e
de extenso rural visando sua subs-
tituio por mtodos moderno-indus-
triais. Hoje, com a crise ambiental e a
ascenso das abordagens etnoecolgi-
ca e agroecolgica, comea-se a se re-
conhecer a importncia desses saberes
locais, tambm chamados de tradicio-
nais, para a manuteno de paisagens
e sistemas que conservam a biodiver-
sidade e as guas. uma conservao
dinmica, no a concepo esttica
museolgica do mito moderno da nature-
za intocada (Diegues, 1996). Ela se d
no seio de modelos produtivos que de-
pendem desses recursos naturais para
733
S
Sustentabilidade
a sua reproduo. Esses modelos s
sero reprodutveis se conservarem a
base de recursos que os mantm.
a ideia da coevoluo e da correprodu-
o simultneas. Por isso, grupos que
podemos chamar de camponeses, e que
so hoje, em geral, chamados de povos
ou comunidades tradicionais, vm se
tornando os maiores defensores dos
principais biomas brasileiros muitas
vezes, inclusive, sendo assassinados
por causa da disputa com os setores
predatrios. o que Martnez Alier
(1998) chamou de ecologismo de sobrevi-
vncia, em contraste com o ecologismo da
abundncia, praticado por membros da
classe mdia urbana que no depen-
dem diretamente desses recursos para
a sua sobrevivncia.
Por tudo isso, importante dizer
que campesinato uma categoria so-
cial genrica que abriga diversas iden-
tidades especficas de carter local-
territorial, cuja denominao, muitas
vezes, refere-as aos ecossistemas de
origem ou a algum recurso neles abri-
gado e que estratgico para a sobre-
vivncia do povo do lugar: seringuei-
ros, ribeirinhos, caiaras, geraizeiros,
vazanteiros, caatingueiros, sertanejos,
pantaneiros, quebradeiras de coco,
pescadores, catadores de caranguejo,
apanhadores de flor, faxinalenses etc.
Algumas comunidades, como as que
chamamos hoje de quilombolas, so
etnicamente identificadas.
So modos de vi da e model os
socioespaciais-produtivos portadores
de relaes ser humano/sociedade/
natureza moldadas pelas especifcida-
des socioculturais e ecolgicas do lu-
gar. Sua sustentabilidade est perma-
nentemente ameaada pelo avano das
formas moderno-industriais de pro-
duo de commodities e pelas demandas
por recursos das sociedades urbanas
energo-intensivas. Por isso, a questo
do direito territorial est, hoje, no cen-
tro dos problemas e das estratgias de
resistncia e reproduo dessas comu-
nidades. Com tudo isso e por tudo isso,
as comunidades camponesas (e tam-
bm as indgenas) so, e podero ser
muito mais, clulas implementadoras
da noo da sustentabilidade na prtica
cotidiana, assegurando a conservao
dinmica e cuidando de ecossistemas
e paisagens diversifcadas e produti-
vas, incrementando a economia local,
gerando segurana alimentar e benef-
ciando, assim, o conjunto da sociedade
da qual participam.
Nota
1
Ressalte-se que o policultivo associado criao animal que marca os sistemas campone-
ses de produo na Europa pr-modernizao da agricultura.
Para saber mais
CARVALHO, H. M. O campesinato no sculo XXI: possibilidades e condicionantes do
desenvolvimento do campesinato no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2005.
CHAYANOV, A. V. Sobre a teoria dos sistemas econmicos no capitalistas. In:
GRAZIANO DA SILVA, J; STOLCKE, V. (org.). A questo agrria. So Paulo: Brasiliense, 1981.
p. 133-166.
DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. So Paulo: Hucitec, 1996.
Dicionrio da Educao do Campo
734
MARTNEZ ALIER, J. Da economia ecolgica ao ecologismo popular. Blumenau: Edifurb,
1998.
MARTINS, J. de S. Expropriao e violncia. So Paulo: Hucitec, 1980.
SEVILLA GUZMN, E. Sobre el campesinado, la globalizacin de la economa y el desarrollo
rural. Crdoba: Instituto de Sociologa y Estudios Campesinos de la Universidad
de CrdobaEscuela Tcnica Superior de Ingeniera Agronmica y de Montes de
la Universidad de Crdoba, 2000.
SILVA, C. E. M. Envolvimento local e territorialidades sustentveis: desvelando
a desterritorializao do desenvolvimento. In: WILDHAGEN, C. D. (org.). Dilogos
sociais: refexes e experincias para sustentabilidade do desenvolvimento do nor-
te e nordeste de Minas Gerais. Belo Horizonte: Sedvan/IdeneEditora Instituto
Mineiro de Gesto Social, 2008. p. 173-203.
TOLEDO, V. M. La apropiacin campesina de la naturaleza: un anlisis etnoecolgico.
1996. (Mimeo.)
735
T
T
TEMPOS HUMANOS DE FORMAO
Miguel G. Arroyo
Podemos partir de um dado histri-
co: escolas, redes e coletivos de docen-
tes e educadores no Brasil e de vrios
sistemas educacionais avanaram para
reorganizar as escolas, os tempos-
espaos, o trabal ho e os processos
de ensino-aprendizagem tendo como
orientao o respeito aos tempos hu-
manos de formao, de vida, de socia-
lizao e de aprendizagens.
A primeira parte deste verbete ana-
lisa o que leva ao reconhecimento da
especifcidade formadora de cada tem-
po humano. A segunda parte destaca as
consequncias desse reconhecimento
na organizao das escolas do campo,
nos currculos e na superao da orga-
nizao seriada e multisseriada.
Bases tericas dos tempos
humanos de formao
Podemos encontrar bases tericas
slidas para o reconhecimento dos
tempos de formao. Lembremos, por
exemplo, a diversidade de estudos sobre
desenvolvimento e formao humana
(Piaget, Vygostsky, Wallon) que incen-
tivam os currculos e a organizao dos
tempos escolares de modo a garantir a
formao e o pleno desenvolvimento
humano intelectual, tico, cultural, das
funes simblicas, da percepo,
da memria e da imaginao.
Tambm tm contribudo para esse
reconhecimento os estudos sobre a
infncia, a adolescncia e a juventude,
e os estudos geracionais interdiscipli-
nares da sociologia, da histria, da an-
tropologia e da psicologia (Sarmento e
Gouveia, 2008).
Esses avanos tericos esto na
base das polticas dos sistemas educa-
tivos de vrios pases, que passaram a
reestruturar os tempos, os currculos,
os agrupamentos e os percursos esco-
lares respeitando os ciclos-tempos de
formao dos educandos. Entre ns, as
iniciativas tm fcado por conta de es-
colas e redes. A Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educao Nacional (LDB), em
seu artigo 23, admite apenas a diversi-
dade de formas de organizao escolar,
sem que exista uma opo poltica na-
cional. Isso enfraquece a reestrutura-
o de nosso sistema escolar com base
nesses avanos tericos. H resistncias
polticas a superar e preciso alterar a
estrutura seletiva, reprovadora, de nos-
so sistema escolar, uma estrutura que
tem resistido a formas mais igualitrias
e democrticas de organizao escolar.
As opes por reestruturar as esco-
las respeitando os tempos-ciclos huma-
nos tm como fundamento entre ns
opes poltico-pedaggicas que radi-
calizam essas bases tericas de modo
a avanar na construo de uma socie-
dade e de um sistema escolar menos
segregadores e mais igualitrios.
Educao como humanizao
A organizao por ciclos-tempos
de formao nas redes e nas escolas
tem signifcado um embate poltico-
Dicionrio da Educao do Campo
736
pedaggico entre as diferentes con-
cepes de educao construdas nos
movimentos sociais, na relao trabalho-
educao, no movimento de educao
e cultura populares, na tradio socia-
lista... Dar centralidade aos tempos de
formao humana carrega uma opo
por uma concepo de educao como
humanizao e pela retomada da edu-
cao, da formao humana, como
direito um direito to negado aos
trabalhadores nas relaes sociais e po-
lticas de nossa histria.
As polticas autoritrias mercan-
tilizantes conservadoras e neoliberais
vm reduzindo o direito educao ao
domnio das habilidades e competn-
cias exigidas pelo mercado, ou seja, aos
domnios elementares de letramento,
contas e noes primrias de cincias
para a empregabilidade em trabalhos
precarizados. A mercantilizao e a pre-
carizao do trabalho levam a reduzir o
direito educao bsica a domnios
elementares de competncias escola-
res. O mercado como determinante da
sociabilidade humana leva, assim, ao
empobrecimento da formao do tra-
balhador, o que tem reforado a orga-
nizao hierrquica etapista, seriada e
multisseriada, e os currculos utilitaris-
tas e pragmatistas dirigidos a avaliaes
por resultados para a competitivida-
de, para um trabalho-vida provisrio.
Quando se negam os direitos ao traba-
lho ou quando ele se precariza, nega-
se ou se precariza o direito educao
como formao humana plena.
A nfase no direito educao
como formao humana plena uma
opo poltica que se contrape aos
reducionismos mercantis do trabalho
e da formao humana e se filia s
pedagogias vinculadas aos interesses
dos trabalhadores, ao seu direito a se
humanizarem plenamente no trabalho
e na produo de sua existncia. Esse
direito implica o reconhecimento de
uma pluralidade de dimenses forma-
doras que so produzidas pelos seres
humanos nas suas relaes sociais con-
cretas. A retomada do direito educa-
o como direito formao humana
plena repe para a pedagogia e para a
escola assumirem esses processos de
produo do ser humano como huma-
no pleno no trabalho e nas relaes
sociais e de produo da existncia e na
educao escolar.
Nesse sentido, h uma tentativa
de traduzir, na organizao escolar, as
relaes entre trabalho-educao e
as anlises que, nas ltimas dcadas,
vm marcando a teoria pedaggica, a
formao de professores e as propos-
tas pedaggicas de escolas e at as re-
des (Arroyo, 1998). Essas propostas
incorporam tambm as concepes do
movimento de educao popular, com
sua nfase na educao como humani-
zao (ver PEDAGOGIA DO OPRIMIDO),
assim como as concepes dos diversos
movimentos sociais, em sua condio
de movimentos pedaggicos que rea-
frmam os vnculos entre as lutas pelo
trabalho, pela terra, pelo espao, pe-
los territrios, pelas identidades cole-
tivas e o direito formao humana
plena. So avanos polticos na concep-
o de educao que passam a orientar
os currculos, a organizao dos tempos-
espaos, as didticas e o material peda-
ggico das escolas.
O viver precarizado dos
educandos e a sua
formao plena
H ainda um dado relevante que
incentiva a superao das estruturas
737
T
Tempos Humanos de Formao
segregadoras de nosso sistema e a re-
tomada do direito educao como
formao humana plena: as lutas pelo
acesso escola no s de crianas,
adolescentes, jovens e adultos popu-
lares, mas tambm de trabalhadores
das cidades e dos campos, indgenas,
quilombolas... Esses novos educandos
carregam para as escolas vivncias do
trabalho, do desemprego, da sobrevi-
vncia, do viver precrio, mas tambm
de resistncias individuais e coletivas.
So processos tensos de formao
que interrogam a teoria pedaggica,
as didticas, os currculos e a docncia
para o reconhecimento dos processos
formadores e deformadores, humani-
zadores e desumanizadores que edu-
candos e educandas vivenciam desde
a infncia. Cresce a sensibilidade dos
coletivos de docentes-educadores a
esses processos totais de formao-
deformao, o que vem inspirando
aes coletivas e propostas pedag-
gicas que assumem como orientao
entender e acompanhar como vivida
a formao em cada tempo humano
e em cada coletivo geracional, social,
tnico, racial, de gnero, do campo ou
da periferia...
Os processos pedaggicos e a do-
cncia so obrigados a assumir a rela-
o entre as vivncias efetivas da pro-
duo das existncias dos educandos
enquanto seres humanos em formao
plena. H uma especificidade hist-
rica que confere dinmicas concretas
de sociabilidade, de habitao, de tra-
balho, de alimentao e de vida incer-
tos, precarizados. teoria pedaggica
chegam indagaes desestabilizadoras
que pressionam por entender e acom-
panhar esses processos humanos to
tensos e complexos. O que signifca o
direito educao-humanizao nesses
processos vivenciados pela infncia-
adolescncia e pelos jovens e adultos
que chegam s escolas das periferias
urbanas, regionais e do campo? Como
traduzir esses direitos em organizaes
escolares mais humanas e menos se-
letivas e hierrquicas? Essas tm sido
as preocupaes polticas das escolas
e redes que se estruturam em ciclos-
tempos de formao para o respeito
especifcidade formadora de cada
tempo humano.
A especificidade formadora
de cada tempo humano
Podemos destacar motivos mais
radicais nas justifcativas para respeitar
os tempos de vida, socializao e for-
mao humanas justifcativas a serem
encontradas nas concepes pedaggi-
cas dos movimentos sociais, especifca-
mente do campo.
Se a matriz pedaggica o trabalho,
o fazer a histria, as aes coletivas, os
movimentos nos quais os seres hu-
manos se fazem e se formam como
humanos, a questo nuclear para a pe-
dagogia passa a ser como vivem e par-
ticipam da histria, do trabalho, das
aes coletivas, dos movimentos os
seres humanos em cada tempo humano,
na especifcidade do ser criana, ado-
lescente, jovem ou adulto.
Os movimentos sociais agem nessa
concepo pedaggica, inserindo cada
tempo humano, na sua especifcidade,
nas lutas e aes coletivas e nos movi-
mentos sociais. A agricultura familiar,
por sua especifcidade histrica, insere
os membros da famlia camponesa no
trabalho e nos processos produtivos,
respeitando a especifcidade de cada
tempo humano, geracional. Essas es-
pecifcidades de insero no fazer da
Dicionrio da Educao do Campo
738
histria, nos movimentos, no trabalho
e na agricultura camponesa carregam
tambm uma especifcidade formadora
para as vivncias de cada tempo humano.
Com essa especifcidade formadora
chegam escola as crianas e os ado-
lescentes, os jovens e adultos do cam-
po. A questo que se coloca gesto
escolar para a organizao dos tempos
e dos agrupamentos na escola como
respeitar essas especifcidades de ex-
perincias e de formas de insero no
trabalho, nas aes coletivas e na pro-
duo camponesa. Ou como respeitar
e incorporar essa formao especfca
de cada vivncia do seu tempo huma-
no nos tempos escolares, de aprendiza-
gem, nos currculos...
Uma das questes obrigatrias para
a organizao de agrupamentos, tem-
pos, didticas, aprendizados e do traba-
lho dos mestres-educadores e dos edu-
candos ser tentar entender como os
diversos sujeitos do campo crianas,
adolescentes, jovens, adultos vivem
essas experincias de trabalho, de so-
brevivncia, de socializao, de apren-
dizagens; como esses tempos, enquanto
processos formadores, so experimen-
tados na especifcidade da insero no
trabalho, na produo camponesa,
na insero nos movimentos sociais.
Propostas pedaggico-
curriculares que confiram
centralidade aos sujeitos
Outro aspecto do tema diz respeito
s consequncias do reconhecimento da
especifcidade formadora na organiza-
o das escolas do campo e dos seus
currculos e na superao da organi-
zao seriada e multisseriada. Esse
reconhecimento exige repensar os
currculos e as propostas pedaggi-
cas dos cursos de Pedagogia da Terra,
Formao de Professores do Campo e
Formao de Gesto das Escolas em
relao aos tempos e agrupamentos,
repensando as multissries, os currcu-
los e as didticas. Incorporar com cen-
tralidade, nesses currculos, a exigncia
de que os mestres se aprofundem nas
especifcidades do viver a infncia, a
adolescncia, a juventude e a vida adul-
ta no campo, na produo camponesa
e nos movimentos sociais; que se en-
fatize aquilo que mais determinante
para a conformao de outra organiza-
o escolar nas escolas do campo e no
a discusso superfcial sobre se a escola
do campo deve ser seriada ou multis-
seriada. Esse debate superfcial e esco-
larizado termina por ocultar o debate
mais radical da especifcidade das for-
mas de vivenciar cada tempo humano
na especifcidade do trabalho, da pro-
duo camponesa, da insero nos mo-
vimentos sociais formas de insero/
matrizes formadoras que deveriam ser
conformantes da organizao dos pro-
cessos de formao escolar.
Se aceitarmos como determinantes
formadoras as vivncias do trabalho,
da insero na produo e na cultura
camponesas e dos movimentos, a ques-
to central para as propostas de reorga-
nizao da educao do campo dever
equacionar como vivido cada tempo
humano, e no cada ano biolgico,
seis, sete anos, nem cada srie/ano
escolar, mas cada tempo social, cultu-
ral, formador, socializador, de apren-
dizagens; como vivida a infncia ou
a adolescncia, a juventude ou a vida
adulta no campo. Em outros termos,
urgente que os sujeitos sejam reconhe-
cidos como centrais na proposta curri-
cular (Arroyo, 2011).
739
T
Tempos Humanos de Formao
As organizaes seriada ou mul-
tisseriada se legitimam na propos-
ta de ensino ou no que se ensina e
como se ensina. Legitimam-se nos
contedos, e no nos sujeitos. Por sua
vez, a proposta curricular se materiali-
za na organizao, seja ela seriada ou
multisseriada, que ignora os sujeitos e
os segrega. Quando optamos por orga-
nizar as turmas, os tempos-espaos e
o trabalho tanto de educadores quanto
de educandos respeitando seus tempos
humanos de socializao, de formao
e de aprendizagem, temos de repen-
sar no apenas a organizao seriada e
multisseriada, mas construir uma pro-
posta pedaggica e curricular centrada
nos educandos e nos educadores.
As pesquisas sobre as escolas mul-
tisseriadas (Antunes-Rocha e Hage,
2010) mostram educadores e educado-
ras que trabalham nesse tipo de esco-
las tentando propostas pedaggicas que
incorporam as experincias sociais dos
educandos: os saberes, a cultura, os mo-
dos de lerem seu mundo, de se entende-
rem como crianas, adolescentes, jovens
ou adultos. So, porm, tentativas ino-
vadoras tensas. E essas tenses passam
pela disputa com os contedos curricu-
lares ofciais, que ignoram os sujeitos e
a especifcidade de suas vivncias e de
seus tempos de formao, socializao
e aprendizagem, propondo contedos
abstratos, descontextualizados. Passam,
ainda, pela lgica linear segmentada,
etapista, seriada inerente a esses conte-
dos e que se traduz e se estrutura na or-
ganizao seriada e multisseriada.
Que organizao das
escolas do campo?
A questo central como repensar
a organizao escolar reconhecendo a
centralidade dos sujeitos e de suas vi-
vncias em seus tempos de formao. A
primeira exigncia ser ir alm das cr-
ticas organizao das escolas do cam-
po e sua organizao em multissries;
ir alm do sonho da transformao das
escolas multisseriadas em seriadas. Pes-
quisas realizadas mostram que a seria-
o reivindicada como soluo para os
males da escola multisseriada do cam-
po j est vigente sob a confgurao
da multissrie (Antunes-Rocha e Hage,
2010). Em outros termos, a lgica se-
riada que obedece a uma organizao
linear, segmentada, dos conhecimentos
a serem ensinados e aprendidos pre-
sente na organizao multisseriada, que
est em crise nas escolas do campo e
das cidades. Uma lgica estamental, de
domnio de competncias hierarquiza-
das e segmentadas, em correspondn-
cia com os domnios que o mercado
de emprego exige na desqualifcao
e segregao do trabalho.
Por sua vez os processos de ensino-
aprendizagem e as didticas so refns
dessa organizao linear-etapista que
determina os contedos que, na multis-
srie, as crianas e adolescentes tero de
dominar em cada srie dos cinco anos ini-
ciais e fnais. As avaliaes, aprovaes-
retenes, obedecem mesma lgica de
domnios segmentados.
Como destacamos neste verbete,
a crtica exige ser posta na concepo
de educao empobrecida e mercantil
que inspira essa organizao da es-
cola seriada e multisseriada. Logo,
preciso focar a questo na retomada
da concepo de educao como for-
mao humana plena que inspira os
movimentos do campo e a escola do
trabalho. No entanto, urgente inter-
vir na organizao dos agrupamentos,
dos tempos-espaos e do trabalho em
Dicionrio da Educao do Campo
740
que os contedos se materializam. Por
onde comear para reinventar os curr-
culos e a organizao da escola?
Comear conhecendo os educan- 1)
dos e as educandas, como vivem seu
tempo humano, social e cultural no
campo. Organizar uma proposta pe-
daggica que incorpore as vivncias
de formao em que os educandos
se encontram e as coloque em di-
logo com saberes, culturas e cincias
sistematizados em currculos.
Como respeitar essas vivncias de 2)
cada tempo humano na organiza-
o escolar? O pressuposto que os
agrupamentos por coletivos que vi-
venciam determinado tempo per-
mitem partir de vivncias, saberes,
socializaes, valores e aprendiza-
dos comuns ou prximos a serem
trabalhados nos currculos esco-
lares da educao da infncia, da
adolescncia, da juventude ou
da educao de jovens e adultos
(EJA). A articulao dessa diversi-
dade de processos formadores no
trabalho, nos movimentos sociais
e na escola, nos cursos de Pedago-
gia ou nas licenciaturas uma das
marcas polticas da Educao do
Campo. A questo que passa a ser
central que tipo de organizao
dos agrupamentos, dos tempos e
espaos e do trabalho escolar ser
mais propcio a essa centralidade
poltica da Educao do Campo.
Organizar turmas e agrupamentos 3)
para cada um desses tempos, traba-
lhando cada idade como um coleti-
vo, e no em separado, e priorizan-
do o que os aproxima em vivncias,
saberes, culturas, identidades. Com
isso, ter como orientao pedaggi-
ca a questo de que agrupamentos
so mais prximos em vivncias,
saberes, socializaes, identidades e
aprendizagens humanas e sociais. Por
exemplo, na educao da infncia, j
se organizam agrupamentos por pro-
ximidade de vivncias de 0 a 3 anos,
de 3 a 6 anos... em espaos ade-
quados, com propostas e atividades
pedaggicas apropriadas especifci-
dade desses tempos da infncia, com
educadoras e educadores capacitados
para entender e acompanhar a espe-
cifcidade desses tempos humanos
de formao.
O Conselho Nacional de Edu-
cao j aconselha que na educao
fundamental se respeite tambm a
especifcidade do tempo da infn-
cia que est nos anos iniciais, sendo
o coletivo de 6 a 8 anos agrupado e
acompanhado como um tempo-
ciclo especfco homogneo de for-
mao, assim como orienta que se
trabalhe com os pr-adolescentes
de 9 a 11 anos, ou com os adoles-
centes de 12 a 14 anos como co-
letivos homogneos, prximos em
experi nci as soci ai s, humanas,
ticas, culturais.
Essa organizao exige professores- 4)
educadores formados para traba-
lhar com a especifcidade desses
coletivos de educandos, com enten-
dimento de seus processos de for-
mao nas vivncias fora e dentro
das escolas e capacitao para pr
em dilogo os saberes, valores do
trabalho, do seu viver e os saberes
dos currculos. Uma diversidade de
escolas e redes organiza as turmas e
os processos educativos no que diz
respeito especifcidade dos tem-
pos de formao dos educandos.
Essas formas de organizao da
escola e de suas prticas pedaggicas
superam os debates desfocados sobre
741
T
Tempos Humanos de Formao
converter as multissries em sries, ou
sobre tentar corrigir os impasses da
organizao multisseriada, formando
professores nas artes difceis de tra-
balhar na lgica seriada em escolas
multisseriadas. preciso abandonar a
nfase no treinamento de professores
como auxlio para novos materiais, en-
focando os impasses do trabalho na l-
gica seriada dentro da estrutura multis-
seriada e enfatizando a superao dessa
lgica-estrutura, trazendo os educan-
dos e seus processos de formao
como estruturantes dos agrupamentos
e do trabalho de mestres e educandos.
Reestruturar a organizao
do trabalho
concepo parcelada, etapista
dos contedos do currculo e de seu
ensino-aprendizagem corresponde uma
organizao do trabalho docente e
discente tambm segmentada, etapis-
ta. Cada docente responsabilizado
em solitrio por sua turma, seus con-
tedos, sua disciplina, sua aprovao-
reprovao: uma organizao do traba-
lho esgotante e empobrecedora. Ser
essa a melhor organizao do trabalho
de mestres e alunos para um projeto de
Educao do Campo? As tenses docen-
tes, o esgotamento e o empobrecimento
aumentam nas escolas seriadas e, com
maior intensidade, nas multisseriadas.
Organizar as escolas, os currculos,
os agrupamentos respeitando a especi-
fcidade dos educandos em seus tempos
humanos de formao supe superar
essa organizao solitria, segmentada
do trabalho e avanar para formas mais
coletivas e mais concentradas em co-
letivos de educandos-educadores por
tempos de formao. Que organizao
do trabalho? Se organizarmos a infn-
cia em tempos de 0 a 3 e de 3 a 6 anos,
as educadoras e os educadores sero
organizados e formados para traba-
lhar a especifcidade de cada tempo da
infncia. Se organizarmos a educao
fundamental respeitando a infncia, 6
a 8 anos, como um tempo especfco,
ou a pr-adolescncia, 9 a 11 anos, ou,
ainda, a adolescncia, 12 a 14 anos,
ser necessrio formar coletivos do-
centes especializados na especifcidade
formadora de cada um desses tempos.
Quando o nmero de educandos em
cada tempo humano no comportar
agrupamentos para que cada docente-
educador rena os educandos em tem-
pos prximos, possvel organizar os
educandos em agrupamentos prxi-
mos, os quais devem permitir propos-
tas, atividades e aprendizados, e res-
peitar essas proximidades de tempos de
formao sem cair em tratos por anos,
sries e multissries.
Organizar o trabalho docente em
coletivos de tempos de formao signi-
fca avanar para outra organizao do
trabalho docente e para outra formao
do trabalhador docente, um trabalhador
preparado para acompanhar a especif-
cidade de cada tempo de formao dos
educandos. Avanamos na formao
de educadores do campo por reas, mas
ser necessrio ir alm: formar por e para
a especifcidade de formao de cada
tempo humano; formar, ainda, no aulis-
tas solitrios, mas profssionais prepara-
dos para entender e acompanhar em co-
letivo a especifcidade do tempo humano
dos educandos de que sero educadores.
Dicionrio da Educao do Campo
742
Para saber mais
ANTUNES-ROCHA, M. I.; HAGE, S. M. (org.). Escola de direito: reinventando a escola
multisseriada. Belo Horizonte: Autntica, 2010.
ARROYO, M. G. Currculo, territrio em disputa. Petrpolis: Vozes, 2011.
______. Trabalho-educao e teoria pedaggica. In: FRIGOTTO, G. (org.). Edu-
cao e crise do trabalho: perspectivas de fnal de sculo. Petrpolis: Vozes, 1998.
p. 138-165.
SARMENTO, M.; GOUVEIA, M. (org.). Estudos da infncia: educao e prticas sociais.
Petrpolis: Vozes, 2008.
T
TERRA
Paulo Alentejano
Desde os tempos da colonizao
portuguesa, terra sinnimo de poder e
riqueza no Brasil e de disputas acirradas
pelo seu controle. Existem ainda hoje
no Brasil diversas formas de uso e con-
trole da terra, mas a forma dominante ,
sem dvida, a propriedade privada.
Tal realidade, entretanto, relativa-
mente recente, pois data de meados do s-
culo XIX, isto , tem pouco mais de
150 anos. Durante os mais de trezentos
anos de colonizao portuguesa e qua-
se trinta de Imprio, no houve pro-
priedade da terra no Brasil. Do ponto
de vista legal, o que havia no perodo
colonial era o instituto das sesmarias,
transladado de Portugal para o Brasil.
Segundo esse instituto, a terra, proprie-
dade da Coroa, era cedida mediante o
compromisso do aproveitamento eco-
nmico em benefcio do reino de Por-
tugal, sendo, portanto, ao mesmo tem-
po instrumento econmico e poltico.
Econmico, pois o detentor da sesma-
ria deveria tornar a terra produtiva, de
forma que ela gerasse riquezas para a
Coroa; poltico, porque ao detentor da
sesmaria era dado o controle sobre a
rea e a tarefa de proteger a terra da co-
bia de outras potncias estrangeiras.
Entretanto, a concesso de sesma-
rias, embora fosse a nica forma legal
de acesso terra na colnia, no foi
a nica forma efetiva de ocupao do
territrio colonial pelos portugueses.
Somava-se a ela a posse, praticada por
homens livres e pobres da ordem es-
cravocrata para evocar o ttulo de
importante livro sobre o perodo
1
,
mas tambm pelos prprios detentores
das sesmarias, que, muitas vezes, am-
pliavam as reas sob seu controle ao
arrepio da lei. Vale dizer que, enquan-
to os posseiros em geral no tinham a
posse efetiva das terras que ocupavam
reconhecida legalmente, no caso dos
detentores das sesmarias a legislao
tratou de viabilizar formas de legaliza-
o das mesmas.
Foi com a Lei de Terras de 1850
que a propriedade privada da terra
instituda no Brasil e, com ela, o mer-
cado de terras, uma vez que a terra pas-
sa a ser acessvel apenas por meio da
743
T
Terra
compra. Entretanto, como j ocorrera
antes, a Lei de Terras tratou de viabili-
zar o reconhecimento legal das terras
controladas pelo latifndio, inauguran-
do uma verdadeira corrida mediante a
grilagem
2
de terras no Brasil, pois a lei
estabeleceu um prazo para a legalizao
das terras daqueles que comprovassem
titulao anterior das mesmas. Isso deu
margem falsifcao de documentos,
artifcialmente forjados como antigos,
a fm de assegurar o controle sobre as
terras. H na historiografa controvr-
sias em relao aos objetivos dos legis-
ladores no que diz respeito criao
da Lei de Terras,
3
mas inegvel que
ela resultou na reafrmao do sistema
latifundirio no Brasil. Se o mecanismo
de acesso terra fosse o da posse, es-
cravos libertos e camponeses europeus e
asiticos que imigraram para o Brasil na
segunda metade do sculo XIX e incio
do sculo XX poderiam nela se estabele-
cer livremente, o que resultaria na demo-
cratizao da estrutura fundiria brasilei-
ra; porm, sem recursos para compr-las,
eles tiveram de se submeter ao controle
latifundirio sobre as terras, agora no
regime da propriedade privada.
Isso, contudo, no faz da proprieda-
de privada a nica forma de acesso ter-
ra no Brasil. Permanece uma realidade
do campo brasileiro a existncia de ou-
tras formas de acesso, uso e controle
da terra no Brasil. H as terras tradi-
cionalmente ocupadas, isto , terras
de uso comum, ocupadas h tempos
por comunidades rurais que fazem uso
delas para o extrativismo, a criao de
gado e a agricultura, mas em relao s
quais no tm a propriedade legal (ver
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS).
H as terras da Reforma Agrria,
latifndios que, por no cumprirem o
preceito constitucional da FUNO SO-
CIAL DA PROPRIEDADE, foram objeto de
desapropriao, e suas terras destina-
das criao de assentamentos rurais,
permanecendo sob o controle formal
do Instituto Nacional de Colonizao e
Reforma Agrria (Incra) (ver REFORMA
AGRRIA e ASSENTAMENTO RURAL).
H as terras indgenas, resultado
do reconhecimento do Estado brasi-
leiro do direito das populaes origi-
nrias que sobreviveram ao genocdio
s terras que outrora ocupavam (ver
POVOS INDGENAS).
H, ainda, as terras devolutas, cuja
denominao tem origem nas terras
das sesmarias que, por no terem sido
utilizadas, deveriam ser devolvidas
Coroa, mas que acabaram por se tornar
sinnimo de terras no distribudas, p-
blicas, uma vez que praticamente no
havia devoluo de terras no explora-
das pelos detentores das sesmarias. Do
ponto de vista legal, o conceito de terra
devoluta com o sentido atual foi frma-
do pela Lei de Terras de 1850, cujo ar-
tigo 3 diz: So terras devolutas: 1) as
que no se acharem aplicadas a algum
uso pblico; 2) as que no se acharem
em domnio particular; 3) as que no
se acharem dadas por sesmarias; e 4) as
que no se acharem ocupadas por pos-
se que, apesar de no se fundarem em
ttulo legal, foram legitimadas por esta
lei. (Motta, 2005, p. 469). Em resumo,
terras devolutas so as pertencentes ao
Estado e, portanto, esto fora do mer-
cado de terras. Entretanto, o Estado
brasileiro tem pouco domnio sobre as
mesmas, apesar de a Constituio de
1988 ter dado um prazo de trs anos
para a discriminao das terras devolu-
tas. Assim, muitas delas so hoje objeto
de legtima ocupao coletiva e usufru-
to por populaes camponesas, mas
outras tantas so objeto de grilagem.
Dicionrio da Educao do Campo
744
Terras griladas so aquelas que
foram apropriadas ilegalmente. A gri-
lagem, como vimos, prtica arraigada
na histria agrria brasileira, tem sido
impulsionada nos ltimos anos por
atos governamentais, como os levados
a cabo pelo Governo Luiz Incio Lula
da Silva (medidas provisrias n 422 e
n 458), que legalizam processos frau-
dulentos de apropriao de terras, so-
bretudo na Amaznia.
Existe, ainda, o arrendamento como
forma de acesso terra no Brasil,
subdividindo-se em duas modalidades:
arrendamento de pequenas reas por
trabalhadores rurais sem-terra ou com
pouca terra; e arrendamento de gran-
des extenses de terra por empresrios
e empresas. Em ambos os casos, esta-
mos diante da apropriao da RENDA DA
TERRA pelos proprietrios fundirios,
mas no caso das pequenas reas, trata-
se de um mecanismo de explorao
a que submetido o arrendatrio, ao
passo que, no caso dos capitalistas,
trata-se de uma estratgia econmica
relacionada com os custos elevados de
aquisio da propriedade da terra.
Por ltimo, h que se registrar o
crescente processo de estrangeiriza-
o da propriedade da terra no Brasil.
Embora do ponto de vista percentual
ainda seja reduzida a participao de
estrangeiros e empresas estrangeiras
no controle das terras no Brasil, ocorre
um evidente crescimento dessa parti-
cipao. Segundo Sauer e Leite (2010),
havia, em 2008, 34.632 imveis regis-
trados em nome de estrangeiros no ca-
dastro do Incra, num total de 4.037.667
hectares. Isso signifca pouco mais de
0,6% dos imveis e 0,7% da rea ca-
dastrada no Incra. Porm, aps essa
data proliferaram notcias sobre com-
pra de terras por estrangeiros no Brasil,
indicando o crescimento da estrangei-
rizao das terras brasileiras. Diante
da repercusso poltica negativa dessas
medidas, o governo, por meio da Advo-
cacia Geral da Unio (AGU), reto-
mou procedimentos de controle sobre
a aquisio de terras por estrangeiros
que haviam sido abandonados desde
1998, mas com muito pouco resultado
prtico. Afnal, o parecer n LA-01,
de 19 de agosto de 2010, retoma a lei
n 5.709, de 7 de outubro de 1971, que
estabelece o limite mximo de uma
propriedade de 50 mdulos (art. 3) e o
limite para a soma das propriedades de
um quarto da rea de um mesmo mu-
nicpio (art. 12), o que, diante da imen-
sido de alguns municpios brasileiros
e da inexistncia de um limite para o
nmero de propriedades em nome de
uma mesma pessoa ou empresa, pou-
co signifca. Alm do mais, a legislao
brasileira atual prev que uma empresa
aberta no Brasil, independentemen-
te da origem de seus donos ou de seu
capital, considerada empresa brasi-
leira; assim, as terras controladas di-
retamente pelo capital estrangeiro so
seguramente muito maiores do que os
dados do Incra registram.
Em sntese, o que se observa em
relao terra no Brasil uma comple-
xa realidade que envolve, de um lado,
mltiplas formas de acesso coletivo e
comunitrio, e lutas pelo seu contro-
le democrtico, no que diz respeito a
terras indgenas, quilombolas, tradicio-
nalmente ocupadas ou ocupadas pelos
movimentos sociais em luta pela Refor-
ma Agrria; e, de outro, a reafrmao
de formas monopolistas de controle da
propriedade da terra no Brasil, favore-
cidas por aes das diversas esferas do
Estado brasileiro, seja quando nega a
titulao de terras indgenas, rejeita o
745
T
Terra
reconhecimento de terras quilombolas
e no legitima terras tradicionalmente
ocupadas, seja quando no desapropria
para fns de Reforma Agrria as terras
que descumprem a funo social, fa-
vorece a grilagem de terras, garante a
manuteno de latifndios improduti-
vos intocados e preserva o direito de
propriedade de quem utiliza mo de
obra escrava.
Portanto, mais de meio sculo aps
o incio da colonizao portuguesa,
terra continua sendo sinnimo de po-
der e riqueza concentrados nas mos
de poucos no Brasil, e no necessaria-
mente de brasileiros.
Notas
1
O livro Homens livres na ordem escravocrata, de Maria Sylvia de Carvalho Franco, escrito em
1964, um clssico da literatura brasileira do perodo.
2
A denominao grilagem vem da prtica recorrente poca de colocar papis novos em
gavetas com grilos para que as secrees desses animais amarelecessem o papel, dando aos
documentos a aparncia de antigos.
3
Para melhor compreenso dessa polmica, ver, entre outros, Martins, 1990 e Silva, 1996.
Para saber mais
BRASIL. Lei n 5.709, de 7 de outubro de 1971: regula a aquisio de imvel rural por
estrangeiro residente no pas ou pessoa jurdica estrangeira autorizada a funcionar
no Brasil, e d outras providncias. Braslia: Presidncia da Repblica, 1971. Dis-
ponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5709.htm. Acesso em:
27 out. 2011.
______. ADVOCACIA GERAL DA UNIO. Parecer n LA-01, de 19 de agosto de
2010. Braslia: Advocacia Geral da Unio, 2010. Disponvel em: http://www.
agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.
aspx?idAto=258351&ID_SITE. Acesso em: 27 out. 2011.
FRANCO, M. S. de C. Homens livres na ordem escravocrata. 4. ed. So Paulo: Editora
da Unesp, 1997.
MARTINS, J. de S. O cativeiro da terra. 4. ed. So Paulo: Hucitec, 1990.
MOTTA, M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
SAUER, S.; LEITE, S. P. A estrangeirizao da propriedade fundiria no Brasil. Carta
Maior, So Paulo, 20 dez. 2010.
SILVA, L. O. Terras devolutas e latifndio. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
Dicionrio da Educao do Campo
746
T
TERRITRIO CAMPONS
Bernardo Manano Fernandes
Tratar do territrio campons nem
sempre uma tarefa simples, pois a
noo de territrio ensinada nas esco-
las e universidades refere-se, predomi-
nantemente, ao espao de governana,
ou seja, ao territrio como espao de
gesto do Estado em diferentes escalas
e instncias: federal, estadual e munici-
pal. De fato, essa noo de territrio
fundamental; o ponto de partida para
pensarmos outros territrios que so, ao
mesmo tempo, fraes desse territrio da
nao, ou unidades que possuem caracte-
rsticas prprias, resultantes das diferentes
relaes sociais que os produzem (Oliveira,
1991). Desde essa compreenso, pode-
mos analisar diferentes tipos de territrios
que esto em confronto permanente, porque
so espaos em que essas relaes sociais se
realizam (Fernandes, 2009).
O territrio campons o espao de
vida do campons. o lugar ou os lugares
onde uma enorme diversidade de cul-
turas camponesas constri sua existn-
cia. O territrio campons uma unidade
de produo familiar e local de residn-
cia da famlia, que muitas vezes pode
ser constituda de mais de uma famlia.
Esse territrio predominantemente
agropecurio, e contribui com a maior
parte da produo de alimentos saud-
veis, consumidos principalmente pelas
populaes urbanas.
O territrio campons entendido como
frao ou como unidade o stio, o lote,
a propriedade familiar ou comunitria,
assim como tambm a comunidade, o
assentamento, um municpio onde pre-
dominam as comunidades camponesas
(Marques, 2000 e 2008). Esse territrio
pode ser analisado como uma unida-
de econmica, como o fez Chayanov
(1974), ao estudar a sua organizao
a partir da lgica do trabalho familiar.
Desde uma referncia absoluta, como
lugar da unidade familiar, at uma re-
ferncia relativa, como uma regio,
pode-se falar em territrios camponeses
de vrias escalas como o Nordeste, o
maior territrio campons do pas, consi-
derando que na regio se concentra o
maior nmero de famlias camponesas
do Brasil.
Pode-se dizer, ento, que o territrio
campons uma unidade espacial, mas
tambm o desdobramento dessa uni-
dade, caracterizada pelo modo de uso
desse espao que chamamos de territrio,
por causa de uma questo essencial que
a razo de sua existncia. A unidade es-
pacial se transforma em territrio campons
quando compreendemos que a relao
social que constri esse espao o traba-
lho familiar, associativo, comunitrio,
cooperativo, para o qual a reproduo da
famlia e da comunidade fundamental. A
prtica dessa relao social assegura a
existncia do territrio campons, que,
por sua vez, promove a reproduo
dessa relao social. Essas relaes so-
ciais e seus territrios so construdos
e produzidos, mediante a resistncia,
por uma infnidade de culturas campo-
nesas em todo o mundo, num processo
de enfrentamento permanente com as
relaes capitalistas.
Em sua quase totalidade, a produ-
o camponesa est subordinada ao
747
T
Territrio Campons
mercado capitalista; ele que determi-
na os preos de modo a que as empre-
sas capitalistas se apropriem de parte
da renda dos produtores familiares.
Nessa condio de subalternidade, a
maioria absoluta do campesinato brasi-
leiro entrega a riqueza produzida com
seu trabalho ao capital, vivendo em si-
tuao de misria.
Essa misria gerada cotidiana-
mente pelas relaes capitalistas, que,
depois de se apropriarem da riqueza
produzida pelo trabalho familiar cam-
pons, tambm se apropriam de seu
territrio. Ao perder a propriedade,
seu espao de vida, seu stio, sua ter-
ra e territrio, a famlia camponesa
desterritorializada. Como reao a esse
processo, ocorrem a luta pela terra
e as ocupaes, na tentativa de criao e
recriao da condio camponesa: cam-
pesinato e territrio so indissociveis, e
a separao entre eles pode signifcar a
destruio de ambos.
A existncia do campesinato sem
territrio muito conhecida em todo o
mundo, por meio das distintas formas
de luta pela terra. No Brasil, o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) uma das mais expres-
sivas referncias da luta de resistncia
camponesa pela terra e por territrios
(Fabrini, 2002). Terra e territrio so
espaos e recursos, condies e possi-
bilidades de criao ou recriao e de
desenvolvimento da populao campo-
nesa (Paulino e Almeida, 2010; Moreira,
2008). E, de acordo com Oliveira:
O campons deve ser visto
como um trabalhador que, mes-
mo expulso da terra, com fre-
quncia a ela retorna, ainda que
para isso tenha que (e)migrar.
Dessa forma, ele retorna terra
mesmo que distante de sua re-
gio de origem. por isso que
boa parte da histria do campe-
sinato sob o capitalismo uma
histria de (e)migraes. (2007,
p. 11)
importante enfatizar que a resis-
tncia camponesa responsvel por
sua (re)criao no enfrentamento per-
manente com o capitalismo. Criao
e recriao acontecem em diferentes
conjunturas. Um exemplo a recriao
camponesa no Paraguai, onde parte
da populao expulsa da terra segue
lutando para reconquistar seu territ-
rio (Kretschmer, 2011). Outro exem-
plo a criao camponesa no Brasil,
onde a maior parte da populao que
ocupa terra vive na cidade h dcadas
(Fernandes, 2000 e 2009). Entende-se
como recriao a luta de uma popula-
o camponesa para voltar terra; j
a criao ocorre quando uma popula-
o urbana se organiza, em diversos
movimentos camponeses, na luta pela
terra. Sem dvida, o crescimento vege-
tativo da populao camponesa tanto
criao quanto recriao.
Criao e recriao signifcam ter-
ritorializao e reterritorializao do
campesinato, ao passo que a destruio
signifca a sua desterritorializao.
na formao que acontece a territoria-
lizao do campesinato. Desde as lu-
tas das Ligas Camponesas at as lutas
do MST, por exemplo, pela conquista
de fraes do territrio brasileiro que
denominamos de latifndios, lutas nas
quais algumas dessas fraes so trans-
formadas em assentamentos, acontece
a formao do territrio campons.
Simultaneamente a esse processo de
formao e territorializao do cam-
pesinato, muitas famlias camponesas
Dicionrio da Educao do Campo
748
so expulsas, expropriadas, ou seja, so
desterritorializadas.
Alm do processo territorializao-
desterritorializao-reterritorializao
(T-D-R), que representa a essncia da
resistncia do campesinato no enfren-
tamento com o capital, ocorre tambm
o processo de monoplio do territrio
campons pelo capital (Oliveira, 1991)
ou da territorialidade do capital em
territrio campons (Fernandes, 2009;
Fernandes, Welch e Gonalves, 2010).
Exemplo concreto disso o denomina-
do processo de integrao mediante
o qual as empresas capitalistas subor-
dinam o territrio campons para a
produo de commodities. Nesse caso,
o capital impe um modelo produtivo
monocultor, impedindo que a famlia
camponesa pratique a policultura.
Ao analisarmos esses processos,
percebemos a existncia de uma in-
tensa disputa territorial, que se renova
a cada dia. A disputa contra o capital
se intensifcou a partir da organizao
do agronegcio, com a reunio de um
complexo de sistemas agropecu-
rio, industrial, mercantil, tecnolgico,
fnanceiro e ideolgico que est se
territorializando sobre os latifndios,
desterritorializando o campesinato. A
produo do territrio do capital acon-
tece atravs das relaes capitalistas. As
relaes de produo capitalistas des-
troem as relaes de produo no
capitalistas (Oliveira, 1991), ou seja, as
relaes de trabalho familiar, relaes
que sustentam a maior parte dos terri-
trios camponeses (Fernandes, 2008).
Entre as inmeras referncias que
podem ser utilizadas na defnio de
territrio campons, o trabalho fami-
liar, por ser estrutural, uma das mais
importantes. A organizao familiar do
trabalho e o conjunto de caractersticas
relacionado a ela diferencia o territrio
campons do territrio capitalista
territrios com lgicas e processos
distintos, e que constroem diferentes
modelos de desenvolvimento territo-
rial. Porm, embora o territrio cam-
pons subsista subordinado s relaes
capitalistas, sua existncia garantida
pelo trabalho familiar, cooperativo, as-
sociativo e por outras formas de rela-
es no capitalistas. O grande desafo
do campesinato manter sua sobera-
nia desenvolvendo seu territrio por
meio de sua autonomia relativa e do en-
frentamento hegemonia do capital.
De acordo com o Censo Agrope-
curio de 2006 (Instituto Brasileiro de
Geografa e Estatstica, 2009), o Brasil
tem 851.487,659 hectares, tendo utiliza-
do 330 milhes de hectares para a pro-
duo agropecuria no perodo 1996-
2006. A rea agricultvel representou
375 milhes de hectares no perodo
1975-1985 uma das maiores reas
agricultveis do mundo , o que signi-
fca que o Brasil utiliza de 39% a 44%
de seu territrio na produo agrope-
curia. Quando comparamos a agricul-
tura camponesa com o agronegcio,
observamos enorme desigualdade ter-
ritorial rural. O mesmo censo registrou
5.175.489 estabelecimentos, sendo que
84,4% deles (4.367.902) so unidades
familiares e 15,6% (805.587) so em-
presas capitalistas. A rea total das uni-
dades camponesas era de 80.250.453
hectares e a rea total dos estabeleci-
mentos capitalistas era de 249.690.940
hectares. Embora o agronegcio ou a
agricultura capitalista tenham utilizado
76% da rea agricultvel, o valor bruto
anual da produo foi de 62%, ou 89
bilhes de reais, ao passo que o valor
bruto anual da produo da agricultura
camponesa foi de 38% ou 54 bilhes
de reais, utilizando apenas 24% da
rea total.
749
T
Territrio Campons
Embora utilizando apenas 24%
da rea agrcola, a agricultura campo-
nesa rene 74% do pessoal ocupado:
12.322.225 pessoas; j o agronegcio
emprega em torno de 26%: 4.245.319
pessoas. Essa desigualdade fca mais
evidente quando observamos que a
relao pessoa/hectare nos territrios
do agronegcio de apenas duas pes-
soas para cada 100 hectares, enquanto
nos territrios camponeses a relao
de quinze pessoas para cada 100 hec-
tares. Essa diferena mostra que, alm
de o campesinato utilizar maior nme-
ro de pessoas no trabalho porque a
sua reproduo signifca a reproduo
de sua populao , a maior parte das
pessoas que trabalham na agricultura
camponesa vive no campo. A lgica do
agronegcio diminuir cada vez mais
o nmero de pessoas no trabalho, in-
tensifcando a mecanizao, a fm de
garantir a competitividade.
As diferenas entre o agronegcio
ou a agricultura capitalista e a agri-
cultura camponesa tambm revelam
diferentes formas de uso dos territ-
rios: enquanto para o campesinato a
terra lugar de produo, de moradia
e de construo de sua cultura, para
o agronegcio a terra somente um
lugar de produo de mercadorias,
do negcio. E essas so caractersti-
cas essenciais para conceber o cam-
pesinato e o agronegcio como dife-
rentes modelos de desenvolvimento
territorial, os quais, por isso, criam
territrios distintos.
Territrio campons um con-
ceito importante para entender a sua
existncia. Inseparveis, so destru-
dos e recriados pela expanso capita-
lista, mas tambm se fazem na secular
luta pela terra, na qual o campons luta
para ser ele mesmo.
Para saber mais
CHAYANOV, A. V. La organizacin de la unidad econmica campesina. Bueno Aires:
Nueva Visin, 1974.
FABRINI, J. E. Os assentamentos de trabalhadores rurais sem-terra do Centro-Oeste/PR
enquanto territrio de resistncia camponesa. 2002. Tese (Doutorado em Geografa)
Programa de Ps-graduao em Geografa, Faculdade de Cincias e Tecnologia,
Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2002.
FERNANDES, B. M. A formao do MST no Brasil. Petrpolis: Vozes, 2000.
______. Educao do Campo e territrio campons no Brasil. In: SANTOS, C. A.
(org.). Campo, polticas pblicas e educao. Braslia: Incra/MDA, 2008. V. 7, p. 39-66.
______. Sobre a tipologia de territrios. In: SAQUET, M. A.; SPOSITO, E. S. (org.).
Territrios e territorialidades: teoria, processos e confitos. So Paulo: Expresso
Popular, 2009. p. 197-215.
______; WELCH, C. A.; GONALVES, E. C. Agrofuel Policies in Brazil: Paradigmatic
and Territorial Disputes. Journal of Peasant Studies, v. 37, n. 4, p. 793-819, Oct.
2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA (IBGE). Censo agropecurio 2006
Brasil, grandes regies e unidades da Federao. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
Dicionrio da Educao do Campo
750
KRETSCHMER, R. La disputa por la tierra y reforma agraria en Paraguay. Boletim
Dataluta, Nera, Presidente Prudente, n. 39, mar. 2011. Disponvel em: http://
www2.fct.unesp.br/grupos/nera/boletimdataluta/boletim_dataluta_3_2011.
pdf. Acesso em: 27 out. 2011.
MARQUES, M. I. M. De sem-terra a posseiro: a luta pela terra e a construo do
territrio campons no espao da Reforma Agrria o caso dos assentados nas
fazendas Retiro e Velho-GO. 2000. Tese (Doutorado em Geografa) Programa
de Ps-graduao em Geografa, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2000.
______. A atualidade do uso do conceito de campons. Revista Nera, Presidente
Prudente, n. 12, p. 57-67, 2008.
MOREIRA, C. Vida e luta camponesa no territrio: casos onde o campesinato luta,
marcha e muda o territrio capitalista. 2008. Tese (Doutorado em Geografa)
Programa de Ps-graduao, Departamento de Geografa, Universidade Federal
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
OLIVEIRA, A. U. Modo capitalista de produo, agricultura e Reforma Agrria. So Paulo:
Labur, 2007.
______. Agricultura camponesa no Brasil. So Paulo: Contexto, 1991.
PAULINO, E. T.; ALMEIDA, R. A. Terra e territrio: a questo camponesa no capitalis-
mo. So Paulo: Expresso Popular, 2010.
T
TRABALHO COMO PRINCPIO EDUCATIVO
Gaudncio Frigotto
Maria Ciavatta
A compreenso do sentido dado
ao trabalho como princpio educativo
dentro da viso da formao humana
integral de Marx e outros pensadores
fundamental para os movimentos
sociais do campo e da cidade e para
todos aqueles que lutam pela superao
da explorao humana. importante
tambm para, ao mesmo tempo, no
nos enganarmos pelas orientaes da
Organizao Internacional do Traba-
lho (OIT), cuja preocupao na proi-
bio do trabalho infantil, por exem-
plo, est na concorrncia em relao
compra e venda da fora de trabalho,
ou pela posio de intelectuais do cam-
po crtico que, por no trabalharem
as contradies, veem no trabalho sob
o capitalismo pura negatividade.
Em uma concepo dialtica, por
ser a forma mediante a qual, em qual-
quer tempo histrico, se defne o modo
humano de existir, criando e recriando
o ser humano, mesmo nas formas mais
brutais da escravido, o trabalho hu-
mano no pura negatividade. Mesmo
o escravo, ainda que no reconhecido
como tal e tomado como um animal,
751
T
Trabalho como Princpio Educativo
como um meio de produo, um
ser humano que no se reduz a obje-
to e cria realidade humana. No fosse
assim, teria sido impossvel superar as
relaes escravocratas e feudais, e o
capitalismo seria eterno.
Princpios so leis ou fundamentos
gerais de uma determinada racionali-
dade, princpios dos quais derivam leis
ou questes mais especfcas. No caso
do trabalho como princpio educativo,
trata-se de compreender a importncia
fundamental do trabalho como princ-
pio fundante na constituio do gnero
humano. Na construo da sociedade,
cabe interiorizar desde a infncia o fato
de que todo ser humano, enquanto ser
da natureza e, ao mesmo tempo, distin-
to dela, no pode prescindir de, por sua
ao, sua atividade fsica e mental,
seu trabalho, retirar da natureza seus
meios de vida. A afrmao remete
produo do ser humano como um ser
da natureza, mas tambm como produ-
to da sociedade e da cultura de seu tem-
po. Trata-se, ento, de, no processo de
socializao, afrmar, o entendimento
do meio de produo e reproduo da
vida de cada ser humano o trabalho
como um dever e um direito em fun-
o exatamente do seu carter humano.
Tal interiorizao fundamental, como
sublinha Gramsci (1981), para no for-
mar pessoas que se comportem como
mamferos de luxo, vale dizer pessoas que
acham natural viver do trabalho dos
outros, explorando-os.
Da deriva a relao entre o traba-
lho e a educao em todas as suas for-
mas, em que se afrma o carter forma-
tivo do trabalho e da educao como
ao humanizadora mediante o desen-
volvimento de todas as potencialidades
do ser humano. Seu campo especf-
co de discusso terica o materialis-
mo histrico, no qual se parte do traba-
lho como produtor dos meios de vida
tanto nos aspectos materiais quanto
culturais ou seja, de conhecimento,
de criao material e simblica e de
for mas de soci abi l i dade (Marx e
Engels, 1979; Ciavatta, 2009).
Sabemos que no tem sido esta a
compreenso do trabalho at o pre-
sente no interior das relaes sociais
vigentes, em que uma classe social do-
minante explora o trabalho das demais.
Mesmo assim, Marx vai nos mostrar
que no processo histrico foram sen-
do suplantadas formas de explora-
o do trabalho. O capitalismo, por
exemplo, para se afirmar, teve de su-
plantar as relaes de trabalho escra-
vocratas e servis. No entanto, como
se gerou uma sociedade de classes
e de explorao, a tarefa crtica, agora,
superar as relaes de trabalho sob
o prprio capitalismo.
Historicamente, o ser humano se uti-
liza dos bens da natureza pelo trabalho
e, assim, produz meios de sobrevivn-
cia e conhecimento. Posto a servio de
outrem, no entanto, nas formas sociais
de dominao, o trabalho ganha um
sentido ambivalente. o caso tanto das
sociedades antigas, e suas formas servis
e escravistas, quanto das sociedades mo-
dernas e contemporneas capitalistas.
Por isso, alm dessa questo mais
geral, o que se h de considerar o tra-
balho na sociedade moderna e contem-
pornea, na qual a produo dos meios
de existncia se faz dentro do capita-
lismo. Este sistema se mantm e se re-
produz pela apropriao privada de um
tempo de trabalho do trabalhador, que
vende sua fora de trabalho ao empre-
srio ou empregador, o detentor dos
meios de produo. O salrio ou remu-
nerao recebida pelo trabalhador no
Dicionrio da Educao do Campo
752
contempla o tempo de trabalho exce-
dente ao valor contratado, a mais-valia,
que apropriada pelo capital, confor-
me expe longamente Marx (1980).
1
Em termos cronolgicos, esta am-
bivalncia do termo ganha forma a
partir do sculo XVI, se considerarmos
o Renascimento, o nascimento das f-
bricas e a transformao do sentido da
palavra trabalho como a mais elevada
atividade humana, ou a partir do sculo
XVIII, se considerarmos o industrialis-
mo e a Revoluo Industrial, nos seus
primrdios na Inglaterra (De Decca,
1985; Iglesias, 1982).
Marx realizou o mais completo es-
tudo entre os economistas que o prece-
deram e a mais aguda crtica ao modo
de produo capitalista e s contradi-
es implcitas nas relaes entre o tra-
balho e o capital. O autor desenvolveu
os conceitos de valor de uso e valor
de troca presentes na mercadoria. Os
valores de uso so os objetos produzi-
dos para a satisfao das necessidades
humanas, como bens de subsistncia e
de consumo pessoal e familiar. Def-
nem-se pela qualidade, so as diversas
formas de usar as coisas, de transfor-
mar os objetos da natureza, gerando
cultura e sociabilidade. Porm, esses
mesmos objetos, as mesmas mercado-
rias, que tm uma existncia histrica
mi l enar, quando se tornam obj eto
de troca, representando quantidades que
se equivalem a outras, um tempo de
trabalho que tem um equivalente em
salrio, inserem-se em relaes sociais
de outra natureza. Criam-se vnculos de
submisso e explorao do produtor
e de dominao por parte de quem
se apropria do produto e do tempo de
trabalho excedente. Este gera certa
quantidade de valor que vai propiciar
a acumulao e a reproduo do capi-
tal investido inicialmente pelo capita-
lista (Marx, 1980, cap. 1).
Este o fenmeno do fetiche da mer-
cadoria, o seu carter misterioso, como
diz Marx (1980), que provm da pr-
pria forma de produzir valor, em que
a igualdade dos trabalhos humanos
fca disfarada sob a forma da igual-
dade dos produtos do trabalho (ibid.,
p. 80). Esta separao do trabalhador de
seu prprio fazer o que Marx (2004)
chamou de alienao (ou estranhamento,
dependendo da interpretao do tradu-
tor do alemo). O conceito veio a ser
desenvolvido posteriormente por au-
tores marxistas, entre os quais os mais
destacados so Lukcs e Gramsci.
O trabalho como princpio educati-
vo ganha nas escolas a feio de princ-
pio pedaggico, que se realiza em uma
dupla direo. Sob as necessidades do
capital de formao da mo de obra para
as empresas, o trabalho educa para a
disciplina, para a adaptao s suas for-
mas de explorao ou, simplesmente,
para o adestramento nas funes teis
produo. Sob a contingncia das
necessidades dos trabalhadores, o tra-
balho deve no somente preparar para
o exerccio das atividades laborais
para a educao profssional nos ter-
mos da lei em vigor , mas tambm
para a compreenso dos processos
tcnicos, cientfcos e histrico-sociais
que lhe so subjacentes e que susten-
tam a introduo das tecnologias e da
organizao do trabalho.
No Brasil, desde o incio do s-
culo XX, com a criao das Escolas
de Aprendizes e Artfces em 1909, h
evidncia histrica da introduo do
trabalho (das ofcinas, do artesanato,
dos trabalhos manuais) em instituies
educacionais com a fnalidade de pre-
parar trabalhadores para a produo
753
T
Trabalho como Princpio Educativo
industrial e agrcola. E houve a expe-
rincia socialista do incio do mesmo
sculo, introduzindo na escola a EDU-
CAO POLITCNICA com o objetivo da
formao humana em todos os seus
aspectos fsico, mental, intelectual,
prtico, laboral, esttico e poltico e
combinando estudo e trabalho.
Diante da penria e das ms condi-
es de vida e de trabalho de operrios
e trabalhadores do campo, ao fnal da
ditadura civil-militar, nos anos 1980,
foram discutidas as propostas da edu-
cao na Constituinte de 1988 e os ter-
mos da nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educao Nacional (LDB). Os pes-
quisadores e educadores da rea de tra-
balho e educao tiveram de enfrentar
uma questo fundamental: se o traba-
lho pode ser alienante e embrutecedor,
como pode ser um princpio educativo,
humanizador, de formao humana?
Vrios autores se debruaram sobre
o tema, porque se tratava de defender
uma educao que no tivesse apenas
fns assistenciais, moralizantes, como
as primeiras escolas de ensino indus-
trial. Era preciso tambm que ela no
se limitasse a preparar para o trabalho
nas fbricas, a exemplo da iniciativa do
Sistema Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), criado no governo
de Getlio Vargas, em 1943. Criticava-
se, ainda, o tecnicismo voltado ao
mercado de trabalho, a adoo do in-
dustrialismo pelo sistema das Escolas
Tcnicas Federais (ETNs), criado no
mesmo perodo Vargas as ETNs tor-
naram-se Centros Federais de Educa-
o de Educao Tecnolgica (Cefets) e,
mais recentemente, Institutos Federais de
Educao, Cincia e Tecnologia (Ifets).
De outra parte, a ideia de educao
politcnica sofria ataques por sua ins-
pirao socialista, implantada pelo re-
gime comunista da revoluo socialista
de 1917 na Rssia, que, tendo por base
a obra de Marx, buscava a combinao
entre instruo e trabalho. Segundo
Manacorda, o marxismo reconhece a
funo civilizadora do capital; no
rejeita, antes aceita as conquistas
ideais e prticas da burguesia no campo
da instruo [...]: universalidade, laici-
dade, estatalidade, gratuidade, renova-
o cultural, assuno da temtica do
trabalho, como tambm a compreen-
so dos aspectos literrio, intelectual,
moral, fsico, industrial e cvico (1989,
p. 296). Porm Marx faz dura crtica
burguesia por no assumir de forma ra-
dical e consequente a unio instruo
trabalho (ibid., p. 296).
O Manifesto comunista claro quando
recomenda: educao pblica e gra-
tuita para todas as crianas. Abolio
do trabalho infantil nas fbricas na sua
forma atual. Combinao da educao
com a produo material etc. (Marx
e Engels, 1998, p. 31). Em O capital,
Marx explicita a ideia de educao po-
litcnica ou tecnolgica:
Do sistema fabril, como expe
pormenorizadamente Robert
Owen, brotou o germe da edu-
cao do futuro, que combinar
o trabalho produtivo de todos
os meninos alm de certa ida-
de com o ensino e a ginstica,
constituindo-se em mtodo de
elevar a produo social e nico
meio de produzir seres huma-
nos plenamente desenvolvidos.
(1980, p. 554; grifos nossos)
Assim sendo, a discusso sobre
o trabalho como princpio educativo
sempre esteve associada discusso
sobre a politecnia e sua viabilidade
Dicionrio da Educao do Campo
754
social e poltica no pas. Essa discus-
so e sua expresso poltico-prtica
retornaram nos anos neoliberais de
1990, com a exarao do decreto
n 2.208/1997. Contrariando a LDB
(lei n 9.394/1996), segundo a qual a
educao tem por fnalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exerccio da cidadania e
qualifcao para o trabalho (art. 2),
implantou-se a separao entre o en-
sino mdio geral e a educao pro-
fssional tcnica de nvel mdio. Nos
anos 2000, em condies polticas po-
lmicas, o governo exarou o decreto
n 5.154/2004, que revogou o ante-
rior e abriu a alternativa da formao
integrada entre a formao geral e a
educao profssional, tcnica e tec-
nolgica de nvel mdio, determinao
que foi incorporada LDB pela lei
n 11.741/2008.
Do ponto de vista poltico-pedag-
gico, tanto a conceituao do trabalho
como princpio educativo quanto a de-
fesa da educao politcnica e da for-
mao integrada formulada por edu-
cadores brasileiros, pesquisadores da
rea de trabalho e educao, tm suas
bases terico-conceituais nos autores
acima mencionados, que podem ser
resumidos em duas nfases marxistas,
complementares e no confitantes,
a de Gramsci (1981) e a de Lukcs
(1978 e 2010).
Gramsci prope a ESCOLA UNITRIA,
que se expressaria na unidade entre
instruo e trabalho, na formao de
homens capazes de produzir, mas tam-
bm de serem dirigentes, governantes.
Para tanto, seria necessrio o conhe-
cimento no s das leis da natureza,
como tambm das humanidades e da
ordem legal que regula a vida em socie-
dade (1981, p. 144-145).
Opondo-se concepo capitalista
burguesa que tem por base a fragmen-
tao do trabalho em funes especia-
lizadas e autnomas, Saviani defende a
politecnia, que
[...] postula que o trabalho de-
senvolva, numa unidade indis-
solvel, os aspectos manuais e
intelectuais. [...] Todo trabalho
humano envolve a concomitn-
cia do exerccio dos membros,
das mos e do exerccio mental,
intelectual. Isso est na prpria
origem do entendimento da rea-
lidade humana, enquanto consti-
tuda pelo trabalho. (1989, p. 15)
Frigotto argumenta em dois senti-
dos. Primeiro, faz a crtica ideologia
crist e positivista de que todo traba-
lho dignifca o homem: Nas relaes
de trabalho onde o sujeito o capital e
o homem o objeto a ser consumido,
usado, constri-se uma relao educa-
tiva negativa, uma relao de submis-
so e alienao, isto , nega-se a pos-
sibilidade de um crescimento integral
(1989, p. 4). Segundo, preocupa-se com
a anlise poltica das condies em que
trabalho e educao se exercem na so-
ciedade capitalista brasileira, como a
escola articula os interesses de classe
dos trabalhadores. Adverte que pre-
ciso pensar a unidade entre o ensino e
o trabalho produtivo, o trabalho como
princpio educativo e a escola politc-
nica (1985, p. 178).
Em um segundo momento, a anli-
se toma forma tendo por base Lukcs
(1978). Em sua refexo sobre a onto-
logia do ser social, o autor examina o
trabalho como atividade fundamental
do ser humano, ontocriativa, uma ativi-
dade que produz os meios de existncia
755
T
Trabalho como Princpio Educativo
na relao do homem com a natureza, a
cultura e o aperfeioamento de si mes-
mo. De outra parte, o trabalho humano
assume formas histricas, muitas das
quais degradantes, penalizantes, nas di-
ferentes culturas, na estrutura capitalis-
ta e em suas diversas conjunturas.
Desse conjunto de ideias e deba-
tes, foi possvel concluir que o traba-
lho nas sociedades de classes domi-
nantemente alienador e que degrada e
mutila a vida humana, mas ainda assim
no pura negatividade pelo fato de
que nenhuma relao de explorao
at o presente conseguiu anular a ca-
pacidade humana de criar e de buscar
a superao da explorao. Porm o
trabalho no necessariamente educa-
tivo. Isso depender das condies de
sua realizao, dos fns a que se desti-
na, de quem se apropria do produto do
trabalho e do conhecimento que gera
(Ciavatta, 2009).
A introduo do trabalho como
princpio educativo em todas as rela-
es sociais, na famlia, na escola e na
educao profssional em todas as suas
aplicaes, particularmente hoje, em
um mundo em que o desenvolvimento
cientfco e tecnolgico desafa a for-
mao de adolescentes, jovens e adultos
no campo e na cidade, supe recuperar
para todos a dimenso da escola unit-
ria e politcnica, ou a formao inte-
grada sua forma prescrita pela lei ,
introduzindo nos currculos a crtica
histrico-social do trabalho no sistema
capitalista, os direitos do trabalho, o
conhecimento da histria e o sentido
das lutas histricas dos trabalhadores
no trabalho e na educao.
Pela perspectiva da educao,
crucial que nos processos educativos
formais ensino bsico, superior e
educao profssional se faa a crtica
a todas as formas de explorao do tra-
balho, especialmente o trabalho infan-
til. Todavia, ao mesmo tempo, crucial
que, desde a infncia, se internalize a
compreenso de que cada ser humano
tem o dever de, em colaborao e so-
lidariedade com os demais, buscar os
meios de vida e responder s mltiplas
necessidades humanas. Da ser impor-
tante que mesmo as crianas, de acordo
com a sua possibilidade, participem de
pequenas atividades ligadas ao cuidado
e produo da vida. Isso nada tem a
ver com explorao do trabalho, mes-
mo no mbito da famlia, sob a forma
de opresso pelo trabalho produtivo
capitalista. H que se ter o cuidado de
no retirar o tempo de infncia que
implica o ldico e os espaos forma-
tivos, pela exigncia de tarefas produ-
tivas prprias para a vida adulta, por-
que, alm de prejudicarem o direito
do tempo da infncia, comprometem
ou deformam o desenvolvimento fsico,
social e psquico da criana.
medida que se entra na juventu-
de e na vida adulta, essa colaborao
com o trabalho produtivo vai aumen-
tando, ao mesmo tempo em que se vai
tomando conscincia da necessidade
de superao da explorao capitalista
e, portanto, da propriedade privada. As
experincias da relao entre trabalho
e educao sistematizada por Pistrak e
outros educadores nos primeiros anos
da revoluo socialista na Rssia, sinte-
tizadas na obra A escola comuna (Pistrak,
2009), constituem referncia central na
educao do campo, especialmente nas
escolas dos acampamentos e assenta-
mentos do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra. Nos verbetes
ESCOLA NICA DO TRABALHO e EDUCAO
DO CAMPO, o leitor ter mais elementos
para perceber que, no sentido e na prti-
Dicionrio da Educao do Campo
756
ca dessas experincias, esto presentes os
elementos da compreenso do trabalho,
ao mesmo tempo como princpio educa-
tivo geral e como princpio pedaggico.
Nota
1
As palavras trabalho, labor (ingls), travail (francs), Arbeit (alemo), ponos (grego) tm em
sua raiz o mesmo sentido de fadiga, pena, sofrimento e pobreza que ganham materialidade
nas fbricas-conventos, fbricas-prises, fbricas sem salrio. A transformao moderna do
signifcado da palavra deu-lhe o sentido de positividade, como argumentam John Locke,
que descobre o trabalho como fonte de propriedade; Adam Smith, que o defende como
fonte de riqueza; e Karl Marx, para quem o trabalho fonte de toda a produtividade e
expresso da humanidade do ser humano (De Decca, 1985).
Para saber mais
BRASIL. Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996: estabelece as diretrizes e bases da
educao nacional. Braslia: Presidncia da Repblica, 1996.
CHASIN, J. Lukcs: vivncia e refexo da particularidade. Ensaio, So Paulo, v. 4,
n. 19, p. 55-69, 1982.
CIAVATTA, M. O trabalho como princpio educativo. In: PEREIRA, I. B.; LIMA, J. C.
F. (org.). Dicionrio de educao profssional em sade. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro:
Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio, 2009. p. 408-415.
CIAVATTA FRANCO, M. O trabalho como princpio educativo uma investigao terico-
metodolgica (1930-1960). 1990. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade
de Educao, Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
1990.
DE DECCA, E. O nascimento das fbricas. 3. ed. So Paulo: Brasiliense, 1985.
FRIGOTTO, G. Trabalho como princpio educativo: por uma superao das ambi-
guidades. Boletim Tcnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 175-182, set.-dez.
1985.
______. falsa a concepo de que o trabalho dignifca o homem. Comunicado,
Belm, p. 4-5, 7 ago. 1989.
GRAMSCI, A. La alternativa pedaggica. Barcelona: Fontamara, 1981.
IGLESIAS, F. A revoluo industrial. 3. ed. So Paulo: Brasiliense, 1982.
KONDER, L. Lukcs. Porto Alegre: L&PM, 1980.
KUENZER, A. Z. Ensino de 2 grau: o trabalho como princpio educativo. So Paulo:
Cortez, 1988.
LUKCS, G. As bases ontolgicas do pensamento e da atividade do homem. Temas
de Cincias Humanas, So Paulo, n. 4, p. 1-18, 1978.
______. Prolegmenos para uma ontologia do ser social: questes de princpios para uma
ontologia hoje tornada possvel. So Paulo: Boitempo, 2010.
757
T
Trabalho no Campo
MACHADO, L. Politecnia, escola unitria e trabalho. So Paulo: Cortez; Campinas:
Autores Associados, 1989.
MANACORDA, M. A. Histria da educao: da Antiguidade aos nossos dias. So Paulo:
Cortez; Campinas: Autores Associados, 1989.
______. Marx e a pedagogia moderna. Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1975.
______. O princpio educativo em Gramsci. Porto Alegre: Artes Mdicas Sul, 1990.
MARX, K. O capital: crtica da economia poltica. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1980. 2 v.
______. Manuscritos econmico-flosfcos. So Paulo: Boitempo, 2004.
______; ENGELS, F. A ideologia alem. So Paulo: Cincias Humanas, 1979.
______; ______. Manifesto do Partido Comunista. So Paulo: Cortez, 1998.
MSZROS, I. Marx: a teoria da alienao. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
NOSELLA, P. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Mdicas Sul, 1992.
PISTRAK, M. M. (org.). A escola comuna. So Paulo: Expresso Popular, 2009.
SAVIANI, D. O trabalho como princpio educativo frente s novas tecnologias. In:
FERRETTI, C. J. et al. (org.). Novas tecnologias, trabalho e educao: um debate multidis-
ciplinar. Petrpolis: Vozes, 1994.
______. Sobre a concepo de politecnia. Rio de Janeiro: Politcnico de Sade Joaquim
Venncio/Fiocruz, 1989.
T
TRABALHO NO CAMPO
Paulo Alentejano
Desde o incio da colonizao por-
tuguesa, a diversidade das relaes de
trabalho uma marca do campo brasi-
leiro. De um lado, os portugueses insti-
turam o trabalho escravo como forma
dominante de explorao do trabalho
nos latifndios (ver LATIFNDIO), onde,
reduzidos condio de mercadorias,
ndios e, sobretudo, negros, trazidos de
diversas regies da frica, eram subme-
tidos a condies brutais de explorao
e violncia. De outro, multiplicaram-se
formas de organizao do trabalho no
campo entre os homens livres e pobres
da ordem escravocrata.
1
Surgem, assim,
as mltiplas forma de trabalho campo-
ns no Brasil, sejam aquelas marcadas
pela subordinao direta dos campone-
ses aos latifundirios, como agregados
isto , trabalhadores que em troca do
direito de morar e produzir no interior
do latifndio fazem diversos tipos de
servio para os latifundirios, inclusi-
ve os de jaguno , sejam as do cam-
pesinato livre, tais como os posseiros,
dando origem ao trabalho familiar no
Dicionrio da Educao do Campo
758
campo, mas tambm a mltiplas for-
mas de trabalho coletivo: mutires, pu-
xires etc. Surgem tambm as formas
resultantes da resistncia contra a es-
cravido, materializada na presena dos
Quilombolas no campo brasileiro (ver
tambm QUILOMBOS).
O trabalho escravo, como forma
dominante das relaes de trabalho no
campo, e a escravido, como elemento
estruturante da ordem social e poltica,
persistiram intocados at meados do
sculo XIX. Diante do esgotamento
do modelo escravista, motivado por fa-
tores tanto externos (a presso inglesa)
quanto internos (o crescimento do abo-
licionismo e das fugas e rebelies de
escravos), surgiram novas relaes
de trabalho e se expandiram outras
j existentes. Dentre as j existentes,
destaque-se a parceria, sistema median-
te o qual o trabalhador que no pos-
sui a terra repassa ao proprietrio uma
parte da produo como pagamento da
RENDA DA TERRA. Dentre as novas re-
laes de trabalho, a mais relevante foi
o colonato, sistema no qual a famlia do
colono recebia uma quantia fxa pelo
trato do cafezal sob seus cuidados e
uma quantia varivel por rea colhida,
relacionada produtividade anual do
cafezal, alm de ter a possibilidade
de cultivar alguns alimentos para seu
consumo prprio nas ruas do caf
(Martins, 1990, p. 64).
De meados do sculo XIX a mea-
dos do sculo XX, observamos um
lento processo de substituio do tra-
balho escravo por formas diversas de
trabalho livre, com a gradual expan-
so do assalariamento. Nesse cenrio,
emergem lutas crescentes dos trabalha-
dores rurais pela regulamentao das
relaes de trabalho, o que somente foi
concretizado com a criao do Estatu-
to do Trabalhador Rural em 1963.
A partir da segunda metade do s-
culo XX, verifcou-se a expanso do
assalariamento no campo como decor-
rncia dos processos de MODERNIZAO
DA AGRICULTURA, com destaque para o
crescimento dos assalariados tempor-
rios (chamados de volantes ou boias-
frias, dependendo da regio do pas).
A ampliao do assalariamento tem-
porrio na agricultura est relacionada
ao fato de que nem todas as atividades
agropecurias so objeto de moderni-
zao nos mesmos ritmo e intensidade.
Assim, em algumas culturas h a total
mecanizao dos processos de preparo
da terra e plantio (com o uso de tra-
tores e plantadeiras mecnicas), dos
tratos culturais (com o uso de pulveri-
zadores mecnicos ou avies agrcolas
para a pulverizao das lavouras) e da
colheita (com o uso de colheitadeiras).
E isso implica a supresso de quase to-
dos os empregos no campo, restando
uma pequena quantidade de trabalha-
dores assalariados permanentes. J em
outras culturas, o processo de moder-
nizao parcial, sobretudo no que se
refere colheita, que, em muitos casos,
ainda feita manualmente, seja por
opes tcnicas ou econmicas. De
todo modo, o resultado desse descom-
passo entre a eliminao da demanda
de trabalhadores nas pocas de plantio
e tratos culturais e a persistncia ou at
ampliao da demanda no perodo da
colheita o aumento do assalariamento
temporrio, posto que os fazendeiros
passam a contratar os trabalhadores
apenas na poca da colheita.
Por outra parte, expandiu-se tam-
bm o campesinato autnomo, com-
posto por posseiros e pequenos pro-
prietrios, sobretudo como resultado
da expanso da fronteira agrcola, mas
tambm por causa da criao de assen-
tamentos rurais (ver ASSENTAMENTO
759
T
Trabalho no Campo
RURAL), bem como surgiu uma nova
forma de trabalho no campo: o traba-
lho familiar integrado e subordinado s
agroindstrias. Trata-se, formalmente,
de pequenos proprietrios que tra-
balham a terra com base na fora de
trabalho familiar, mas que esto sub-
metidos por contratos de integrao a
empresas agroindustriais, para as quais
fornecem matrias-primas, que ditam o
padro produtivo e impem preos e
outras condies de produo que tor-
nam esses trabalhadores subordinados
econmica e socialmente a elas.
2
Essa
forma de trabalho predomina sobretu-
do nas atividades que oferecem maior
risco ou que exigem trabalho intensivo,
tais como a criao de pequenos ani-
mais e o plantio de frutas, verduras, le-
gumes, fumo etc., representando uma
forma de as empresas transferirem os
riscos da produo para os produtores
integrados ou evitarem gastos traba-
lhistas, como o pagamento de horas
extras ou adicionais noturnos. Porm,
s vezes as grandes empresas agroin-
dustriais recorrem integrao por
razes no estritamente econmicas,
mas polticas. o caso de algumas
grandes empresas de papel e celulose,
que, impedidas de expandirem cultivos
prprios, lanam mo do instrumento
do fomento forestal para incentivar
a integrao de pequenos e mdios
produtores, ou das usinas de cana em
regies onde se multiplicaram assenta-
mentos rurais com a falncia de usinas
e que, diante da retomada da produo
sucroalcooleira, recorrem integrao
de assentados.
Nas ltimas dcadas, desenvolveu-
se no Brasil um intenso debate em tor-
no da existncia do trabalho escravo
contemporneo. A denncia sistemti-
ca que a COMISSO PASTORAL DA TERRA
(CPT) iniciou a partir de 1985, com a
publicao anual de casos de escravi-
do contempornea no Brasil, resultou
na criao do Grupo Mvel de Fisca-
lizao do Ministrio do Trabalho em
1995, primeiro reconhecimento por
parte do governo brasileiro da existn-
cia do problema. Posteriormente, em
2003, o Estado ampliou tal reconheci-
mento, atravs da lei n 10.803, de 11
de dezembro de 2003, que modifcou o
artigo 149 do Cdigo Penal Brasileiro,
defnindo trabalho anlogo escravi-
do da seguinte forma:
Reduzir algum a condio an-
loga de escravo, quer subme-
tendo-o a trabalhos forados
ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condies degra-
dantes de trabalho, quer restrin-
gindo, por qualquer meio, sua
locomoo em razo de dvida
contrada com o empregador ou
preposto: Pena recluso, de
dois a oito anos, e multa, alm
da pena correspondente vio-
lncia. (Brasil, 2003)
No mesmo ano, criado Plano
Nacional de Erradicao do Trabalho
Escravo e ampliadas substancialmen-
te as aes de fscalizao; entretan-
to, a principal ao defendida pelos
que combatem o trabalho escravo no
Brasil a expropriao e a destinao
para a Reforma Agrria das terras onde
for identifcada a presena de trabalho
escravo continua parada no Congres-
so Nacional, em razo da presso da
bancada ruralista.
Da diversidade de relaes de tra-
balho no campo resulta uma diversi-
dade ainda maior de trabalhadores do
campo, uma vez que, alm das formas
que assume o trabalho (assalariamento
permanente ou temporrio, semiassala-
Dicionrio da Educao do Campo
760
riamento, trabalho familiar, coletivo e
semicoletivo etc.), h uma diversidade
de formas de apropriao da terra e de
relaes com a natureza, assim como
tradies culturais que resultam num
sem-nmero de denominaes dos tra-
balhadores do campo brasileiro: serin-
gueiros os que trabalham com a extra-
o do ltex na Floresta Amaznica e
que construram, a partir do Acre, uma
importante luta que articulou a bandei-
ra da Reforma Agrria com a preser-
vao da foresta e resultou na criao
das reservas extrativistas; castanheiros
que seguiram a trilha aberta pelos
seringueiros e se transformaram, so-
bretudo no Par, em guardies de uma
das maiores rvores amaznicas amea-
adas pela sanha de madeireiras, pecua-
ristas e agronegociantes em geral; que-
bradeiras de coco mulheres que extraem
o coco do babau e a ele do inmeras
destinaes e que se notabilizaram por
defender o livre acesso aos babauais
cada vez mais cercados por grileiros e
fazendeiros no Par, Tocantins, Mara-
nho e Piau; cerradeiros extrativistas,
agricultores e criadores das chapadas
do Centro-Oeste e Nordeste que vm
lutando contra a expanso desenfreada
das monoculturas de soja, milho, cana e
algodo; geraizeiros extrativistas, agri-
cultores e criadores das chapadas do
norte de Minas, que lutam sobretudo
contra os estragos provocados pela mi-
nerao e a monocultura do eucalipto;
retireiros agricultores e criadores das
vrzeas dos rios amaznicos que se
utilizam das terras alternadamente para
cultivo e criao e tm sido expropria-
dos pelo avano do latifndio sobre as
reas temporariamente alagadas; ribei-
rinhos agricultores e pescadores que
tm sistematicamente sido desalojados
das margens dos rios por causa da ins-
talao de barragens ou sofrido com a
poluio das guas por grandes proje-
tos industriais, minerais ou agrcolas
que fazem diminuir substancialmente
os peixes; faxinalenses agricultores e
criadores das altas terras paranaen-
ses que tm sido ameaados nas suas
prticas comunitrias tradicionais pelo
avano das monoculturas; vazanteiros
agricultores que se utilizam das terras
das vrzeas do rio So Francisco e que
tm sido afetados por obras de trans-
posio, barragens e outras que afetam
o regime do rio; catingueiros extrativis-
tas, agricultores e criadores do serto
nordestino que desenvolveram formas
tradicionais de convivncia com a seca
e que vm lutando contra o desmata-
mento da caatinga para a produo de
carvo; caiaras agricultores e pesca-
dores do litoral sul e sudeste que vm
sendo sistematicamente impedidos de
cultivar suas roas em meio Mata
Atlntica e que so expulsos, pela es-
peculao imobiliria, das praias que
tradicionalmente ocupam. E esses so
apenas alguns exemplos dessa imensa
diversidade socioambiental que carac-
teriza o campo brasileiro.
Porm, o que confere unidade a
essa enorme diversidade de trabalha-
dores do campo o fato de, por di-
ferentes formas e mecanismos, todos
eles estarem submetidos ao contro-
le e explorao do capital, estando
sujeitos expropriao pelo avano
da concentrao fundiria resultante da
expanso da dominao capitalista, o
que nos permite dizer que so parte
da classe trabalhadora, em confronto
aberto ou latente com as classes domi-
nantes do campo.
761
T
Transgnicos
Notas
1
Fazemos aqui referncia ao ttulo de um clssico da literatura brasileira acerca do perodo
colonial: Homens livres na ordem escravocrata, de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1997).
2
H na literatura econmica, sociolgica e geogrfca vasta polmica acerca da defnio
terica atribuda a esses trabalhadores: alguns os classifcam como agricultores familiares;
outros os consideram assalariados disfarados, semiproletrios.
Para saber mais
ALMEIDA, A. W. B. de. Terras tradicionalmente ocupadas, processos de territoriali-
zao e movimentos sociais. Estudos Urbanos e Regionais, v. 6, n. 1, maio 2004.
BRASIL. Lei n
o
10.803, de 11 de dezembro de 2003: altera o art. 149 do decreto-lei
n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 Cdigo Penal, para estabelecer penas ao cri-
me nele tipifcado e indicar as hipteses em que se confgura condio anloga de
escravo. Dirio Ofcial da Unio, Braslia, 12 dez. 2003. Disponvel em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.803.htm. Acesso em: 31 out. 2011.
FRANCO, M. S. de C. Homens livres na ordem escravocrata. 4. ed. So Paulo: Editora
Unesp, 1997.
MARTINS, J. de S. O cativeiro da terra. 4. ed. So Paulo: Hucitec, 1990.
MOTTA, M. (org.). Dicionrio da terra. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
THOMAZ JNIOR, A. A classe trabalhadora no Brasil e os limites da teoria qual
o lugar do campesinato e do proletariado. In: FERNANDES, B. M. (org.). Campesi-
nato e agronegcio na Amrica Latina: a questo agrria atual. So Paulo: Expresso
Popular, 2008.
T
TRANSGNICOS
Lia Giraldo da Silva Augusto
Este verbete aborda as implicaes
socioambientais da produo de plan-
tas geneticamente modifcadas. Para
termos clareza dessas implicaes,
necessrio inicialmente conhecer o que
so as tcnicas de produo de plantas
transgnicas e as justifcativas utiliza-
das para o seu desenvolvimento.
Essas tecnologias so denominadas
de biotecnologia e signifcam: a) a modi-
fcao gentica de organismos, plantas,
animais e alguns vrus; e b) a produo
de materiais e substncias a partir de se-
res vivos. Nesse processo, so utilizados
conhecimentos de reas como gentica,
bioqumica e biologia celular.
Dicionrio da Educao do Campo
762
Gentica a cincia que estuda a
transmisso das caractersticas biol-
gicas de uma gerao para outra (he-
reditariedade) e as variabilidades que
ocorrem nas espcies de organismos
vivos. As caractersticas biolgicas de
todos os seres vivos esto contidas nos
genes, que so um segmento do DNA;
este, por sua vez, forma os cromosso-
mos, que esto no ncleo das clulas
dos organismos.
A descoberta da estrutura do DNA
em 1953 provocou uma verdadeira re-
voluo na cincia. Os cientistas James
Watson e Francis Crick ganharam o
Prmio Nobel em 1962 por esses es-
tudos. Desde ento, a identifcao dos
genes, sua localizao e sua transfor-
mao tm mobilizado cientistas em
todo o mundo, no s para aumentar o
conhecimento sobre essa questo, como
tambm para aplic-lo na agricultura, na
medicina e na indstria farmacutica,
no que chamado de biotecnologia.
Avaliao de risco das
plantas transgnicas
(biossegurana)
Biossegurana o conjunto de
aes voltadas para a preveno, mini-
mizao ou eliminao dos riscos ineren-
tes s atividades de pesquisa, produo,
ensino, desenvolvimento tecnolgico
e prestao de servios, riscos que po-
dem comprometer a sade humana,
dos animais, das plantas e do meio am-
biente (Teixeira, 1996).
Segundo a Organizao das Naes
Unidas para Agricultura e Alimenta-
o (FAO) (Food and Agriculture
Organization, 1999), para assegurar que
as plantas transgnicas no produzam
danos sade humana e ao meio am-
biente so necessrios: a) normas ade-
quadas de biossegurana; b) anlise de
riscos dos produtos biotecnolgicos;
e c) mecanismos e instrumentos de
monitoramento e rastreabilidade.
A velocidade da utilizao de
produtos biotecnolgicos recm-
desenvolvidos um importante proble-
ma de biossegurana. Como exemplo,
relatamos o desenvolvimento da soja
transgnica. Em 1973 conseguiu-se rea-
lizar em laboratrio a transferncia de
genes e em 1986 a Monsanto desenvol-
veu e patenteou a soja Roundup Ready
(soja transgnica). E, na dcada de
1990, j se observa um grande aumen-
to das reas de cultivos transgnicos.
O aumento da plantao transgnica
apresenta o maior ndice de adoo
registrado at hoje quando comparado
com qualquer outra tecnologia na rea
da agricultura. Podemos verifcar, en-
to, que transcorreu um tempo extre-
mamente curto entre as descobertas e a
produo de conhecimentos no campo
da gentica em relao biologia mo-
lecular do DNA e a comercializao
de plantas geneticamente modifcadas,
destinadas ao consumo humano. Aqui
reside um primeiro e importante questiona-
mento, que est especialmente relacionado com
a biossegurana.
importante saber que, para a pro-
duo de plantas transgnicas, so uti-
lizados basicamente dois mtodos de
transformao: 1) o que usa a bactria
Agrobacterium tumefaciens (mtodo indi-
reto, como o de uma infeco); e 2) o
que usa a biobalstica (mtodo direto,
aleatrio, sem controle, de introduo
de gene na estrutura do DNA da planta).
Nesses processos, existe enorme incer-
teza sobre os seus resultados. Aqui reside
um segundo questionamento, tambm relacio-
nado com a biossegurana: eventos com baixa
possibilidade de controle ou previsibilidade.
763
T
Transgnicos
As plantas geneticamente modifca-
das no so equivalentes s no modif-
cadas. O pressuposto da equivalncia
substancial entre a planta transgnica
e a no transgnica frgil, seus ar-
gumentos no se sustentam cientif-
camente. Contudo, esse pressuposto
foi utilizado nos Estados Unidos para
a liberao do comrcio de plantas
transgnicas, impedindo assim o seu
monitoramento, especialmente sobre
seus efeitos na sade humana, e o seu
rastreamento nos alimentos consumi-
dos. At hoje as empresas no querem
que seus produtos recebam o rtulo de
produtos transgnicos.
A equivalncia substancial signi-
fca que duas variedades no diferem
substancialmente uma da outra nos
aspectos cor, textura, teor de leo,
composio e teor de aminocidos es-
senciais e em nenhuma outra caracte-
rstica bioqumica (Millstone, Brunner
e Mayer, 1999). No entanto, sabemos
que o todo no a soma das partes. Do
todo emergem propriedades distintas
daquelas observadas nas partes. Assim,
um alimento no apenas a soma das
substncias que o compem.
Os estudos utilizados para afrmar o
pressuposto da equivalncia substan-
cial so realizados pelas prprias em-
presas, com nfase em testes que no evi-
denciam o perigo dos transgnicos, pois
no levam em considerao possveis
erros nas anlises estatsticas, associados
a falsos positivos e a falsos negativos.
Em praticamente todos os proces-
sos que levaram liberao comercial
de plantas transgnicas no Brasil, os
estudos de biossegurana foram insuf-
cientes, por uma ou mais das seguintes
razes: no se aplicam aos metabli-
tos secundrios (que no existem nas
plantas no transgnicas); no avaliam
todas as substncias e nem todas as
caractersticas envolvidas; em geral,
no realizam repeties sufcientes;
raramente levam em considerao a
interao genomaambiente; no exa-
minam seus impactos em mamferos
quando em perodo de gestao; ao en-
contrarem diferenas estatsticas signi-
fcativas indicando perigo de alteraes
genticas que ameaam a preservao
da espcie, interpretam essas diferen-
as como no relevantes.
Existem muitos outros questiona-
mentos relacionados com a falta de
biossegurana na utilizao e na pro-
duo de plantas transgnicas. At o
momento, as questes que mais preo-
cupam so:
os impactos na sade humana, 1)
como o aparecimento de eventos
ou agravos no esperados (alergias,
toxidez, intolerncia, entre outros);
a presena de genes de resistncia a
antibiticos (gerao de novas ra-
as de patgenos, rpida dissemi-
nao dos genes de resistncia a an-
tibiticos, incorporao do material
gnico a bactrias/fungos); e a de-
terminao da seleo de bactrias;
outros impactos: a criao de novas 2)
pragas e plantas daninhas; o aumen-
to das pragas j existentes por meio
da recombinao; a produo de
substncias que so, ou poderiam
ser, txicas a organismos no alvos;
o desperdcio de recursos genticos
mediante a contaminao de esp-
cies nativas ou de espcies no rela-
cionadas, com efeitos adversos em
processos dos ecossistemas; a ori-
gem de substncias secundrias t-
xicas aps a degradao incomple-
ta de qumicos perigosos; o efeito
adverso nos processos ecolgicos;
o aumento no uso de herbicidas,
Dicionrio da Educao do Campo
764
com efeitos nocivos sobre a sade
humana, a fauna e a fora, levando
ao comprometimento da qualidade
do solo, da gua e do ar.
O desprezo s evidncias de peri-
go e ao princpio da precauo
1
faz da
liberao comercial de plantas transg-
nicas no mnimo uma questo de falta
de tica e de desrespeito sade, vida
e autonomia da cincia. Seriam ne-
cessrios estudos completos, de longo
prazo, acerca das plantas transgnicas
(assim como dos agrotxicos) para que
elas fossem produzidas e comercializa-
das. Aqui residem muitos questionamentos
relacionados com a falta de biossegurana das
plantas transgnicas.
Ocorre que s se podem achar os
impactos negativos do uso dos trans-
gnicos se houver estudos que visem
demonstr-los. A ausncia de evidncia
cientfca de no efeito sobre a sade e
o ambiente diferente da questo de
ausncia de efeito, pois podem existir
efeitos ainda no detectados (Traavik,
1999). No entanto, o que vemos na
pesquisa de avaliao de risco das plan-
tas transgnicas que ela no foi e no
realizada de forma sufciente para
garantir a biossegurana.
O que est em jogo nessa questo
uma defesa cega da biotecnologia.
Em favor de interesses econmicos, h
um ocultamento dos riscos associados
aos produtos transgnicos, assim como
tem ocorrido em relao aos agrotxi-
cos. Como j disse Hugo de Vries em
1907, na aplicao da gentica agrco-
la, o que vemos a predominncia do
econmico sobre o cientfco, na qual
os ganhos fnanceiros determinam o
que cientifcamente verdadeiro para
esses interesses (Nodari, 2007). Os ris-
cos da produo e comercializao das
plantas transgnicas tambm afetam as
dimenses sociais, econmicas e cultu-
rais da vida humana.
Impactos socioeconmicos
e culturais das plantas
transgnicas
Segundo a diretiva n 556/03/CEE,
da Comunidade Econmica Europeia,
a coexistncia entre produo conven-
cional/biolgica e transgnica deve
signifcar a possibilidade efetiva, para
os agricultores, de escolherem entre
um modo de produo e outro, no res-
peito das obrigaes legais em matria
de rotulagem ou de normas de pureza.
O registro de incidentes com or-
ganismos geneticamente modifcados
(OGMs) mostra a ocorrncia de con-
taminaes genticas, cultivos ilegais
e efeitos colaterais agrcolas negativos
em 44 pases, com mdia de 14,2 des-
ses ao ano, sendo 35% deles relaciona-
dos ao milho transgnico (Mayer, 2006).
Sabemos que as plantas transgni-
cas desenvolvidas no atenderam s
necessidades da agricultura familiar;
no entanto, so esses pequenos agri-
cultores os responsveis pela produ-
o da maior parte dos alimentos no
Brasil. Alm disso, o uso de plantas
resistentes a herbicidas aumenta o
grau de dependncia dos agricultores
aos agrotxicos, endividando-os e am-
pliando a concentrao dos latifndios
monocultores. A venda de sementes
transgnicas vinculada venda dos
agrotxicos, produzidos, em geral, pela
mesma empresa, que tem, frequen-
temente, enorme poder de presso so-
bre a economia, a poltica e o Estado.
As sementes transgnicas so proprie-
dades (patentes) de empresas transna-
cionais que articulam o seu biopoder e
a sua biopoltica, afetando a biotica
765
T
Transgnicos
e a soberania alimentar que foi consti-
tuda durante milhares de anos, media-
da pela diversidade cultural dos povos.
Sabemos que para cada variedade
transgnica de plantas h alternativas
no transgnicas de produo. No en-
tanto, as alternativas sustentveis de pro-
duo agrcola so desconsideradas pelo
aparato acadmico e do Estado, que no
do a elas apoio semelhante ao que
as alternativas de produo gentico-
qumico-industrial recebem.
H hoje uma tendncia de subme-
ter a cultura alimentar aos ditames
de um falacioso discurso cientfico
das empresas. O que est em jogo na
produo transgnica a vida com
sua biodiversidade, assim como a di-
versidade cultural. E ambas devem
ser protegidas.
Nota
1
O princpio da precauo implica que, na ausncia de certeza cientfca formal acerca de
um impacto negativo srio ou irreversvel no ambiente ou na sade decorrente de uma
ao humana, sejam implementadas medidas de preveno do dano, independentemente da
prova cientfca de relao de causalidade.
Para saber mais
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO). Biotechnology. Roma: FAO, 1999.
Disponvel em: http://www.fao.org/unfao/bodies/COAG. Acesso em: 12 jul.
2011.
GUERRA, M. P.; NODARI, R. O. Impactos ambientais das plantas transgnicas:
as evidncias e as incertezas. Agroecologia e Desenvenvolvimento Rural Sustentvel,
Porto Alegre, v. 2, n. 3, jul.-set. 2001. Disponvel em: http://www.
gmcontaminationregister.org. Acesso em: 12 jul. 2011.
MAYER, S. Relatrio sobre o Registro de Contaminao Transgnica, 2005.
Buxton, Inglaterra; Genewatch UK; Amsterd: Greenpeace Internacional,
2006. Disponvel em: http://www.greenpeace.org.br/transgenicos/pdf/
contaminacao2005.pdf. Acesso em: 12 jul. 2011.
MILLSTONE, E.; BRUNNER, E.; MAYER, S. Beyond Substantial Equivalence.
Nature, Londres, v. 401, p. 525-526, 1999.
NODARI, R. O. Biossegurana, transgnicos e risco ambiental: os desafos da nova
Lei de Biossegurana. In: LEITE, J. R. M.; FAGUNDEZ, P. R. A. (org.). Biossegurana e
novas tecnologias na sociedade de risco: aspectos jurdicos, tcnicos e sociais. So Jos,
Santa Catarina: Conceito Editorial, 2007. V. 1, p. 17-44. Disponvel em: http://
www.lfdgv.ufsc.br/Nodari%20BiossegurancaTransgenicosRisco.pdf. Acesso em:
12 jul. 2011.
TEIXEIRA, P.; VALLE, S. Biossegurana: uma abordagem multidisciplinar. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz, 1996.
Dicionrio da Educao do Campo
766
TRAAVIK, T. Too Early May Be Too Late: Ecological Risks Associated With the
Use of Naked DNA as Biological Tool for Research, Production and Therapy.
(Research Report for DN 1999-1.) Trondheim, Noruega: Directorate for Nature
Management, 1999.
767
V
V
VIA CAMPESINA
Bernardo Manano Fernandes
A Via Campesina uma organiza-
o mundial que articula movimentos
camponeses em defesa da agricultura
familiar em pequena escala e agroe-
colgica para garantir a produo de
alimentos saudveis. Entre seus objeti-
vos, constam a construo de relaes
de solidariedade, reconhecendo a di-
versidade do campesinato no mundo;
a construo de um modelo de desen-
volvimento da agricultura que garanta
a soberania alimentar como direito dos
povos de defnirem suas prprias pol-
ticas agrcolas; e a preservao do meio
ambiente, com a proteo da biodiver-
sidade. Em suas aes e documentos,
a Via Campesina tem se manifestado
contra a padronizao das culturas, o
produtivismo, a monocultura e a pro-
duo unicamente para exportao,
caractersticas do modelo de desenvol-
vimento do agronegcio. Organizada a
partir de pequenos e mdios agriculto-
res e trabalhadores agrcolas assalaria-
dos, indgenas e sem-terra, apresenta-
se como um movimento internacional
autnomo, pluralista, sem vinculao
com partidos, Igrejas e governos. Os
movimentos camponeses vinculados
Via Campesina atuam em escalas regio-
nal e nacional. Sua organizao espa-
cial compreende as seguintes regies:
Europa do Leste, Europa do Oeste,
Nordeste e Sudeste da sia, Amrica
do Norte, Caribe, Amrica Central,
Amrica do Sul e frica (Fernandes,
2009; Via Campesina, 2009 e 2011).
Criao
A Via Campesina nasceu em 1992,
quando vrias lideranas camponesas
dos continentes americano e europeu
que participavam do II Congresso
da Unin Nacional de Agricultores
y Ganaderos de Nicargua (Unag),
realizado em Mangua, propuseram a
criao de uma articulao mundial de
camponeses. A proposio foi efetivada
em 1993, com a realizao, em Mons,
na Blgica, da I Conferncia da Via
Campesina, quando se elaboraram as
linhas polticas iniciais e se defniu sua
estrutura (Fernandes, Silva e Girardi,
2004; Desmarais, 2007; Navarro e
Desmarais, 2009).
Em menos de duas dcadas, a Via
Campesina tornou-se a mais ampla e
mais conhecida articulao mundial
de organizaes na luta pelo desen-
volvimento da agricultura camponesa.
De acordo com Borras (2004), a Via
Campesina um movimento de movi-
mentos, tendo sido tambm defnida
como um movimento agrrio transna-
cional (Borras, Edelman e Kay, 2008).
Em seu processo de formao, ela foi
incorporando novos movimentos e de-
fnindo suas linhas polticas.
Em abril de 1996, foi realizada a
II Conferncia da Via Campesina, em
Tlaxcala, no Mxico, que contou com a
participao de 37 pases e 69 organiza-
es nacionais. Durante a realizao da
conferncia, no dia 17 de abril, ocorreu
Dicionrio da Educao do Campo
768
o Massacre de Eldorado dos Carajs,
quando 19 camponeses sem-terra, vin-
culados ao Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST) foram
assassinados, durante uma marcha em
Eldorado dos Carajs, municpio loca-
lizado no estado do Par. Por isso, a
conferncia declarou o dia 17 de abril
Dia Mundial da Luta Camponesa.
Em 2000, realizou-se a III Con-
f ernci a da Vi a Campesi na, em
Bangalore, na ndia; dela participaram
100 delegados, representantes de orga-
nizaes de 40 pases.
A IV Conferncia da Via Campe-
sina aconteceu no Brasil, em junho
de 2004. Ela contou com a presena de
400 delegados de 76 pases, represen-
tando 120 movimentos camponeses.
Em 2008, a Via Campesina realizou
a V Conferncia da Via Campesina,
em Maputo, capital de Moambique,
com a participao de 60 delegados de
69 pases, representando 148 movi-
mentos camponeses (Fernandes, 2009;
Via Campesina, 2008 e 2011).
Estrutura organizativa
A estrutura da Via Campesina
formada pela Conferncia Interna-
cional (espao de deliberao pol-
tica), pela Comisso Coordenadora
Internacional, por comisses polticas
e a secretaria executiva e pelos movi-
mentos camponeses a ela vinculados.
As comisses polticas atuam no de-
senvolvimento das linhas de atuao,
elaborando documentos que renem
as mani festaes de movi mentos
camponeses de diversas partes do
planeta. Tambm participam de deba-
tes e protestos junto dos organismos
internacionais.
Principais bandeiras
Com a palavra de ordem Globa-
lizemos a luta! Globalizemos a espe-
rana!, a Via Campesina tem defnido
suas linhas polticas, como soberania
alimentar com base no desenvolvimen-
to local e na diversidade da produo
agrcola e agroecolgica; defesa das
terras e territrios camponeses e ind-
genas por meio de polticas de desen-
volvimento, como a reforma agrria
integral; e defesa das sementes como
patrimnio da humanidade e da gua
como direito de todos. Alm dessas
linhas em defesa dos territrios cam-
poneses e indgenas, a Via Campesina
tambm tem demarcado posio con-
tra a produo de commodities e de agro-
combustveis, que tm gerado contnuas
crises alimentares.
A Via Campesina (2003) compreen-
de a soberania alimentar como o direi-
to dos povos, de seus pases e das unies
de Estados de defnirem suas polti-
cas agrcolas e alimentares, sem sofrer
dumping de outros pases. Defende tam-
bm que as polticas agrcolas devem
ser duradouras e solidrias, e determi-
nadas pelas organizaes nacionais e
pelos governos, suprimindo-se o po-
der das corporaes multinacionais; e
as negociaes agrcolas internacio-
nais devem estar sob o controle dos
Estados, sem a interveno da Organi-
zao Mundial do Comrcio (OMC).
A Via Campesina realiza a Campa-
nha Global pela Reforma Agrria, que
alcanou reconhecimento em diferen-
tes mbitos organizaes campone-
sas, organizaes no governamentais
(ONGs), governos e organismos inter-
nacionais. Essa campanha tem fortale-
cido a resistncia internacional s pol-
ticas do mercado de terras e mobilizado
769
V
Via Campesina
o apoio internacional na defesa de um
modelo de desenvolvimento rural ba-
seado na unidade familiar e na comuni-
dade, com destaque para a participao
de mulheres e jovens. Nesse plano, es-
to associadas polticas agroecolgicas
para a garantia da biodiversidade e a
proteo dos recursos genticos.
A Via Campesina tem atuado or-
ganizadamente em diversas partes do
mundo. Segundo Vieira (2011), a pri-
meira manifestao pblica da Via
Campesina aconteceu em 1995, em
Qubec, no Canad, quando a Orga-
nizao das Naes Unidas para Agri-
cultura e Alimentao (FAO) realizou
a Assembleia Global sobre Segurana
Alimentar. O National Farmers Union,
movimento fundador da Via Campesi-
na, era membro do comit organizador
e possibilitou a manifestao dos mo-
vimentos camponeses de vrias par-
tes do mundo. Outros exemplos de
organizao da Via Campesina so
as mobilizaes de protesto durante as
reunies da OMC em Genebra, Sua
(1998), em Seattle, Estados Unidos
(1999), e em Cancn, Mxico (2003).
Nesses protestos, os camponeses exi-
giram a sada da OMC das negociaes
agrcolas. Nesses anos, os movimentos
camponeses inovaram, realizando mo-
bilizaes conjuntas em diferentes ci-
dades do mundo ao mesmo tempo. A
criao dessa rede de movimentos tem
propiciado o aumento da resistncia
s polticas neoliberais e ao avano do
agronegcio sobre os territrios cam-
poneses, tornando-se a principal inter-
locutora dos movimentos camponeses
nas negociaes de polticas em escala
internacional e nacional.
Com suas aes, a Via Campesina
mantm na pauta poltica internacional
a questo camponesa com uma postura
autntica, lutando contra a posio de
governos e corporaes, que cooptam
as organizaes camponesas, com a
subordinao consentida ao modelo
de desenvolvimento do agronegcio,
pelo qual os agricultores so subme-
tidos a um processo de commoditizao,
ou seja, a produo monocultora na
qual o conhecimento e a tecnologia
so determinados pelas corporaes,
que controlam a maior parte dos pro-
cessos produtivos.
A Via Campesina contraria as teses
do fm do campesinato ao surgir como
uma organizao mundial em defesa da
cultura, da terra, da comida e da nature-
za, numa poca em que as pessoas cada
vez mais compreendem a importncia
da alimentao saudvel e da qualidade
de vida, e sabem que as possibilidades
para a sua realizao esto na diversi-
dade, na agroecologia, na democracia:
na via campesina.
Para saber mais
BORRAS, S. La Va Campesina: un movimiento en movimiento. Amsterd:
Transnational Institute, 2004.
______; EDELMAN, M.; KAY, C. Transnational Agrarian Movements: Origins and
Politics, Campaigns and Impact. Journal of Agrarian Change, v. 8, n. 2-3, p. 169-204,
April-July 2008.
DESMARAIS, A. A. La Va Campesina: Globalization and the Power Peasants.
Halifax: Fernwood Publishing, 2007.
Dicionrio da Educao do Campo
770
FERNANDES, B. M. Va Campesina. In: Latinoamericana Enciclopedia Contempornea
de Amrica Latina y el Caribe. Madri: Akal, 2009. V. 1, p. 1.307-1.309.
______; SILVA, A. A.; GIRARDI, E. P. Questes da Via Campesina. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE GEGRAFOS, 6. Anais... Goinia: Associao de Gegrafos Brasi-
leiros, 2004.
NAVARRO, L. H. DESMARAIS, A. A. Feeding the World and Cooling the Planet:
La Va Campesinas Fifth International Conference. Briarpatch Magazine, Jan.-
Feb. 2009. Disponvel em: http://briarpatchmagazine.com/articles/view/la-via-
campesinas-ffth-international-conference. Acesso em: 27 out. 2011.
VA CAMPESINA. Documentos polticos de La Va Campesina. Maputo, Moambique:
Va Campesina, oct. 2008.
______. La voz de las campesinas y de los campesinos del mundo. Jacarta: Va Campesina,
feb. 2011. Disponvel em: http://viacampesina.org/downloads/profles/2011/
BROCHURE-LVC2011-ES.pdf. Acesso em: 27 out. 2011.
______. Qu signifca soberana alimentaria? Va Campesina,15 ene. 2003. Dis-
ponvel em: http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&
v i e w=a r t i c l e &i d =7 8 : q u i g n i f i c a - s o b e r a n a l i me n t a r i a - &c a t i d =
21:soberanalimentary-comercio&Itemid=38. Acesso em: 28 out. 2011.
VIEIRA, F. B. Dos proletrios unidos globalizao da esperana: um estudo sobre inter-
nacionalismos e a Via Campesina. Rio de Janeiro: Alameda, 2011.
V
VIOLNCIA SOCIAL
Felipe Brito
Jos Cludio Alves
Roberta Lobo
Em sentido amplo, violncia qual-
quer ato violador ou constrangedor da
integridade psicofsica de mulheres e
homens. A violncia constitutiva da
modernidade, seja na sua relao com
a natureza impondo uma relao
quantitativa, de extrao de riqueza, e
no qualitativa, na dimenso do sen-
svel da relao homem e natureza ,
seja na sua relao com os seres huma-
nos, quantifcados abstratamente sob
a forma-mercadoria, estranhando a si
mesmos, aos outros e ao produto de
sua atividade criadora. Instaura-se uma
vasta cadeia de violncia social, cons-
tituda pela indissocivel relao entre
violncia econmica e violncia
extraeconmica, nos rastros da (tam-
bm indissocivel) vinculao entre
mercado e Estado.
A violncia econmica brota das
prprias condies econmicas capitalistas,
marcadas pela expropriao e a explo-
rao. Manifesta-se por meio de uma
771
V
Violncia Social
rede capilarizada de usurpaes, vio-
laes e constrangimentos cotidianos,
cujos tentculos alcanam trabalhadores,
desempregados, subempregados etc.
A brutalidade da violncia extrae-
conmica revela-se na tendncia global
de hipertrofa da dimenso vigilante-
coercitiva-punitiva do Estado. Essa ten-
dncia (que apresenta especifcidades
nas regies do planeta mundializadas
pelo capital) adquire contornos catas-
trfcos nas periferias. Alm do exacer-
bado aumento do encarceramento, com
o conjunto de estratgias de segregao
punitiva a ele ligado diminuio da
maioridade penal, recrudescimento
na pena privativa de liberdade, expanso
da tipifcao penal, estabelecimento de
condenaes obrigatrias mnimas etc. ,
destacam-se as mortes perpetradas por
agentes ofciais do Estado, no exerccio
de suas atribuies legais, e tambm
pelos agentes ofciosos, contratados no
rentvel mercado da guerra e da segu-
rana privada. No interior da socieda-
de civil, multiplicam-se vrios nveis de
preparao (difusos ou concentrados)
para o combate, que indicam um pro-
cesso de naturalizao do convvio
com a violncia: posse de armas, apren-
dizado de tcnicas de defesa pesso-
al, blindagens de automveis e casas,
colocao de cmeras de vigilncia,
isolamento de condomnios fechados,
contratao de seguranas privadas
e formao de milcias e gangues para a
eliminao dos indesejveis. Os ndices
de violncia no Brasil so alarmantes:
mais de 50 mil indivduos morrem por
homicdio, anualmente, o que repre-
senta uma mdia de aproximadamente
25 mortes por 100 mil habitantes, m-
dia que nos coloca na posio de sex-
to pas com mais mortes violentas no
mundo (Lima, 2011).
No tocante ao encarceramento,
aproximamo-nos do nmero de 500
mil presos e presas, atingindo o tercei-
ro lugar entre os pases que mais encar-
ceram no mundo, fcando atrs apenas
dos Estados Unidos e da China. A se-
letividade um trao indelvel, tanto
do encarceramento quanto do genoc-
dio em nome da lei: jovens negros e pau-
perizados formam, incontestavelmente,
a camada social mais vulnervel.
Manifestaes
contemporneas da
violncia social no Brasil
Apresentaremos, brevemente, trs
processos diferenciados historicamen-
te, porm semelhantes (e, de algum
modo, articulados) no que diz respeito
persistente criminalizao da pobreza e
dos movimentos populares no Brasil,
ao encarceramento e ao extermnio
como modos de manter a reproduo
social do capital na periferia: a Baixada
Fluminense (RJ) com o seu pioneiris-
mo, a pacifcao recente da cidade
do Rio de Janeiro e a violncia espraiada
no campo do pas.
Pioneirismo da Baixada
Fluminense
Os grupos de extermnio na Bai-
xada Fluminense so fruto de relaes
sociais que se constituram ao longo da
histria da regio, e que apontam, so-
bretudo, para a constituio do poder
local e sua relao com as esferas de
poder estadual e federal. A instrumen-
talidade poltica da violncia relaciona-
se com a subjetividade de determinada
populao, construindo formas de per-
petuao de poderes e lgicas sociais
Dicionrio da Educao do Campo
772
de justifcao do recurso violn-
cia. Entramos, assim, num dos temas
centrais do estudo da violncia: a sua
relao com o poder e com o Estado.
Na outra face da moeda, setores eco-
nmicos, com sua lucrativa parceria no
fnanciamento da estrutura montada
pelo Estado, garantiriam desde o soldo
dos executores at os fundos de cam-
panhas eleitorais. A trajetria poltica
de vrios matadores na regio d so-
mente uma maior visibilidade consa-
grada participao de organizadores
de grupos de jagunos ou de exterm-
nio no poder local.
Na Baixada Fluminense, poderia
pensar-se num totalitarismo social-
mente construdo, pois o consenso
sobre a violncia faz parte do clculo
racional dos atores, mas est tambm
inscrito nas possibilidades utilizadas
pelo poder que se consolidou, e se
consolida, na esfera local, estadual e
federal. A subjetividade dos matado-
res, e sua relao com a esfera poltica,
contribuiu para a formulao de uma
situao na qual a violncia pode ser
transformada em credencial poltica,
capaz de conduzir seus operadores,
e os esquemas que lhe do suporte, a
postos-chave do Executivo, Legislati-
vo e Judicirio. Montou-se, portanto,
uma estrutura extremamente efcaz de
dominao poltica local. Com isso,
garantiu-se a mais absoluta credibilida-
de diante dos grupos extralocais domi-
nantes, visto que se tratava de feudos
e currais de absoluta confiana. Se
escapar do clientelismo at poss-
vel, o mesmo no se pode dizer do
terror da violncia incontrolvel,
da compulsria segurana prestada
por matadores e da possibilidade de
que eles sejam usados na resoluo
das discordncias polticas.
O impedimento pelo terror de
qualquer oposio signifcativa aos
interesses dos que exercem o poder
ocorre ilegal e legalmente, uma vez
que as instncias do correto processo
legal encontram-se, em ltimo caso,
comprometidas. No se trata de um
novo paradigma da violncia no qual
ela ocorreria pelo preenchimento do
vazio deixado por atores e relaes so-
ciais e polticas enfraquecidas, nem de
modos pr-modernos de segurana
coletiva. Encontra-se a constituio do
poder e do Estado calcada em empre-
sas bem-sucedidas de violncia priva-
da e ilegal. O carter ofcial, formal e
legal do Estado corresponde no s
lavagem do passado, por demais
vinculado ao esquema montado, mas
simboliza a consagrao popular, o
reconhecimento incontestvel da sua
efcincia. No preciso criar territ-
rios ocupados e manter distncia o
Estado a fm de garantir os negcios
ilcitos e a fonte de sobrevivncia. Nem
adiantam motins e distrbios nas ruas,
pois o consentimento, lado a lado com
o medo, confrma a inutilidade de se
recorrer a instncias absolutamente
manipuladas. Por fm, as votaes ex-
pressivas recobriro as desigualdades
sociais com mandatos populares.
A igualdade poltica reelabora, assim,
sob a forma de identifcao com os
anseios populares, as profundas di-
ferenas mantidas como determinantes
na reproduo dessa mquina poltica
e econmica.
Pacificao da cidade do
Rio de Janeiro
Podemos considerar que, atual-
mente, a cidade do Rio de Janeiro vem
sendo um grande laboratrio da po-
773
V
Violncia Social
ltica de extermnio como poltica de
Estado, o que inclui no somente as
aes de coero e extrema violncia
por parte do Estado, mas tambm uma
naturalizao das chacinas, que podem
ser rapidamente encontradas no cen-
rio embotado da memria social, como
as chacinas de Vigrio Geral (1993), da
Candelria (1993), da Baixada (2005),
do Complexo do Alemo (2007), do
Morro da Providncia (2008), dentre
outras negligenciadas e/ou silenciadas
pela grande mdia.
Surgiram nesse grande laboratrio
as chamadas Unidades de Polcia Paci-
fcadora (UPPs). As UPPs buscam, no
discurso, a inverso da retrica violenta
no combate ao crime organizado, visto
que sua inteno garantir a cidada-
nia nas comunidades. A cidadania,
com isso, torna-se mais uma vez ques-
to de polcia (ou continua sendo uma
questo de polcia com novas vestes):
uma dialtica negativa posta na regres-
so da condio dos direitos humanos.
De que maneira uma cultura corpora-
tiva, autoritria e violenta como a se-
dimentada na polcia brasileira poder
garantir o alargamento da cidadania
nos territrios socialmente excludos
da cidade ofcial? Esse problema esbarra
no apenas na fraca cultura democr-
tica brasileira, mas tambm na contra-
dio existente entre pacifcao e
democratizao:
A fraca capacidade reivindicati-
va da populao que mora nas
reas direta ou indiretamente
afetadas pelas UPPs, resultan-
te da convico de que pre-
cisam ser pacifcadas, impede
sua aceitao plena como par-
ticipantes legtimos das arenas
pblicas [...]. Est esvaziada a
capacidade de mediao poltico-
administrativa entre as popula-
es moradoras dos territrios
da pobreza e o mundo pbli-
co, que representou a fora das
associaes de moradores. H
lamentveis indicaes de que
esta funo pode estar passan-
do a mos insuspeitas: as UPPs.
(Machado da Silva, 2010, p. 3)
A rigor, as UPPs institucionalizam
a gesto policial de territrios, entre-
laando poltica de segurana pblica
com poltica de interveno urbana.
Por isso, encontram-se diretamente
voltadas para o planejamento de um
modelo de cidade-empresa no qual
se destacam os megaeventos de esporte
e entretenimento. E as UPPs se revelam
ferramentas cruciais consecuo dos
diversos megaeventos que ocorrero
na cidade do Rio de Janeiro, como a
Copa do Mundo (2014), as Olimpadas
(2016) etc.
As UPPs contam com grande apoio
dos recursos privados, por meio de par-
cerias pblico-privadas, e fomentam,
alm disso, um padro de cidadania
mediado pelo consumo. Assim, a pa-
cifcao de favelas conta com uma
gama de servios privados e com li-
nhas creditcias especiais para que os
favelados pacifcados (muitos deles
subempregados e desempregados) con-
sumam servios e mercadorias base
de endividamento. Por outra parte, em
ritmo muito mais lento e rebaixado,
situam-se as polticas e os servios p-
blicos direcionados a essas faixas terri-
toriais pacifcadas.
No mesmo compasso das UPPs,
desponta tambm o chamado Cho-
que de Ordem. Instaurado em janeiro
de 2009 na cidade do Rio de Janeiro,
Dicionrio da Educao do Campo
774
o Choque de Ordem realiza operaes
de represso e controle de vendedo-
res ambulantes, fanelinhas, morado-
res de rua e de construes irregulares
ocupadas por trabalhadores sem-teto.
Garantir a ordem e a segurana do
espao pblico, nesses termos, ope-
rar uma limpeza social e tnica que eli-
mina os direitos das classes populares,
relegadas ao circuito informal de pro-
duo e circulao de mercadorias, em
especial o direito moradia e ao traba-
lho. O Choque de Ordem uma polti-
ca de represso do governo municipal
que visa dar conta da barbrie social
(Menegat, 2006) instaurada como pre-
missa da prpria reproduo ampliada
do capital no Brasil, que, nos proces-
sos de modernizao conservadora,
alimentou a contnua reproduo da
pobreza, do subemprego, da moradia
precria e do medo como condio
de sobrevivncia das classes populares
brasileiras. Assustadoramente, cavei-
res, UPPs e Choque de Ordem garan-
tem a privatizao do espao pblico,
a conteno das classes perigosas, a
violncia e o extermnio de jovens, ne-
gros e favelados, espelhando a barbrie
civilizada em vigor (ibid).
Violncia espraiada no
campo do pas
As reas de monocultura, assim
como as regies de extrao mineral,
esto marcadas por uma pobreza se-
cular. Comunidades rurais, quilombos
e aldeias so desterrados com extrema
violncia. A natureza degradada e
violentada sem limites pela necessida-
de de expanso do capital e pela ao
do Estado. O ser humano, nessa lgi-
ca, reduz-se a mero ndice banalizado,
seja na composio do valor e da pro-
dutividade do trabalho, seja nos qua-
dros anuais de assassinatos no campo.
Quanto mais avanadas so as formas
de produo no campo, unindo cincia,
tecnologia, latifndio e capital fnan-
ceiro, mais arcaicas e violentas so as
formas de explorao do trabalho hu-
mano. Como relao social dominante,
a expanso do capital na periferia se d
por meio da reproduo social do trabalho
no pago, semipago ou pago de modo depre-
ciado (Fernandes, 1975, p. 199). Desen-
volvimento econmico e democratiza-
o no andaram (e continuam a no
andar) juntos. Essa ciso se sustenta
na violncia econmica, mas tambm na
violncia extraeconmica: a violncia
fsica e psquica de negao do valor
da vida.
No Brasil, o direito dos trabalha-
dores do campo de serem sujeitos
polticos teve e continua tendo uma
trajetria trgica, de paixes humanas
e conquistas, mas ao mesmo tempo de
ameaas, injustias e massacres. A ms-
tica da luta pela Reforma Agrria e pela
defesa do meio ambiente est presente
nessa histria de cabras marcados e na
fora da utopia da terra como cultivo
da vida o bem supremo. E a fora
dessa utopia to ameaadora para o
capital que a luta pela Reforma Agr-
ria criminalizada, e os movimentos
sociais e ambientais, desmoralizados,
numa ao conjunta do Judicirio e do
Legislativo, da mdia e do aparato re-
pressivo do Estado.
A Via Campesina Brasil denuncia
como porta-vozes dessa poltica de
criminalizao os parlamentares ainda
associados ao latifndio improdutivo,
respaldados em histrias de violncia e
de crimes cometidos contra os traba-
lhadores rurais. Essa chamada Bancada
Ruralista (ver ORGANIZAES DA CLAS-
775
V
Violncia Social
SE DOMINATE NO CAMPO) no hesita em
levantar as bandeiras mais atrasadas,
antissociais e de depredao ambiental.
J a bancada do AGRONEGCIO se pre-
serva diante dos olhos da sociedade,
aparecendo sempre como mais racio-
nal, menos violenta e mais sensvel aos
apelos da sociedade e aos problemas
ambientais. Ambas as bancadas repre-
sentam duas faces da mesma moeda:
defendem o modelo agrcola do agro-
negcio, responsvel por impactos socio-
ambientais profundamente destrutivos (Via
Campesina Brasil, 2010).
Aos movimentos sociais que fazem
a luta pela Reforma Agrria cabe conti-
nuar se organizando e lutando para as-
segurar conquistas polticas e econmi-
cas que lhes deem condies dignas de
vida. Ao mesmo tempo, tero de quali-
fcar o relacionamento com a socieda-
de para enfrentar e derrotar essa nova
ofensiva da ideologia antidemocrtica,
que insiste em transformar este pas
numa grande fazenda agroexportadora
(Via Campesina Brasil, 2010). Segundo
o mesmo texto da Via Campesina:
A concentrao fundiria no
Brasil aumentou nos ltimos
dez anos, conforme o Censo
Agrrio [de 2006] do IBGE. A
rea ocupada pelos estabeleci-
mentos rurais maiores do que
mil hectares concentra mais de
43% do espao total, enquanto
as propriedades com menos de
10 hectares ocupam menos
de 2,7%. As pequenas proprie-
dades esto defnhando enquan-
to crescem as fronteiras agrco-
las do agronegcio.
Conforme a Comisso Pastoral
da Terra [...], os confitos agr-
rios do primeiro semestre deste
ano [2009] seguem marcando
uma situao de extrema vio-
lncia contra os trabalhadores
rurais. Entre janeiro e julho de
2009 foram registrados 366 con-
fitos, que afetaram diretamente
193.174 pessoas, ocorrendo um
assassinato a cada 30 confitos
no primeiro semestre de 2009.
Ao todo, foram 12 assassinatos,
44 tentativas de homicdio, 22
ameaas de morte e 6 pessoas
torturadas no primeiro semes-
tre deste ano. (Via Campesina
Brasil, 2010).
Segundo dados da CPT (Comis-
so Pastoral da Terra, 2011), desde o
Massacre de Eldorado de Carajs, em
1996, at 2010, 212 pessoas foram as-
sassinadas na regio de Marab (PA)
em decorrncia de confitos agrrios
uma mdia de 14 execues por ano.
Em relao s ameaas de morte no
campo, a CPT contabilizou 1.855 pes-
soas ameaadas de 2000 a 2010. Desse
nmero, 207 pessoas foram ameaadas
mais de uma vez e, dessas, 42 foram
assassinadas e outras 30 sofreram ten-
tativas de assassinato. No fnal do ms
de maio de 2011, o Brasil testemunhou
mais uma vez esse violento modelo de
produo do agronegcio, de desmata-
mento total e de contra-Reforma Agr-
ria, com o assassinato, em cinco dias,
de quatro trabalhadores que lutavam
pela defesa dos direitos dos campone-
ses e da foresta: foram assassinados,
no Par, o casal de ambientalistas Jos
Cludio Ribeiro e Maria do Esprito
Santo e o assentado Eremilton Pereira
dos Santos, e, em Rondnia, o lder do
Movimento Campons Corumbiara,
Adelino Ramos. O circuito de atrocida-
des que tirou a vida de Chico Mendes,
Dorothy Stang e tantos(as) outros(as)
Dicionrio da Educao do Campo
776
lutadores(as) do povo continua em
vigor. A Comisso Pastoral da Terra,
que h 26 anos realiza o trabalho de
denncia da violncia do campo no
Brasil, afrma:
O que se assiste em nosso pas
uma contra-reforma agrria e
uma falcia o tal desmatamento
zero. O poder do latifndio,
travestido hoje de agroneg-
cio, impe suas regras afron-
tando o direito dos posseiros,
pequenos agricultores, comuni-
dades quilombolas e indgenas e
outras categorias camponesas.
Tambm avana sobre reser-
vas ambientais e reservas ex-
trativistas. O apoio, incentivo
e financiamento do Estado ao
agronegcio, o fortalece para
seguir adiante, acobertado pelo
discurso do desenvolvimento
econmico, que nada mais
do que a negao dos direitos
fundamentais da pessoa, do
meio ambiente e da natureza.
(Comisso Pastoral da Terra,
2011)
Aps 25 anos de consolidao
da democracia no Brasil (1985-2010),
os trabalhadores do campo so vistos
como entraves ao crescimento econ-
mico pelos grandes projetos do capital.
Esse novo ciclo de desenvolvimento
alavancado pelo agronegcio no se
diferencia do arcaico e secular proces-
so de desterritorializao das classes
populares e de territorializao do ca-
pital, por meio de extremas aes de
violncia, processo que demarca a for-
mao social brasileira.
A desterritorializao das classes
populares nas reas de forestas, ribei-
rinhas e litorneas (mangues), das po-
pulaes sem-terra e dos camponeses
vem se intensifcando como resultado
da opo poltica do Estado brasileiro,
que, em contradio com o proces-
so de democratizao da sociedade,
alia-se ao capital fnanceiro, s corpora-
es agroqumicas e aos latifundirios,
os quais monopolizam no somente a
terra, mas tambm o conjunto dos re-
cursos naturais.
Exemplo dessa opo poltica est
na aprovao do novo Cdigo Florestal,
visto que as mudanas empreendidas
pela nova legislao ambiental como
a flexibilizao das reas de preser-
vao permanente nas reas rurais
modifcaro a produo agrcola, bem
como as polticas de agricultura fami-
liar. Liberdade para desmatar e para
intensifcar a especulao imobiliria,
a produo das grandes empresas na-
cionais e estrangeiras (por exemplo, ce-
lulose e papel), a agricultura extensiva
de monocultivo para a exportao (por
exemplo, soja, milho, cana-de-acar),
perpetuando a degradao ambiental,
bem como o desrespeito aos direitos
humanos, colocando-nos, com a per-
manncia do trabalho escravo no pro-
cesso de reproduo do capital, em
situaes pr-republicanas. Esse o
modelo agrcola, ambiental e de uso do
solo dominante no Brasil, onde Estado,
capital fnanceiro e Bancada Ruralista
perpetuam e reforam uma moderni-
zao ultraconservadora.
777
V
Violncia Social
Para saber mais
ARANTES, P. Extino. So Paulo: Boitempo, 2007.
ALVES, J. C. S. Dos bares ao extermnio: uma histria de violncia na Baixada
Fluminense. Duque de Caxias, Rio de Janeiro: APPHClio, 2003.
BRITO, F. Acumulao (democrtica) de escombros. 2010. Tese (Doutorado em Servio
Social) Escola de Servio Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2010.
CECENA, A. E. (org.). Os desafos das emancipaes em um contexto militarizado.
So Paulo: Expresso Popular, 2008.
COMISSO PASTORAL DA TERRA (CPT). Confitos no campo Brasil 2010. Goinia:
CPT, 2011. Disponvel em: http://www.cptnacional.org.br/index.php?option=
com_jdownloads&Itemid=23&view=finish&cid=192&catid=4. Acesso em:
1 nov. 2011.
______. O Estado no pode lavar as mos diante de mortes anunciadas. Nota pbli-
ca. Goinia: CPT, 30 maio 2011. Disponvel em: http://www.cptnacional.org.
br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=23&view=fnish&cid=222&
catid=28. Acesso em: 3 nov. 2011.
FERNANDES, F. A revoluo burguesa no Brasil: ensaios de interpretao sociolgica.
Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
LIMA, R. S. de. Esteretipos da violncia. Carta Capital, p. 48-49, 13 abr. 2011.
LOBO, R. Arte, cidade e democracia. In: MESA-REDONDA ARTE E SADE. Rio de
Janeiro: Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio/Fiocruz, 2010.
MENEGAT, M. O olho da barbrie. So Paulo: Expresso Popular, 2006.
OLIVEIRA, F. de; RIZEK, C. S. A era da indeterminao. So Paulo: Boitempo, 2007.
REDE RIO CRIANA et al. Os muros nas favelas e o processo de criminalizao. Rela-
trio. Rio de Janeiro, 2009. Disponvel em: http://global.org.br/wp-content/
uploads/2009/12/Relat%C3%B3rio-Os-Muros-nas-Favelas-e-o-Processo-de-
Criminaliza%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 1 nov. 2011.
MACHADO DA SILVA, L. A. Os avanos, limites e perigos das UPPs. O Globo, Rio de
Janeiro, 20 mar. 2010. Prosa & Verso, p. 3.
VIA CAMPESINA BRASIL. A ofensiva da direita para criminalizar os movimentos sociais.
So Paulo: Via Campesina Brasil, 2010. Disponvel em: http://global.org.br/
wp-content/uploads/2010/02/criminaliza%C3%A7%C3%A3o-dos-mov.
-sociais.-Via-Campesina.pdf. Acesso em: 1 nov. 2011.
Autores
779
Autores
ADEMAR BOGO militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST).
ADRIANA DAGOSTINI doutora em Educao pela Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC).
ALEXANDRE PESSOA DIAS mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor-pesquisador da Escola Politcnica
de Sade Joaquim Venncio (EPSJV/Fiocruz).
ANA PAULA SOARES DA SILVA doutora em Psicologia pela Universidade de So
Paulo (USP), professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Fi-
losofa, Cincias e Letras de Ribeiro Preto (FFCLP-USP) e pesquisadora do
Centro de Investigaes sobre Desenvolvimento Humano e Educao Infantil
(Cindedi-USP).
ANA RITA DE LIMA FERREIRA mestranda em Educao do Campo pela Univer-
sidade de Braslia (UnB) e militante do Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB).
ANDR CAMPOS BRIGO mestre em Educao Profssional em Sade pela Escola
Politcnica de Sade Joaquim Venncio (EPSJV/Fiocruz) e professor-pesquisador
na mesma instituio.
ANDR SILVA MARTINS doutor em Educao pela Universidade Federal Fluminense
(UFF) e docente da Faculdade de Educao da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF).
ANTNIO CANUTO secretrio da Coordenao Nacional da Comisso Pastoral
da Terra (CPT).
ANTONIO ESCRIVO FILHO mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista
(Unesp) e assessor jurdico da organizao de direitos humanos Terra de Direitos.
APARECIDA DE FTIMA TIRADENTES DOS SANTOS doutora em Educao pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisadora adjunta da
Fundao Oswaldo Cruz (Fiocruz).
BERNARDO MANANO FERNANDES doutor em Geografa Humana pela Universi-
dade de So Paulo (USP), professor dos cursos de graduao e ps-graduao em
Geografa da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e coordenador do Ncleo
de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrria (Nera) e da Ctedra Unesco
de Educao do Campo e Desenvolvimento Territorial.
Dicionrio da Educao do Campo
780
CARLOS EDUARDO MAZZETTO SILVA engenheiro agrnomo pela Universidade
Federal de Viosa (UFV), doutor em Geografa pela Universidade Federal Flu-
minense (UFF) e professor adjunto da Faculdade de Educao da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).
CARLOS WALTER PORTO-GONALVES doutor em Geografa pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor do Departamento de Geografa da
Universidade Federal Fluminense (UFF).
CAROLINE BAHNIUK doutoranda em Educao pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e integrante do Setor de Educao do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
CELI ZULKE TAFFAREL doutora em Educao pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), pesquisadora com apoio do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Cientfco e Tecnolgico (CNPq) e professora titular da Universidade
Federal da Bahia (UFBA).
CLARICE APARECIDA DOS SANTOS mestre em Educao do Campo pela Universi-
dade de Braslia (UnB) e coordenadora-geral de Educao do Campo e Cidadania
do Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra).
CLAUDIO DE LIRA SANTOS JNIOR doutor em Educao pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA) e professor adjunto na mesma universidade.
CLIFFORD ANDREW WELCH doutor em Histria pela Duke University e professor
adjunto de Histria do Brasil Contemporneo na Universidade Federal de So
Paulo (Unifesp).
CONCEIO PALUDO doutora em Educao pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), professora do curso de Pedagogia e do Programa de
Ps-graduao da Faculdade de Educao da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), coordenadora do Ncleo Rio Grande do Sul do Observatrio em Edu-
cao do Campo e membro da coordenao colegiada da turma especial do curso
de Medicina Veterinria, convnio UFPelInstituto Nacional de Colonizao e
Reforma Agrria (Incra).
DELMA PESSANHA NEVES antroploga, doutora em Antropologia Social pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora do Programa de Ps-
graduao em Antropologia da Universidade Federal Fluminense (PPGA/UFF)
e do Programa de Professor Visitante Nacional Snior (PVNS) da Universidade
Federal do Oeste do Par (Ufopa).
DENIS MONTEIRO engenheiro agrnomo e secretrio executivo da Articulao
Nacional de Agroecologia (ANA).
DOMINIQUE MICHLE PERIOTO GUHUR agrnoma, mestre em Educao pela
Universidade Estadual de Maring (UEM) e integrante da Coordenao Poltico-
Pedaggica da Escola Milton Santos, do Centro de Formao em Agroecologia
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Paran.
Autores
781
EDGAR JORGE KOLLING especialista em Educao do Campo pela Universidade
de Braslia (UnB) e membro da coordenao do Setor de Educao do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
EDNA RODRIGUES ARAJO ROSSETTO mestre e doutoranda em Educao pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e membro do Setor de Educao
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de So Paulo e do
coletivo da Educao Infantil do MST.
EDUARDO LUIZ ZEN mestre em Sociologia pela Universidade de Braslia (UnB)
e tcnico em Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada (Ipea).
EITEL DIAS MAIC engenheiro agrnomo pela Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel (Faem) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e responsvel tcnico
pela produo das Sementes Agroecolgicas BioNatur.
ELAINE LACERDA mestre em Cincias Sociais pelo Programa de Ps-graduao de
Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ).
ELIANA DA SILVA FELIPE doutora em Educao pela Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e professora adjunta do Instituto de Cincias da Educao
da Universidade Federal do Par (UFPA).
ELISA GUARAN DE CASTRO doutora em Antropologia Social pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professora do Departamento de Cincias
Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e professora
colaboradora do Programa de Ps-graduao de Cincias Sociais em Desenvolvi-
mento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da UFRRJ.
FELIPE BRITO mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal
Fluminense (UFF), doutor em Servio Social pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e professor do curso de Servio Social da UFF/Rio das Ostras.
FERNANDO FERREIRA CARNEIRO doutor em Epidemiologia pela Universidade
Federal de Mina Gerais (UFMG) e professor adjunto do Departamento de Sade
Coletiva do Ncleo de Estudos em Sade Pblica (Nesp) da Universidade de
Braslia (UnB).
FERNANDO MICHELOTTI mestre em Planejamento do Desenvolvimento pela
Universidade Federal do Par (UFPA), professor e vice-coordenador do Campus
Marab da UFPA.
FLVIA TEREZA DA SILVA formada em Pedagogia pela Universidade Federal do
Esprito Santo (Ufes) e membro do Setor de Educao do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra (MST) de Pernambuco e do coletivo da Educao
Infantil do MST.
FRANCISCO DE ASSIS COSTA doutor em Economia pela Universidade de Berlim,
professor associado do Programa de Ps-graduao em Desenvolvimento Sus-
Dicionrio da Educao do Campo
782
tentvel do Trpico mido, do Ncleo de Altos Estudos Amaznicos (NAEA),
e do Programa de Ps-graduao em Economia da Universidade Federal do Par
(UFPA), professor colaborador externo do curso de Ps-graduao em Cincia
do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e bol-
sista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientfco e Tecnolgico (CNPq).
GABRIEL GRABOWSKI doutor em Educao pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e professor e assessor de Assuntos Interinstitucionais
da Universidade da Federao de Estabelecimento de Ensino Superior em Novo
Hamburgo (Feevale).
GAUDNCIO FRIGOTTO doutor em Educao pela Pontifcia Universidade Cat-
lica de So Paulo (PUC-SP), professor do Programa de Ps-graduao em Polti-
cas Pblicas e Formao Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), scio fundador da Associao Nacional de Pesquisa e Ps-graduao em
Educao (Anped) e membro do Conselho Latino-Americano de Cincias Sociais
(Clacso) e do Instituto Pensamiento y Cultura en Amrica Latina (Ipecal).
GUILHERME DELGADO doutor em Cincia Econmica pela Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) e professor titular do Departamento de Eco-
nomia da Universidade Federal de Uberlndia (UFU), atuando, principalmen-
te, nos temas agricultura, poltica agrcola, poltica social, previdncia social
e previdncia rural.
HORACIO MARTINS DE CARVALHO engenheiro agrnomo pela Escola Nacio-
nal de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ),
consultor tcnico em planejamento agrcola e organizao social no campo e
militante social.
ISABEL BRASIL PEREIRA doutora em Educao pela Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo (PUC-SP) e professora-pesquisadora da Escola Politcnica
de Sade Joaquim Venncio (EPSJV/Fiocruz).
ISABELA CAMINI doutora em Educao pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS) e integra o Setor de Educao do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST).
ISLENE FERREIRA ROSA mestre em Sade Pblica pela Universidade Federal do
Cear (UFC) e integra o Ncleo Tramas da Faculdade de Medicina da mesma
instituio.
JACQUES TVORA ALFONSIN mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (Unisinos), advogado de movimentos populares, coordenador-geral da
ONG Acesso Cidadania e Direitos Humanos, e procurador aposentado do estado
do Rio Grande do Sul.
JADIR ANUNCIAO DE BRITO doutor em Direito do Estado pela Pontifcia Uni-
versidade Catlica de So Paulo (PUC-SP), professor de Direito Constitucional e
de Direitos Humanos na graduao e no mestrado em Direito e Polticas Pblicas
da Escola de Cincias Jurdicas da Universidade Federal do Estado do Rio de
Autores
783
Janeiro (UNIRio) e coordenador do Centro de Referncia em Direitos Humanos
(CRDH) da mesma universidade.
JOO MRCIO MENDES PEREIRA doutor em Histria pela Universidade Federal
Fluminense (UFF), professor adjunto de Histria da Amrica Contempornea da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e membro do Programa
de Ps-graduao em Histria da mesma universidade.
JOO PEDRO STEDILE economista pela Pontifcia Universidade Catlica
do Rio Grande do Sul (PUC-RS), ps-graduado em Economia Poltica pela
Universidade Nacional Autnoma do Mxico (Unam) e militante social da
Reforma Agrria.
JOHANNES DOLL doutor em Filosofa pela Universidade Koblenz-Landau
(Alemanha) e professor de Didtica Geral (graduao) e Educao e Envelheci-
mento (ps-graduao) da Faculdade de Educao da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS).
JORGE ALBERTO ROSA RIBEIRO doutor em Sociologia da Educao pela Universidad
de Salamanca (USAL), professor associado da Faculdade de Educao da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e coordenador do Programa de
Ps-graduao em Educao da mesma universidade.
JOS CARLOS GARCIA mestre e doutorando em Teoria do Estado e Direito Cons-
titucional pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e
juiz federal no Rio de Janeiro.
JOS CLUDIO ALVES mestre em Cincia Poltica pela Pontifcia Universidade
Catlica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), doutor em Sociologia pela Universida-
de de So Paulo (USP) e professor titular de Sociologia e pr-reitor de Extenso
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ).
JOS MARCELINO DE REZENDE PINTO doutor em Educao pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), professor associado da Faculdade de Filosofa,
Cincias e Letras de Ribeiro Preto da Universidade de So Paulo (USP) e ex-
diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).
JOS MARIA TARDIN tcnico agropecurio e graduando em Servio Social pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), integrante do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e membro da Coordenao da Escola Latino-
Americana de Agroecologia (ELAA).
JUVELINO STROZAKE doutor em Direito pela Pontifcia Universidade Catlica de
So Paulo (PUC-SP) e advogado.
LAIS MOURO S doutora em Antropologia pela Universidade de Braslia (UnB),
professora do curso de Licenciatura em Educao do Campo e membro do Pro-
grama de Ps-graduao em Educao da UnB.
LEONILDE SERVOLO DE MEDEIROS doutora em Cincias Sociais pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), professora do Programa de Ps-graduao em
Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade
Dicionrio da Educao do Campo
784
Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ) e pesquisadora do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientfco e Tecnolgico (CNPq) e da Fundao
de Amparo Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
LIA GIRALDO DA SILVA AUGUSTO formada em Medicina pela Universidade de
So Paulo (USP), doutora em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), pesquisadora responsvel pelo Laboratrio de Sade, Ambiente e
Trabalho do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhes da Fundao Oswaldo Cruz
(Fiocruz/PE) e professora adjunta da Faculdade de Cincias Mdicas da Univer-
sidade de Pernambuco (UPE).
LIA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA doutora pelo Programa de Ps-graduao
de Cincias Sociais em Desenvolvimento Agricultura pela Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), professora adjunta da UFRRJ,e coordenadora
da rea de Agroecologia e Segurana Alimentar da Licenciatura em Educao do
Campo, na mesma universidade.
LIA TIRIBA doutora em Cincias Polticas e Sociologia pela Universidade Com-
plutense de Madri, ps-doutora em Educao pela Universidade de Lisboa e pro-
fessora do Programa de Ps-graduao em Educao da Universidade Federal
Fluminense (UFF).
LISETE R. G. ARELARO doutora e livre-docente em Educao pela Universidade de
So Paulo (USP), professora titular do Departamento de Administrao Escolar e
Economia da Educao da Faculdade de Educao da USP, diretora da Faculdade
de Educao da USP, e pesquisadora na rea de Polticas Pblicas em Educao,
Gesto e Financiamento da Educao e Ensino Fundamental de Nove Anos.
LCIA MARIA WANDERLEY NEVES doutora em Educao pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisadora da Escola Politcnica de Sade
Joaquim Venncio (EPSJV/Fiocruz).
LUIZ CARLOS DE FREITAS ps-doutor em Educao pela Universidade de So
Paulo (USP) e professor titular da Faculdade de Educao da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) na rea de Teoria Pedaggica.
LUIZ CARLOS PINHEIRO MACHADO engenheiro agrnomo, doutor em Agronomia
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor catedrtico
aposentado da UFRGS e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pre-
sidente do Instituto Andr Voisin, colaborador dos movimentos sociais e consul-
tor agropecurio internacional.
MANOEL DOURADO BASTOS doutor em Histria pela Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp), ps-doutor em Histria Social do Trabalho pela Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC), professor substituto de Sociologia da Arte na
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), integrante do Coletivo de
Cultura do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pesquisador
dos grupos Modos de Produo e Antagonismos Sociais (FUP/UnB), Literatura
e Modernidade Perifrica e Forma Esttica (TEL/UnB), Processo Social e Edu-
cao do Campo (TEL/UnB).
Autores
785
MARCELA PRONKO doutora em Histria pela Universidade Federal Fluminense
(UFF) e professora-pesquisadora da Escola Politcnica de Sade Joaquim
Venncio (EPSJV/Fiocruz).
MARCELO CARVALHO ROSA doutor em Sociologia pelo Instituto Universitrio de
Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), professor do Departamento de Sociologia
da Universidade de Braslia UnB) e bolsista de Produtividade em Pesquisa do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfco e Tecnolgico (CNPq).
MRCIA MARA RAMOS licenciada em Educao do Campo pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e membro do Coletivo Nacional do Setor de
Educao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
MRCIO ROLO professor de Matemtica da Escola Politcnica de Sade Joaquim
Venncio (EPSJV/Fiocruz) e doutorando do Programa de Ps-graduao em
Polticas Pblicas e Formao Humana (PPFH) da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj).
MARCUS ORIONE GONALVES CORREIA doutor e livre-docente pela Faculdade de
Direito da Universidade de So Paulo (USP), juiz federal em So Paulo e professor
associado da Faculdade de Direito da USP, ministrando aulas na graduao e na
ps-graduao, nas reas de Direito da Seguridade Social e Direitos Humanos.
MARIA CIAVATTA doutora em Educao pela Pontifcia Universidade Catlica
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com ps-doutorado em Sociologia do Trabalho na
Universit degli Studi di Bologna (Itlia), professora titular em Trabalho e Edu-
cao associada ao Programa de Ps-graduao em Educao da Universidade
Federal Fluminense (UFF), professora visitante da Faculdade de Servio Social
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e pesquisadora do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientfco e Tecnolgico (CNPq).
MARIA CLARA BUENO FISCHER doutora em Educao pela University of
Nottingham, ps-doutora em Educao pela Universidade de Lisboa e professora
do Programa de Ps-graduao em Educao da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
MARIA CRISTINA VARGAS especialista em Educao do Campo pela Universidade
de Braslia (UnB) e membro da coordenao do Setor de Educao do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
MARIA LCIA DE PONTES defensora pblica do estado do Rio de Janeiro.
MARIA NALVA RODRIGUES DE ARAJO doutora em Educao pela Universidade
Federal da Bahia (UFBA), docente do departamento de Educao da Universi-
dade do Estado da Bahia (Uneb) e integra o coletivo de Educao de Jovens e
Adultos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Frum
Regional de Educao de Jovens e Adultos do Extremo Sul da Bahia.
MARILDA TELES MARACCI doutora em Geografa pela Universidade Federal
Fluminense (UFF) e ativista da Rede Alerta Contra o Deserto Verde/ES.
Dicionrio da Educao do Campo
786
MARLIA LOPES CAMPOS doutora em Sociologia pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), professora adjunta na Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ) e coordenadora pedaggica da Licenciatura em Educao do
Campo da mesma universidade.
MARISE RAMOS doutora em Educao pela Universidade Federal Fluminense
(UFF), professora do Programa de Ps-graduao em Polticas Pblicas e For-
mao Humana da Faculdade de Educao da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj), professora do Instituto Federal de Educao, Cincia e Tec-
nologia do Rio de Janeiro (IFRJ), em exerccio de cooperao tcnica na Escola
Politcnica de Sade Joaquim Venncio (EPSJV/Fiocruz), onde coordenadora,
e professora do Programa de Ps-graduao em Educao Profssional em Sade,
na mesma instituio.
MARLENE RIBEIRO doutora em Educao pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), ps-doutora em Polticas Pblicas e Formao Hu-
mana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), colaboradora do
Observatrio da Educao, fnanciado pela Coordenao de Aperfeioamento
de Pessoal de Nvel Superior (Capes) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), e professora e pesquisadora vinculada ao Programa
de Ps-graduao em Educao da Faculdade de Educao da UFRGS.
MAURCIO CAMPOS DOS SANTOS engenheiro civil e mecnico, assessor poltico e
tcnico de movimentos populares e militante da Rede de Comunidades e Movi-
mentos contra a Violncia.
MIGUEL ENRIQUE ALMEIDA STEDILE mestre em Histria pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenador do Instituto de Educao
Josu de Castro em Veranpolis (RS) e integrante do grupo de pesquisa Modos
de Produo e Antagonismos Sociais (FUP/UnB).
MIGUEL G. ARROYO doutor em Educao pela Stanford University, ps-doutor
em Educao pela Universidad Complutense de Madrid e professor da Faculdade
de Educao da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
MIGUEL LANZELLOTTI BALDEZ advogado popular, professor na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e assessor dos movimentos de luta pela terra,
urbanos e rurais. A partir dos anos de 1980, dedicou-se organizao do N-
cleo de Regularizao de Loteamentos Clandestinos e Irregulares da Procuradoria
Geral do Estado, uma demanda das comunidades excludas da cidade do Rio
de Janeiro.
MNICA CASTAGNA MOLINA doutora em Desenvolvimento Sustentvel pela
Universidade de Braslia (UnB), professora do curso de Licenciatura em Edu-
cao do Campo e membro do Programa de Ps-graduao em Educao, na
mesma instituio.
MNICA COX DE BRITTO PEREIRA biloga, doutora em Cincias Sociais em De-
senvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ), professora adjunta do Departamento de Cincias Geogrf-
Autores
787
cas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professora do Programa
de Ps-graduao em Geografa da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do
Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPE.
NELSON GIORDANO DELGADO mestre em Economia pela Universidade de Nova
York e doutor pelo Programa de Ps-graduao de Cincias Sociais em Desen-
volvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (CPDA/UFRRJ), e professor associado do CPDA/UFRRJ.
NILCINEY TON agrnomo, especialista em Educao do Campo e Desenvol-
vimento, integrante do Setor de Formao do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra do Paran (MST/Paran) e responsvel pelo acompanhamento
da rede de escolas de Agroecologia do MST e da Via Campesina no Paran.
OLAVO B. CARNEIRO mestre em Cincias Sociais pelo Programa de Ps-
graduao de Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ) e consultor em
desenvolvimento rural.
PAULO PETERSEN agrnomo, coordenador-executivo da Assessoria e Servios a
Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) e vice-presidente da Associao
Brasileira de Agroecologia (ABA).
PAULO ALENTEJANO doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), professor da Faculdade
de Formao de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) e pesquisador-visitante da Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio
(EPSJV/Fiocruz).
PAULO VANNUCHI mestre em Cincia Poltica pela Universidade de So Pau-
lo (USP), participou ativamente dos movimentos de resistncia ditadura civil-
militar (1964-1985), trabalhou na elaborao do livro Brasil nunca mais, coordena-
do por d. Paulo Evaristo Arns e ocupou o cargo de ministro de Estado chefe da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidncia da Repblica de 2005 a 2010.
PEDRO IVAN CHRISTOFFOLI doutor em Desenvolvimento Sustentvel pela Uni-
versidade de Braslia (UnB) e professor do curso de Agronomia e coordenador do
curso de Desenvolvimento Rural e Gesto Agroindustrial do Campus de Laranjei-
ras do Sul/PR, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).
RAFAEL LITVIN VILLAS BAS doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de
Braslia (UnB), professor de Licenciatura em Educao do Campo da Faculdade
UnB Planaltina (FUP/Unb), integrante do Coletivo de Cultura do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra e pesquisador dos grupos Modos de Produo
e Antagonismos Sociais (FUP/UnB), Literatura e Modernidade Perifrica (TEL/
UnB) e Forma Esttica, Processo Social e Educao do Campo (TEL/UnB).
RAQUEL MARIA RIGOTTO doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Cear
(UFC) e integra o Ncleo Tramas da Faculdade de Medicina da mesma instituio.
Dicionrio da Educao do Campo
788
REGINA BRUNO sociloga e professora do Programa de Ps-graduao de
Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ).
RENATO EMERSON NASCIMENTO DOS SANTOS doutor em Geografa Humana pela
Universidade Federal Fluminense (UFF) e professor adjunto do Departamen-
to de Geografa da Faculdade de Formao de Professores da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
ROBERTA LOBO doutora em Educao pela Universidade Federal Fluminense
(UFF), professora do Programa de Ps-graduao em Educao, Contextos Con-
temporneos e Demandas Populares (PPGEDUC) e coordenadora do curso de
Licenciatura em Educao do Campo, ambos da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ), e pesquisadora do Ncleo de Tecnologia Educacional
em Sade da Escola Politcnica em Sade Joaquim Venncio (EPSJV/Fiocruz).
ROBERTO LEHER doutor em Educao pela Universidade de So Paulo, professor
associado da Faculdade de Educao e da Ps-graduao em Educao da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), coordenador do Observatrio Social
da Amrica Latina, do Conselho Latino-Americano de Cincias Sociais (Clacso),
bolsista snior da Ctedra Ipea/Capes para o Desenvolvimento, do Instituto
de Pesquisas Econmicas Aplicadas (Ipea), e pesquisador do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientfco e Tecnolgico (CNPq).
ROBERTO MALVEZZI (GOG) formado em Filosofa e Estudos Sociais pela Fa-
culdade Salesiana de Filosofa, Cincias e Letras de Lorena, em So Paulo, e em
Teologia pelo Instituto Teolgico de So Paulo.
ROSELI SALETE CALDART doutora em Educao pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenadora da Unidade de Educao Superior
do Instituto Tcnico de Capacitao e Pesquisa da Reforma Agrria (Iterra) e
integrante do Setor de Educao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST).
SERGIO ANTONIO GRGEN religioso da Ordem dos Frades Menores (francisca-
nos), agente de pastoral em Hulha Negra, Diocese de Bag/RS, coordenador ge-
ral do Instituto Cultural Padre Josimo, membro do Conselho Estadual de Desen-
volvimento Econmico e Social do Estado do Rio Grande do Sul e coordenador
do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).
SRGIO HADDAD economista e pedagogo, doutor em Histria e Sociologia da
Educao pela Universidade de So Paulo (USP), diretor presidente do Fundo
Brasil de Direitos Humanos e assessor da ONG Ao Educativa.
SERGIO PEREIRA LEITE ps-doutor em Cincias Sociais pela cole des Hautes
tudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Frana, e professor associado do
Programa de Ps-graduao de Cincias Sociais em Desenvolvimento, Agri-
cultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ).
Autores
789
SRGIO SAUER doutor em Sociologia pela Universidade de Braslia (UnB) e pro-
fessor da Universidade de Braslia (FUP/UnB).
SIMONE RAQUEL BATISTA FERREIRA doutora em Geografa (Ordenamento Terri-
torial e Ambiental) pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora
do Laboratrio de Estudos dos Movimentos Sociais e Territorialidades (UFF).
SONIA REGINa DE MENDONA doutora em Histria pela Universidade de So
Paulo (USP), professora no Programa de Ps-graduao em Histria da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora nvel I do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientfco e Tecnolgico (CNPq).
VALTER DO CARMO CRUZ doutor em Geografa pela Universidade Federal Flu-
minense (UFF) e professor do Departamento de Geografa da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
VANDERLEIA LAODETE PULGA DARON mestre em Educao pela Universidade
de Passo Fundo (UPF), doutoranda em Educao na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e professora e pesquisadora do Grupo Hospitalar
Conceio, em Porto Alegre. Atua na rea de sade popular com o Movimento
de Mulheres Camponesas (MMC Brasil).
VNIA CARDOSO DA MOTTA doutora em Servio Social pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), professora adjunta da Faculdade de Educao da
mesma universidade, professora colaboradora do Programa de Ps-graduao
em Polticas Pblicas e Formao Humana da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) e bolsista jnior da Ctedra Ipea/Capes para o Desenvolvimen-
to, do Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas (Ipea).
VIRGNIA FONTES doutora em Filosofa pela Universidade de Paris X (Nan-
terre) e professora da Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio (EPSJV/
Fiocruz), do Programa de Ps-graduao em Histria da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF/MST).
Este livro foi impresso pela Cromosete Grfca e Editora, para
Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio/Fiocruz e
Editora Expresso Popular, em fevereiro de 2012. Utilizaram-se
as fontes Garamond e Humanst521 na composio, papel offset
75g/m
2
para o miolo e carto supremo 300 g/m
2
para a capa.
Anda mungkin juga menyukai
- TabelaDokumen2 halamanTabelaCarlos LiraBelum ada peringkat
- Metais PesadosDokumen14 halamanMetais PesadosCarlos LiraBelum ada peringkat
- 2012 GabaritoDokumen3 halaman2012 GabaritoCarlos LiraBelum ada peringkat
- Lista Introdução - 2Dokumen2 halamanLista Introdução - 2Carlos LiraBelum ada peringkat
- ApresentaçãoDokumen7 halamanApresentaçãoCarlos LiraBelum ada peringkat
- Arena ManancialDokumen2 halamanArena ManancialCarlos LiraBelum ada peringkat
- Business CardsDokumen1 halamanBusiness CardsCarlos LiraBelum ada peringkat
- Quero DescerDokumen1 halamanQuero DescerCarlos LiraBelum ada peringkat
- Quais Principais Diferenças Entre A Matriz Liberal e A Matriz MarxistaDokumen1 halamanQuais Principais Diferenças Entre A Matriz Liberal e A Matriz MarxistaCarlos LiraBelum ada peringkat
- Apontamento de DespesasDokumen1 halamanApontamento de DespesasCarlos LiraBelum ada peringkat
- Lista FQDokumen3 halamanLista FQCarlos LiraBelum ada peringkat
- Lou VoresDokumen2 halamanLou VoresCarlos LiraBelum ada peringkat
- O Que É SEMEARDokumen1 halamanO Que É SEMEARthiagoBelum ada peringkat
- Lou VoresDokumen2 halamanLou VoresCarlos LiraBelum ada peringkat
- Quimica Eletroquimica ExerciciosDokumen14 halamanQuimica Eletroquimica ExerciciosJoão FilhoBelum ada peringkat
- Lista SoluçãoDokumen3 halamanLista SoluçãoCarlos LiraBelum ada peringkat
- Câmpus CuritibaDokumen2 halamanCâmpus CuritibaCarlos Lira100% (1)
- CinéticaDokumen6 halamanCinéticaCarlos LiraBelum ada peringkat
- Leia Me PrimeiroDokumen1 halamanLeia Me PrimeirojbrennoBelum ada peringkat
- PQ de KWDokumen40 halamanPQ de KWCarlos LiraBelum ada peringkat
- Ácido BaseDokumen16 halamanÁcido BaseJairo MagaveBelum ada peringkat
- Ordem de ReaçõesDokumen2 halamanOrdem de ReaçõesCarlos LiraBelum ada peringkat
- Tabela Resumo Das Leis de Velocidade: DX DT K KT X A A A X) A KT Eq:ln (A X) LN KDokumen2 halamanTabela Resumo Das Leis de Velocidade: DX DT K KT X A A A X) A KT Eq:ln (A X) LN KCarlos LiraBelum ada peringkat
- Instituto Federal de EducaçãoDokumen5 halamanInstituto Federal de EducaçãoCarlos LiraBelum ada peringkat
- TemaDokumen6 halamanTemaCarlos LiraBelum ada peringkat
- Atendimento A GestanteDokumen1 halamanAtendimento A GestanteCarlos LiraBelum ada peringkat
- Declaração de Não AcúmuloDokumen1 halamanDeclaração de Não AcúmuloCarlos LiraBelum ada peringkat
- Declaração LiraDokumen1 halamanDeclaração LiraCarlos LiraBelum ada peringkat
- TemaDokumen6 halamanTemaCarlos LiraBelum ada peringkat
- Fia 1Dokumen14 halamanFia 1Carlos LiraBelum ada peringkat
- Manual de Eletromagnetismo Basico PDFDokumen581 halamanManual de Eletromagnetismo Basico PDFMaicon CarvalhoBelum ada peringkat
- Semiótica - Exemplo - DanielaCampelo 2101483 EfoliobDokumen5 halamanSemiótica - Exemplo - DanielaCampelo 2101483 EfoliobSophie PhiloBelum ada peringkat
- Bastardia e Ilegitimidade PDFDokumen26 halamanBastardia e Ilegitimidade PDFMarcio SoaresBelum ada peringkat
- Facite BannerDokumen1 halamanFacite BannerCristianeBelum ada peringkat
- 23 Cantadas Pesadas para Você Conquistar o Crush de Vez CLAUDIADokumen1 halaman23 Cantadas Pesadas para Você Conquistar o Crush de Vez CLAUDIAz BlueYBelum ada peringkat
- Aula 2 - Pseudo-Linguagem e FluxogramasDokumen10 halamanAula 2 - Pseudo-Linguagem e FluxogramasWagner CamargoBelum ada peringkat
- Relatorio Disciplina LutasDokumen6 halamanRelatorio Disciplina LutasJulio SouzaBelum ada peringkat
- V 20232 F 2 Filsocg 1Dokumen12 halamanV 20232 F 2 Filsocg 1joao antonio ciriloBelum ada peringkat
- 10 Desmonte Rochas Plano Fogo Céu Aberto ADokumen34 halaman10 Desmonte Rochas Plano Fogo Céu Aberto ANATALIA BORGESBelum ada peringkat
- Fotografia e História Boris KossoyDokumen2 halamanFotografia e História Boris KossoyTiago Martins100% (1)
- Apostila de Telemarketing v1Dokumen79 halamanApostila de Telemarketing v1Marcellus GiovanniBelum ada peringkat
- Introdução À Psicologia GenéticaDokumen2 halamanIntrodução À Psicologia GenéticaThuyse WengratBelum ada peringkat
- Conteúdo Assistência Pacientes GravesDokumen10 halamanConteúdo Assistência Pacientes GravesIgo RodriguesBelum ada peringkat
- O Guia Do Usuário de Salvia DivinorumDokumen11 halamanO Guia Do Usuário de Salvia DivinorumJulia KollontaiBelum ada peringkat
- Teoria Do RiscoDokumen18 halamanTeoria Do RiscoThiago Silveira100% (1)
- Alfabetização e Letramento Na Sala de AulaDokumen10 halamanAlfabetização e Letramento Na Sala de AulaRosane Minchin88% (8)
- 8 Ano Ensino ReligiosoDokumen14 halaman8 Ano Ensino Religiosojpaulomuniz1996Belum ada peringkat
- Apostila - Português 1 PDFDokumen280 halamanApostila - Português 1 PDFBárbara Apolyanna100% (1)
- Filosofia Do Virtual PDFDokumen214 halamanFilosofia Do Virtual PDFdervaljrBelum ada peringkat
- ListDokumen6 halamanListAnanda FreitasBelum ada peringkat
- Direito Administrativo - Fernanda MarinelaDokumen101 halamanDireito Administrativo - Fernanda MarinelaAurelio LouzadaBelum ada peringkat
- Salmo 100Dokumen2 halamanSalmo 100Alex Luiz100% (1)
- Locke, Ideias e Coisas - Michael AyersDokumen38 halamanLocke, Ideias e Coisas - Michael AyersLeandro SjpBelum ada peringkat
- Livro Pulsão FreudianaDokumen314 halamanLivro Pulsão FreudianasheilafonsecaBelum ada peringkat
- PUGLIESE, Adriana. EmpresaDokumen12 halamanPUGLIESE, Adriana. Empresamar-23423Belum ada peringkat
- Resumo As Limitações Do Método Comparativo Da AntropologiaDokumen2 halamanResumo As Limitações Do Método Comparativo Da AntropologiaElesion Do CarmoBelum ada peringkat
- Criacionismo - Biorritmo e o Sétimo DiaDokumen22 halamanCriacionismo - Biorritmo e o Sétimo Diadunhejapiim7778Belum ada peringkat
- Fiódor Dostoiévski - Uma Criatura DócilDokumen27 halamanFiódor Dostoiévski - Uma Criatura Dócilsemluz100% (3)
- A Águia e A Coruja, InterpretaçãoDokumen3 halamanA Águia e A Coruja, Interpretaçãoleesiqueira100% (2)
- História Da FilosofiaDokumen34 halamanHistória Da FilosofiaElis OliveiraBelum ada peringkat