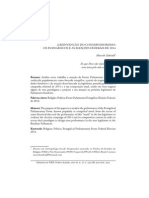O Dizivel e o Indizivel PDF
Diunggah oleh
Luiz Gustavo Correia0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
51 tayangan26 halamanJudul Asli
O dizivel e o indizivel.pdf
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
51 tayangan26 halamanO Dizivel e o Indizivel PDF
Diunggah oleh
Luiz Gustavo CorreiaHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 26
169
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
O dizvel e o indizvel:
narrativas de dor e violncia em crceres brasileiros
Adriana Rezende Faria Taets
USP
Os crceres brasileiros so perpassados por relaes violentas. A violn-
cia, compreendida como uma relao em que h um excesso de poder ou fora
num dos polos da relao, e um dano, no outro (Chau, 1985; Gregori, 1993;
Tavares, 2009), se d a partir de diversos pontos no crcere (Foucault, 1987),
estabelecendo ligaes diferenciadas, seja entre os prprios detentos e detentas,
entre a instituio e os presos, ou ainda entre os(as) guardas e os(as) reclusos(as).
O antroplogo, ao se aproximar desta instituio com o intuito de observ-la,
depara-se de imediato com histrias e narrativas em que a violncia, em suas
diversas possibilidades de manifestao e compreenso, se mostra presente.
Este artigo foi elaborado a partir dos resultados de minha pesquisa de mes-
trado (Taets, 2012), que teve como foco as trajetrias de agentes de segurana
penitenciria femininas no estado de So Paulo. Tal pesquisa voltou-se princi-
palmente para as narrativas sobre o crcere a partir do ponto de vista destas
agentes, nas quais a dor e a violncia se mostraram bastante presentes. Nesta
pesquisa, privilegiei a fala de diversas agentes penitencirias no intuito de com-
preender suas trajetrias profissionais, o que foi realizado a partir de entrevistas
em profundidade com cerca de 10 delas que trabalham na capital e no interior
do estado de So Paulo. Para o desenvolvimento deste texto, deter-me-ei na
narrativa de uma agente em especial, j que sua fala me permite trabalhar ques-
tes especficas que envolvem a dor e a memria nas histrias elaboradas sobre
o crcere brasileiro.
Quando iniciei a pesquisa com as agentes prisionais, meu foco voltou-se es-
pecificamente para as trajetrias profissionais destas mulheres: interessava-me
conhecer as estratgias utilizadas por elas para lidar com o trnsito cotidiano
entre o dentro e o fora dos presdios. No entanto, ao me aproximar de algumas
dessas mulheres, ao conversar com elas sobre sua profisso, percebi que, mais
que construir trajetrias, nossos encontros possibilitavam a elaborao de narra-
tivas sobre algo mais que o exerccio profissional. As histrias contadas por tais
mulheres extrapolavam o trabalho no interior do crcere, revelando o quanto as
fronteiras entre priso e sociedade extramuros so porosas.
1
Pude perceber que
170
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
h um fluxo contnuo de pessoas, materiais, ideias, sentimentos e convices
entre o interior do presdio e aquilo que se encontra ao seu redor, as narrativas
refletindo essa porosidade, derrubando uma ideia de separao rgida entre o
dentro e o fora do crcere.
Foi Leonor, uma dessas agentes prisionais, a partir da narrativa sobre sua
profisso enquanto guarda, que me possibilitou compreender que o trnsito
contnuo entre crcere e sociedade extramuros carregado no apenas de am-
biguidades nem sempre possvel saber o que est dentro e o que est fora do
crcere, o que vem de dentro e o que vem de fora mas tambm um movi-
mento bastante delicado e envolto em diversas esferas de dor. Conviver com a
precariedade existente nos presdios brasileiros e se sensibilizar com a experin-
cia das pessoas que se encontram reclusas so percebidos como uma experincia
dolorosa. Estar dentro do crcere e no se comover com essa realidade, por sua
vez, no se apresenta como uma sada, j que o resultado, de acordo com ela,
seria o embrutecimento e o adoecimento do profissional, em especial daqueles
que evitam uma postura mais sensvel.
possvel analisar as narrativas de Leonor a partir daquilo que Veena Das
(1999) chamou de trabalho do tempo, em que as experincias dolorosas vo ser
organizadas narrativamente e podem, portanto, ser compartilhadas, tornando a
experincia violenta algo mais compreensvel, porque passvel de compartilha-
mento (Halbwachs, 2006). Violncia e dor revelam-se, na narrativa de Leonor,
elementos fundamentais para a compreenso de sua prpria experincia, no en-
tanto, o exerccio narrativo transformar o vivido em histria contada que
permite tal compreenso, e este exerccio s possvel atravs de um distancia-
mento temporal, como veremos mais frente.
So as narrativas de Leonor, portanto, que norteiam a discusso que proponho
neste artigo, e elas se tornam o ponto de partida para questionar a maneira como
as narrativas provenientes do crcere so elaboradas desde elementos que lidam
com a dor e a memria, sendo o prprio exerccio narrativo de elaborao e
compartilhamento uma maneira de sobreviver a um cotidiano marcado pela pre-
cariedade, pela opresso e pelo medo, transformando tal realidade em algo mais
que apenas medo e dor. So as narrativas de Lo que passo, ento, a trabalhar aqui.
Advertncia
Enquanto me contava aquela histria horrvel, a Lo me olhava nos olhos.
A cada novo elemento na cena, ela se voltava para mim para se certificar de
minha ateno. Eu me sentia diluindo por dentro com o horror presente em
cada detalhe. Uma mulher, um avio, um beb. Aeromoas, servio de bordo,
171
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
passageiros. Tranquilidade, silncio, ausncia de choro. Ausncia completa de
qualquer choro. Voo internacional, alfndega. Desconfiana. Em solo, uma mu-
lher paraguaia sendo presa em terras brasileiras. Um beb oco, recheado de
pequenos pacotinhos. Trfico internacional de drogas. Homicdio tambm? No
sei. Infanticdio? Talvez.
A Lo ainda a me olhar nos olhos. Eu seria capaz de suportar aquela histria?
Voltaria a conversar com ela, a perguntar-lhe sobre acontecimentos, trechos mar-
cantes, relatos de um pedao de sua vida? Era esta, ento, a sua vida? Desviei o
olhar. Aquela cena abjeta se desenhando na minha cabea. Um beb recheado de
drogas. No podia ser verdade. No podia. Algo no combinava, faltavam elemen-
tos. No podia ser verdade. No podia. Olhei novamente para a Lo e, enquanto
esperava encontrar em seus olhos uma leve expresso de vitria sabia que essa
garota no suportaria no pude perceber nela um nico trao de maldade.
Seus olhos brilhavam com uma doura triste. Foi ao longo de muitos encon-
tros e muitas conversas que entendi o significado da primeira histria que ouvi
de Lo. Sua dura narrativa era um convite um convite triste. Se o que eu bus-
cava era conhecer a sua histria os acontecimentos que marcaram sua memria
eu deveria estar disposta a ter um encontro com a dor. Se eu pudesse enfrentar
a dor do horror, da irracionalidade de que capaz o ser humano, ento eu seria
bem vinda, e ela me contaria tudo o que eu quisesse saber.
Se no fosse capaz de tanto, a histria da Lo que eu viria a conhecer seria
diferente, ou nossos encontros terminariam ali. O que eu no imaginava era que
a minha persistncia acadmica, que me fez continuar com aqueles encontros
apesar da dor, apesar do horror me conduziria por caminhos insuspeitados
de doura e cuidado, de reinveno do ser humano em face de uma opresso
extrema e de amor ao prximo.
Encontrando-me com Lo
Leonor uma guarda conhecida nas rodas dos militantes de direitos huma-
nos que trabalham no crcere. Lembro-me de ter ouvido histrias sobre ela an-
tes mesmo de dar incio pesquisa de mestrado. O que me interessava eram suas
histrias de resistncia diante do sistema prisional e as diversas transferncias
entre presdios pelas quais havia passado no decorrer de sua carreira.
Como descrevi brevemente acima, logo no nosso primeiro encontro, assim
que lhe pedi que me falasse um pouco sobre sua trajetria profissional, as hist-
rias que ouvi vieram carregadas de elementos de violncia e dor. Lo, como ela
preferia ser chamada, no me poupava dos detalhes cruis e me escancarava, ali
numa padaria qualquer no centro de So Paulo, histrias de loucura e de dor que
172
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
eu no conseguiria imaginar sozinha. E no foram poucas histrias. A princpio,
sentia que ela me testava. Sa daquela primeira conversa abalada. Foram neces-
srias semanas para que eu conseguisse ligar para ela novamente e agendar um
novo encontro.
Durante algum tempo achei mesmo que Lo me desafiava propositalmente
e aceitei a empreitada. Voltei a conversar com ela. Foi no decorrer de outros
encontros, no entanto, que percebi que aquilo no se tratava de um desafio e sim
de um convite. As histrias que Lo me contava para traar sua trajetria eram
repletas de dor. Era a dor o marco principal de sua memria (Halbwachs, 2006)
e, se eu quisesse conhecer os marcos de sua experincia, deveria ento ser capaz
de compartilhar com ela esses momentos de dor extrema dela e daquelas que
por tanto tempo conviveram com ela em lados diferentes das grades.
Nos meandros da memria e da dor
No segundo encontro que tivemos, Lo chegou munida de diversos recortes
de jornais. Quando, na primeira conversa, eu disse que gostaria de conhecer a
sua histria enquanto guarda, ela me advertiu que tinha uma pssima memria,
no se lembrando de muitas coisas, j que acreditava que o uso contnuo de
maconha tinha prejudicado seriamente sua capacidade de lembrar. Por ter cons-
cincia dessas lacunas de sua memria, Lo coleciona recortes de jornais num
esforo de registrar sua prpria histria e poder voltar a ela depois. Comeou,
ento, a me mostrar fotos, recortes de jornais, cartas de presas que ficaram por
algum motivo em seu poder:
Essa foto um teatro que a gente fez com as bandidas, eu trouxe para voc
ver como era diferente antes, antes do partido (referindo-se ao Primeiro
Comando da Capital PCC), como as relaes ainda eram prximas. Essa
daqui a Maria Emlia, a chilena do sequestro do Ablio Diniz.
Metade da foto escura, sendo possvel distinguir apenas algumas silhuetas.
Na parte clara da fotografia veem-se trs mulheres fazendo alguma brincadeira
entre si, tm os rostos pintados, uma delas imitando um gato. possvel perce-
ber os uniformes das presas, tpico do sistema prisional paulista: cala cqui e
camiseta branca, todas iguais. Elas sorriem, parecem estar se divertindo.
Depois de me mostrar a fotografia, Lo me entrega alguns recortes de jor-
nais. Todas as notcias relacionam-se com algum tipo de denncia feita contra o
sistema prisional ou o sistema judicirio. Juiz diz que cumpriu a lei ao manter
priso o ttulo de uma reportagem que trata de uma senhora agricultora,
173
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
de 79 anos, que foi mantida presa por trfico de drogas (Folha de So Paulo,
28/11/2005, Cotidiano). Brasil tem vrias Iolandas, afirma Pastoral, repor-
tagem do mesmo jornal no dia seguinte, com o subttulo Mulheres detidas por
trfico que tm doena terminal no so raridade em prises, segundo coor-
denadora nacional (Folha de So Paulo, 29/11/2005, Cotidiano). Ameaadas,
presas so transferidas, reportagem que denuncia maus-tratos e tortura sofridos
por presas estrangeiras em confrontos com presas brasileiras ligadas ao PCC
(Estado de So Paulo, 14/10/2008, Cidades/Metrpole). Depois dessas reporta-
gens, ela me mostra uma srie de outras que tratam dos atentados que ocorre-
ram em maio de 2006 na cidade de So Paulo, e que foram atribudos ao PCC.
Por fim, Lo me entrega um volume de cartas, todas em ingls, dizendo que
foram barradas por um certo diretor que buscava, assim, prejudicar algumas
presas estrangeiras que realizavam trabalhos religiosos dentro dos presdios. O
contedo das cartas, segundo ela, voltava-se para maus-tratos sofridos dentro do
presdio, num pedido de ajuda. Por no saber ingls, Lo me conta que nunca
ficou sabendo do que realmente se tratavam as cartas. Entregou-as a mim e disse
que eu teria material farto para entender um pouco o que se passava nos pres-
dios onde ela trabalhava.
Durante nossas conversas, no entanto, pouco falamos de tais recortes de
jornais. Estes documentos dizem respeito, antes, a um registro da histria,
essa histria que, segundo Halbwachs (2006), se interessa pelo passado e no
pelo presente, por aquilo que a memria j no fixa mais, e que por isso pode
ser esmiuado sem esbarrar na opinio alheia de ento, sem despertar maio-
res emoes (Halbwachs, 2006:133). Os recortes de jornal trazidos por Lo
fixam datas, estabelecem linearidade, fazem-na recordar o que aconteceu antes
ou depois, auxiliam na construo de uma histria passvel de ser narrada de
forma organizada, tornando-se assim compreensvel. Os documentos que Lo
me oferece so, possivelmente, os nicos marcos temporais exteriores, fixados
objetivamente, que ela possui sobre sua trajetria profissional para alm de seu
pronturio, no qual ela encontra, tambm, as datas de cada transferncia que
vivenciou entre presdios paulistas.
Halbwachs (2006), ao trabalhar o conceito de memria coletiva e sua rela-
o com o tempo, afirma que apenas a partir do compartilhamento de certos
estados de conscincia individual de durao que somos capazes de criar marcos
temporais. O tempo real, para o autor, o tempo social, aquele em que se ex-
pressam as conscincias coletivas. Em oposio ao tempo matemtico marcado
por intervalos vazios de qualquer significado, no importando onde est o seu
incio o tempo social aquele em que possvel identificar diferenciaes
174
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
atravs do compartilhamento de conscincias individuais. A distino entre os
momentos e os espaos vazios entre eles um tempo em que nada acontece
o que possibilita, segundo o autor, o trabalho da memria. Neste sentido, a me-
mria s se d a partir da marcao de diferenas numa superfcie lisa. S assim
um indivduo, ou um grupo, pode identificar acontecimentos passados, pois eles
se diferenciam uns dos outros numa linha do tempo: possvel, ento, estabele-
cer o que veio antes, o que aconteceu depois etc. Esta diferenciao, no entanto,
s pode acontecer de acordo com marcos externos prpria conscincia:
Os homens concordam em medir o tempo atravs de certos movimentos que
ocorrem na natureza, como os dos astros, ou criados e regulados por ns,
como em nossos relgios, porque na sequncia de nossos estados de conscin-
cia no conseguiramos encontrar pontos de referncia definidos suficientes
que pudessem valer para todas as conscincias (Halbwachs, 2006:116).
nesse sentido que o trabalho da memria precisa de referncias externas
para que a conscincia no se perca em estados abstratos e por demais subjetivos.
Ao se utilizar de recortes de jornais referncia objetiva Lo estabelece
marcos externos para uma experincia subjetiva calcada em referenciais pouco
compartilhveis e apenas superficialmente objetivveis, como a dor que reco-
nhecia tanto nas experincias das presas quanto naquelas que ela prpria viven-
ciava. Deixando os recortes de jornais de lado, Lo se baseia em experincias
envoltas numa atmosfera densa de dor para ordenar a sua narrativa e dar, assim,
sentido sua trajetria profissional.
Os referenciais da memria de Lo voltam-se para experincias compar-
tilhadas com as presas. Num cotidiano de convivncia com tais mulheres, as
quais muitas vezes ela chama de bandidas, so as histrias de dor contadas,
compartilhadas e vivenciadas que saltam da simples sucesso dos dias e ficam
gravadas em sua memria. Todo o resto cotidiano. Todo o resto cenrio para
tais histrias. O dia a dia no crcere, o abrir e fechar das celas, a contagem das
presas, as conversas dirias, o cheiro da rua e o cheiro da cadeia, as desconfian-
as das presas, as desconfianas das guardas, as desconfianas da diretora, as
desconfianas dos familiares, tudo isso no passa de elementos que colorem as
histrias marcadas pela dor.
Os dias na priso so uma sucesso de presas chegando e saindo, cumprin-
do penas longas ou curtas e, no intervalo, acontecimentos especficos saltam da
sucesso dos dias e ficam guardados na memria de Lo. Diversas histrias em
que a dor ofusca a capacidade da razo foram contadas por ela, numa busca para
175
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
organizar a experincia e compartilhar a falta de sentido de uma trajetria mar-
cada pela sucesso de histrias de tortura, de abandono, de descaso e de opresso.
A dor, dessa forma, toma lugar como o marco da memria, como aquilo que
salta do cotidiano e possibilita, assim, uma organizao da narrativa. Mesmo que
a dor, por ser uma experincia em que duas conscincias tm to pouca possibili-
dade de se encontrar de forma objetiva, seja por si s difcil de ser compartilhada
(Halbwachs, 2006), era a certeza de que eu compreenderia tais experincias
certeza de que a dor , sim, algo passvel de ser minimamente objetivo que
levou Lo a me contar sua trajetria.
A narrativa de Lo sobre as dores presentes no crcere, no entanto, so cons-
trudas pelo trabalho do tempo. Num momento da vida profissional em que est
contando os dias que ainda faltam para se aposentar, ela se volta para o incio da
carreira e faz, ento, uma narrativa em que a experincia do outro das presas,
principalmente contada como parte da sua prpria experincia. Veena Das
(1999) aponta para a importncia do trabalho do tempo na elaborao de nar-
rativas sobre a violncia. Eventos violentos raramente so interpretados e reela-
borados no calor dos acontecimentos. A escrita destes textos, destas narrativas,
resultado de uma disputa de interpretaes, todas baseadas na autoridade de
seus locutores e, especialmente, no passar do tempo.
H, porm, uma diferena fundamental entre a narrativa da violncia cole-
tiva aquela que foi vivida por meio de experincias culturais compartilhadas
e aquela voltada para a experincia pessoal. Das aponta que a experincia in-
dividual da violncia raramente passvel de se tornar narrativa, permanecendo
na esfera do indizvel: nem o tempo seria capaz de trazer uma compreenso
compartilhada sobre eventos extremos vivenciados por uma pessoa. A narrativa
de Lo pode ser interpretada na chave indicada por Veena Das. J no final de
sua carreira, ela capaz de voltar e reinterpretar os acontecimentos violentos
presentes em sua trajetria profissional, em geral envolvendo outras pessoas,
trazendo para a sua histria uma esfera de dor e horror. No entanto, quando se
trata de elaborar a compreenso sobre as violncias que a afetaram diretamente,
Lo muda o tom da narrativa, recusando-se mesmo a falar sobre tais dores. A
experincia prpria permanece, nos termos de Das, indizveis. Trabalharei mais
frente este aspecto do indizvel e da experincia pessoal de Lo.
Segundo Halbwachs (2006), a dor uma sensao pessoal e interna, real
apenas no nvel da conscincia: tanto as dores fsicas como as sensaes no geral
constituem ideias confusas ou inacabadas (2006:122). No entanto, a partir do
momento em que descobrimos que esta dor pode ser causada por uma ao ex-
terior, torna-se possvel ento imaginar como outras pessoas experimentariam a
176
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
mesma sensao que sentimos. Este movimento de exteriorizao aquele que
chamado de representao objetiva da dor. Tal representao nada mais que
uma impresso coletiva, um amontoado de diversas conscincias, e que, por si s,
no deixa de ser tambm incompleta e truncada. Uma sensao to ntima quan-
to a dor experimentada s pode ser compreensvel na medida em que comparti-
lhada, j que esse seria o nico caminho no sentido de uma exteriorizao da dor:
Instintivamente procuramos e encontramos uma explicao inteligvel des-
te sofrimento, com a qual os membros de um grupo concordem, da mesma
forma com que o feiticeiro alivia o doente fazendo parecer que extrai de seu
corpo uma pedra, uma velha ossada, um preguinho ou um lquido. Ou ento
despojamos o sofrimento de seu mistrio descobrindo seus outros rostos, os
que ele volta para outras conscincias, quando imaginamos que pode ser expe-
rimentado por nossos semelhantes ns o rejeitamos a um terreno comum a
muitos seres e lhe restitumos uma fisionomia coletiva e familiar (Halbwachs,
2006:123).
Veena Das (1999) indica algo semelhante ao afirmar que as experincias vio-
lentas s so organizadas na memria a partir da construo coletiva de narra-
tivas. Nesse sentido, o fato de compartilhar, ou ainda, de disputar verses dos
acontecimentos violentos o que possibilita uma organizao da experincia vio-
lenta. Das afirma isto ao se voltar para as diversas histrias contadas sobre os
eventos extremos ocorridos durante a Partio da ndia, no ano de 1947, em que
mulheres foram raptadas e exiladas em funo de uma disputa entre hindus e
muulmanos. Anos depois, os eventos ocorridos em tal poca ainda so motivo
de contenda narrativa. Mas apenas a partir da construo de narrativas que os
envolvidos no drama de ento podem reorganizar a memria, elaborando ver-
ses e interpretaes legtimas para os acontecimentos vividos. o ato de narrar,
portanto, que permite o compartilhamento de nveis subjetivos da experincia
individual e coletiva. possvel perceber um movimento semelhante na narrativa
de Lo, que encontra seu nvel objetivo e objetificvel desde o momento em que
as experincias de dor e violncia se tornam passveis de serem compartilhadas.
A construo das narrativas e a dor
Na vspera do segundo turno das eleies presidenciais do ano de 1989, um
grupo formado por homens e mulheres apareceu na mdia com camisetas do PT
(Partido dos Trabalhadores). Este grupo era formado pela quadrilha que havia
sequestrado o empresrio Ablio Diniz, mantendo-o em cativeiro por seis dias.
177
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
A cobertura da mdia, atrelando o sequestro do empresrio atuao do Partido
dos Trabalhadores, teve consequncias decisivas para o resultado das eleies
presidenciais, j que depois de tais notcias os eleitores optaram por Fernando
Collor de Mello, que estava em segundo lugar nas pesquisas eleitorais, em detri-
mento do candidato do PT, Luiz Incio Lula da Silva.
2
Tal fato, conhecido, de certa maneira, pela populao brasileira j que se
tratava da primeira eleio presidencial democrtica aps a ditadura militar foi
escolhido por Lo como primeiro marco da narrativa de sua trajetria profissio-
nal. Localizando o princpio de sua histria em um fato amplamente conhecido,
Lo deu incio narrativa de uma experincia marcada pela tortura, o que a leva
diretamente para a esfera da dor.
Alguns jornais da poca divulgaram, um dia depois do resultado das eleies
(19 de dezembro de 1989), que os presos da quadrilha responsvel pelo seques-
tro na verdade haviam sofrido tortura nas delegacias e teriam sido obrigados a
vestir camisetas do Partido dos Trabalhadores, indicando um suposto envolvi-
mento poltico no sequestro. Lo, por sua vez, conta que foi ela quem recebeu as
duas mulheres que participaram do sequestro assim que chegaram ao presdio.
Antes da chegada das presas, Lo se lembra do quanto ficou tocada pela
imagem do empresrio veiculada pela mdia assim que saiu do cativeiro.
Segundo ela, o homem se encontrava abatido, sabia-se que havia ficado dias
em um quartinho minsculo, ao som ininterrupto de um radinho. Para Lo,
aquilo parecia desumano.
Outras imagens do ocorrido, no entanto, ficaram guardadas na memria de
Lo. As presas estrangeiras chegaram ao presdio torturadas. Elas estavam sem
o bico do seio, Lo repetia, estavam to torturadas, estavam sem o bico do
seio. Nesse momento, Lo parece se esquecer do que aconteceu do lado de fora
do crcere: empresrio, radinho, camisetas do PT, nada mais tinha importncia
diante de um corpo to torturado como o daquelas mulheres.
Esta foi a primeira histria que Lo contou quando comeou a falar sobre a
sua trajetria, dizendo que isto ocorreu assim que ela entrou para trabalhar no
presdio. No importa muito se o fato aconteceu no primeiro, no segundo, ou no
terceiro ano de profisso. Esta a histria nmero um, o mais antigo e impor-
tante evento que marca a trajetria profissional de Lo.
Outras histrias, no entanto, povoaram as narrativas de Lo.
Um quarto muito escuro
Ivonete no foi a primeira presa a surtar na cadeia desde que Lo havia as-
sumido o posto de guarda. Os surtos, sua maneira, eram comuns, e no era
o olhar de louca da presa o que tocava Lo, nem mesmo seus gritos agonizantes
178
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
de terror. Era o abandono a que a presa era relegada, era o seu poder de auto-
destruio, eram os cortes na pele, a escurido e a solido da cela do castigo que
moviam Lo na direo daquela presa interditada.
Essas eram as regras da cadeia, Lo bem sabia: bandida em castigo deve ficar
incomunicvel, deve sofrer, deve lidar com as prprias necessidades, com os
prprios dejetos, deve se virar para tomar banho na privada, deve aprender a
tratar de si mesma. Ivonete, no entanto, no conseguiu. O que conseguiu foram
cortes cotidianos na pele: primeiro um arranho no brao, depois outro no ou-
tro brao. Os cortes comearam a ficar mais fundos, ela j no sabia h quanto
tempo estava no castigo.
Era Lo, do lado de fora da cela, quem contava os dias. Ainda restava uma se-
mana de castigo e ela temia que a presa no suportasse. Pela portinhola da cela,
Lo observava os cortes, ouvia seus gemidos, imaginava a sua dor. Sabia que ela,
tambm, estava sendo observada, que no poderia intervir, que a presa deveria
ser abandonada prpria sorte. Presa em castigo merece o prprio sofrimento.
Castigo para a presa, castigo para Lo. Enquanto a presa gemia na cela, Lo s
fazia pensar em formas possveis de aliviar um mnimo do sofrimento cotidiano
daquela que poderia, por um motivo qualquer do destino, ser ela mesma.
Quando Lo percebeu que seu prprio limite estava prestes a estourar, no
suportando mais os gemidos de Ivonete, quando a loucura e a dor da presa es-
tavam prestes a se tornar a sua prpria loucura e a sua prpria dor, sentiu ento
que algo havia rompido dentro de si: ainda faltavam quatro dias de castigo e Lo
trouxe de casa, sob a roupa, em pequenas trouxinhas, gases e pores mnimas
de iodo em vidros diminutos.
Durante a troca de turno, Lo se demorava um pouco e, nos breves minu-
tos em que a outra guarda responsvel pelo pavilho se afastava, ela chamava a
presa para perto da portinhola, metia as mos para dentro da cela, embebia os
pequenos pedaos de gaze no pouco lquido que trazia consigo e, s cegas, es-
palhava iodo pelo corpo da presa, que no dizia nada, no se movia, mas sabia,
de maneira grave, que estava sendo cuidada por aquela que tambm vigiava a
porta de sua loucura.
Findo o castigo, a presa saiu da cela amarelada pelo pouco sol e pelo muito
iodo. As feridas j cicatrizadas, o cabelo tomado por piolhos, os olhos ausen-
tes. Enviada para a enfermaria, Lo no precisaria mais vigi-la nem cuidar
mais dela. Ivonete, no entanto, fincou razes na alma de Lo, que percebeu,
como num estalo, que poderia dali para frente cuidar da dor daquelas que
estavam to perto de si, mesmo que a cadeia dissesse a ela que isto era termi-
nantemente proibido.
179
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
A trama das histrias de dor narradas por Lo envolvem, na maioria das ve-
zes, elementos de luta contra o sistema prisional. Como no trecho acima, em que
reconstruo uma destas histrias, retratando no apenas a ao em si, mas os ele-
mentos afetivos e sensitivos presentes na fala de Lo, os relatos que escolheu para
me contar so carregados de smbolos de revolta e luta contra a opresso sofrida
dentro do crcere. Ao contar a sua histria a partir de histrias de dor das presas
com quem conviveu, Lo traa uma trajetria em que a militncia em favor dos
direitos humanos vai se delineando e tomando a dianteira da prpria ao.
A partir da histria das chilenas sequestradoras, Lo d incio a uma narrati-
va dura, em que, como mostrei no trecho acima, comea a realizar um trabalho
de cuidado dessas presas. Tal postura, no entanto, no foi imediata: assim que
comeou a trabalhar no presdio, ela temia o envolvimento com as presas, os
olhares das outras guardas, ter que ser disciplinada por no cumprir estritamen-
te as regras repassadas. Tais regras visam, antes de mais nada, a uma distncia
que deve ser mantida entre o grupo de guardas e o de presas. Qualquer envolvi-
mento mais prximo pode ser interpretado como traio, aquilo que pode faci-
litar fugas ou, ainda, como corrupo. Com regras explcitas como essas,
3
uma
postura que privilegiasse o cuidado com as presas era algo perigoso.
O primeiro posto assumido por Lo, assim que tomou posse na funo de
agente de segurana penitenciria, foi na incluso um local de triagem das
presas que esto chegando ao presdio. ali que se do os primeiros procedi-
mentos, assim como so repassadas as primeiras instrues para as presas. As
guardas alocadas em tal funo devem, alm de guardar os pertences que cada
presa trouxe consigo, ler o processo de seu julgamento para saber por qual tipo
de crime est cumprindo pena e, assim, poder encaminhar cada uma delas para
um pavilho adequado.
Este foi, segundo Lo, o primeiro contato que tomou com os crimes come-
tidos pelas presas. Ela deveria saber os motivos pelos quais tais mulheres esta-
vam cumprindo pena. Logo, antes de conhecer as detentas, Lo conhecia seus
crimes. Num segundo momento, quando ela passou a trabalhar no pavilho em
contato direto com as presas, foram as histrias contadas por elas para justifica-
rem seus crimes o que preenchia o cotidiano.
Ao conviver diretamente com as detentas e suas histrias, Lo comeou a
perceber que, apesar do crime cometido, havia ali um ser humano tambm pas-
svel de sentir dor. Para alm do que havia acontecido fora do presdio e dos
motivos que tinham levado essas mulheres a serem enclausuradas, Lo detectava
um cotidiano marcado por opresso opresso esta vinda do sistema prisional
tanto quanto das outras presas e das guardas.
180
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
Era de amplo conhecimento entre as funcionrias do presdio que a proximi-
dade entre guardas e presas era mal vista pelo sistema prisional. Neste sentido,
estender a mo para cuidar da dor de uma presa era algo proibido. Aos poucos,
no entanto, Lo foi ganhando confiana em relao sua prpria postura, ao
perceber que era possvel cuidar das presas sem se igualar a elas, sem negociar
com elas. A aprendizagem da carreira volta-se para um estado de equilbrio en-
tre o sim e o no, entre o permitir e o proibir.
4
Foi apenas quando Lo se sentiu
segura nesse equilbrio tnue, nessa relao delicada e tensa ao mesmo tempo,
que pde dar incio a um trabalho rduo de cuidado das presas. Foi s ento que
Lo comeou a levar vidrinhos de iodo escondidos na roupa para poder cuidar
de presas que julgava estarem sendo oprimidas pelo sistema prisional, tortura-
das, maltratadas por um estado que deveria, antes, cuidar delas.
Outros relatos de dor e de militncia comeam a preencher a fala de Lo.
Aos poucos, ela oferece um leque de pequenas histrias a partir das quais consi-
go perceber que a capacidade de sentir dor o que gera uma identificao dela
em relao s detentas:
5
uma camponesa de 79 anos que ficou detida por trfico
de drogas e no pde ser levada ao convvio com as outras presas, j que estava
doente em fase terminal, e que quedou por meses na enfermaria do presdio;
uma presa estrangeira que sofreu uma morte misteriosa, cujas correspondncias
eram barradas pelo diretor que tambm proibiu as guardas de prestarem ajuda;
uma me de santo que foi presa por ter participado de um ritual onde crianas
foram mortas; uma chinesa que, segundo Lo, sofria de mongolismo e foi pre-
sa por roubar um frasco de perfume numa farmcia.
Atravs dessas histrias, Lo vai me explicando como o sistema prisional
funciona, como ele segrega certas pessoas e lhes retira qualquer possibilidade de
defesa; como, apesar das leis que protegem os presos, os/as guardas e dirigentes
dos presdios agem revelia das mesmas, criando regras prprias dentro do cr-
cere, garantindo sua autonomia a partir da sombra que lanam sobre a realidade
prisional.
6
Para alm desta aula sobre a instituio prisional e o seu funciona-
mento, as histrias contadas por Lo me ajudam a compreender a maneira como
ela lida com esse sistema, e as estratgias que utiliza para sobreviver a ele, assim
como os elementos capazes de gerar identificao e distncia entre ela, as presas
e as demais guardas.
Suzane versus Andreia
De todas as histrias que Lo me contou, em apenas uma ela se colocou
numa postura contra a presa: foi o caso de Suzane Von Richthofen.
7
Diferente
de outros casos, Lo no precisava me contar a histria de Suzane, no precisava
181
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
relembrar qual o crime cometido por ela, j que o caso foi amplamente divulga-
do na mdia brasileira. Ela me dizia que matar pai e me algo horroroso, uma
pessoa assim no merece perdo. Lo relembrava que Suzane r confessa, que
assumiu perante o tribunal a participao no assassinato. Em funo das min-
cias do crime, Lo afirmava que Suzane no merece viver em sociedade.
Esta certeza a de que Suzane no merece viver em sociedade no vem
apenas do crime cometido, mas principalmente do convvio que Lo teve com
ela. Ela manipuladora, ela acha que pode tudo com aquela cabea, ela muito
inteligente, ela tentava se utilizar da minha homossexualidade para conseguir o
que ela queria. Pelo clamor popular que seu crime suscitou e pela natureza do
que havia cometido parricdio Suzane no poderia ficar no convvio com as
demais presas, j que seria maltratada ou, ainda, poderia ser morta pelas demais
detentas. Por isso, enquanto esteve presa onde Lo trabalhava, Suzane ficou todo
o tempo detida na enfermaria, protegida assim do contato com as outras presas.
Algum tempo depois, durante nossas conversas, Lo se lembrou do caso de
Andreia, outra presa que foi condenada por ter assassinado o pai e a me. Ao
contrrio de Suzane, Andreia foi colocada direto no convvio com as outras pre-
sas e teve sua mo tatuada por elas com o crime que cometeu: matei meu pai e
minha me. Lo conta que Andreia foi cruelmente torturada pelas detentas, e
me dizia: Imagina uma pessoa que sabe que est chegando a hora de apanhar,
porque ela apanhava todo dia, no mesmo horrio; quando chegavam as 10 ho-
ras, ela sabia que estavam vindo para bater nela. Eram as presas que decidiriam
quando chegaria o fim de sua pena, quando seria o momento em que, de tanto
apanhar, teria pagado o crime cometido.
Diferente de Suzane, Andreia no foi protegida pelo Estado e ficou merc
das demais presas. Lo, ento, se compadeceu do estado de Andreia e se es-
forou para cuidar dela, procurando oferecer, sua maneira, a proteo que o
Estado lhe negou. A dor de Andreia que era torturada diariamente atingiu
Lo. Quando perguntei a Lo o que havia de diferente entre as duas, querendo
saber qual o motivo pelo qual se identificava com Andreia, compadecendo-se da
sua dor, enquanto acreditava que Suzane, apesar de ter cometido o mesmo crime
imperdovel, segundo Lo no deveria voltar ao convvio com a sociedade,
Lo me respondeu que diante do sofrimento de Andreia, do corpo torturado,
ela esquecia qual o crime que fora cometido.
Andreia sofreu. Suzane, para Lo, no sofreu. Suzane foi protegida pelo
Estado e continuava sua carreira manipuladora. Andreia foi largada prpria
sorte em meio s presas furiosas em face do crime que tinha cometido. A dor de
Andreia tornava-a humana para Lo, o que no aconteceu com Suzane:
182
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
Quando eu descobria, era engraado, porque l dentro, pra mim, era outra
pessoa. Eu tinha tanto d de saber que a Andreia apanhava, eu esquecia que
ela tinha matado pai e me, ali eu convivia com a dor da Andreia, e a Andreia
era frgil.
Isto no significa que Suzane deveria ser torturada. Em momento algum Lo
esboou qualquer opinio neste sentido, sendo que, no caso de Suzane, o Estado
cumpriu o dever de garantir a sua segurana no presdio, o que no ocorreu com
Andreia, que tambm deveria ter recebido o mesmo tipo de proteo. No en-
tanto, o que se percebe que a dor que uma presa capaz de sentir se sobrepe
ao horror do seu crime aos olhos de Lo. O nico elemento de identificao
entre Lo e as mulheres que custodiava era a dor. Na ausncia de dor, ela se via
completamente diferente, mesmo que as origens sociais, o nvel educacional, ou
qualquer outro elemento as tornassem parecidas.
8
Lutando contra o sistema os bondes, as revoltas e o
adoecimento
Apesar de fazer parte do corpo funcional do sistema prisional, ao longo de
sua carreira Lo vai criando uma identidade de oposio instituio. Os limites
de sua luta so definidos a partir do prprio sistema prisional. No entanto, em
alguns momentos, Lo legitima o sistema: como no caso de Suzane Richthofen,
em que a pena de priso percebida como til para proteger a sociedade da con-
vivncia com esse tipo de criminosa.
A identidade de Lo enquanto profissional vai se colando sua trajetria de
luta a favor dos direitos de presos e presas. No entanto, como foi dito por ela
certa vez, o preso s existe dentro das grades, o que faz com que o significado
da vida de Lo se encontre tambm dentro das grades. Se o presdio deixa de
existir, o sentido da experincia de Lo se desvanece. A sua identidade criada
e mantida na luta contra o sistema.
9
A postura de luta foi se desenhando mais claramente a partir do momento
em que Lo passou a manter contato mais prximo com grupos militantes de
direitos humanos. No princpio, a ligao com tais grupos era extremamente
velada, num esforo de manter em sigilo a sua postura de cuidado e ateno com
as presas, evitando assim criar problemas com a instituio. Com o decorrer dos
anos, porm, Lo vai se tornando confiante a ponto de avaliar o sistema como
burro, ou seja, segundo ela, ele no percebe quem est agindo em seu interior.
Essa percepo se volta para a aparente falta de punio que sofreu por parte
da instituio, apesar de ter realizado diversas denncias. O que ela chama de
183
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
sistema burro nada mais que uma instituio que pune disciplinarmente os
presos problemticos, mas d um outro tipo de castigo muito mais velado,
muito mais sutil aos funcionrios tidos como indisciplinados. Por estar acos-
tumada com as punies voltadas para os presos, Lo no identifica as estrat-
gias da instituio para barrar os funcionrios transgressores como de fato uma
punio. Tais estratgias so percebidas por ela, antes, como estratgias de luta,
tanto suas quanto do sistema.
Punio exemplar
Cena 1
Um pouco antes de chegar em casa, Lo percebeu que a lanterna j ilumi-
nava pouco. Pilha porcaria essa que ela tinha comprado. Se quisesse voltar ao
presdio na noite seguinte, no mesmo horrio, para conseguir novos documen-
tos, deveria comprar pilhas novas. Sem problemas. As pilhas eram o de menos.
Ao abrir a porta do apartamento, sentou direto no cho da sala, arrancou
da cintura um punhado de papis e espalhou todos pelo cho. Eram cartas, do-
cumentos de transferncia, fotografias, tudo o que ela tinha conseguido rou-
bar da gaveta do diretor naquela noite. Havia tambm notas, alguns contratos.
Separou os documentos por categorias, talvez houvesse ali alguma coisa boa,
alguma prova de corrupo. Voltaria na noite seguinte ao presdio para devolver
os documentos j copiados e procurar outras provas, qualquer coisa que pudesse
derrubar o diretor. Era noite de sexta, ele s voltaria ao presdio na segunda, ela
teria ainda dois dias para terminar o trabalho.
Na noite seguinte, dirigiu-se novamente ao presdio, com entrada facilitada
por aqueles que admiravam a sua audcia, mas no tinham, nem de longe, a mes-
ma coragem. No escuro da cadeia, Lo, com sua lanterna e pilhas novas, dirigiu-
se sem dificuldades, mais uma vez, sala do diretor. Mais uma vez encontrou a
sala escura e vazia, devolveu os documentos da noite anterior, vasculhou outra
gaveta e outro armrio, baixou mais uma vez o gorro cobrindo todo o rosto e
saiu s pressas do presdio.
Tudo se passou como num filme. A diferena que nem mesmo na terceira
noite de ao houve qualquer pessoa na sala do diretor para acender a luz e dar
um flagrante em Lo.
Cena 2
Poxa, Lo, dessa vez voc pegou pesado, hein?
Ah, vai, no vai me dizer que agora voc vai ficar chateada s porque eu te
184
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
chamei de sapato enrustida...
Mas precisava pegar to pesado?
A gente conseguiu o que a gente queria, no conseguiu? Voc foi l e con-
seguiu encontrar o poro, do jeitinho que eu te falei, no foi? E melhor, ningum
desconfiou que fui eu quem fez a denncia pra voc, os caras tm certeza que eu
te odeio, que eu odeio todo o povo dos direitos humanos.
Puxa, e encontrar aquelas presas l, torturadas, escondidas naquele ala-
po, isso uma barbaridade.
Agora imagina a minha vida, nega, sabendo disso todos os dias, acompa-
nhando, e no podendo fazer nada! E se eles descobrem que fui eu quem falei o
local pra voc?
, depois do que voc disse, do jeito que voc falou comigo, acho difcil
eles acharem que foi voc...
E o que vai acontecer agora?
Agora t nas mos do Ministrio Pblico, a Pastoral j encaminhou a de-
nncia formal, bem provvel que o diretor caia depois disso tudo.
E eu?
Pode ficar tranquila, ningum sabe que foi voc.
Cena 3
Como de costume, Lo chegou um pouco antes das 7 da manh ao presdio
onde trabalhava. Esperou cinco minutos no porto e entrou para comear mais
um dia de trabalho. Ainda trazia no rosto um resqucio de esperana, uma ale-
gria contida pela denncia finalmente feita na semana anterior, pelo processo ao
qual o diretor responderia. Ela havia vencido, certamente havia vencido.
Distrada em pensamentos de esperana, no percebeu a guarda da portaria
dizendo que ela no poderia entrar. Voc foi transferida para a PFC,
10
foi o
que a guarda disse. Lo deu mais um passo e foi quando percebeu que a guarda
se colocou no seu caminho. O que houve, querida? A resposta foi a mesma. Ela
havia sido transferida para a Penitenciria Feminina da Capital. E melhor se
apresentar l hoje, seno um dia a menos de trabalho pago.
Do Tatuap at Santana
11
ela no gastaria muito tempo, daria ainda para
aproveitar o dia. Quando se apresentou na PFC, entendeu o recado: ela no
era bem vinda. O mximo que Lo conseguiu foi ficar no estacionamento.
Passaram-se meses, durante os quais ela revisou mentalmente cada denncia,
cada acontecimento, cada palavra do diretor. Ao final de 11 meses conseguiu
entrar no presdio novamente. Trazia nas mos um mandado de segurana, e no
banco uma dvida considervel advogado no coisa barata.
185
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
As trs cenas descritas acima apontam para formas especficas de Lo se
relacionar com o sistema prisional. A primeira ilustra uma estratgia de aes
clandestinas contra a instituio, ressaltando a maneira como tais aes passam,
a princpio, despercebidas. Na segunda, o dilogo retratado indica estratgias
de acobertamento das relaes que Lo mantinha com os militantes de direitos
humanos: na frente das outras guardas, ela se mostrava veementemente contra
essas pessoas, sendo que na verdade era ela quem levava as denncias para tais
grupos e garantia, assim, que as informaes sobre aquilo que acontecia dentro
do presdio chegassem at o Ministrio Pblico e algo fosse feito para punir os
responsveis pelas torturas e os maus-tratos que aconteciam dentro do crcere.
Nas duas primeiras cenas possvel notar estratgias de atuao contra a
instituio prisional de forma que Lo no fosse punida. E, de fato, ela nunca foi
punida formalmente por isso. Por muito tempo chegou a acreditar que a institui-
o no percebia aquilo que ela estava fazendo. O que Lo no sabia, no entanto,
que essa instituio contra qual ela lutava possua outros meios de punir os
funcionrios rebeldes.
a partir de uma srie de transferncias entre presdios, os chamados bon-
des, que Lo vai, aos poucos, sofrendo outros tipos de punio por parte da
instituio. De acordo com a sua fala, as transferncias entre unidades prisionais
aconteciam sempre depois que alguma denncia contra a instituio havia sido
feita, fosse ela a responsvel ou no, fosse uma denncia formalizada por ela
mesma, por instituies que trabalham em prol dos direitos humanos dos presos
e das presas, por algum jornalista ou pelo Ministrio Pblico. A instituio, que
ela chamava de burra, sabia bem por onde vazavam as informaes. E a sua
forma de punir no era pelo castigo fsico, nem mesmo pelo enclausuramento,
mas pelo desenraizamento ou pela segregao.
Ao entrar novamente no presdio, depois dos 11 meses impedida de traba-
lhar, como foi retratado no trecho acima, as coisas no foram fceis para Lo.
Mesmo depois de tanto tempo distante, ela ainda sentia que era percebida como
um risco para a instituio, j que poderia ser reconhecida pelas colegas de tra-
balho como uma guarda que conseguira se colocar contra o sistema prisional. A
instituio precisava, de alguma forma, neutraliz-la. As estratgias usadas pela
diretoria, segundo Lo, voltavam-se para a alocao de funcionrios proble-
mas em postos isolados, como nas guaritas de vigilncia (hoje um cargo espe-
cfico chamado AEVP agente de escolta e vigilncia prisional) ou na portaria.
a partir de episdios como esse, em que Lo ficou afastada do presdio e
da possibilidade de exercer a sua funo, que ela identifica o seu prprio pro-
cesso de adoecimento. Diferente de outras guardas, a narrativa de Lo aponta
186
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
para uma trajetria que revela momentos de doena que no esto ligados a uma
separao frgil entre a realidade do crcere e a existente fora dele,
12
mas a um
enfraquecimento em face das investidas da instituio contra o trabalho que ela
vinha realizando em favor dos direitos das presas.
O Primeiro Comando da Capital: desiluso, frustrao e delrio
Desde o segundo encontro que tive com Lo, em que ela trouxe recortes de
jornais, a presena do Primeiro Comando da Capital PCC mostrou-se forte
em sua fala. J ali Lo afirmava que no d para pensar na identidade do guarda
de hoje sem pensar na presena deste grupo nos presdios paulistas. Sua narra-
tiva sobre a prpria trajetria profissional e tambm as suas ponderaes sobre
a profisso de agente de segurana penitenciria so divididas temporalmente
pelo surgimento do PCC e o domnio que tal coletivo de presos passou a exercer
dentro dos presdios paulistas. O primeiro esforo, na fala de Lo, volta-se para
a legitimao do grupo enquanto realidade no sistema prisional. Os recortes de
jornais trazidos por ela apontam para uma resistncia do governo do estado de
So Paulo em reconhecer a sua presena no interior dos presdios, negando as-
sim uma suposta falta de controle do estado sobre a realidade prisional.
A postura de Lo, de legitimao do PCC, diz respeito a uma denncia contra
o Estado, que se recusa a olhar para o sistema prisional
13
e, principalmente, a agir
de forma a punir aqueles presos que, na viso dela, esto oprimindo outros pre-
sos.
14
Apesar de ter trilhado uma carreira voltada para o cuidado e a garantia dos
direitos dos presos, Lo, em momento algum, passa para o lado de l, ou seja,
mesmo agindo em prol dos presos, ela no se identifica com eles, no ultrapassa
as regras de forma a privilegiar uma vida bandida. diante do PCC e da sua ex-
panso dentro dos presdios paulistas que Lo se reafirma como uma guarda justa
e decente, que no negocia com os presos, apesar de lutar pelos seus direitos.
Foi a partir de um conflito envolvendo possveis relaes com o PCC que
Lo sinalizou o momento mais difcil de sua carreira, numa situao que ela
acredita ter quase ultrapassado o limite da loucura. Depois de ter realizado mui-
tas denncias contra o sistema prisional, ela se tornou uma guarda visada pela
instituio. Ela era, portanto, vigiada, e sentia que os diretores e os responsveis
pelo Sistema Prisional estavam apenas esperando qualquer erro de sua parte
para poder prejudic-la. Segundo ela, sua vida era uma eterna espera por uma
cama de gato. Um dia, a cama de gato chegou.
Depois de ter sofrido uma transferncia, Lo assumiu o posto na nova unida-
de prisional durante o final de semana. Quando se apresentou para trabalhar, per-
cebeu que o presdio estava esvaziado de funcionrios e, com isso, ela, sozinha,
187
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
no conseguiria dar conta de toda a tarefa de viglia e tambm de alimentao das
presas. Em face deste cenrio, Lo avisou s detentas que no poderia pagar o
almoo delas, tampouco concederia o banho de sol. Depois de explicar s presas a
situao, elas, por sua vez, resolveram se rebelar, tomando Lo como refm para
que o diretor da unidade aparecesse no presdio e resolvesse a situao.
Nada aconteceu com Lo. Ela no foi, em momento algum, prejudicada pe-
las presas. O diretor do presdio chegou, fez as negociaes cabveis e, no mesmo
dia, algumas internas foram transferidas para outro presdio, conforme a rei-
vindicao do coletivo. Como Lo era a nica guarda de planto, assim que foi
libertada da rebelio ela se encarregou das transferncias.
Dias depois, Lo soube que estava sendo acusada de ter organizado a rebe-
lio. O estranho, para quem estava de fora, era saber que ela tinha sido feita
refm, depois liberada e ainda se encarregara das transferncias, que eram, por
sua vez, reivindicao das presas. Como ela poderia ter sido feita refm e, ain-
da assim, atuado em prol das presas no momento das transferncias? Na viso
dos dirigentes do presdio, isto era subverso. Lo passa ento a ser acusada de
traio, por ter enquanto guarda incitado uma rebelio, organizado um conflito
contra o prprio Estado.
Esta foi a acusao feita pelos dirigentes. H ainda a verso do PCC, que se
incomodou com o fato de uma guarda que no era batizada no partido
15
ter or-
ganizado uma rebelio num presdio que estava sob o comando da organizao.
Com isso, a lder do coletivo naquela unidade foi acusada pelos seus lderes, e
passou, assim, a responder por contraveno a partir das regras do PCC. Esta
presa procurou Lo e pediu a ela que esclarecesse o ocorrido com a torre do
partido (forma como os lderes da organizao so chamados), afirmando para
eles que fora ela, a presa, e no Lo quem organizara a rebelio. Lo no achava
justo que a presa fosse condenada pelo PCC, assim como no achava justo tomar
para si a responsabilidade por um ato que ela considerava abjeto: traio.
Para resolver a situao, Lo pediu presa que passasse o recado para a torre
e que eles fizessem uma ligao para o presdio. O diretor, j avisado, assim que
recebeu a ligao, chamou Lo. Falar com a torre, no entanto, no era algo sim-
ples para ela: conversar com aquela que ela considera uma faco criminosa, ter de
dar explicaes a tal grupo era, para Lo, legitimar seu poder dentro dos presdios
e sobre os guardas em geral. Ter que dar satisfaes a um preso, e no ao Estado,
foi algo que causou profunda revolta nela, mas o fez apenas para proteger a presa.
A situao com o PCC foi resolvida. Os diretores que procuravam acusar
Lo de subverso no o fizeram por falta de provas e, com isso, ela no foi
acusada formalmente. No entanto, os problemas no foram resolvidos ali, j
188
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
que as suspeitas dos colegas sobre o seu envolvimento com o PCC perduraram.
Suspeitas que ela no poderia combater, j que no foram feitas formalmente.
Esta a verso de Lo sobre o que aconteceu no dia da rebelio na unidade
prisional e seus desdobramentos posteriores. Para ela, mais importante que as
acusaes formais foram as interpretaes que seus colegas fizeram sobre a sua
conduta uma postura que ela construiu ao longo de toda a sua carreira, reivindi-
cando para si o status de guarda justa. Nesse perodo, os colegas de Lo passaram
a evit-la. Dentro do presdio quase ningum conversava com ela. Ela , ento,
alocada para trabalhar na torre da muralha, espao diminuto em que o guarda
passa o dia inteiro sozinho, e no pode sair nem mesmo para ir ao banheiro.
Enquanto se encontrava bastante sozinha, Lo tentava organizar os eventos
em sua mente, procurando compreender a sequncia dos fatos, a maneira como
se deu aquele desfecho em que ela se sentiu acusada de um crime que no come-
teu traio. Foi ali, sozinha, na torre da muralha, que Lo se sentiu prxima da
loucura, j que se envolvera numa atmosfera de revolta, frustrao e, principal-
mente, vergonha dos olhares dos colegas que a acusavam. Lo passou dias sem
conversar com ningum, no se alimentava mais, j que no conseguia enfrentar
os olhares dos colegas durante as refeies.
Lo conta que se encontrava ento no limiar da loucura, no sendo mais ca-
paz de diferenciar as horas, os momentos de solido e, em especial, as lembran-
as dos ocorridos recentes e antigos. Aos poucos, ela vai se mutilando, cortando
um pouco do cabelo a cada dia. Depois de algum tempo, foram os militantes de
direitos humanos que se inteiraram de sua situao e procuraram ajuda mdica
para ela. Aos poucos, ela foi se reabilitando e voltou a trabalhar nos presdios.
Hoje, Lo est alocada num presdio semiaberto, em que o trabalho bem
mais tranquilo e no h uma estrita vigilncia sobre as presas. Ela pontua que
atualmente muito difcil realizar o trabalho que sempre exerceu nos presdios,
j que a presena do PCC impede qualquer tipo de atuao. Para ela, a impossi-
bilidade de tal trabalho faz com que a profisso perca seu sentido, pois sabe que
continuar vendo presas maltratadas sem, no entanto, poder agir como fazia
antigamente. Agora, so as prprias presas que recusam qualquer cuidado.
Antes Lo lutava contra uma instituio que ela avaliava como opressora, e
essa instituio era o Estado que a empregava. Hoje, a sua luta teria que se voltar
contra uma organizao que considera criminosa, que pouco conhece, que pou-
co se sabe sobre ela, que atua de forma ainda desconhecida e que, de acordo com
ela, muito mais opressora que o prprio Estado. Diante dessa realidade, Lo
preferiu, depois de tantos anos trabalhando e militando dentro do sistema pri-
sional, se afastar, atuando em presdio em que no existem presas maltratadas.
189
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
Com isso, ela evita conviver com a dor que sempre a acompanhou em sua car-
reira, porque agora, depois de tanto tempo lutando, ela no consegue fazer mais
nada. E por isso entende que no mais possvel ser guarda.
Consideraes finais
A anlise das narrativas de Lo lana luz sobre diversos aspectos sobre a
realidade prisional brasileira. Num primeiro momento, possvel compreen-
der alguns dos desafios vivenciados pelos profissionais que atuam dentro dos
presdios a partir da chave da experincia. O relato de Lo e as construes
narrativas elaboradas por ela permitem compreender a maneira como tal expe-
rincia interpretada pelo sujeito e, depois, reelaborada no nvel da narrativa.
importante ressaltar, na esteira de Veena Das, a distncia temporal que separa a
experincia de sua narrativa. Molloy (2004), ao trabalhar a escrita autobiogrfi-
ca na Amrica hispnica, aponta o quanto a escrita de vida, ou seja, o exerccio
de narrar a vida a partir de um exerccio da escrita, marcado por uma ruptura
do sujeito com o solo emprico. Lo capaz de contar a sua histria e a histria
daquelas com quem conviveu por quase 30 anos no sistema prisional porque j
se encontra em solo distante daquele onde as histrias ocorreram. Narrativa e
experincia ligam-se intimamente s h narrativa onde ocorreu a experincia
mas jamais se encontram no mesmo espao temporal.
As narrativas de Lo, como a de outras agentes prisionais que participaram
da pesquisa realizada, e tambm de tantos funcionrios que relatam suas hist-
rias a outros pesquisadores, permitem um conhecimento sobre o crcere que ul-
trapassa os dados institucionais disponibilizados pelas agncias do estado de So
Paulo. A partir daquilo que Lo conta sobre a priso, temos acesso no apenas
a mais um olhar sobre ela nesse momento, o olhar da agente prisional mas
tambm um olhar voltado para a experincia, o que extrapola a ideia de mais
um ponto de vista. Atravs das narrativas de Lo possvel conhecer o encontro
entre vrios grupos dentro do crcere e as consequncias desse encontro para
cada um deles. A fala de Lo revela, portanto, uma multiplicidade de vozes e de
formas de experimentar a vida na priso.
Para alm da esfera da experincia no crcere, as narrativas de Lo tambm
apontam para a possibilidade de pensar no compartilhamento da dor como algo
que constri narrativas, ou seja, em pensar a dor como uma experincia pas-
svel de ser compartilhada, mas que o apenas narrativamente. A experincia
indizvel, como alude Veena Das (1999), torna-se dizvel na narrativa a partir
da convico de que ela pode ser compartilhada. Narrar as dores do crcere
transforma-se, assim, em uma tarefa compreensiva: narrar para compreender,
190
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
compreender para reelaborar, reelaborar para passar a limpo. O eterno trabalho
da reescrita, como dizia Veena Das sobre as narrativas indianas sobre a Partio.
Nesse sentido, a narrativa de uma mulher sobre o crcere no aponta apenas
para a experincia individual. Ainda que Lo seja conhecida e reconhecida por
seus pares como uma agente prisional fora do comum, com uma experincia
profissional bastante diferente daquela de muitas outras guardas, ainda assim
sua narrativa no aponta apenas para si, e a anlise realizada informa muito mais
do que s sobre a vida ou os desafios de um indivduo. Lo no representativa
dentro de um grupo, suas experincias so mais distintas do que semelhantes
em relao a seus pares, mas sua trajetria e a maneira como ela escolhe para
narr-la nos informam sobre uma instituio o Sistema Prisional uma pro-
fisso agente de segurana penitencirio e, principalmente, sobre a experi-
ncia vivenciada dentro dos muros da priso no seu trnsito constante entre as
muralhas que pretendem separar tudo quanto acontece ali dentro das relaes
vivenciadas fora do crcere.
Recebido em: 03/02/2014
Aceito em: 22/04/2014
Adriana Rezende Faria Taets mestre em Antropologia Social pela
Universidade de So Paulo e doutoranda em Antropologia Social pela mesma
instituio. Atua como professora em instituies de ensino privado, tanto no
nvel superior quanto no ensino mdio. Contato: dritaets@yahoo.com.br
191
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
Notas
1. Pesquisas recentes sobre o crcere e suas relaes com o exterior apontam para
aspectos significativos sobre a porosidade que atravessa os muros da priso. Para isto, ver
Padovani (2014), Godoi (2010), Sabaini (2012), Sinhoretto (2013), entre outros.
2. O sequestro do empresrio Ablio Diniz foi bastante comentado na mdia na poca.
Alguns estudos realizados apontaram para o impacto causado nas eleies presidenciais
depois do ocorrido. Para maiores informaes, ver: http://www.redebrasilatual.com.br/
blog/blog-na-rede/em-1989-sequestro-de-abilio-diniz-foi-relacionado-ao-pt-e-desmenti-
do-logo-apos-eleicoes-mostra-pesquisa. Acesso em: 30/01/2012.
3. Analiso mais profundamente a relao entre as regras institucionais e a atuao
dos agentes prisionais em minha dissertao de mestrado. Ver Taets (2012); ver tambm
Marques (2009).
4. Em minha dissertao de mestrado analiso mais profundamente a aprendizagem
da profisso de agente prisional em relao s ordens internas que regem o cotidiano do
presdio e sua manipulao por parte tanto das agentes prisionais quanto das presas. Ver
Taets (2012).
5. A questo da identidade da agente prisional em oposio identidade das presas est
bastante presente na fala de diversas guardas com quem trabalhei durante a pesquisa, j
que a proximidade tanto fsica quanto social entre elas enorme. Para mais detalhes, ver
Taets (2012).
6. Castro e Silva (2008), a partir de pesquisa realizada em presdios fluminenses,
aponta o quanto as regras prisionais so negociadas constantemente dentro do crcere,
no sendo, pois, estabelecidas de antemo na letra da lei, mas antes no convvio prisional
entre agentes e detentos.
7. Suzane Von Richthofen foi condenada a 39 anos e meio de priso pela morte de seus
pais, o casal Manfred e Marsia Von Richthofen. Suzane confessou a participao no crime
e foi presa, juntamente com o namorado e o irmo deste, Daniel e Christian Cravinhos.
Folha.com, Cotidiano, 22/07/2006. Disponvel em: http://www1.folha.uol.com.br /
folha/cotidiano/ult95u124232.shtml. Acesso em: 29/12/2011.
8. Tambm em minha dissertao de mestrado discuto o quanto as origens sociais de
presas e agentes prisionais so parecidas, sendo compartilhados por elas, muitas vezes, os
mesmos bairros de origem, o nvel educacional etc. Ver Taets (2012).
9. Sistema a forma como a maioria das guardas nomeia o Sistema Prisional.
10. Penitenciria Feminina da Capital, presdio feminino na cidade de So Paulo, SP.
11. Tatuap um bairro na zona leste da cidade de So Paulo, enquanto Santana en-
contra-se na zona norte.
12. Na fala de diversas outras guardas entrevistadas para a pesquisa realizada, foi
192
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
possvel perceber que muitas delas identificavam um processo de adoecimento devido
dificuldade de separar as experincias vividas dentro do crcere e aquelas vivenciadas
fora dele. Ver Taets (2012).
13. Salla (2006), ao traar o histrico das rebelies prisionais no estado de So Paulo
a partir dos anos 1990, afirma que os coletivos de presos passaram a atuar de forma mais
organizada dentro dos presdios desde o momento em que o Estado abriu mo do controle
da dinmica prisional. Estudos mais recentes, no entanto, apontam para a maneira como a
presena deste coletivo vem organizando a dinmica prisional e tambm das periferias de
So Paulo. Tais estudos indicam um compartilhamento das responsabilidades entre Estado
e coletivo de presos, sempre numa relao tensa. Ver Sinhoretto, Silvertre e Melo (2013);
Feltran (2010); Biondi e Marques (2010), entre outros.
14. Biondi e Marques (2010), ao pesquisarem diferentes comandos de presos PCC
e CRBC encontraram-se diante de uma disputa discursiva em que historicidades diversas
eram acionadas para legitimar os grupos em confronto. Presos ligados ao PCC afirmam
que a atuao deste grupo humanizou os presdios, ou organizou o espao prisional de
forma a evitar a opresso entre os presos e as mortes dentro do espao prisional. Presos
ligados a outros grupos, no entanto, atestam que o PCC, na verdade, oprime a populao
prisional ao proteger apenas aqueles que esto formalmente ligados a este comando.
15. Ser batizada no partido significa fazer parte da organizao, atuando em seu favor.
Referncias bibliogrficas
BIONDI, Karina & MARQUES, Adalton. 2010. Memria e historicidade em dois co-
mandos prisionais. Lua Nova, So Paulo, 79:39-70.
CASTRO E SILVA, Anderson Moraes. 2008. Nos braos da lei. O uso da violncia negociada no
interior das prises. Rio de Janeiro: e+a.
DAS, Veena. 1999. Fronteiras, violncia e o trabalho do tempo: alguns dilemas wittgens-
teinianos. Revista Brasileira de Cincias Sociais, 14 (40): 31-42.
FELTRAN, Gabriel. 2010. Margens da poltica, fronteiras da violncia: uma ao co-
letiva das periferias em So Paulo. Lua Nova, So Paulo, n. 79:201-233.HALBWACHS,
Maurice. 2006. A memria coletiva. So Paulo: Centauro.
GINZBURG, Jaime. 2000. Notas sobre elementos de teoria narrativa. In Rildo Cosson
(org.). Esse Rio Sem Fim Ensaios sobre Literatura e suas fronteiras. Pelotas: UFPEL. pp. 113-136.
193
Adriana Rezende Faria Taets
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
GODOI, Rafael. 2010. Ao redor e atravs da priso: cartografas do dispositivo carcerrio contem-
porneo. Dissertao de Mestrado em Sociologia, Universidade de So Paulo.
MARQUES, Adalton. 2009. Crime, proceder, convvio-seguro: um experimento antropol-
gico a partir de relaes entre ladres. Dissertao de Mestrado em Antropologia Social,
Universidade de So Paulo.
MOLLOY, Sylvia. 2004. Vale o escrito. A escrita autobiogrfca na Amrica hispnica. Argos:
Chapec.
PADOVANI, Natlia Corazza. 2014. Confounding borders and walls. Documents, let-
ters and the governance of relationships in So Paulo and Barcelona prisons. Vibrant, 10
(2):340-376.
SABAINI, Raphael. 2012. Uma cidade entre presdios: ser agente penitencirio em Itirapina SP.
Dissertao de Mestrado em Antropologia Social, Universidade de So Paulo.
SALLA, Fernando. 2006. As rebelies nas prises: novos significados a partir da experi-
ncia brasileira. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, 16:274-307, jul./dez.
SINHORETTO, Jacqueline, SILVESTRE, Giane & MELO, Felipe. 2013. O encarcera-
mento em massa em So Paulo. Tempo Social Revista de Sociologia da USP, 25 (1):83-106.
TAETS, Adriana R. F. 2012. Abrindo e fechando celas: narrativas, experincias e identidades
de agentes de segurana penitenciria femininas. Dissertao de Mestrado em Antropologia
Social, Universidade de So Paulo.
TAVARES DOS SANTOS, Jos Vicente. 2009. Violncias e confitualidades. Porto Alegre:
Tomo Editorial.
Jornais consultados
Estado de So Paulo, Cidades/Metrpole, 14/10/2008.
Folha de So Paulo, Cotidiano, 28/11/2005 e 29/11/2005.
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u124232.shtml, Folha.com, Cotidiano,
22/07/2006. Acesso em: 29/12/2011.
194
O dizvel e o indizvel
Anurio Antropolgico / 2013, Braslia, UnB, 2014, v. 39, n. 1: 169-194
Resumo
Este artigo debrua-se sobre narrativas
do crcere. A partir da anlise das narrati-
vas sobre a trajetria profissional de uma
agente prisional em particular, possvel
pensar em diversos aspectos que envol-
vem a experincia dentro do crcere,
dentre eles, a dor, a memria e a violn-
cia. Desde os conceitos trabalhados por
Halbwachs sobre memria e Veena Das
acerca da experincia violenta e o traba-
lho do tempo, o artigo pretende abordar
a elaborao de narrativas de situaes
em que a dor e a violncia no apenas se
mostram presentes, mas principalmente
organizam a estrutura narrativa. Tendo
como base uma pesquisa etnogrfica re-
alizada com agentes prisionais femininas
no estado de So Paulo, o artigo discute
a maneira como a experincia no crcere
pode ser compreendida atravs das hist-
rias construdas no intuito de comparti-
lhar a dor vivenciada ali dentro.
Palavras-chave: Crcere, narrativa,
violncia, dor, experincia, agentes de
segurana penitenciria.
Abstract
This article aims to discuss prisons nar-
ratives. Through the analyses of a prison
safety guardian trajectory, it is possible
to think about a lot of issues, as we can
see: experience inside prison, pain,
memory and violence. Since the con-
cepts of Halbwachs about memory and
Veena Das about the violent experience
and the role of the time, this article aims
to privilege the narratives construction
on specially situations when the pain and
the violence are not just present, but, be-
sides that, they structure the narrative.
Based on the ethnographic data, from a
research realized with some prison safe-
ty female guardians in So Paulo, this ar-
ticle discuss how the prison experience
can be comprehend trough the narra-
tives built to share the pain that people
suffered inside there.
Key words: Prison, narrative, violence,
pain, experience, prison safety guard-
ians.
Anda mungkin juga menyukai
- A hermenêutica jurídica como teoria da interpretação e do poder simbólicoDokumen5 halamanA hermenêutica jurídica como teoria da interpretação e do poder simbólicoFelipe Rodolfo67% (3)
- Neotomismo e Serviço SocialDokumen20 halamanNeotomismo e Serviço SocialLakata_am100% (1)
- Contra a velha cinefilia: uma perspectiva feministaDokumen4 halamanContra a velha cinefilia: uma perspectiva feministaLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Aborto e CorporalidadeDokumen33 halamanAborto e CorporalidadeLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Objetivação participante: autoanálise e reflexividade científicaDokumen14 halamanObjetivação participante: autoanálise e reflexividade científicaLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Disputa Moral em Um Regime de Pânico - Koury e BarbosaDokumen16 halamanDisputa Moral em Um Regime de Pânico - Koury e BarbosaLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Dossiê Aborto - Estudos FeministasDokumen7 halamanDossiê Aborto - Estudos FeministasLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Panteras Negras Caderno-Completo PDFDokumen88 halamanPanteras Negras Caderno-Completo PDFLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Le Noire...Dokumen27 halamanLe Noire...Luiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Cirurgia Estética Étnica PDFDokumen30 halamanCirurgia Estética Étnica PDFLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Cadernos de Gênero e Diversidade UFBA/UNILAB - V. 2 N. 1Dokumen55 halamanCadernos de Gênero e Diversidade UFBA/UNILAB - V. 2 N. 1Luiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Color Conscious - AppiahDokumen2 halamanColor Conscious - AppiahLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- O Cultivo Do Ódio - Resenha PDFDokumen7 halamanO Cultivo Do Ódio - Resenha PDFLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Original Gregori Maria F. - Prazeres PerigososDokumen222 halamanOriginal Gregori Maria F. - Prazeres PerigososVinícius MauricioBelum ada peringkat
- O Feminino em Mídias DigitaisDokumen16 halamanO Feminino em Mídias DigitaisLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Antropologia Anarquista - Poder e HierarquiaDokumen5 halamanAntropologia Anarquista - Poder e HierarquiaLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Entrevista Massimo Canevacci - RCSDokumen22 halamanEntrevista Massimo Canevacci - RCSLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Afetos Na Política e Na Vida ÍntimaDokumen5 halamanAfetos Na Política e Na Vida ÍntimaLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- USP Filosofia Freud sexualidade identidadeDokumen108 halamanUSP Filosofia Freud sexualidade identidadeLucas MurariBelum ada peringkat
- Scum ZineDokumen56 halamanScum ZineAnaGualbertoBelum ada peringkat
- InformaçõesDokumen1 halamanInformaçõesLucas BaêtaBelum ada peringkat
- Doméstica - Resenha Marco Antonio GoncalvesDokumen9 halamanDoméstica - Resenha Marco Antonio GoncalvesLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Lévi-Strauss - Arte Mito História EstruturaDokumen14 halamanLévi-Strauss - Arte Mito História EstruturaLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Ebook Guia de Cultivo 1 PDFDokumen19 halamanEbook Guia de Cultivo 1 PDFRafael Lyra TeixeiraBelum ada peringkat
- Entrevista - RancièreDokumen7 halamanEntrevista - RancièreLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Ela Zefinha - o Nome Do AbandonoDokumen8 halamanEla Zefinha - o Nome Do AbandonoLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Antropologia e Ética - Ementa MuseuDokumen7 halamanAntropologia e Ética - Ementa MuseuLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- A Reinvenção Do Conservadorismo - TadvaldDokumen30 halamanA Reinvenção Do Conservadorismo - TadvaldLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- A Noção de Pessoa Na Moda e Na PublicidadeDokumen18 halamanA Noção de Pessoa Na Moda e Na PublicidadeLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Lista de Obras Utilizadas Na Disciplina Técnicas e Métodos de Pesquisa em AntropologiaDokumen13 halamanLista de Obras Utilizadas Na Disciplina Técnicas e Métodos de Pesquisa em AntropologiaLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- As Dificuldades Da Restituição - RialDokumen12 halamanAs Dificuldades Da Restituição - RialLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Caboclo GuerreiroDokumen100 halamanCaboclo GuerreiroLuiz Gustavo CorreiaBelum ada peringkat
- Dicionário Do SexoDokumen20 halamanDicionário Do SexoMauro MartinazoBelum ada peringkat
- PlanoEnsinoLeituraProduçãoTextosDokumen4 halamanPlanoEnsinoLeituraProduçãoTextosEzio SantosBelum ada peringkat
- Objeto e Método Da Análise Institucional LourauDokumen17 halamanObjeto e Método Da Análise Institucional LourauFernanda StenertBelum ada peringkat
- A presença de Camillo Sitte no urbanismo contemporâneoDokumen14 halamanA presença de Camillo Sitte no urbanismo contemporâneoRaquel WeissBelum ada peringkat
- Usos da fotografia na pesquisa antropológicaDokumen4 halamanUsos da fotografia na pesquisa antropológicaHippiasBelum ada peringkat
- Sequência Didática LeilaDokumen11 halamanSequência Didática LeilaLeila Aparecida KellerBelum ada peringkat
- Socialização adequada em sociedadesDokumen3 halamanSocialização adequada em sociedadesFelipe GameleiraBelum ada peringkat
- Haim Grunspun - Violncia e ResilinciaDokumen9 halamanHaim Grunspun - Violncia e ResilinciafrancischettoBelum ada peringkat
- Como elaborar briefingDokumen11 halamanComo elaborar briefingMarcosPauloGrilloBelum ada peringkat
- 24 Quadro Síntese Das Tendências PedagógicasDokumen2 halaman24 Quadro Síntese Das Tendências PedagógicasCamila SantanaBelum ada peringkat
- Anais Do 6º Encontro Celsul - Círculo de Estudos Lingüísticos Do SulDokumen11 halamanAnais Do 6º Encontro Celsul - Círculo de Estudos Lingüísticos Do SulLiteracia SapiensBelum ada peringkat
- A Fundação Do Funcionalismo (Cap. 7)Dokumen4 halamanA Fundação Do Funcionalismo (Cap. 7)Alanis LopesBelum ada peringkat
- Harry Potter e A Pedra Da NarrativaDokumen101 halamanHarry Potter e A Pedra Da NarrativaLohayne LimaBelum ada peringkat
- Apostila Mesa Radiônica Jun09Dokumen26 halamanApostila Mesa Radiônica Jun09Rodrigo Saron100% (21)
- O problema do mal em Agostinho de HiponaDokumen15 halamanO problema do mal em Agostinho de HiponaJessé JúniorBelum ada peringkat
- Análise Just in Time de Um Excerto de Fuga de BachDokumen16 halamanAnálise Just in Time de Um Excerto de Fuga de BachRitaBelum ada peringkat
- Questionário de PsicologiaDokumen4 halamanQuestionário de PsicologiaFrancisco Brito SouzaBelum ada peringkat
- O Direito e A SociedadeDokumen9 halamanO Direito e A SociedadeVarzua NZingaBelum ada peringkat
- A Importância Da Metodologia Científica para Estudantes No Contexto UniversitárioDokumen12 halamanA Importância Da Metodologia Científica para Estudantes No Contexto UniversitárioAlex Robson Dos Anjos Dos Santos100% (2)
- O Tesouro de Eça de QueirósDokumen2 halamanO Tesouro de Eça de QueirósBiblioESGBelum ada peringkat
- Descrição Objetiva x SubjetivaDokumen1 halamanDescrição Objetiva x SubjetivaAfonso Gomes100% (1)
- Resenha Dos Meios As MediaçõesDokumen19 halamanResenha Dos Meios As MediaçõesMarcus Dickson100% (1)
- Alterações Cognitivas, Comunicativas e Emocionais Após Lesão Hemisférica Direita PDFDokumen22 halamanAlterações Cognitivas, Comunicativas e Emocionais Após Lesão Hemisférica Direita PDFvaleskaBelum ada peringkat
- Bosi analisa influências culturais no BrasilDokumen4 halamanBosi analisa influências culturais no BrasilAdriana Marcon0% (1)
- Currículo Referência Da Rede Estadual de Educação de GoiásDokumen380 halamanCurrículo Referência Da Rede Estadual de Educação de GoiásMarlos Oliveira86% (21)
- A Homossexualidade Sob A Ótica Do Espírito Imortal - PDFDokumen6 halamanA Homossexualidade Sob A Ótica Do Espírito Imortal - PDFtiagopark0% (1)
- Pare de se importar com o que os outros pensamDokumen26 halamanPare de se importar com o que os outros pensamEFJTECBelum ada peringkat
- 4 O Diabo Veste PradaDokumen7 halaman4 O Diabo Veste PradaEneidavonEckhardtBelum ada peringkat