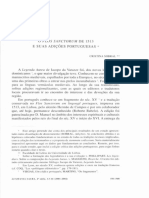O Retorno Do Real
Diunggah oleh
Daya GibeliJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
O Retorno Do Real
Diunggah oleh
Daya GibeliHak Cipta:
Format Tersedia
H
a
l
F
o
s
t
e
r
1
6
2
c
o
n
c
i
n
n
i
t
a
s
Richard Prince. Sem ttulos (sunset e cowboy), 1981 e 1989
1 6 3
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
O retorno do real
*
Hal Foster**
Em minhas lei turas dos modelos cr ticos em arte e teoria desde os anos 60,
tenho enfatizado a genealogia minimalista da neovanguarda. Na maior parte,
artistas e crticos dessa genealogia permanecem cticos com relao ao realismo
e ao ilusionismo. Dessa forma, eles continuaram a guerra da abstrao contra a
representao com outros meios. Como observado no Cap tulo 2, minimalistas
como Donald Judd viam traos de realismo tambm na abstrao, no ilusionismo
tico de seu espao pictrico, apagando estes ltimos vestgios da velha origem
da composio idealista um entusiasmo que os levou a abandonar a pintura
como um todo.
1
Significativamente, essa postura antiilusionista foi mantida
por mui tos artistas envolvidos com arte concei tual , cr tica insti tucional , arte
corporal, performance, site-specific, arte feminista e de apropriao. Mesmo que
realismo e ilusionismo tenham significado coisas adicionais nos anos 70 e 80
o prazer problemtico do cinema hollywoodiano, por exemplo, ou o elogio
ideolgico da cul tura de massas , eles continuaram sendo coisas ruins.
Porm outra trajetria da arte desde os anos 60 estava comprometida com
o realismo e/ ou idealismo: algo da pop arte, a maior parte do super-realismo
(tambm chamado de fotorrealismo), algo da arte de apropriao. Freqentemente
desbancada pela cr tica de genealogia minimalista na li teratura cr tica (ou
mesmo no mercado), essa genealogia pop hoje novamente de interesse, pois
ela complica as noes redutoras de realismo e ilusionismo propostas pela
genealogia minimalista e, de certa forma, igualmente ilumina o trabalho
contemporneo, que passa a ser renovado com essas categorias. Nossos dois
modelos bsicos de representao so praticamente incapazes de compreender
o argumento dessa genealogia pop: de que imagens so ligadas a referentes, a
temas iconogrficos ou coisas reais do mundo, ou, al ternativamente, de que
tudo que uma imagem pode fazer representar outras imagens, de que todas as
formas de representao (incluindo o realismo) so cdigos auto-referenciais. A
maior parte das anlises da arte do ps-guerra baseadas na fotografia faz a
diviso, de alguma forma, ao longo desta linha: a imagem referencial ou
simulacro. Esse ou isto/ ou aquilo redutivo determina as lei turas dessas artes,
especialmente da arte pop uma tese que vou testar inicialmente nas imagens
Death in America (Morte na Amrica), de Andy Warhol, do incio dos anos 60,
imagens que inauguram a genealogia pop.
2
No surpresa a lei tura do pop warholiano como simulacro por parte de
cr ticos associados ao ps-estruturalismo, para quem Warhol pop e, mais
importante, para quem a noo de simulacro, crucial crtica ps-estruturalista
da representao, parece s vezes depender do exemplo de Wahrol como pop. O
* O presente texto corresponde ao Captulo 5
do livro de mesmo nome: Hal Foster, The Return
of the Real , Londres: MIT Press, 1996.
** Hal Foster professor Townsend Martin de
arte e arqueologia na Universidade de Princeton.
autor dos livros The Return of the Real: The
Avant-Garde at the End of the Century e Compulsive
Beauty (ambos editados pela MIT Press).
1 De certa forma, a crtica ao ilusionismo continua
a velha histria da arte ocidental como a procura
da representao perfeita, tal como foi contada
de Plnio a Vasari e de John Ruskin a Ernst
Gombrich (que escreveu contra a arte abstrata);
s que, aqui, o objetivo est invertido: abolir
em vez de atingir essa representao. Mesmo
assim, essa inverso carrega a estrutura da velha
histria seus termos, valores, etc.
2 Deth in America foi o t tulo de um show
projetado para Paris das imagens electric chair
(cadeira eltrica), dogs in Birmingham (cachorros
em Birmingham) e car wrecks (carros destrudos),
e algumas suicide pictures (imagens de suicdio)
(Warhol, citado em Grene Swenson, What is
Pop Art? Anawers from 8 painters, Part I ,
ArtNews 62 [novembro 1963]; 26). Nos captulos
2 e 4 compliquei a oposio da histria da arte
entre representao e abstrao com o terceiro
termo do simul acro. A seguir compl icarei a
oposio representacional entre referente e
simulao de forma semelhante, com o terceiro
termo do traumtico.
Hal Fost er
1 6 4 concinnit as
que a pop art quer, escreve Roland Barthes em That Old Thing, Art (Aquela
velha coisa, arte, 1980), dessimbolizar o objeto, libertar a imagem de
qualquer significado profundo e si tu-la na superfcie enquanto simulacro.
3
Nesse processo, o autor tambm libertado: O artista pop no se encontra por
detrs de sua obra, cont inua Barthes, e el e mesmo no tem qualquer
profundidade: apenas a superfcie de suas imagens, nenhum significado,
nenhuma inteno em lugar algum.
4
Com algumas variaes, essa lei tura na
chave do simulacro realizada por Michel Foucaul t, Gilles Deleuze e Jean
Baudrillard, para quem profundidade referencial e interioridade subjetiva so
igualment e v t imas da pura superf i ci al idade pop. Em Pop An Art of
Consumption? (Pop uma arte de consumo?, 1970), Baudrillard concorda
que o objeto na pop perde seu significado simblico, seu status antropomrfico
de mui tos sculos, mas, onde Barthes e outros vem um rompimento
vanguardista com a representao, Baudrillard v o fim da subverso, a total
integrao da obra de arte na economia pol tica do signo de consumo.
5
A viso referencial do pop warholiano defendida por crticos e historiadores
que ligam a obra a temas diversos: os mundos da moda, da celebridade, da
cul tura gay, a Warhol Factory, etc. Sua verso mais inteligente encontra-se em
Thomas Crow que, em seu Saturday Disasters: Trace and Reference in Early
Warhol (1987), questiona as anlises de Warhol ligadas ao simulacro, que
afirmam serem as imagens indiscriminadas, e o artista, indiferente. Sob a superfcie
glamourosa do fetiche das mercadorias e estrelas das mdias, Crow encontra a
realidade do sofrimento e da morte; as tragdias de Marlyn, Liz e Jackie, em
particular, vistas como desencadeando a expresso direta de sentimentos.
6
Aqui Crow encontra no apenas um objeto referencial para Warhol, mas um tema
emptico em Warhol , e aqui ele si tua o carter cr tico de Warhol no num
ataque velha coisa, arte (como Barthes o queria) mediante a acei tao do
signo da mercadoria (como queria Baudrillard), mas antes numa exposio do
consumo complacente por meio do fato brutal do acidente e da mortalidade.
7
Dessa forma, Crow empurra Warhol para alm de sentimentos humanistas em
direo ao engajamento pol tico. Ele se sentia atrado pelas feridas abertas da
vida pol tica americana, escreve Crow numa lei tura das imagens de cadeiras
eltricas como propaganda de agi tao contra a pena de morte e das imagens
da race-riot como um testemunho em favor dos direi tos civis. Longe de ser um
puro jogo do significante libertado de qualquer referncia, Warhol pertence
tradio popular americana do truth telling (contar a verdade).
8
A lei tura do Warhol emptico, at mesmo engajado, uma projeo, mas
no mais do que a do Warhol superficial e indiferente, ainda que essa fosse sua
prpria projeo: Se quiser saber tudo sobre Warhol, apenas olhe para a superfcie
de minhas pinturas e filmes, e de mim mesmo, e l estou. No h nada por detrs
disso.
9
Ambos os partidos criam o Warhol que precisam ou obtm o Warhol que
3 Roland Barthes, That Old Thing, Art, in:
Paul Taylor, ed. Post-Pop (Cambridge: MIT Press,
1989), pp. 25-26. Por signi ficado profundo
Barthes quer dizer tanto associaes metafricas,
como conexes metonmicas.
4 Id., ibid., p. 26.
5 Jean Baudr i l l ard, Pop An Ar t of
Consumption?, in: Post-Pop, 33, 35. (Esse texto
foi extrado de La societ de consummation: ses
mythes, ses structures [Paris: Gallimard, 1970],
174-85.)
6 Thomas Crow, Staurday Disasters: Trace and
Reference in Early Warhol, in: Serge Guilbaut
(org.), Reconstructing Modernism (Cambridge: MIT
Press, 1990): 313, 317. Essa uma segunda
verso; a primeira apareceu em Art in America
(May 1987).
7 Id., ibid., p. 322.
8 Id., ibid., p. 324.
9 Gretchen Berg, Andy Warhol: My True Story,
Los Angeles Free Press, 17 de maro de 1963, 3.
Warhol continua: No havia nenhuma razo
profunda para fazer uma sri e sobre morte,
nenhuma v t ima de seu t empo; no havi a
nenhuma razo mesmo, apenas uma razo de
superfcie. Claro que essa insistncia pode ser
lida como uma negao, como um sinal de que
h uma razo profunda. Esse transitar entre a
superfci e e a profundidade constante no
pop e pode ser caract ersi t co do real ismo
traumtico.
O que, afinal, faz de Warhol o local de tanta
projeo? Ele posava como uma tela em branco,
com certeza, mas Warhol era muito consciente
dessas projees, de fato muito consciente do
mecanismo da identificao como projeo;
um de seus principais temas.
1 6 5
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
merecem; no h dvida de que isso ocorre com todos ns. E nenhuma das duas
projees est errada. Acho ambas igualmente persuasivas. Mas ambas no podem
estar corretas... ou ser que podem? Ser que podemos ler as imagens de Death
in America como referenciais e simulacros, conectadas e desconectadas, afetivas
e indiferentes, cr ticas e complacentes? Acho que devemos e podemos, se as
lermos de uma terceira maneira, nos termos do realismo traumtico.
10
Realismo traumtico
Uma forma de desenvolver essa noo pelo famoso moto da persona
warholiana: Quero ser uma mquina.
11
Normalmente essa declarao entendida
como confirmao da inexpressividade tanto do artista quanto da arte, mas ela
pode talvez apontar menos para um sujei to indiferente do que para um sujei to
em estado de choque, que assume a natureza daquilo que o choca, como uma
defesa mimtica contra o choque: Sou tambm uma mquina, fao (ou consumo)
imagens-produto em srie tambm, dou to bem (ou to mal) quanto recebo.
12
Algum disse que minha vida me dominou, declarou Warhol ao cr tico Gene
Swenson em uma famosa entrevista de 1963. Gosto dessa idia.
13
Aqui Warhol
acaba de admi tir entregar-se ao mesmo almoo todos os dias nos l timos 20
anos (o que mais seno sopa Campbell?). No contexto, ento, as duas declaraes
podem ser lidas como a predominncia da compulso a repetir colocada em
jogo por uma sociedade de produo e consumo seriais. Se voc no os pode
vencer, sugere Warhol , junte-se a eles. Mais, se voc entrar totalmente no jogo
talvez possa exp-lo, isto , voc talvez revele o automatismo ou mesmo o
autismo desse processo, por meio de seu prprio exemplo exagerado. Usado de
forma estratgica no Dad, esse capi talismo niilista era encenado de forma
ambgua em Warhol e, como vimos no Captulo 4, muitos artistas jogam com ele
desde ento.
14
(Evidentemente isso uma performance, h um sujei to atrs
dessa figura de no-subjetividade que a apresenta como uma figura. De outra
forma, o sujei to em choque seria um oximoro, pois no h um sujei to presente
para si mesmo no choque, quanto mais no trauma. Apesar disso, a fascinao em
Warhol que nunca se tem certeza sobre esse sujei to por detrs: h algum em
casa, dentro do autmato?)
Essas noes de subj et i vi dade em choque e repet i o compulsi va
reposicionam o papel da repetio na persona warholiana e nas imagens. Gosto
de coisas tediosas outro moto famoso dessa persona quase autista. Gosto que
as coisas sejam exatamente as mesmas sempre.
15
Em POPism (1980), Warhol
esboa essa acei tao do tdio, repetio e dominao: No quero que seja
essencialmente o mesmo quero que seja exatamente o mesmo. Pois quanto
mais se olha para exatamente a mesma coisa, tanto mais ela perde seu significado,
e nos sentimos cada vez melhor e mais vazios.
16
Aqui a repetio tanto uma
drenagem do significado quanto uma defesa contra o afeto, e essa estratgia j
10 Por razes que se esclarecero, no pode
existir um realismo traumtico enquanto tal. No
ent anto a noo t i l do ponto de vist a
heurstico mesmo apenas como uma forma de
superar as oposies contidas na nova histria
da art e (semi t i ca versus mtodos sci o-
histricos, texto versus contexto) e na crtica
cultural (significante versus referente, sujeito
construdo versus corpo natural).
11 Swenson, What is Pop Art?, p. 26.
12 Hesito entre produtoe imagem, fazer e
consumir porque Warhol parece ocupar uma
posio liminar entre as ordens de produo e
consumo; ao menos, as duas operaes se
embaralham em seu trabalho. Essa posio liminar
tambm explica minha hesitao entre choque,
um discurso que se desenvolve em torno de
acidentes no contexto da produo industrial,
e trauma, um discurso no qual o choque
r epensado por mei o de sua ef i c i nc i a
psicanaltica e fantasia imaginria e, portanto,
um discurso talvez mais pertinente a um sujeito
consumidor.
13 Sewenson, What is Pop Art?, p. 26.
14 Para niilistas captalistas no Dad, ver meu
artigo Armor Fou, October 56 (Spring 1991);
para o caso de Wahol, ver Benjamin Buchloh,
The Andy Warhol Line, in Gary Garrels (org.),
The Work of Andy Warhol (Seattle: Bay Press,
1989). Sugiro a seguir que hoje esse niilismo
freqentemente assume um aspecto infantil, como
se atuar (acting out) fosse o mesmo que fazer
performance.
15 Declarao no datada de autoria de Andy
Warhol , l i da por Ni chol as Love na mi ssa
celebrativa em memria de Andy Warhol, St.
Patricks Cathedral, Nova York, em primeiro de
abril de 1987, ci tado em Kynaston McShine
(org.), Andy Warhol: A Retrospective (Nova York:
Museum of Modern Art, 1989), 457.
16 Andy Warhol e Patt Hackertt, POPism: The
Warhol 60s (Nova York: Harcour t Br ace
Jovanovich, 1980), 50.
Hal Fost er
1 6 6 concinnit as
guiava Warhol desde cedo, como na entrevista de 1963: Quando se v uma
imagem medonha repetidamente, ela no tem realmente um efeito.
17
Claramente
essa uma das funes da repetio, ao menos da forma como foi compreendida
por Freud: repetir um evento traumtico (nas aes, nos sonhos, nas imagens)
de forma a integr-lo economia psquica, que uma ordem simblica. Mas as
repeties de Warhol no so restauradoras nesse sentido; no se trata do
controle sobre o trauma. Mais do que uma libertao paciente por meio do luto,
elas sugerem uma fixao obsessiva no objeto da melancolia. Pense apenas em
todas as Marilyns, o cultivo, colorao e listagem dessas imagens: na medida em
que Warhol retrabalha essas imagens de amor, uma melanclica psicose-desejada
parece entrar em jogo.
18
Porm essa anlise no est tambm exatamente correta.
Pois a repetio de Warhol no apenas reproduz efeitos traumticos; ela tambm
os produz. De alguma forma, nessas repeties, ento, ocorre uma srie de coisas
contradi trias ao mesmo tempo: uma evaso do significado traumtico e uma
abertura em sua direo, uma defesa contra afetos traumticos e sua produo.
Aqui devo explici tar o modelo terico que esteve subentendido at agora.
No comeo dos anos 60, Jacques Lacan estava preocupado em definir o real em
termos do trauma. Inti tulado O Inconsciente e a Repetio, tal seminrio
ocorreu mais ou menos contemporaneamente criao das imagens de Death
in America (no incio de 1964).
19
Porm, diferena da teoria do simulacro de
Baudrillard e companhia, a teoria do trauma de Lacan no foi influenciada pelo
pop. Ela , no entanto, informada pelo surrealismo, que aqui apresenta seu
efei to retardatrio sobre Lacan, algum associado ao surrealismo desde seu
incio, e abaixo afirmarei que a arte pop relacionada ao surrealismo enquanto
um realismo traumtico (certamente minha lei tura de Warhol surrealista).
Nesse seminrio, Lacan define o traumtico como um desencontro com o real .
Enquanto perdido, o real no pode ser representado; ele s pode ser repetido.
De fato ele deve ser repetido. Wiederholen, escreve Lacan em referncia
etimolgica idia de repetio em Freud, no Reproduzieren (50): repetio
no reproduo. Isso pode valer como ep tome tambm de meu argumento:
repetio em Warhol no reproduo no sentido da representao (de um
referente) ou simulao (de uma pura imagem, um significante desprendido).
Antes, a repetio serve para proteger do real, compreendido como traumtico.
Mas exatamente essa necessidade tambm aponta para o real , e nesse ponto o
real rompe o anteparo proveniente da repetio. uma ruptura menos no mundo
que no sujeito entre a percepo e a conscincia de um sujeito tocado por uma
imagem. Numa aluso idia de causalidade acidental de Aristteles, Lacan
chama esse ponto traumtico de touch; em Camera Lucida (1980) Barthes
chama-o de punctum.
20
esse elemento que nasce da cena, lanado para fora
dela como uma flecha e me atinge, escreve Barthes. aquilo que acrescento
fotografia e que mesmo assim j estava l. preciso, porm abafado. Grita em
17 Swenson, What is Pop Art?, 60. Isto ,
tem um efeito , mas no realmente. Uso afeito
no para reinstaurar uma experincia referencial,
mas, ao contrrio, para sugerir uma experincia
que precisamente no pode ser localizada.
18 Sigmund Freud, Mourning and Melancholia
(1917), in: General Psycological Theory, Philip
Rieff (org.), (Nova York: Collier Books, 1963),
166. O trabalho de Crow especialmente bom
no que diz respeito ao memorial de Warhol a
Marilyn, porm ele o l no sentido de um luto,
em vez de lhe atribuir um sentido de melancolia.
19 Ver Jacques Lacan, The Four Fundamental
Concepts of Psycoanalysis, trad. Alan Sheridan
(Nova York: W.W. Norton, 1978), 17-64; outras
ref ernci as est aro i ncl u das no t ext o. O
seminrio sobre o olhar (gaze), Of the Gaze as
Objet Petit a tem recebido mais ateno do que
o seminrio sobre o real, porm o ltimo tem a
mesma relevncia para a arte contempornea
quanto o primeiro (de qualquer forma, os dois
textos devem ser lidos em conjunto). Para um
uso provocante do seminrio sobre o real em
escri tos contemporneos, ver Susan Stewart,
Coda: Reverse Trompe LOeil / The Eruption of
the Real, in Crimes of Writing (Nova York: Oxford
University Press), 273-90.
20 Estou tentando entender aqui como o touch
representado na apreenso visual, diz Lacan.
Mostrarei que ao nvel do que chamo de
mancha que o ponto de tiche encontrado na
funo escpica (77). Esse ponto de tiche,
ento, est no sujeito, mas o sujeito enquanto
um efeito, uma sombra de uma mancha lanada
pelo olhar do mundo.
1 6 7
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
silncio. Estranha contradio: um raio flutuante.
21
Essa confuso sobre o
local da ruptura, touch, ou punctum, uma confuso entre sujei to e mundo,
entre o dentro e o fora. um dos aspectos do trauma; de fato, pode ser que essa
mesma confuso seja o traumtico. (Onde est sua ruptura?, pergunta Warhol
em uma pintura de 1960, baseada em uma propaganda de jornal, com uma srie
de flechas vol tadas para o buraco entre os seios de uma mulher).
Em Camera Lucida Barthes est preocupado com fotografias simples, assim,
ele si tua o punctum em detalhes de contedo. Esse raramente o caso em
Warhol . Porm h para mim um punctum (Barthes estipula que ele um efei to
pessoal) na indiferena do passante em White Burning Car I I I (Carro Branco
Queimando I I I, 1963). Tal indiferena em relao ao acidentado lanado sobre
o poste de telefone ruim o suficiente, mas sua repetio insuportvel e
aponta para a forma de funcionamento do punctum em geral em Warhol . Ele
funciona menos por meio do contedo do que da tcnica, especialmente pelos
raios flutuantes do processo do silkscreen, o escorregar e marcar, o alvejar e
esvaziar, o repetir e colorir das imagens. Para tomar outro exemplo, um punctum
aparece para mim em Ambulance Disaster (Desastre de Ambulncia, 1963) no
na mulher jogada na imagem de cima, mas na gota obscena que apaga sua
cabea na imagem de baixo. Nos dois casos exatamente como o punctum em
Gerhard Richter aparece menos nos detalhes do que no desfocar esparramado
das imagens assim o punctum em Warhol aparece no nos detalhes, mas no
pipocar (poping) repeti tivo da imagem.
22
Esses pops, como falhas no registro ou uma diluio na cor, servem como
equivalentes visuais de nosso desencontro com o real . O que repetido,
escreve Lacan, sempre algo que acontece... como por acaso. Portanto, como
esses pops: parecem acidentais, mas tambm parecem repetitivos, automticos,
mesmo tcnolgicos (a relao entre acidente e tecnologia, crucial para o
discurso sobre o choque, um tema importante em Warhol).
23
Dessa forma, ele
intervm sobre o nosso inconsciente ptico, um termo introduzido por Wal ter
Benjamin para descrever o efei to subliminar das modernas tecnologias de
imagem. Benjamin desenvolve essa noo no incio dos anos 30, respondendo
fotografia e ao cinema; Warhol a atualiza 30 anos mais tarde, respondendo
sociedade do espetculo do ps-guerra, aos meios de comunicao de massa e
mercadoria.
24
Nessas imagens do comeo de sua carreira, vemos o que o
sonhar a vida e o tempo na era da televiso ou, antes, o que ter pesadelo
enquanto v timas que se preparam para desastres que j chegaram, pois Warhol
seleciona momentos em que o espetculo racha (o caso do assassinato de JFK,
o suicdio de Monroe, ataques racistas), mas racham apenas para se expandir.
Portanto, o punctum em Warhol no nem estri tamente privado, nem
pblico.
25
Nem tem contedo trivial: uma mulher branca atirada para fora de
uma ambulncia ou um homem negro atacado por um co da polcia um
21 Roland Barthes, Cmera Lcida, trad. Richard
Howard (Nova York: Hill and Wang, 1981), 26,
55, 53.
22 Ainda outra situao desse pipocar (poping)
o apagamento da imagem (que freqentemente
ocorre nos dpticos, isto , um monocromo
prximo de um painel de um acidente de carro
ou de uma cadeira eltrica), como se ele fosse
um correlativo de um blackout.
23 Esse , alis, um tema modernista importante,
de Baudelaire ao surrealismo e alm. Ver Walter
Benj amin, On Some Mot i fs in Baudel aire
(1939), in Illuminations, trad. Harry Zohn (Nova
York: Schocken Books, 1969), assim como
tambm Wolfgang Schivelbusch, The Railway
Journal (Berkeley: University of California Press,
1986). Como aponto na nota 7, esse choque
ttil em Benjamin, como ele , de outra maneira,
em Warhol : Vej o t udo daquel a f orma, a
superfcie disso, uma espcie de Braille mental,
apenas passo minhas mos sobre a superfcie
das coisas (Berg, Andy: My True Story, 3).
24 De fato Benjamin apenas toca brevemente a
questo em A Short History of Photography
(1931), in Alan Trachtenberg (org.), Classic Essays
on Photography (New Haven: Leetes Island Books,
1980) e The Works of Art i n t he Age of
mechani cal Reproduc t i on (1936) , i n
Illuminations.
25 Isso igualmente verdade para Richter,
especialmente em seu conjunto de pinturas de
1988, October 18, 1977, no que diz respeito ao
grupo de Baader-Meinhof. O punctum dessas
pinturas, que so baseadas em fotografias de
membros de grupos, celas de priso, cadveres
e funerais, no um assunto privado, porm
tampouco pode ser explicado por um cdigo
pblico (ou studium no lxico barthesiano).
Isso igualmente fala a favor de uma confuso
traumtica das esferas pblica e privada.
Hal Fost er
1 6 8 concinnit as
choque. Mas, novamente, essa primeira ordem do choque protegida pela
repetio da imagem, ainda que essa repetio possa tambm produzir uma
segunda ordem do trauma, agora no nvel da tcnica, em que o punctum rompe
o anteparo e permi te ao real se expor.
26
O real, diz Lacan usando um trocadilho,
troumatic, e notei que para mim a gota no Ambulance Disaster um tal buraco
(trou), ainda que no consiga dizer que perda est figurada ali . Atravs desses
buracos ou pops, temos a impresso de tocar o real, que a repetio da imagem
ao mesmo tempo afasta e aproxima de ns. (s vezes a colorao da imagem
produz esse mesmo estranho efei to.)
27
Dessa forma, tipos diferentes de repetio esto em jogo em Warhol:
repeties que se fixam no real traumtico, que o protege, que o produz. E essa
mul tiplicidade d conta do paradoxo no apenas das imagens, que so ao
mesmo tempo afetivas e sem afeto, mas tambm dos observadores, que nem
esto integrados (o que o ideal da maior parte da esttica moderna: o sujei to
composto na contemplao), nem dispersos (o que o efei to de grande parte
da cultura popular: o sujeito entregue intensidade esquizide da mercadoria).
I never fall apart, comenta Warhol em The Philosophy of Andy Warhol (A
Filosofia de Andy Warhol, 1975), because I never fall together (jamais caio
aos pedaos (fall apart), porque no sou coerente (fall together).
28
Esse
igualmente o efei to de seu trabalho sobre o sujei to, e ele ressoa na produo
artstica que elabora o pop: novamente, em uma parte do super-realismo, da
appropriation art (arte de apropriao) e em algumas obras contempornea
envolvidas com o ilusionismo uma categoria, tal como a do realismo, que esse
tipo de arte nos convida a repensar.
Ilusionismo traumtico
Em seu seminrio de 1964 sobre o real , Lacan faz uma distino entre
Wiederholung e Wiederkehr. O primeiro a repetio do reprimido, enquanto
sintoma ou significante, que Lacan chama de automaton, tambm em aluso a
Aristteles. O segundo o retorno discutido acima: o retorno do encontro
traumtico com o real, algo que resiste ao simblico, que no de forma alguma
um significante, chamado por Lacan, como dissemos, de touch. O primeiro, a
repetio do sintoma, pode conter ou proteger o segundo, isto , o retorno do
real traumtico, que, no entanto, existe para alm do automaton dos sintomas,
para alm da insistncia do signo. De fato, para alm do princpio do prazer.
29
Acima relacionei essas duas formas de recorrncia aos dois tipos de repeties
na imagem warholiana: a repetio de uma imagem a fim de proteger contra um
real traumtico, que, apesar disso, retorna, acidental e/ ou obliquamente, no
prprio anteparo. Agora me aventurarei em outra analogia com referncia arte
super-realista: s vezes seu ilusionismo to excessivo que parece ansioso
ansioso para encobrir o real traumtico , mas essa ansiedade nada mais faz do
26 O choque pode existir no mundo, mas o
trauma se desenvolve apenas no sujeito. Como
observamos nos captulos 1 e 7, so necessrios
dois traumas para efetuar um trauma: pois para
que um choque se transforme em trauma, ele
deve ser recodificado por um evento posterior;
isto o que Freud quis dizer com ao atrasada
(nachtrglich). Com relao a Warhol, isso sugere
que o choque do assassi nato de JFK ou o
suicdio de Monroe tornou-se trauma apenas
posteriormente, aprs-coup, para ns.
27 O colorir pode lembrar o vermelho histrico
que Marnie v no filme epnimo de Hitchcock
(1964). Porm esse vermelho muito codificado,
seguro por ser simblico. As cores de Warhol
so arbitrrias, cidas, eficientes (especialmente
nas imagens da cadeira eltrica).
28 Warhol, The Philosophy of Andy Warhol, 81.
Em Andy Warhols One-Dimensional Art: 1956-
1966, Benj ami n Buchl oh argument a que
consumidores (...) podem celebrar nas obras
de Warhol seu prprio status de ter sido apagado
enquanto sujeitos (in McShine, Andy Warhol: A
Retrospective, 57). Essa posio a oposta de
Crow, que af i rma que Warhol denunci a o
consumo complacente. Novamente, em vez de
escolher entre as duas, devemos pens-las em
conjunto.
29 O sintoma nos puxa de vol ta ao mesmo
pont o (os t rocadi l hos de Lacan sobre a
etimologia de Wiederholen puxam novamente),
mas ao menos essa repetio nos oferece uma
consistncia, at mesmo um prazer. O real , ao
contrrio, retorna violentamente ao simbl ico
(novamente, ele no pode ser assimilado al i)
para nos derrubar. Enquanto ruptura, ele ao
mesmo tempo exttico e mortfero, precisamente
al m do pri nc pio do prazer, e deve ser
vinculado de alguma forma pelo sintoma, se
por mais nada.
1 6 9
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
que indicar igualmente esse real.
30
Tais analogias entre o discurso psicanal tico
e as artes visuais valem pouco, se nada fizer a mediao entre os dois. Porm,
aqui, tanto a teoria quanto a arte relaciona a repetio questo da visualidade
e do olhar (gaze).
Mais ou menos contemporneo divulgao do pop e ao nascimento do
super-realismo, o seminrio de Lacan sobre o olhar sucede quele sobre o real;
ele mui to ci tado, mas pouco compreendido. possvel que haja um olhar
masculino e que o capi talismo esteja vol tado para o sujei to masculino, mas
esses argumentos no encontram sustentao nesse seminrio de Lacan, para
quem o olhar no est incorporado a um sujei to, pelo menos numa primeira
instncia. Numa certa medida, semelhana de Jean-Paul Sartre, Lacan distingue
entre o ver (ou o olho) e o olhar, e em certa medida, como Merleau-Ponty, ele
si tua esse olhar no mundo.
31
Em Lacan, o que ocorre com a linguagem tambm
ocorre com o olhar: ele preexiste ao sujei to, que, olhado por todos os lados,
no mais do que uma mancha no espetculo do mundo. Portanto,
posicionado, o sujei to tende a sentir o olhar como uma ameaa, como se o
questionasse, e por isso que, de acordo com Lacan, o olhar, qua objet a, pode
vir a simbolizar essa fal ta central expressa no fenmeno da castrao.
Ainda mais do que Sartre e Merleau-Ponty, portanto, Lacan desafia o velho
privilgio do sujei to na viso e na autoconscincia (o vejo-me vendo a mim
mesmo que fundamenta o sujeito fenomenolgico), assim como o velho domnio
do suj ei to sobre a represent ao (esse aspecto de pert ena a mim da
representao, to sugestivo de propriedade, que imbui o sujeito cartesiano de
poder). Lacan subjuga esse sujei to na famosa anedota da lata de sardinha que
boiava no mar, brilhando ao sol, parecendo olhar para o jovem Lacan que estava
30 Como veremos, esse ponto troumtico pode
ser associado com o ponto central na perspectiva
linear, a partir do qual o mundo retratado retribui
o olhar do observador. A pintura de perspectiva
tem formas diferentes de sublimar esse buraco:
em pinturas religiosas o ponto freqentemente
representa a infinidade de Deus (na ltima Ceia,
de Leonardo ele toca o halo de Cristo), na pintura
de paisagem, a infinidade da natureza (existem
muitos exemplos americanos no sculo XVI I I), e
assim por diante. A pintura super-realista, eu
sugiro, sel a ou mistura esse ponto com a
super f c i e, enquant o mui t o da ar t e
contempornea procura apresent-lo dessa forma
ou ao menos opor-se a sua f orma de
sublimao tradicional.
31 Lacan apia-se, em particular, no Sartre de
Being and Nothingness (1943) e no Merleau-Ponty
de The Phenomenology of Perception (1945).
Hal Fost er
1 7 0 concinnit as
no barco de pesca ao nvel do ponto de luz, o ponto a partir do qual tudo o que
olha para mim est si tuado. Portanto, visto de seu ponto, figurado como ele/
ela o figura, o sujei to lacaniano est fixo numa dupla posio, o que leva Lacan
a sobrepor ao cone tradicional da viso que emana do sujei to outro cone que
emana do objeto, no ponto da luz que ele chama de olhar.
O primeiro cone fami l i ar a part ir dos trat ados de perspect iva do
Renascimento: o sujei to evocado como o mestre do objeto, ordenado e
focado como uma imagem posicionada para ele/ ela, a partir de um ponto de
vista geomtrico. Porm, Lacan acrescenta imediatamente, no sou simplesmente
esse sujei to puntiforme localizado no ponto geomtrico a partir do ponto em
que a perspectiva compreendia. No h dvidas de que no fundo de meus
olhos, a figura est pintada. A figura est certamente dentro de meus olhos. Mas
eu, eu estou na figura.
32
Isto , o sujei to tambm est sob a considerao do
objeto, fotografado por sua luz, figurado por seu olhar: portanto, a sobreposio
dos dois cones, com o objeto tambm no ponto da luz (do olhar), o sujei to
tambm no ponto da figura, e a imagem tambm alinhada com o anteparo.
O significado deste l timo termo obscuro. Entendo que ele se refira
reserva cul tural da qual cada imagem uma instncia. Podemos cham-la de
convenes da arte, a schemata da representao, os cdigos da cul tura visual;
o anteparo faz a mediao entre o olhar-do-objeto e o sujei to, mas tambm
protege o sujei to do olhar-do-objeto. Isto , ele capta o olhar, pulsante,
estonteante e espalhado e o domestica em uma imagem.
33
Esta ltima formulao
crucial. Para Lacan, os animais esto presos no olhar do mundo, esto apenas
disposio ali. Os humanos no esto to reduzidos a essa captura imaginria,
pois temos acesso ao simblico nesse caso, ao anteparo enquanto lugar de
fabricao e visualizao das figuras, onde podemos manipular e moderar o
olhar. O homem, de fato, sabe como jogar com a mscara enquanto aquilo para
alm do qual existe o olhar, afirma Lacan. O anteparo aqui o locus da mediao.
Dessa forma, o anteparo permite ao sujeito, a partir do ponto da figura, apreender
o objeto, que se encontra no ponto da luz. De outra forma seria impossvel, pois
ver sem o anteparo seria deixar-se cegar pelo olhar ou tocar pelo real .
Assim, mesmo que o olhar capture o sujei to, o sujei to pode domesticar o
olhar. Esta a funo do anteparo: negociar uma rendio do olhar, como em
uma rendio de algum armado. Note os tropos atvicos de pregaes e
domesticaes, lutas e negociaes. So atribudas atividades estranhas, tanto
ao olhar quanto ao sujei to, e eles so posicionados de forma paranica.
34
De
fato, Lacan imagina o olhar no apenas como malvolo, mas tambm como
viol ento, como uma fora que pode det er ou mesmo mat ar, se no for
primeiramente desarmado.
35
Portanto, quando urgente, a realizao de imagens
apotrpica: seus gestos contm essa deteno do olhar antes do fato. Quando
apolnea, a realizao de imagens pacificadora: suas perfeies pacificam o
32 Curi osament e a t radi o de Sheri dan
acrescenta um no (Mas no estou na imagem)
onde o original dizia Mais moi, je suis dans le
tableau (Le Seminaire de Jacques Lacan, Livre XI
[Paris: Edi t ions du Seui l , 1973], 89). Esse
acrscimo tem apoiado o engano quanto ao lugar
do sujeito, mencionado na prxima nota. Lacan
bastante claro nesse ponto; por exemplo: o
primeiro [sistema triangular] aquele que, num
campo geomt ri co, col oca o suj ei t o da
representao no nosso lugar, e o segundo
aquele que me coloca na imagem (105).
33 Alguns leitores situam o sujeito na posio
do anteparo, talvez tomando como base esta
declarao: E se sou algo na imagem, ser sempre
na forma do anteparo, que chamei anteriormente
de mancha ou ponto (97). O sujei to um
anteparo no sentido de que, observado por todos
os lados ele/ ela bloqueia a luz do mundo, lana
uma sombra, uma mancha (paradoxalmente
esse anteparo o que permite ao sujeito ver, em
primeiro lugar). Porm esse anteparo diferente
da imagem-anteparo, e situar o sujeito apenas l
contradiz a superposio dos dois cones, em
que o sujeito igualmente observador e imagem.
O sujeito um agente da imagem-anteparo, e
no um nico com ela.
Em minha leitura, o olhar no j semitico,
como para Norman Bryson (ver Tradition and
Desire: From David to Del acroix [Cambridge
Universi ty Press, 1984], 64-70). Em alguns
sentidos ele melhora Lacan, que, usando Merleau-
Ponty, torna o olhar quase animista. Por outro
lado, ler o olhar como j sendo semitico
domestic-lo antes do fato. Para Bryson, no
entanto, o olhar benigno, uma pleni tude
luminosa, e o anteparo mortifica em vez de
proteger o sujeito (The Gaze is in the Expanded
Field, in Hal Foster (org.) Vision and Visuality
[Sattle: Bay Press, 1988], 92).
34 Sobre o atavismo desse nexo de olhar, reza
e parania, considerem a seguinte observao
do romancista Phil ip K. Dick: Penso que, em
a l guns aspec t os , a par ani a um
desenvolvimento nos di as modernos de um
sentido antigo, arcaico, que os animais ainda
tm animais de luta de que esto sendo
observados... Digo que a parania um sentido
atvico. um sentido em declnio, que tnhamos
h mui to t empo, quando ramos quando
nossos ancestrais eram mui to vulnerveis a
predadores, e esse sentido lhes diz que esto
sendo observados. E esto provavelmente sendo
observados por algo que i r peg-los. . . E
freqentemente meus personagens tm esse
sentimento. Mas o que realmente fiz foi tornar
a sociedade deles atvica. E ainda que se passe
no futuro, em mui tas formas eles esto vivendo
h uma qual idade de retrocesso em suas
vidas, sabe? Est o vivendo como nossos
ancestrais viviam. Quero dizer, as ferramentas
1 7 1
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
olhar, relaxam seu domnio sobre o observador (esse termo nietzscheano projeta
novamente o olhar como dionisaco, cheio de desejo e morte). Isso a
contemplao esttica segundo Lacan: algumas obras podem tentar um trompe-
loeil , um engodo do olhar, mas toda arte aspira a um dompte-regard, a uma
domesticao do olhar.
A seguir irei sugerir que uma parte das obras contemporneas recusa o velho
mandamento da pacificao do olhar, a fim de unir o imaginrio e o simblico
contra o real. como se essa arte quisesse que o olhar brilhasse, que o objeto se
sustentasse, que o real existisse, em toda a glria (ou horror) de seu desejo
pulsante, ou ao menos que evocasse essa condio sublime. Com esse objetivo, ela
no somente se move para atacar a imagem, mas para romper o anteparo, ou
sugere que este j se encontra roto. Porm, por enquanto, quero continuar com
as categorias do trompe-loeil e do dompte-regard, pois uma parte da arte ps-
pop desenvolve truques ilusionistas e domesticaes de maneira que se distingue
do realismo no apenas no antigo sentido referencial, mas tambm no sentido
do traumtico delineado acima.
36
Em seu seminrio sobre o olhar, Lacan reconta a anedota clssica da competio
de trompe-loeil entre Zeuxis e Parrhasius. Zeuxis pinta uvas de forma a ludibriar os
pssaros, mas Parrhasius pinta uma cortina, de forma a iludir Zeuxis, que pede para
ver o que se encontra por trs da cortina e reconhece com embarao sua derrota.
Para Lacan a histria diz respeito diferena entre captaes imaginrias de
animais ludibriados e homens enganados. Verossimilhana provavelmente tem
pouca relao com ambas as situaes: o que parecem uvas para uma espcie pode
no parecer para outra. A coisa importante o signo apropriado para cada uma
delas. Mais significativo aqui que o animal ludibriado com relao superfcie,
ao passo que o humano enganado no que diz respeito ao que se encontra por
trs. E atrs da figura, para Lacan, encontra-se o olhar, o objeto, o real, com o qual
o pintor, enquanto criador ... estabelece um dilogo. Portanto, uma iluso
perfeita no possvel e, mesmo que fosse possvel, no responderia questo
sobre o real, que sempre permanece atrs e alm, para nos ludibriar. Isso ocorre
porque o real no pode ser representado; de fato ele definido como tal, como o
negativo do simblico, um desencontro, uma perda do objeto (a pequena parte
do sujeito perdido para o sujeito o objeta). Esta outra coisa [por trs da figura e
alm do princpio do prazer] o petit a, em torno do qual se desenvolve um
combate cujo trompe-loeil a alma.
Enquanto a arte do trompe-loeil, o super-realismo est igualmente envolvido
nesse combate, porm ele mais do que um engodo do olho. Ele um subterfgio
contra o real , uma arte empenhada no s em pacificar o real, mas tambm em
sel-lo por trs da superfcie, embalsam-lo em suas aparncias. (Obviamente
essa no a compreenso que eles tm de si mesmos: o super-realismo procura
revelar a realidade como aparncia. Porm, faz-lo, quero sugerir, postergar o
so do futuro, o cenrio est no futuro, mas
as si tuaes so realmente do passado (trecho
de uma entrevista de 1974, usada como epgrafe
em The Collected Stories of Philip K. Dick, vol . 2
[Nova York: Carol Publ ishing, 1990]).
Bryson discute a parania do olhar em Sartre e em
Lacan em The Gaze in the Expanded Field, no
qual ele sugere que, mesmo ameaado pelo olhar,
o sujeito tambm confirmado por ele, fortalecido
precisament e por sua al t eridade. De forma
semelhante, numa discusso de Thomas Pynchon,
Leo Bersani declara que a parania o ltimo
refgio do sujeito: Na parania, a funo primeira
do inimigo prover uma definio do real que faz
a parania necessria. Devemos assim comear a
suspeitar que a estrutura da parania, em si, um
mecanismo pelo qual a conscincia mantm a
polaridade entre o eu e o no-eu, preservando
assim o conceito de identidade. Na parania,
dois textos verdadeiros se confrontam: existncia
subjetiva e um mundo de alteridade monoltica.
Essa oposi o s poder ser derrubada se
renunciarmos crena confortadora (ainda que
perigosa) em identidades localizveis. Apenas
ento, talvez, os duplos simulados da viso
parani ca podero destruir precisament e a
oposio que ela parece sustentar (Pynchon,
Parania, and Li terature, Representations 25
[Winter 1989]: 109. H um aspecto paranico em
outros modelos de visualidade o olhar masculino,
vigilncia, espetculo, simulao. O que produz
essa parania e ao que ela serve, isto , para alm
dessa estranha in/segurana do sujeito?
35 Lacan relaciona o olhar maleffico ao olho
mau, que ele v como um agente de doena e
morte, com o poder de cegar e de castrar: uma
questo de retirar a posse que o olho mau tem
sobre o olhar, para reduzir sua fora. O olho mau
o fascinum [feitio]. Ele aquilo que tem o
efeito de deteno do movimento e, literalmente,
de matar a vida. . . precisamente uma das
dimenses em que o poder do olhar exercido
diretamente. (118). Lacan afirma que o olho
mau universal, sem qualquer olho benevolente
que lhe equivalha, nem mesmo na Bblia. Porm
em representaes bblicas existe o olhar da
Madonna sobre a Criana e da Criana sobre ns.
Apesar disso, Lacan opta pelo exemplo da inveja
em Santo Agost i no, que rel at a sobre seus
sentimentos assassinos de excluso diante da
viso de seu irmo menor no seio da me: Isso
verdadeira inveja a inveja que faz o sujeito
empalidecer diante da imagem de um eu completo
e fechado sobre si mesmo, diante da idia de
que o petit a, o a separado no qual ele est
pendurado, pode ser a possesso que traz
satisfao a um outro. (116).
Aqui Lacan pode ser contrastado com Wal ter
Benjamin, que imagina o olhar aurtico e repleto
de dentro da dade me e criana, em vez de
ansioso e invejoso, na posio de um terceiro
Hal Fost er
1 7 2 concinnit as
real ou, novamente, sel-lo.) O super-realismo empreende esse selar por meio
de pelo menos trs formas. A primeira representando a realidade aparente
como um signo codificado. Com freqncia baseado manifestamente na fotografia
ou em cartes-postais, esse super-realismo mostra o real como j absorvido no
simbl i co (como nas primeiras obras de Mal com Morl ey). A segunda
representando a realidade aparente como uma superfcie fluda. Mais ilusionista
que a primeira, esse surper-realismo desrealiza o real, com efei tos de simulacro
(relacionada s pinturas pop de James Rosenqui t, essa categoria inclui Audrey
Flanck e Don Eddy, entre outros). A terceira representando a realidade aparente
como um enigma visual com reflexos e refraes de todos os tipos. Nesse super-
realismo, que se relaciona com os dois primeiros, a estrutura do real forada
para o ponto de imploso, de colapso sobre o observador. Diante dessas pinturas,
nos sentimos submetidos ao olhar, observados de mui tos lados: da a dupla
perspectiva impossvel que Richard Estes intentava em Union Square (1985), que
converge mais sobre ns do que se estende a partir de ns, ou seu igualmente
impossvel Double Self-Portrait (Auto-Retrato Duplo, 1976), no qual olhamos
por uma vitrina de lanchonete em completa perplexidade com relao ao que se
encontra dentro ou fora, o que est diante ou atrs de ns. Se Union Square
pressiona o paradigma renascentista da perspectiva linear como na The Ideal
City (A Cidade Ideal), o Double Self-Portrait pressiona um paradigma barroco de
reflexibilidade pictrica, como em Las Meninas (no surpreendente que, na
ao de usar linhas e superfcies para amarrar e amaciar o real, o super-realismo
se vol tasse para os intrincamentos barrocos de um Velazquez).
Nessas pinturas, Estes transporta seu modelo histrico para um anncio
comercial e para uma vi trina de loja em Nova York; e, de fato, como no pop,
difcil imaginar o super-realismo apartado das linhas embaralhadas e superfcies
lcidas do espetculo capi talista: a seduo narcisista das vi trinas de lojas, o
brilho lascivo dos carros esporte enfim, o apelo sexual do signo da mercadoria,
com a feminilizao da mercadoria e a mercantilizao do feminino, de tal forma
que, ainda mais que o pop, o super-realismo celebra mais do que questiona.
Como reproduzidas nessa arte, essas linhas e superfcies freqentemente se
distendem, dobram-se sobre si mesmas, achatando a profundidade pictrica.
Mas tero elas o mesmo efeito sobre a profundidade psquica? Em uma comparao
entre o pop e o super-realismo de um lado, e o surrealismo de outro, Frederic
Jameson diz o seguinte:
Precisamos apenas justapor o manequim, como smbolo [surrealista],
aos objetos fotogrficos da arte pop, as latas de sopa Campbell , as
pinturas de Marilyn Monroe, ou s curiosidades visuais da op art;
precisamos apenas trocar, aquele ambiente de pequenos atelis e balces
de lojas, pelo march aux puces e o barulho das ruas, pelos postos de
gasolina ao longo das superestradas americanas, as brilhantes fotografias
excludo. De fato, Benjamin imagina o olhar
benevolente que Lacan se recusa a ver, um olhar
mgico que reverte o fetishismo e desfaz a
castrao, uma aura redentora baseada na
memria do ol har e do corpo mat erno: A
experincia da aura, portanto, repousa sobre a
t ransposi o de uma respost a comum ao
relacionamento humano para o relacionamento
entre um obj eto inanimado ou natural e o
homem. A pessoa que olhamos, o que sente que
est sendo olhada, revida nosso olhar. Perceber
a aura de um obj eto que olhamos signi fica
investi-lo da habilidade de nos retornar o olhar.
Essa experincia corresponde ao fato da mmoire
i nvol ont ai r e . ( Sobre Al guns t emas em
Baudelaire...) Para discusso mais ampla sobre
o tema, ver meu Compulsive Beauty (Cambridge:
MIT Press, 1993), 193-205.
36 Para Lacan, o olhar enquanto obj eto a,
enquanto o real, a questo no apenas da
pintura de trompe-loeil, mas de toda pintura
(ocidental), da qual ele oferece uma curta histria.
(Aqui ele pode ser novamente contrastado com
Benjamin, que apresenta uma histria diferente
em The Work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction) Lacan relaciona trs regimes
sociais religioso, aristocrtico e comercial a
trs ol hares pi ctri cos, que el e denomi na
sacrificial (o olhar de Deus; seu exemplo so
os cones bizantinos), comunal (o olhar de
lderes aristocrticos; seu exemplo o retrato de
grupo dos doges venezianos) e moderno (o
olhar do pintor, que reivindica se impor como
sendo o nico olhar [113]; aqui ele alude a
Czanne e Matisse). Para Lacan, cada olhar
pictrico impe uma apresentao do olhar como
objeto a. Argumentarei abaixo que algumas formas
de art e ps-moderna querem quebrar essa
negociao, essa sublimao do olhar que
para Lacan seria romper com a prpria arte.
1 7 3
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
nas revistas ou o paraso de celofane de uma farmcia americana, para
nos dar conta de que os objetos do surrealismo desapareceram sem
deixar traos. Daqui para frente, naquilo que podemos chamar de
capi talismo ps-industrial , os produtos com os quais somos supridos
so, em l tima instncia, sem profundidade: seu contedo de plstico
totalmente incapaz de servir como condutor de energia psquica.
37
Aqui Jameson marca uma virada na produo e no consumo que afeta a arte
e igualmente a subjetividade; mas ser que uma quebra histrica de um tipo
absoluto e inesperado?
38
Esses velhos objetos podem estar deslocados (j para
os surrealistas eles eram atraentemente fora de moda), mas no se foram sem
deixar trao. Cert ament e os suj ei tos rel acionados a esses obj etos no
desapareceram; as pocas do sujeito, quanto mais do inconsciente, no so to
pontuais.
39
Resumindo, o super-realismo retm uma conexo subterrnea com o
surrealismo no registro do sujei to, e no apenas porque ambos jogam com
fetichismos sexual e de mercadoria.
George Bataille comentou certa vez que seu tipo de surrealismo envolvia
mais o sub do que o sur, mais o baixo materialista do que o alto idealista (que ele
associava a Andr Breton).
40
Meu tipo de surrealismo envolve tambm mais o
sub do que o sur, mas no sentido do real que se encontra por debaixo, que esse
surrealismo procura atingir, deixar eclodir, como que por acaso (o que novamente
uma forma de apario pela repetio).
41
O super-realismo est tambm
envolvido com o real que se encontra por debaixo, mas, como um super-realismo,
est preocupado em ficar em cima dele, deix-lo por baixo. diferena do
surrealismo, portanto, quer esconder mais do que revelar o real . Assim, ele
acumula suas camadas de signos e superfcies retirados do mundo do consumo
no s contra a profundidade representacional , mas igualmente contra o real
traumtico. No entanto, esse movimento ansioso para encobrir esse real aponta,
apesar disso, para ele. O super-realismo permanece uma arte do olho, fei to
desesperado pelo olhar, e o desespero aparece. Como resul tado, sua iluso
fracassa no s enquanto um truque do olho, mas enquanto uma domesticao
do olhar, uma proteo contra o real traumtico, isto , ela falha em no nos
lembrar do real e, nesse sentido, ela tambm traumtica: uma iluso traumtica.
O retorno do real
Se o real est reprimido no super-realismo, ele tambm retorna ali , e esse
retorno rompe com a superfcie super-realista dos signos. Porm, assim como
essa ruptura inadvertida, tambm o o pequeno distrbio do espetculo
capi tal ista que ele pode causar. Esse distrbio no to inadvertido na
appropriation art (arte de apropriao), que, especialmente na verso simulacral
associada com Richard Prince, pode assemelhar-se ao super-realismo, com seu
excesso de signos, fluidez de superfcie e envolvimento do observador. Porm,
as diferenas entre as duas so mais importantes do que as semelhanas. Ambas
37 Frederic Jameson, Marxism and Form (Princeton:
Princeton University press, 1971), 105.
38 Idem, ibidem (grifo meu).
39 Um e outro no so modos produt ivos,
mui t o menos r el aes soc i ai s, f ormas
representacionais, etc., o que Jameson sabe.
40 Ver Georges Bataille, The Old Male and
the Prefix Sur in the Words Surhomme and
Surrealist, in Visions of Excess, Allan Stoekl
(org.) (Minneapol is: Universi ty of Minnesota
Press, 1985).
41 O obj et i vo rarament e al canado no
Surrealismo; de fato, mesmo sua possibilidade
foi quest i onada nos pri mei ros t empos do
movimento (ver Compulsive Beauty, XV-XVI). Em
outras palavras, o surrealismo poderia estar do
lado do automaton, da repetio do sintoma
como significante, mais do que no ponto do
touch, do irromper do real, onde uma parte da
arte contempornea aspira a estar.
Hal Fost er
1 7 4 concinnit as
as artes usam a fotografi a, mas o super-real ismo explora alguns valores
fotogrficos (como ilusionismo) no interesse da pintura e exclui outros (como
reproduo), no compatveis com esse interesse, que at ameaam valores
pictricos, como o da imagem nica. A appropriation art, por outro lado, usa a
reprodutibilidade fotogrfica para questionar a singularidade da pintura, como
nas primeiras cpias de mestres modernos de Sherrie Levine. Ao mesmo tempo,
ela ou leva a iluso fotogrfica para um ponto de imploso, como nas primeiras
refotografias de Prince, ou provoca uma reviravolta nessa iluso para questionar
a verdade documental da fotografia, o valor referencial da representao, como
nos primeiros textos-fotos de Barbara Kruger. Da a cr t ica excessiva da
representao nessa arte ps-moderna: uma crtica de categorias artsticas e de
gneros documentais, de mi tos da mdia e prottipos sexuais.
Assim, tambm as duas artes posicionam o observador de forma diferente:
em sua elaborao da iluso, o super-realismo convida o observador a devanear
de forma quase esquizofrnica em sua superfcie, enquanto em sua exposio da
iluso a appropriation art pede ao observador para olhar cri ticamente para alm
de sua superfcie. Porm, por vezes, as duas se encontram aqui, como quando a
appropriation art envolve o observador em uma maneira super-realista.
42
Mais
importante, as duas se aproximam no seguinte aspecto: no super-realismo a
realidade apresentada como sobrecarregada de aparncia, e na appropriation
art, como construda pela representao. (Assim, por exemplo, as imagens de
Malboro de Prince figuram a realidade da natureza norte-americana por meio do
mi to do cawboy do Oeste). Essa viso construcionista da realidade a posio
bsica da arte ps-moderna, ao menos em sua visada ps-estruturalista, e ela
encontra um paralelo na posio bsica da arte feminista, ao menos em sua
vertente psicanal tica: de que o sujei to di tado pela ordem simblica. Tomadas
em conjunto, essas duas posies levaram mui tos artistas a se concentrar na
imagem-anteparo (refiro-me novamente ao esquema lacaniano de visualidade),
freqentemente negligenciando o real , de um lado, ou o sujei to, de outro.
Assim, nas primeiras cpias de Levine, por exemplo, a imagem-anteparo
praticamente tudo o que existe; no mui to perturbada pelo real nem mui to
al terada pelo sujei to (nessas obras, pouca importncia dada ao artista e ao
observador).
Porm, a relao da appropriation art com a imagem-anteparo no to
simples: ela pode ser crtica do anteparo, at mesmo hostil, e fascinada por ele,
quase enamorada. E, por vezes, tal ambivalncia sugere o real, isto , na medida
em que a appropriation art trabalha para expor a iluso da representao, ela
pode furar a imagem-anteparo. Consideremos as imagens de pr-de-sol de Prince,
que so refotografias de propagandas de frias tiradas de revistas, imagens
familiares de jovens amantes e crianas graciosas na praia, com o sol e o mar
oferecidos como tantas outras mercadorias. Prince manipula a aparncia super-
42 O envolvimento do observador (por exemplo,
nas imagens de entretenimento de Prince)
uma propriedade do simulacrum definido por
Del euze: O si mul acrum i mpl i ca grandes
dimenses, profundidades e distncias que no
podem ser dominadas pelo observador. porque
no as pode dominar que ele tem a impresso de
semelhana. O simulacrum inclui em si mesmo o
diferencial de pontos de vista, e o espectador
transforma-se em parte do simulacrum, que
transformado e deformado de acordo com o seu
ponto de vista. Resumidamente, entrelaado no
interior do simulacrum existe um processo de
enlouquecimento, de falta de limites. (Plato
and the Simulacrum, October 27 (Winter [1983]:
49). Esse entrelaamento do observador tambm
concerne s confuses do eu e da imagem,
dentro e fora, na fantasia consumista, como
explorado em muitas imagens de propaganda e
em algumas appropriation art. Seus prprios
desejos tinham muito pouco a ver com o que
vinha de si mesmo, escreve Prince em Why I Go
to the Movies Alone (1983), pois o que ele ps
para fora, (ao menos em parte) j estava fora.
Sua manei ra de f az-l o novo era f az-l o
novamente, e faz-lo outra vez era o suficiente
para ele e certamente, de um ponto de vista
pessoal, quase ele. (New York: Tanam Press,
63). s vezes essa ambigidade faz seu trabalho
ser provocativo de uma forma que a appropriation
art, confiante demais em sua capacidade crtica,
no consegue ser, pois Prince est envolvido
na fantasia consumista que ele desnaturaliza.
I st o , s vezes sua cr t i ca ef i ci ent e
precisamente porque ela comprometida pois
nos deixa ver uma conscincia dividir-se diante
de uma imagem. Por outro lado, esse dividir-se
tambm pode ser outra verso da razo cnica.
1 7 5
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
realista dessas propagandas a ponto de elas se tornarem desrealizadas no sentido
da aparncia, mas real izadas no sentido do desejo. Em vrias imagens, um
homem levanta uma mulher para fora da gua, mas a pele dos dois aparece
queimada como em uma paixo ertica que tambm uma irradiao fatal .
Aqui o prazer imaginrio da cena de frias vai mal, torna-se obsceno, deslocado
por um xtase real de desejo acompanhado de morte, jouissance que espia por
detrs do princpio do prazer da imagem-propaganda ou, em geral, da imagem-
anteparo.
43
Essa mudana na concepo da realidade como um efeito da representao
para o real como uma coisa do trauma pode ser definitiva na arte contempornea
e tanto mais na teoria contempornea, na fico e no cinema. Pois com essa
mudana na concepo veio uma mudana na prtica, que desejo enfatizar aqui,
novamente numa relao com o diagrama lacaniano da visualidade, como uma
mudana do foco, da imagem-anteparo para o olhar-do-objeto. Essa mudana
pode ser acompanhada na obra de Cindy Sherman, que fez tanto quanto qualquer
artista para prepar-la. De fato, se dividirmos sua obra em trs grupos, ela
parecer mover-se ao longo das trs principais posies do diagrama de Lacan.
Nos primeiros trabalhos de 1975-82, das cenas congeladas de filmes at as
projees de fundo (rear projections), encartes e testes de cor, Sherman evoca o
sujei to sob o olhar, o sujei to-como-figura, que igualmente o lugar principal
de outros trabalhos feministas do comeo da appropriation art. Seus sujei tos
vem, lgico, mas so muito mais vistos, capturados pelo olhar. Freqentemente,
nas cenas congeladas de filmes e nos encartes, esse olhar parece vir de outro
sujei to, que poderia indicar o observador. s vezes, nas projees de fundo, ele
parece vir do espetculo do mundo. Porm, freqentemente tambm, o olhar
parece vir de dentro. Aqui, Sherman mostra seus sujei tos femininos como auto-
observados no em uma imanncia fenomenolgica (me vejo me vendo), mas
em um estranhamento psicolgico (no sou o que imaginava ser). Assim, na
distncia entre a jovem mulher arrumada e sua face no espelho, em Untitled Film
Stil #2 (1977), Sherman capta a distncia entre corpo imaginado e corpo real ,
imagens que existem em cada um de ns. A distncia do (mal)reconhecimento
em que a moda e a indstria de entretenimento operam dia e noi te.
Nos trabalhos intermedirios de 1987-90, das fotos de moda, passando
pelas ilustraes de contos de fada e pelos retratos de histria da arte, at as
fotos de desastres, Sherman move para a imagem-anteparo, para seu repertrio
de representao. (Falo apenas de foco: ela tambm se vol ta para a imagem-
anteparo nos primeiros trabalhos, e o sujei to-como-figura, igualmente no
desaparece nesses trabalhos intermedirios.) As sries de moda e histria da arte
retomam dois topos da imagem-anteparo que afetaram profundamente as auto-
apresentaes, presentes e passadas. Aqui Sherman faz a pardia do design de
vanguarda com uma longa srie de v timas da moda e ridiculariza a histria da
43 Considere esta observao apositiva de Slavoj
Zi zek: Aqui se encont ra a ambi gi dade
fundamental da imagem no ps-modernismo:
ela um tipo de barreira que permite ao sujeito
manter distncia do real, protegendo-o de sua
irrupo, porm seu hiper-realismo intrusivo
evoca a nusea do real (Grimaces of the Real,
October 58 [Fall 1991]: 59).
Richard Misrach tambm evoca esse real obsceno,
especialmente em sua srie Playboy (1989-
1991). Com base em imagens de revistas usadas
como alvo de tiro em testes de alcance nucleares,
essas fotografias revelam uma agresso poderosa
vi sual i dade na cul t ura cont empornea.
(Algumas dcollages dos anos 50 e 60 tambm
do testemunho dessa agresso na sociedade
do espet culo. ) Seri a essa ant ivisual idade
relacionada com a parania do olhar mencionada
na nota 34?
Hal Fost er
1 7 6 concinnit as
44 Rosalind Krauss concebe, em Cindy Sherman,
essa dessubl i mao como um a t aque
vertical idade subl imada da imagem artstica
tradi ci onal (New York: Ri zzol i , 1993). El a
igualmente discute a obra numa relao com o
diagrama da visualidade de Lacan. Ver tambm a
discusso de Sherman em Kaja Silverman, The
Threshold of the Visible World (New York: Routledge,
1996), que apareceu tarde demais para que eu o
pudesse consul tar.
45 Ver Julia Kristeva, Powers of Horror, trad.
Leon S. Roudiez (New York: Columbia University
Press, 1982).
arte com uma galeria de horrveis aristocratas (em uma substituio de tipos do
renascimento, barroco, rococ e neocl assi cismo, com aluses a Rafael ,
Caravaggio, Fragonard e Ingres). A brincadeira torna-se perversa quando, como
em algumas fotografias de moda, a distncia entre o corpo imaginado e o corpo
real torna-se psictica (um ou dois modelos no parecem ter qualquer percepo
egica) e quando, em algumas fotografias da histria da arte, a desidealizao
levada a ponto de dessublimao: com sacos marcados por cicatrizes no lugar
de bustos e furnculos no lugar de narizes, esses corpos rompem os limi tes da
representao com propriedade, rompem, de fato, com a prpria subjetividade.
44
Essa virada em direo ao grotesco acentuada nos contos de fada e
imagens de desastres, alguns dos quais mostram terrveis acidentes de nascimento
e aberraes da natureza (uma jovem mulher com nariz de porco, uma boneca
com cabea de um velho homem imundo). Aqui , como ocorre freqentemente
em filmes de terror e histrias de ninar, o horror significa, em primeiro lugar e
acima de tudo, horror maternidade, ao corpo da me tornado estranho, mesmo
repulsivo, na represso. Esse corpo igualmente a cena primria do abjeto, uma
categoria do (no)ser definida por Julia Kristeva como nem sujeito, nem objeto,
mas antes de se tornar o primeiro (antes da inteira separao da me) ou depois
que se tornou objeto (como um cadver entregue condio de objeto).
45
Essas
condies extremas so sugeridas por algumas das cenas de desastres, infiltradas
como esto de significantes de sangue menstrual e descarga sexual , vmi to e
Cindy Sherman. Sem ttulos (#2 e #153),
1977 e 1985
1 7 7
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
merda, decadncia e morte. Tais imagens evocam o corpo virado ao avesso, o
sujei to li teralmente abjetado, jogado fora. Mas tambm evocam o fora tornado
dentro, o sujei to-como-figura invadido pelo olhar-do-objeto. A essa al tura,
algumas imagens passam para alm do abjeto, que freqentemente se relaciona
com substncias e significados no s em direo ao informe uma condio
descrita por Bataille, em que a forma significativa se dissolve porque a distino
fundamental entre figura e fundo ou eu e outro se perde , mas tambm em
direo ao obsceno, em que o olhar-do-objeto apresentado como se no houvesse
uma cena para encen-lo, nenhuma moldura representativa para cont-lo, nenhum
anteparo.
46
Esse tambm o universo das obras ps-1991, as imagens da guerra civil e
de sexo, pontuadas por close-ups em corpos e/ou partes de corpos simuladamente
deformados e/ ou mortos. s vezes o anteparo parece to rasgado, que o olhar-
do-objeto no s invade o sujei to-como-figura, mas o domina. E em algumas
imagens de desastres e guerra civil intumos o que seria ocupar a terceira posio
impossvel no diagrama lacaniano, receber o olhar pulsante e mesmo tocar o
objeto obsceno, sem a proteo do anteparo. Em uma de suas imagens, Sherman
fornece a esse olho mau sua prpria visada terrificante.
Nesse esquema, o impulso para destruir o sujei to e rasgar o anteparo levou
Sherman de seus primeiros trabalhos, em que o sujei to captado no olhar, via
trabalhos intermedirios, em que ele envolvido pelo olhar, at os mais recentes,
em que ele obliterado pelo olhar, apenas para retornar como partes de bonecos
desconjuntados. Mas esse ataque duplo sobre o sujei to e sobre o anteparo no
ocorre apenas com Sherman; acontece em vrias frentes na arte contempornea,
nas quais ele colocado, quase abertamente, a servio do real.
Esse trabalho evoca o real de diferentes formas. Comearei com duas
abordagens que beiram o ilusionismo. A primeira envolve um ilusionismo
praticado menos em imagens do que em objetos (se ele se relaciona com o
super-realismo, ento referindo-se s figuras de Duane Hanson e John de
Andrea). Essa arte faz de forma intencional o que alguma arte super-realista e
appropriation art faziam de forma inadvertida, ou seja, empurra o ilusionismo at
o ponto do real . Aqui , o ilusionismo usado no para encobrir o real com uma
superfcie de simulacro, mas para descobri-lo em coisas misteriosas, que so
freqentemente tambm includas em performances. Com esse fim, alguns artistas
provocam o estranhamento com relao a objetos cotidianos relacionados com
o corpo (como os urinis selados e as pias esticadas de Robert Gober, a mesa
com natureza-morta que recusa ser morta, de Charles Ray, e os aparatos quase
atlticos, desenhados como elementos de performance por Matthew Barney).
Outros artistas tornam estranhos alguns objetos infantis retornados do passado,
freqentemente distorcidos em escala ou propores, com um toque de sinistro
(como nos pequenos caminhes ou nos enormes ratos de Katarina Fritsch) ou de
46 Com respei t o a essas di f erenas, ver:
Conversations on the Inform and the Abject,
October 67 (Winter 1993).
Hal Fost er
1 7 8 concinnit as
pattico (como nos animais de pelcia do exrcito da salvao de Mike Kelley),
de melanclico (como nos pardais mortos com casacos tricotados de Annete
Messager) ou de monstruoso (como no bero que se torna uma cadeia psictica,
de Gober). Porm, ainda que provocativa, tal abordagem ilusionista pode tornar-
se um surrealismo codificado.
A segunda abordagem oposta primeira, mas tem o mesmo fim: ela rejeita
o ilusionismo, de fato, qualquer sublimao do olhar-do-objeto, numa tentativa
de evocar o real enquanto tal . Esse o mbi to principal da arte abjeta, que
atrada pelo derrubamento dos limi tes do corpo violentado. Freqentemente,
como na estrutura agressivo-depressiva de Kiki Smi th, esse corpo materno e
serve como medium de um sujei to infantil ambivalente que o estraga e restaura
em seguida: em Trough (Atravs, 1990), por exemplo, o corpo encontra-se
secionado, um recipiente vazio, enquanto em Womb (tero, 1986) ele parece
um objeto slido, quase autnomo, mesmo autogentico.
47
Freqentemente
tambm, o corpo aparece como um duplo direto do sujei to violentado, cujas
partes so apresentadas como os resduos da violncia e/ ou traos do trauma:
as pernas de botas de Gober que se estendem para cima e para baixo, como se
cortadas pela parede, s vezes com as coxas implantadas com velas ou as ndegas
tatuadas com msica, so, assim, humilhadas (em geral de forma hilria). A
ambio estranha dessa segunda abordagem a de livrar-se do trauma do
sujei to, aparentemente calculando que, se seu objeto a, perdido, no pode ser
reconquistado, pelo menos a ferida que ele deixou pode ser explorada (em
grego trauma quer dizer ferida).
48
Porm essa abordagem tambm tem seus
perigos, pois a explorao da ferida pode cair em um expressionismo codificado
(como na expressiva dessublimao da arte de dirio de Sue Williams e outros)
ou em um realismo codificado (como no romance bomio das fotografias verit
de Larry Clark, Nan Goldin, Jack Pierson e outros). Porm, esse mesmo problema
pode ser provocativo, pois levanta a questo, crucial para a arte abjeta, da
possibilidade de uma representao obscena, isto , de uma representao sem
uma cena que encene o objeto para o observador. Seria essa uma diferena entre
o obsceno, no qual o objeto, sem uma cena, chega perto demais do observador,
e o pornogrfico, em que o objeto encenado para o observador que est,
portanto, distanciado o suficiente para ser seu voyeur?
49
O artifcio do abjeto
De acordo com a definio cannica de Kristeva, o abjeto do que preciso
livrar-me para tornar-me um eu (mas o que seria esse eu primordial que expulsa
em primeiro lugar?). uma substncia fantasmtica no s estranha ao sujeito,
mas ntima dele de fato, demasiadamente , e esse excesso de proximidade
produz pnico no sujei to. Dessa forma, o abjeto toca a fragilidade de nossos
limi tes, a fragilidade da distino espacial entre nosso dentro e fora, assim
47 Para uma excelente anlise desse tipo de
obra, ver Mignon Nixon, Bad Enough Mother,
October 71 (Winter 1995). Nixon pensa essa
obra do ponto de vista de uma preocupao
kleiniana com a relao objetal. Eu a vejo como
uma virada na arte feminista que se relaciona
com uma virada no interior da teoria lacaniana,
do simblico para o real, uma virada que Slavoj
Zizek tinha proposto. vezes o aspecto de
objeto dessa arte expressa no mais do que
um essencialismo do corpo (quando no, como
em Smith, uma iconografia do sentimentalismo),
enquanto o aspecto real expressa pouco mais
do que a nostalgia por uma fundamentao
experimental.
48 quase como se esses artistas no pudessem
representar o corpo seno violentado como
se el e apenas f osse r egi st r ado quando
represent ado nessa condi o. De f orma
semelhante, a encenao do corpo tambm
orientou a arte da performance nos anos 70 em
di r eo a cenr i os sadomasoqui st as
novamente, como se ele se registrasse como
representado quando amarrado, amordaado, e
assim por diante.
49 Obsceno pode no significar contra a
cena, mas sugere o ataque. Mui tas imagens
contempornea apenas encenam o obsceno,
tornam-no t emt i co ou cni co e, assim, o
controlam. Dessa forma, si tuam o obsceno a
servio do anteparo, e no contra ele, que o
que a maior parte da arte abjeta faz, contrariando
seus prpr i os desej os. Por m, pode-se
argumentar que o obsceno a maior defesa
apotropaica contra o real, o ltimo reforo da
imagem-anteparo, e no sua dissoluo final.
1 7 9
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
como da passagem temporal entre o corpo materno (novamente o local
privilegiado do abjeto) e a lei paterna. Tanto espacial como temporalmente,
portanto, o abjeto a condio na qual a subjetividade perturbada, em que
o sentido entra em colapso; da sua atrao para artistas de vanguarda que
desejam perturbar tais ordenaes do sujei to e da sociedade.
50
Isso apenas resvala a superfcie do abjeto, por mais crucial que ele seja para
a construo da subjetividade, racista, homofbica, etc.
51
Aqui apontarei apenas
as ambigidades da noo, pois o valor cultural-poltico da arte abjeta depende
dessas ambigdades, de como so elas decididas (ou no). Algumas j so
familiares a esse ponto. Ser que o abjeto pode ser representado? Se ele oposto
cul tura, ser que pode ser exposto na cul tura? Se ele inconsciente, ser que
pode ser fei to consciente e permanecer abjeto? Em outras palavras, possvel
um abjeto consciente? ou ser que isso tudo o que pode existir? Ser que a arte
abjeta poder algum dia escapar a um uso instrumental , de fato, moralista do
abjeto? (Em certo sentido, essa a segunda parte da questo: possvel evocar
o obsceno sem ser pornogrfico?)
A ambigidade crucial em Kristeva seu escorregar entre a operao de
abjetar e a condio para ser abjeto. Novamente, abjetar expulsar, separar; ser
abjetado, por outro lado, ser repulsivo, preso, sujei to suficiente apenas para
sentir a ameaa a essa subjetividade.
52
Para Kristeva a operao de abjetar
fundamental manuteno do sujei to e igualmente da sociedade, enquanto a
condio de ser abjeto corrosiva de ambas as formaes. Ser o abjeto, ento,
destruidor do sujei to e da ordem social? ou, de certa forma, fundamental para
eles? Se um sujeito ou uma sociedade abjeta o estranho que se encontra dentro,
no seria a abjeo uma operao reguladora? (Em outras palavras, ser que o
abjeto est para a regulao assim como a transgresso para o tabu? A
transgresso no nega o tabu, l-se na famosa formulao de Bataille, mas o
transcende e completa.)
53
Ou poderia a condio de abjeo ser mimetizada de
tal forma, que, para perturbar, invoca a operao de abjeo?
Na escri ta moderna, Kristeva considera a abjeo conservadora, mesmo
defensiva. Juntamente com o sublime, o abjeto testa os limites da sublimao.
Mas mesmo escri tores como Louis-Ferdinand Cline sublimam o abjeto, o
purificam. Concordando ou no com esse relato, Kristeva de fato aponta para
uma virada cul tural em direo ao presente. Em um mundo em que o Outro
desapareceu, ela coloca de forma enigmtica, a tarefa do artista no mais a de
sublimar o abjeto, de elev-lo, mas de testar o abjeto, medir a primazia sem
fundo, consti tuda pela represso primria.
54
Em um mundo em que o Outro
desapareceu: aqui est implicada, para Kristeva, uma crise na lei paterna que
sustenta a ordem social.
55
Em termos da visualidade delineada aqui, isso implica
igualmente uma crise na imagem-anteparo, e alguns artistas de fato a atacam,
enquanto outros, assumindo que ela j est rasgada, procuram por detrs dela o
50 Kristeva, Powers of Horror, 2.
51 Ver, em particular, Judith Butler, Gender Trouble
(New York: Routledge, 1990) e Bodies That Mater
(New York: Routledge, 1993); ambos contm
el aboraes cr t i cas ref erent es ao abj et o
kristevano. Kristeva tende a priorizar o nojo;
em seu mapeamento do abjeto em direo
homofobia, Butler tende a priorizar a homofobia.
No entanto, ambos podem bem ser primordiais.
52 Ser abjeto ser incapaz de abjetar, e ser
completamente incapaz de abjetar estar morto,
o que faz do cadver o derradeiro (no)sujeito
da abjeo.
53Bataille, Erotism: Death and Sensuality (1957),
trans. Mary Dalwood (San Francisco: City Lights
Books, 1986), 63. Uma terceira opo a de
que o abj et o dupl o e que seu cart er
transgressivo reside nessa ambigidade.
54Kristeva, Powers of Horror, 18.
55 Mas, ento, quando ela no existe? A noo
de hegemoni a sugere que el e est sempre
ameaada. Nesse sentido, o conceito de uma
ordem simblica talvez projete uma estabilidade
que o social no possui.
Hal Fost er
1 8 0 concinnit as
obsceno olhar-do-objeto do real . Enquanto isso, em termos do abjeto, outros
artistas ainda exploram a represso do corpo materno, considerado subjacente
ordem simblica, isto , exploram o efeito de ruptura de seus restos maternais
e/ ou metafricos.
Aqui a condio da imagem-anteparo e igualmente da ordem simbl ica
de grande importnci a. Localmente, a val nci a da arte abj eta depende del a.
Se for considerada intacta, o ataque imagem-anteparo pode reter um valor
transgressivo. Por outro l ado, se for considerada rota, tal transgresso pode
no fazer sentido, e essa velha vocao da vanguarda pode estar no fim. Mas
existe ainda uma terceira opo, e essa a de reformul ar essa vocao,
repensando a transgresso no como uma ruptura produzida por uma vanguarda
herica de fora da ordem simbl ica, mas como uma fratura traada por uma
vanguarda estratgica, dentro da ordem.
56
Desse ponto de vista, a meta da
vanguarda no romper de forma absoluta com essa ordem (esse velho sonho
foi abandonado), mas o de exp-l a em crise, registrando seus pontos no s
de f al nci a (breakdown) , mas de passagem (breaktrough) , as novas
possibi l idades que uma tal crise poderia abrir.
Em sua maior parte, no entanto, a arte abjeta tem tendido para duas outras
direes. Como sugerido, a primeira a de identi ficar-se com o abj eto,
aproximando-se dele de algum modo explorando a ferida do trauma, tocando
o obsceno olhar-do-objeto no real. A segunda a de representar a condio do
abjeto para provocar sua operao para pegar o abjeto em seu ato, para torn-
lo reflexivo, at mesmo repelente, em sua condio prpria. Porm essa mimese
pode tambm reconfirmar uma determinada abj eo. Tal como o velho e
transgressivo surrealista evocou certa vez a polcia religiosa, assim tambm um
artista abjeto (como Andres Serrano) pode evocar um senador evanglico (como
Jessy Helms), a quem permitido, de fato, completar o trabalho negativamente.
Alm do mais, assim como a direi ta e a esquerda podem concordar sobre os
representantes sociais do abjeto, elas podem sustentar-se mutuamente em uma
troca pblica enojante, e esse espetculo pode inadvertidamente dar suporte
normatividade da imagem-anteparo e igualmente da ordem simblica.
Essas estratgias da arte abjeta so, portanto, problemticas, tal como eram
60 anos atrs no surrealismo. O surrealismo tambm fora atrado pelo abjeto
como forma de testar a sublimao; de fato ele reivindicava como seu o ponto
em que impulsos dessublimatrios confrontam imperativos sublimatrios.
57
Porm
foi tambm nesse ponto que o surrealismo rompeu, dividindo-se nas duas faces
dirigidas por Andr Breton e Bataille. De acordo com Breton, Bataille era um
filsofo do excremento que recusava elevar-se acima de grandes dedos do p,
de pura causa, de pura merda, elevar o baixo para o al to.
58
Para Bataille, por
outro lado, Breton era uma v tima juvenil envolvido em um jogo edpico, com
pose de caro assumida menos para desfazer a lei do que para provocar seu
56 Arte e teoria radicais freqentemente celebram
f i gur as f r acassadas ( espec i al ment e de
masculinidade) como transgressoras da ordem
simbl i ca; porm essa lgi ca vanguardist a
pressupe (afirma?) uma ordem estvel contra a
qual tais figuras so posicionadas. No My Own
Private Germany: Daniel Paul Schrebers Secret
History of Moderni ty (Pri nceton: Pri nceton
Universi ty Press, 1996), Eric Santner oferece
brilhante reavaliao dessa lgica: relocaliza a
transgresso dentro da ordem simblica, em um
ponto de crise interna, que ele define como
uma aut ori dade si mbl i ca em est ado de
emergncia.
57 Tudo tende a nos fazer crer, escreveu
Breton no Second Manifesto of Surrealism (1930),
que existe um certo ponto da mente em que
vida e morte, o real e o imaginado, passado e
futuro, o comunicvel e o incomunicvel, alto e
bai xo dei xam de ser percebi dos como
contradies. Agora, por mais que se procure,
no se encontrar outra fora motivadora nas
atividades dos surrealistas do que a esperana
de encontrar e fixar esse ponto. (in Manifestoes
of Surrealism, trans. Richard Seaver e Helen R.
Lane [Ann Arbor: University of Michigan Press,
1972], 123-24). Vrias obras significativas do
modernismo fixam esse ponto entre a sublimao
e a dessublimao (h exemplos em Picasso,
Jakson Pollock, Cy Twombly, Eva Hesse, entre
outros). Eles so privilegiados porque precisamos
dessa tenso precisamos trat-la de algum
modo, ao mesmo tempo incitada e suavizada,
administrada.
58 Ver Breton, Manifestoes of Surrealism, 180-
87. A certo ponto Breton acusa Batai lle de
psychastenia (ver mais sobre isso abaixo).
1 8 1
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
castigo: apesar de todas as suas confisses de desejo, ele era to comprometido
com a sublimao quanto qualquer outro esteta.
59
Em outra parte, Bataille deu
a essa esttica o nome de le jeu des transpositions (o jogo de substi tuies) e,
em um aforismo mui to celebrado, dispensou-o como incapaz de equiparar o
poder das perverses: Desafio qualquer amante de pintura a amar um quadro
tanto quanto um fetichista ama um sapato.
60
Relembro essa velha oposio pela perspectiva que ela lana sobre a arte
abjeta. Em certo sentido, tanto Breton quanto Bataille estavam certos, pelo
menos um sobre o outro. Freqentemente Breton e seus amigos de fato agiam
como vtimas juvenis que provocavam a lei paterna para garantir que ela continuasse
l no melhor dos casos em um desejo neurtico de punio, no pior, numa
exigncia paranica de ordem. E essa pose de caro assumida por artistas e
escri tores contemporneos, que se mostram quase desejosos demais de falar
palavro dentro do museu, quase preparados demais para ser atacados por
Hil ton Kramer ou espancados por Jesse Helms. Por outro lado, o ideal de
Bataille o de optar pelo sapato fedorento em vez do belo quadro, o de fixar-
se na perverso ou se prender ao abjeto tambm adotado por artistas e
escri tores contemporneos, descontentes no apenas com o refinamento da
sublimao, mas com o deslocamento do desejo. Sero estas ento as opes
que o artifcio do abjeto nos oferece travessuras edpicas ou perverso infantil?
Atuar de forma suja com o desejo secreto de ser espancado ou rolar na merda
com a crena secreta de que o mais nojento pode converter-se no mais sagrado,
o mais perverso no mais potente?
No testar a ordem simblica pelo abjeto, uma grande diviso de trabalho se
desenvolveu, de acordo com o gnero: os artistas que exploram o corpo materno
em oposio lei paterna tendem a ser mulheres (por exemplo, Kiki Smi th,
Maureen Connor, Rona Pondick, Mona Hayt), enquanto os que assumem uma
posio infantilizada para ridicularizar a lei paterna tendem a ser homens (por
exemplo, Mike Kelley, John Miller, Paul McCarthy, Nayland Blake).
61
Essa mimese
da regresso forte na arte contempornea, mas ela tem muitos precedentes. A
personae infantilista predominou no Dad e no neoDad: na criana anarquista
em Hugo Ball e Claes Oldenburg, por exemplo, ou no sujeito autista em Dadamax,
de Ernst e Warhol.
62
Porm figuras relacionadas apareceram igualmente na arte
reacionria: em todos os palhaos, marionetes e equivalentes da arte neofigurativa
dos anos 20 e comeo dos 30, e na pintura neo-expressionista do final dos anos
70 e incio dos 80. Portanto, a valncia pol tica dessa mimese regressiva no
estvel . Nos termos de Peter Sloterdijk, discutido no Cap tulo 4, ela pode ser
kynical (ironia cnica), em que a degradao individual levada at o ponto de
acusao social, ou cynical (razo cnica), em que o sujeito aceita tal degradao
como proteo e/ ou lucro. O avatar principal do infantilismo contemporneo
o palhao obsceno que aparece em Bruce Nauman, Kelly, McCarthy, Blake e
59 Ver Bataille, Visions of Excess, 39-40. Para
mais informao sobre essa oposio, ver meu
texto: Compulsive Beauty, 110-114.
60 Georges Bataille, LEsprit moderne et le jeu
des transpositions, Documents, n. 8 (1930). A
melhor discusso relativa a Bataille nesse ponto
encontra-se em Denis Hollier, Against Architecture
(Cambridge: MIT Press, 1989), especialmente
pp. 98-115. Em outro lugar, Hollier especifica o
aspecto fixo do abjeto de acordo com Bataille:
o sujeito que abjeto. aqui que se introduz
seu ataque metaforicidade. Se voc morre,
voc morre, no se pode obter um substituto. O
que no pode ser substitudo aquilo que liga
o sujeito ao abjeto. Ele no poder ser apenas
um substituto. Deve ser uma substncia que se
reporta a um sujeito, que o coloca em risco, em
uma posio da qual ele no pode escapar.
(Conversation on the Informe and the Abject).
61 A diviso no absoluta. Algumas artistas
de sexo feminino tambm zombam da lei paterna
a partir de um ponto de vista infantilizado, mas
esse zombar tende a apoiar-se em um vocabulrio
oral-sdico (por exemplo, Pondick, Hayt), e no
num anal-sdico, como ocorre com a maior parte
dos artistas do sexo masculino. Da mesma forma,
alguns artistas homens tambm evocam o corpo
mat erno (por exempl o, os bri nquedos e
cobertores aconchegantes de Kelley, que, no
ent ant o so sol i di f i cados, ou mesmo
esvaziados, como para registrar uma agresso
originada no abandono). Em outro registro,
no so apenas homens que querem ser maus
meninos, algumas mulheres tambm o desejam,
uma ambi o registrada na exposi o Bad
Girls, apresentada em 1994 em Nova York (New
Museum) e em Los Angeles (UCLA Wight Art
Gallery). Sobre essa inveja do mau menino, Mary
Kelly comentou: Historicamente, a vanguarda
tem sido sinnimo de transgresso, ento o
artista homem j assumiu o feminino, como
uma forma de seu outro , mas, em l t ima
instncia, ele o faz como uma forma de exposio
viril. Ento o que as ms meninas fazem e que
to diferente das geraes anteriores adotar a
mscara do artista masculino como feminino
transgressivo, de forma a expor sua virilidade.
Em jargo Zine, se diria: uma coisa de menina
sendo uma coisa de menino para ser uma coisa
m ( A Conversa t i on: Recent Femi ni st
Practices, October 71 [Winter 1995]: 58).
62 Sou a favor de uma arte de cheiros infantis.
Sou a favor de uma arte de mama-balbucio.
(Claes Oldenburg, Store Days [Nova York: The
Something Else Press, 1967]).
Hal Fost er
1 8 2 concinnit as
outros; uma figura hbrida que parece ao mesmo tempo kynical e cynical , em
parte um psictico internado, em parte um performtico de circo.
Como sugerem tais exemplos, a personae infantilizada tende a realizar sua
performance em tempos de reao pol tico-cultural, como indcios de alienao
e reificao.
63
Porm, essas figuras da regresso podem ser tambm figuras de
perverso, isto , de pre-version, de um afastar-se do pai que uma toro de
sua lei. No incio dos anos 90 esse desafio foi manifestado num excesso geral de
merda (ou substi tutos de merda: a coisa em si raramente era encontrada).
Certamente Freud entendia a disposio ordem, essencial para a civilizao,
como uma reao contra o erotismo anal e em O Mal-Estar na Civilizao (1930)
ele imaginou um mi to de origem envolvendo uma represso semelhante, que
provocou a ereo do homem de quadrpede para bpede. Com essa mudana na
postura, segundo Freud, ocorreu uma revoluo nos sentidos: o olfato foi
rebaixado, e a viso, privilegiada; o anal , reprimido, e o geni tal , destacado. O
resto li teralmente histria: com seus geni tais expostos, o homem sintonizou-
se a uma freqncia sexual constante, no peridica, e aprendeu a ter vergonha:
e essa juno de sexo e vergonha impeliu-o a procurar uma esposa, formar
famlia, fundar civilizao, ir aonde nenhum outro homem jamais havia estado
antes. Por mais heterossexual que essa divertida histria possa ser, ela de fato
revela como a civilizao concebida em termos normativos no apenas como
uma renncia geral e sublimao dos instintos, mas como uma reao especfica
cont r a o erot i smo anal , que i mpl i c a uma abj e o espec f i c a do
homossexualismo.
64
Sob essa luz, o movimento da merda na arte contempornea pode estar
pretendendo uma reverso simbl ica desse primeiro passo para dentro da
civilizao, da represso do anal e do olfativo. Enquanto tal, ele pode tambm
estar pretendendo alcanar uma reverso simbl ica da visual idade fl ica do
corpo ereto como o modelo primordi al para a pintura e para a escul tura
tradicionais a figura humana como suj ei to e moldura da representao
ocidental em arte. Esse duplo desafio da sublimao visual e da forma vertical
uma forte corrente subterrnea da arte do sculo XX (que poderi a receber o
t tulo: Visual idade e seus Descontentes)
65
e por vezes expresso em um
excesso de erot ismo anal . O erot ismo anal encontra uma apl icao narcsea
na produo do desafio, escreveu Freud em um artigo sobre o tema em 1917
no desafio de vanguarda tambm, poder-se-ia acrescentar, da mquina de
moer chocolate de Duchamp, passando pelas latas de merde de Piero Manzoni ,
at as pilhas de substi tutos de merda de John Miller.
66
Esses diferentes gestos
tm valnci as distintas. Na arte contempornea o desafio do erotismo anal
com freqncia autoconsciente, e mesmo autopardico. Ele no apenas testa
a autoridade repressora do anal da cul tura museolgica tradicional (o que em
parte uma proj eo edpica), mas tambm ridicul ariza o narcisismo ertico
63 Ver Benj amin H.D. Buchloh, Figures of
Authori ty, Ciphers of Regression, October 16
(Spring 1981): Esse cone do palhao s
equiparado, em freqncia, nas pinturas daquele
perodo [os anos 20] pela representao do
mani chino, a boneca de madeira, o corpo
reificado, originrio tanto de decoraes de
vitrinas quanto do ateli de artistas acadmicos.
Se o primeiro cone aparece no contexto do
carnaval e do circo, como a mascarada da
al i enao da histri a present e, o segundo
aparece no palco da reificao. (53)
64 Abjetado e reprimido, fora e embaixo;
esses temos tornam-se crticos, capazes de revelar
o aspecto het erossexist a dessas oposi es.
Porm essa lgica pode tambm acei tar uma
reduo da homossexualidade masculina a um
erotismo anal . Alm disso, como no zombar
i nf ant i l i zado da l ei pa t erna, el a pode
eventualmente aceitar a dominncia dos prprios
termos aos quais se ope.
65 Para uma leitura incisiva desse modernismo
descontente, ver Rosalind Krauss, The Optical
Unconscious (Cambridge: MIT Press, 1992); e,
para uma histria compreensiva dessa tradio
antiocular, ver Martin Jay, Downcast Eyes: The
Denigration of Vision in Twentieth-Century French
Thought (Berkeley: University of California Press,
1993).
66 Sigmund Freud, On Transformat ions of
Instinct as Exemplified in Anal Erotism, in: On
Sexual i ty, Angel a Richards (org. ) (Londres:
Penguin, 1977), 301. Sobre o primi t ivismo
desse desaf i o vanguardi st a, ver meu t exto
Primi tive Scenes, Cri tical Inquiry (Inverno
1993). Evocaes do erotismo anal, como no
Bl ack-Paint ing, de Rauschenberg, ou nos
graffitis iniciais de Twombly, podem ser mais
subversivos do que declaraes de desafio anal.
1 8 3
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
anal dos art istas rebeldes de vanguarda. Fal emos da desobedi nci a est
escri to em um cartaz com um pote de biscoi to, do artista Mike Kelley. Cagador
de calas e orgulhoso disso l -se em outro que escarnece a autocel ebrao
do incont inente inst i tucional . (Cai fora tambm acrescenta esse rebelde-
bobalho, como para compl etar seu sarcasmo civi l izao, de acordo com
Freud).
67
O desafio pode ser pattico, mas, novamente, tambm pode ser perverso,
uma toro da lei paterna da diferena sexual e generacional , tica e social .
Essa perverso freqentemente realizada por uma regresso mimtica a um
mundo anal , em que as diferenas dadas poderiam ser transformadas.
68
Tal o
espao fictcio no qual artistas como Kelley e Miller construram seu jogo crtico.
Em Dick/ Jane (1991) Miller tinge uma boneca loura de olhos azuis de marrom e
enterra profundamente seu pescoo em uma substncia semelhante... merda.
Conhecidos de velhas cartilhas, Dick e Jane ensinaram vrias geraes de
americanos a ler e como ler diferenas sexuais. Porm, na verso de Miller, Jane
transformada em um Dick (pau), e o compsi to flico enfiado em um
monte anal. Assim como a barra no t tulo, a diferena entre homem e mulher
transgredida, apagada e desvalorizada ao mesmo tempo, assim como a diferena
entre branco e negro. Resumindo, Miller cria um mundo anal que testa os termos
da diferena simblica.
69
Kelley tambm coloca seus seres em um mundo anal . Interligamos tudo,
construmos um campo, diz o coelho ao ursinho em Theory, Garbage, Stuffed
Animals, Christ (Teoria, Lixo, Animais de Pelcia, Cristo, 1991), portanto no
existe mais diferenciao.
70
Ele tambm explora o espao no qual os smbolos
so instveis, em que o concei to de faeces (dinheiro, presente), bebs e pnis
esto mal-distinguidos um do outro e so facilmente intercambiveis.
71
E ele
tambm o faz menos para celebrar a pura indistino do que para complicar a
di ferena simbl ica. Lumpem, a pal avra al em para trapo, que nos d
Lumpensammler (o catador de trapos que interessava tanto a Baudelaire) e
Lumpenproletariat (a massa esfarrapada demais para formar uma classe prpria,
que tanto interessava a Marx o resto, o que sobra, o recusado de todas as
classes),
72
uma palavra-chave no dicionrio de Kelley, que ele desenvolve
como um terceiro termo, como o obsceno, entre o informe e o abjeto. De certa
fora, ele faz o que Bataille queria fazer: pensa o materialismo por meio de fatos
psicolgicos ou sociais.
73
O resultado uma arte de formas lumpem (animais de
pelcia sujos, costurados uns aos outros em feias massas, pedaos de pano
imundos jogados sobre formas ruins), temas lumpem (imagens de sujeira e lixo)
e personae lumpem (homens disfuncionais que constroem aparatos estranhos,
encomendados de obscuros catlogos de subsolos e quintais). A maior parte
dessas coisas resiste a um moldar formal, mais ainda a uma sublimao cultural
ou relei tura social. medida que tem um referente social, ento, o Lumpem de
67 Kelley empurra o desafio infanti l ista em
di reo di sf uno adol escent e ( el e se
aprofunda bastante na subcultura jovem): Um
adolescente um adulto disfuncional, e a arte
uma realidade disfuncional, do meu ponto de
vista (ci tado em El isabeth Sussman (org.),
Catholic Taste [Nova York: Whitney Museum of
American Art, 1994], 51).
68 Ver Janine Chasseguet-Smirgel, Creativity and
Perversion (Nova York: W.W. Norton, 1984).
Chasseguet -Smi rgel consi dera a anal i dade
problemtica, de fato, homofbica, um espao
em que as diferenas so abolidas.
69 No entanto, esse testar real iza-se sob o
risco da velha associao racista entre negritude
e fezes.
70 Mike Kelley, Theory, Garbage, Stuffed Animals,
citado em Sussman (org.), Catholic Tastes, 86.
71 Freud, On Transformat ions of Inst i tct,
298. Kelley joga com conexes antropolgicas
e psi canal t i cas com est es t ermos fezes,
dinheiro, presentes, bebs, pnis.
72 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis
Bonaparte, em: Surveys fom Exile, David Fernbach
(org.) (Nova York: Vintage Books, 1974), 197.
73 Bataille, Visions of Excess, 15. Seno, Bataille
adverte, o Materialismo ser visto como um
idealismo senil.
Hal Fost er
1 8 4 concinnit as
Kelley ( diferena do Lumpem de Louis Bonaparte, Hi tler ou Mussolini) resiste
modelao, mais ainda mobilizao. Mas ser essa indiferena uma poltica?
Freqentemente, no cul to do abjeto, ao qual se relaciona a arte abjeta (o
cul to do desleixado e do perdedor, do grunge e da Gerao X), essa postura de
indiferena expressa pouco mais do que um cansao com a poltica das diferenas
(social , sexual , tnica). s vezes, no entanto, ela impe um cansao mais
fundamental: um estranho impulso em direo indiferenciao, um desejo
paradoxal de no ter desejo, de acabar com tudo, uma chamada da regresso
para alm do infantil em direo ao inorgnico.
74
Em um texto de 1937, crucial
para a discusso lacaniana sobre o olhar, Roger Caillois, outro associado ao
surrealismo de Bataille, considerou esse impulso em direo indiferenciao,
em termos de visualidade especificamente nos termos da assimilao de insetos
ao espao por mimese.
75
Aqui Caillois argumenta que no existe a questo da
ao (como adaptao protetora), menos ainda a da subj et ividade (tais
organismos no possuem [esse] privilgio), uma condio que pode apenas
aproximar-se, no mbi to do ser humano, da extrema esquizofrenia:
Para essas almas despossudas, o espao parece ser uma fora devoradora.
O espao as persegue, as circunda, as digere em uma gigantesca fagocitose
[consumo de bactrias]. Termina repondo-as. Ento o corpo se separa
do pensamento, o indivduo rompe a barreira de sua pele e ocupa o
outro lado de seus sentidos. Ele tenta ver a si mesmo de um ponto
qualquer do espao. Ele se sente a si mesmo tornando-se o espao,
espao escuro onde as coisas no podem ser postas. Ele semelhante; no
semelhante a algo, mas apenas semelhante. E ele inventa espaos nos
quais ele a possesso pela convulso.
76
A quebra do corpo, o olhar devorando o sujei to, o sujei to tornando-se o
espao, o estado de pura simili tude: essas condies so evocadas na arte
recente em imagens de Sherman e outros, em objetos de Smi th e outros. Elas
relembram o ideal perverso da beleza, redefinido em termos do subl ime,
apresentado pelos surrealistas: uma possesso convulsiva do sujeito entregue
mortfera jouissance.
Se essa possesso convulsiva pode ser relacionada cultura contempornea,
ela deve ser dividida em suas partes consti tuintes: de um lado, um xtase na
quebra imaginada da imagem-anteparo e/ ou da ordem simblica; de outro, o
horror diante desse evento fantasmal , seguido de um desespero em relao a
ele. Algumas das primeiras definies do ps-modernismo evocam essa estrutura
exttica do sentimento, por vezes numa analogia com a esquizofrenia. De fato,
para Frederic Jameson, o principal sintoma do ps-modernismo uma quebra
esquizofrnica da linguagem e da temporalidade, que provoca um investimento
compensatrio na imagem e no instante.
77
E mui tos artistas de fato exploraram
intensidades do simulacro e pastisches a-histricos nos anos 80. Em intimaes
mais recentes do ps-modernismo, no entanto, a estrutura melanclica do
74 Sobre o que era a msica do Nirvana seno
sobre o princpio do Nirvana, uma cano de
ninar embalada pelo ritmo sonhador do impulso
de morte? Ver meu The Cult of Despair, New
York Times, 30 de dezembro de 1994.
75 Roger Cai l lois, Mimi cry and Legendary
Psychasthenia, October 31 (Winter 1984). Denis
Hollier classifica psychasthenia da seguinte
forma: uma queda no nvel de energia psquica,
uma espcie de detumescencia subjetiva, uma
perda de subst nci a egiga, uma exaust o
depressiva prximo daqui lo que um monge
chamaria de acedia (Mimesis and Castration in
1937, October 31: 11).
76 Idem, ibidem, 30.
77 Isso foi divulgado pel a primeira vez em
Postmodernism and Consumer Society, in Hal
Fost er (org. ), The Anti-Aesthetic: Essays on
Postmodern Culture (Seattle: Bat Press, 1983).
Para uma crtica de tais usos psicanalticos, ver
Jacqueline Rose, Sexuality and Vision: Some
Questions, in Foster (org.) Vision and Visuality.
Essa verso exttica no pode ser diferenciada
do boom do incio dos anos 80, nem a viso
melanclica pode ser diferenciada do exploso
do final dos anos 80 e incio dos 90.
1 8 5
O r et orno do r e al
ano 6, volume 1, nmero 8, julho 2005
sentimento predomina, e, s vezes, como em Kristeva, tambm associada a
uma ordem simblica em crise. Aqui os artistas so levados no para as alturas da
imagem do simulacro, mas para o baixo do objeto depressivo. Se alguns
modernistas tardios queriam transcender a figura referencial e alguns primeiros
ps-modernistas queriam delei tar-se na pura imagem, alguns ps-modernistas
tardios querem possuir a coisa real.
Hoje esse ps-modernismo bipolar est sendo empurrado em direo a uma
mudana quali tativa: mui tos artistas parecem motivados por uma ambio de
habi tar um lugar de afeto total e esvaziar-se totalmente de afeto; a possuir a
vi talidade obscena da ferida e ocupar a radicalidade niilista do cadver. Essa
oscilao sugere a dinmica do choque psquico, aparado pelo escudo protetor
que Freud desenvolveu em sua discusso do impulso de morte e Walter Benjamin
elaborou em sua discusso do modernismo de Baudelaire mas agora levado
para mui to alm do princpio do prazer. Puro afeto, nenhum afeto: It hurts, I
cant feel anything (di , no sinto nada).
78
Por que tal fascinao com o trauma? Por que essa inveja do abjeto hoje?
certo que motivos existem dentro da arte e da teoria. Como foi sugerido, h uma
insat isfao com o modelo t extual da cul tura assim como com a viso
convencional de realidade como se o real, reprimido no ps-modernismo ps-
estruturalista, tivesse retornado como traumtico. Alm disso, h a desiluso
com a celebrao do desejo enquanto passaporte aberto para um sujei to mvel
como se o real, descartado por um ps-modernismo performtico tivesse sido
mobil izado contra um mundo imaginrio de uma fantasia capturada pelo
consumismo. Mas h foras intensas trabalhando igualmente em outras partes:
desespero diante da crise persistente da Aids, doenas invasivas e morte, pobreza
sistemtica e crimes, a destruio do estado de bem-estar social , de fato, a
quebra do contrato social (quando os ricos optam por sair, da revoluo, por
cima, enquanto os pobres so descartados, tornando-se miserveis, por baixo).
A articulao dessas diferentes foras difcil, porm juntas elas impulsionam a
preocupao contempornea com o trauma e com o abjeto.
Um resul tado este: para mui tos, na cul tura contempornea, a verdade
reside em temas traumticos ou abjetos, no corpo doente ou danificado. Podemos
estar certos de que esse corpo a base da evidncia de um importante testemunho
da verdade, do testemunho necessrio contra o poder. Porm, h perigos nessa
localizao da verdade, como a restrio de nosso imaginrio pol tico a dois
campos: o dos abjetores e o dos abjetados, e a pressuposio de que, para no
sermos contados ao lado dos sexistas e racistas, devemos nos tornar o objeto
fbico de tais sujei tos. Se h um sujei to da histria para o culto da abjeo, ele
no o trabalhador, nem a mulher, nem a pessoa de cor, mas o cadver. Essa no
apenas uma pol tica da diferena levada indiferena; uma pol tica de
al teridade, levada ao niilismo.
79
Tudo morre, diz o ursinho de Kelley. Como
78 Ver Sigmund Freud Beyond the Pl easure
Principle (1920), trad. James Strachey (Nova York:
W. W. Norton, 1961) e Wal ter Benjamin, On
Some Mot i f s i n Baudel ai r e (1939) , i n
Illuminations. Essa bipolaridade do exttico e
do abjeto talvez seja a afinidade, por vezes
mencionada na crtica social, entre o barroco e
o ps-moderno. Ambos so atrados por uma
fragmentao exttica que tambm um quebrar
traumtico; ambos so obcecados com figuras
do estigma e da mancha.
79 Questionar essa indiferena no significa
descartar uma pol tica no comuni tria, uma
possibi l idade explorada tanto pel as cr t icas
culturais (por exemplo, Leo Bersani), quanto
pel a teori a pol tica (por exemplo, Jean-Luc
Nancy).
Hal Fost er
1 8 6 concinnit as
ns, responde o coelho.
80
Porm seria esse ponto ni il ista a ep tome do
empobrecimento, que o poder no pode penetrar? Ou seria ele um lugar de onde
emana o poder em uma forma nova? Ser a abjeo uma recusa do poder, o seu
estratagema, ou sua reinveno?
81
Finalmente, seria a abjeo um espao-
tempo para alm da redeno? ou o caminho mais rpido em direo graa
para estrategistas-santos contemporneos?
Por meio das cul turas artstica, terica e popular (no SoHo, em Yale, na
Oprah), h uma tendncia a redefinir a experincia, individual e histrica, em
termos do trauma. De um lado, na arte e na teoria, o discurso sobre o trauma
cont inua a cr t i ca ps-estrutural ista do suj ei to, por outros meios, pois,
novamente, num registro psicanaltico, no existe o sujeito do trauma: a posio
evacuada, e nesse sentido a crtica do sujei to , aqui, a mais radical. De outro
lado, na cul tura popular, o trauma tratado como um acontecimento que
garante o sujeito, e nesse registro psicologizante, o sujeito, por mais perturbado,
retorna como testemunho, atestador, sobrevivente. Aqui se encontra de fato um
sujei to traumtico, e ele tem autoridade absoluta, pois no se pode desafiar o
trauma do outro, s se pode acreditar nele, at mesmo identificar-se com ele, ou
no. No discurso sobre o trauma, portanto, o sujeito ao mesmo tempo evacuado e
elevado. E dessa forma, o discurso do trauma resolve magicamente dois imperativos
contraditrios da cultura hoje: anlise desconstrutivista e poltica de identidade.
Esse estranho renascimento do autor, essa condio paradoxal de autoridade
ausente, uma virada significativa na arte contempornea e na poltica cultural.
Aqui o retorno do real converge com o retorno do referencial, e agora voltar-me-
ei para esse ponto.
82
80 Kelley, citado em Sussman (org.), Catholic
Tastes, 86.
81 O autodesinvestimento nesses artistas
tambm uma renncia de autoridade cultural,
escreveram Leo Bersani e Ulysse Dutoit sobre
Samuel Beckett, Mark Rothko e Alain Resnais,
em Arts of Impoverishment (Cambridge: Harvard
Uni versi ty Press, 1993). No ent anto, el es
perguntam: Haver, talvez um poder nessa
impotncia? Se positivo, ela no deveria ser,
por sua vez, questionada?
82 Alguns comentrios suplementares: (1) Se
h, como observaram al guns, uma vi rada
autobiogrfica na arte e na crtica, ela sempre
um gnero paradoxal, pois possvel que no
exista um eu l. (2) Da mesma forma que o
depressivo duplicado pelo agressivo, tambm
o traumat i zado pode tornar-se host i l , e o
violado, por sua vez, violar. (3) A reao contra
o ps-estruturalismo, o retorno do real, tambm
expressa uma nostalgia por categorias universais
de ser e de experincia. O paradoxo que esse
renasci mento do humani smo ocorreri a no
registro do traumtico. (4) Em alguns momentos
deste cap tulo, permi ti que os concei tos de
trauma e abjeto se tocassem, como ocorre na
cultura, ainda que sejam teoricamente distintos,
desenvol vi dos em di f erent es corrent es da
psicanlise.
Anda mungkin juga menyukai
- Livro Entendendo Freud Richard AppignanesiDokumen180 halamanLivro Entendendo Freud Richard AppignanesiNatalia Moreschi100% (2)
- Exp. 3 - Cromatografia em Papel - PimentasDokumen6 halamanExp. 3 - Cromatografia em Papel - PimentasRansMilerDantasBelum ada peringkat
- Ler Freud Guia de Leitura Da Obra (65-73)Dokumen9 halamanLer Freud Guia de Leitura Da Obra (65-73)Bruna MarlièreBelum ada peringkat
- O Segredo Da MacumbaDokumen131 halamanO Segredo Da Macumbastefania82% (11)
- Jornal EX n8 Dezembro 1974Dokumen28 halamanJornal EX n8 Dezembro 1974Gustavo FernandesBelum ada peringkat
- Tratado geral sobre a fofoca: Uma análise da desconfiança humanaDari EverandTratado geral sobre a fofoca: Uma análise da desconfiança humanaPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- ROMÃO, Luiza. SangriaDokumen116 halamanROMÃO, Luiza. Sangriarafaela scardinoBelum ada peringkat
- O psicodrama antes e depois de Moreno: Dos gregos antigos à internetDari EverandO psicodrama antes e depois de Moreno: Dos gregos antigos à internetBelum ada peringkat
- Por Que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou PDFDokumen156 halamanPor Que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou PDFDiego Oliveira100% (2)
- Relatorio Acido Acetico Comercial Relatorio FinalDokumen10 halamanRelatorio Acido Acetico Comercial Relatorio FinalLuan ModestoBelum ada peringkat
- Folha Explica M KLEIN PDFDokumen116 halamanFolha Explica M KLEIN PDFMarcos de Melo100% (3)
- MAFFESOLI Michel A Parte Do DiaboDokumen192 halamanMAFFESOLI Michel A Parte Do DiaboJu Blau100% (2)
- A Metafora Do Olho (Roland Barthes)Dokumen6 halamanA Metafora Do Olho (Roland Barthes)Cardes PimentelBelum ada peringkat
- 00-Pornografia GrotescoDokumen7 halaman00-Pornografia Grotescojorge leite jrBelum ada peringkat
- 00-Pornografia GrotescoDokumen7 halaman00-Pornografia Grotescojorge leite jrBelum ada peringkat
- Relatório 4 Preparo de Soluções - Química GeralDokumen4 halamanRelatório 4 Preparo de Soluções - Química GeralThaysa Lima100% (2)
- Comicidade e Riso Vladimir ProppDokumen220 halamanComicidade e Riso Vladimir ProppJaquelineHansenBelum ada peringkat
- Nietzsche - AuroraDokumen351 halamanNietzsche - AuroraCrislaine Vanessa Dos Santos AlvesBelum ada peringkat
- Elementos para Uma Historia Do Conceito de Sadomasoquismo - Jorge Leite JRDokumen178 halamanElementos para Uma Historia Do Conceito de Sadomasoquismo - Jorge Leite JRjorge leite jrBelum ada peringkat
- MAFFESOLI Michel A Parte Do DiaboDokumen192 halamanMAFFESOLI Michel A Parte Do DiabocahenriqueBelum ada peringkat
- A Sátira Romana D'onofrio Diatribe PDFDokumen151 halamanA Sátira Romana D'onofrio Diatribe PDFEdelberto Pauli JúniorBelum ada peringkat
- Relatorio 06Dokumen17 halamanRelatorio 06Otávio FuroniBelum ada peringkat
- De Nuptiis Philologiae Et Mercurii (Martianus Capella (Auth.), James Willis (Ed.) )Dokumen241 halamanDe Nuptiis Philologiae Et Mercurii (Martianus Capella (Auth.), James Willis (Ed.) )valter soaresBelum ada peringkat
- Antoine Compagnon - O Demônio Da Teoria-Ed. UFMG (1999)Dokumen27 halamanAntoine Compagnon - O Demônio Da Teoria-Ed. UFMG (1999)Daran Pires TeixeiraBelum ada peringkat
- O Publico Moderno e A FotografiaDokumen3 halamanO Publico Moderno e A FotografiaWillian MagalhaesBelum ada peringkat
- Jornal EX 14 Setembro 1975Dokumen40 halamanJornal EX 14 Setembro 1975Farley BertolinoBelum ada peringkat
- Ficcao Brasileira ContemporaneaDokumen176 halamanFiccao Brasileira ContemporaneaUlissesStefanelloKarnikowskiBelum ada peringkat
- João Pacheco de Oliveira - Uma Etnologia Dos Índios Misturados - Situação Colonial, Territorialização e Fluxos CulturaisDokumen31 halamanJoão Pacheco de Oliveira - Uma Etnologia Dos Índios Misturados - Situação Colonial, Territorialização e Fluxos CulturaisAdriano SousaBelum ada peringkat
- O Que é Negritude - Zilá BerndDokumen14 halamanO Que é Negritude - Zilá BerndBeatriz Ribeiro F. CarvalhoBelum ada peringkat
- Programa Discurso Sobre o Filho Da PutaDokumen28 halamanPrograma Discurso Sobre o Filho Da PutaDiana DevezasBelum ada peringkat
- Alvaro de CamposDokumen24 halamanAlvaro de Camposelena100% (1)
- Hem Cenit 196001 PDFDokumen36 halamanHem Cenit 196001 PDFjuan pabloBelum ada peringkat
- Batalha Reis. Anos de LisboaDokumen32 halamanBatalha Reis. Anos de LisboaMaria Clara NoronhaBelum ada peringkat
- A Dimensão Estética - Marcuse HerbertDokumen14 halamanA Dimensão Estética - Marcuse HerbertGabriel Kafure da RochaBelum ada peringkat
- Poemadançando - Gilka Machado e Eros Volúsia (Ed. UnB)Dokumen258 halamanPoemadançando - Gilka Machado e Eros Volúsia (Ed. UnB)Tura CaramanBelum ada peringkat
- Memória Coletiva e Sincretismo Científico-Renato OrtizDokumen17 halamanMemória Coletiva e Sincretismo Científico-Renato OrtizLetícia FerreiraBelum ada peringkat
- 08 Mulheres - em - Cena - Catalogo PDFDokumen223 halaman08 Mulheres - em - Cena - Catalogo PDFStephania AmaralBelum ada peringkat
- Compagnon - O Mundo (O Demônio Da Teoria)Dokumen43 halamanCompagnon - O Mundo (O Demônio Da Teoria)Leandro Nascimento PereiraBelum ada peringkat
- BnnccdgjjygvMovimento Antoprofágico.3Dokumen13 halamanBnnccdgjjygvMovimento Antoprofágico.3Alex Sandro Feitosa AzulianoBelum ada peringkat
- Formas de Tratamento e Estruturas Sociais - BidermanDokumen43 halamanFormas de Tratamento e Estruturas Sociais - BidermanÉlide Elen SantanaBelum ada peringkat
- Mark Fisher 2009 Se Pudessemos ObservarDokumen12 halamanMark Fisher 2009 Se Pudessemos ObservarLil GozoBelum ada peringkat
- BUYS, Rogerio. A Psicologia Humanista (História Da Psicologia - Rumos e Percursos, Cap. 20)Dokumen9 halamanBUYS, Rogerio. A Psicologia Humanista (História Da Psicologia - Rumos e Percursos, Cap. 20)José FreitasBelum ada peringkat
- Andé VillelaDokumen39 halamanAndé VillelaMislene VieiraBelum ada peringkat
- 4485 - LS - S2 - 13-14 - CristinaSobralDokumen38 halaman4485 - LS - S2 - 13-14 - CristinaSobralelizabete RibeiroBelum ada peringkat
- Claudia Ulloa Donoso - PassarinhoDokumen8 halamanClaudia Ulloa Donoso - PassarinhoNadia Ayelén MedailBelum ada peringkat
- DIALOGO Y COMPARACION ENTRE LAS ARTESpdfDokumen13 halamanDIALOGO Y COMPARACION ENTRE LAS ARTESpdfXamarrubBelum ada peringkat
- BN Digital 2109Dokumen63 halamanBN Digital 2109cancelaBelum ada peringkat
- El Austríaco Hugo Von Hofmannsthal y La Tradición CalderonianaDokumen12 halamanEl Austríaco Hugo Von Hofmannsthal y La Tradición CalderonianaKELLY JOJANA RIOS SALAZARBelum ada peringkat
- Output.oDokumen338 halamanOutput.oRenivaldoBelum ada peringkat
- Santanna, 02 - Conferência2 PDFDokumen14 halamanSantanna, 02 - Conferência2 PDF96 clientesBelum ada peringkat
- Luiza Romão - SangriaDokumen116 halamanLuiza Romão - SangriaBeatriz SouzaBelum ada peringkat
- Sobre o Símbolo Da CampanhaDokumen9 halamanSobre o Símbolo Da CampanhaKarla KlidianyBelum ada peringkat
- A Emergencia Dos Remanescentes Notas ParDokumen32 halamanA Emergencia Dos Remanescentes Notas ParTaciana Sales de OliveiraBelum ada peringkat
- Boletin 28 15 83 11Dokumen4 halamanBoletin 28 15 83 11José Natarén AquinoBelum ada peringkat
- Ellen Wood Capitalismo Contra Democracia Trabalho e DemocraciaDokumen21 halamanEllen Wood Capitalismo Contra Democracia Trabalho e Democraciathaynacostae100% (1)
- Aporías de La Vanguardia. H.M. EnzensbergerDokumen18 halamanAporías de La Vanguardia. H.M. EnzensbergeraupairinblueBelum ada peringkat
- CADERNO 12 Martinho LuteroDokumen43 halamanCADERNO 12 Martinho Luterowallison AndradeBelum ada peringkat
- Javé, o Senhor Um Deus Patriarcal e LibertadorDokumen7 halamanJavé, o Senhor Um Deus Patriarcal e LibertadorVanderlei Lima100% (1)
- L Oliveira Falando de MusicaDokumen130 halamanL Oliveira Falando de MusicaUbaldo RizzaldoBelum ada peringkat
- Lajonquiere Piaget-Freud PDFDokumen80 halamanLajonquiere Piaget-Freud PDFPris SousaBelum ada peringkat
- Trabalho Na HistoriaDokumen15 halamanTrabalho Na HistoriaProf. Luiz FelipeBelum ada peringkat
- Análise Do Poema de Sete Faces DrummondDokumen2 halamanAnálise Do Poema de Sete Faces DrummondLenise De Oliveira TavaresBelum ada peringkat
- Sobre Sergio Miceli 1996 Imagens NegociaDokumen27 halamanSobre Sergio Miceli 1996 Imagens NegociajeanfbdBelum ada peringkat
- TARDE Gabriel As Leis SociaisDokumen114 halamanTARDE Gabriel As Leis SociaishxistoBelum ada peringkat
- LIVRO - Curso Livre de Teoria Crítica - NOBRE, MarcosDokumen52 halamanLIVRO - Curso Livre de Teoria Crítica - NOBRE, MarcosEduardo Von DentzBelum ada peringkat
- Travestis Brasileiras e Exotismo SexualDokumen7 halamanTravestis Brasileiras e Exotismo Sexualjorge leite jrBelum ada peringkat
- A Pornografia É Um Morto-Vivo? Jorge Leite JRDokumen17 halamanA Pornografia É Um Morto-Vivo? Jorge Leite JRjorge leite jrBelum ada peringkat
- KAPPLER, Claude, A Noção de MonstruosidadeDokumen39 halamanKAPPLER, Claude, A Noção de Monstruosidadejorge leite jrBelum ada peringkat
- Antropologia SocialDokumen190 halamanAntropologia SocialGabriel HendzouBelum ada peringkat
- O Que e Um Monstro - Jorge Leite JRDokumen4 halamanO Que e Um Monstro - Jorge Leite JRjorge leite jrBelum ada peringkat
- Lípideos - Atividade em Sala - GabiDokumen3 halamanLípideos - Atividade em Sala - GabiGabriela Maria MartínezBelum ada peringkat
- Aula 6Dokumen18 halamanAula 6Adriano Silva SouzaBelum ada peringkat
- Material Complementar GeralDokumen94 halamanMaterial Complementar GeralLuiz FelipeBelum ada peringkat
- Estudo de Caso - TA615 - Microbiologia de AlimentosDokumen9 halamanEstudo de Caso - TA615 - Microbiologia de AlimentosDanielPiauBelum ada peringkat
- Resinas Compostas Parte 1 PDFDokumen12 halamanResinas Compostas Parte 1 PDFFilipe Queiroz100% (1)
- Revisão de Ciências - 05.10Dokumen3 halamanRevisão de Ciências - 05.10Sthafani HussinBelum ada peringkat
- Aula Intro Quimica PDFDokumen9 halamanAula Intro Quimica PDFitalo jimenezBelum ada peringkat
- FISPQ INSETICIDA INSECT-FREE Fab BastonDokumen10 halamanFISPQ INSETICIDA INSECT-FREE Fab BastonHenrique CorazzaBelum ada peringkat
- Relatorio 2 Quimica GeralDokumen18 halamanRelatorio 2 Quimica GeralEmily RufinoBelum ada peringkat
- MC-Injekt 2300 Flow - 03 2012 PDFDokumen2 halamanMC-Injekt 2300 Flow - 03 2012 PDFKirke Andrew Wrubel Moreira100% (1)
- Resumo - 699210 Eduardo Ulisses - 85098600 Quimica Espcex Aula 03 Substancias e MisturasDokumen6 halamanResumo - 699210 Eduardo Ulisses - 85098600 Quimica Espcex Aula 03 Substancias e MisturasHellry MoraesBelum ada peringkat
- 49 EletrólisesDokumen3 halaman49 Eletrólisesnv77vnmBelum ada peringkat
- 1.5160 Fispq - Premix AlipeixesDokumen8 halaman1.5160 Fispq - Premix AlipeixesSilvinho AmaralBelum ada peringkat
- Patologias Nas Estruturas de Concreto Armado - Rodolfo Shamá - 2017 1 - PARTE 1Dokumen24 halamanPatologias Nas Estruturas de Concreto Armado - Rodolfo Shamá - 2017 1 - PARTE 1Arnon TavaresBelum ada peringkat
- Tratamento de Efluentes Cianetados PDFDokumen11 halamanTratamento de Efluentes Cianetados PDF23tsuki32Belum ada peringkat
- RADIOLOGIA 40h - PROVA INSTITUCIONALDokumen8 halamanRADIOLOGIA 40h - PROVA INSTITUCIONALEliza BispoBelum ada peringkat
- LISTA de EXERCICIOS Conversão de Unidades Rev 6Dokumen2 halamanLISTA de EXERCICIOS Conversão de Unidades Rev 6Virlaine Crislla0% (1)
- Físico-Química - EletroquímicaDokumen3 halamanFísico-Química - EletroquímicaPaulo GonçalvesBelum ada peringkat
- 2º Ano Quimica I Bimestre (Recuperado)Dokumen3 halaman2º Ano Quimica I Bimestre (Recuperado)FAGNER GONCALVES LOPESBelum ada peringkat
- Apostila Concreto III INBEC UNIPDokumen113 halamanApostila Concreto III INBEC UNIPPedro Henrique AlmeidaBelum ada peringkat
- Taquigrafia 4 PDF FreeDokumen40 halamanTaquigrafia 4 PDF FreeGjcuihhhBelum ada peringkat
- 1 Química - Separação de Misturas (OK)Dokumen10 halaman1 Química - Separação de Misturas (OK)Lorena MoniqueBelum ada peringkat
- 5° Rost0249 Desensiladeira Vertmixer 2.0 AcDokumen44 halaman5° Rost0249 Desensiladeira Vertmixer 2.0 AcFelipe de Paula100% (1)
- Lista de Exercicios - Quí Mica Organica II - Unidade 3Dokumen2 halamanLista de Exercicios - Quí Mica Organica II - Unidade 3Everton SilvaBelum ada peringkat
- Document 89796392 Fispq Espuma Expansiva 320gr Tek BondDokumen7 halamanDocument 89796392 Fispq Espuma Expansiva 320gr Tek Bondmeioambiente1ipeBelum ada peringkat
- TP1 - Potencial Hidrico - 2017-2018Dokumen23 halamanTP1 - Potencial Hidrico - 2017-2018ÉlitonSanclérBelum ada peringkat