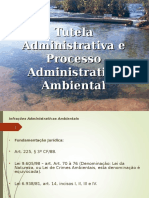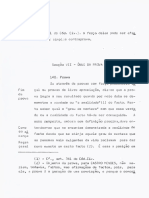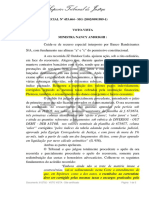Revista MP - PB PDF
Diunggah oleh
Rafael Andrade LinkeDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Revista MP - PB PDF
Diunggah oleh
Rafael Andrade LinkeHak Cipta:
Format Tersedia
1
Revista Jurdica do
Ministrio Pblico
R. Jurdica do Ministrio Pblico. Joo Pessoa, ano 1, n. 1, jan./jun.2007.
ESTADO DA PARABA
MINISTRIO PBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIA
CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIOAMENTO FUNCIONAL
ISSN 1980-9662
2
REVISTA JURDICA DO MINISTRIO PBLICO DA PARABA
Criada e publicada pelo Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional - CEAF
JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIA
PAULO BARBOSA DE ALMEIDA
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIA
JOS ROSENO NETO
CORREGEDOR-GERAL
DARCY LEITE CIRAULO
SECRETRIA-GERAL
RISALVA DA CMARA TORRES
COORDENADORA DO CEAF
FREDERICO MARTINHO DA NBREGA COUTINHO
DIRETOR DO CEAF
IMPRESSO:
IMPRIMA - GRFICA E EDITORA
EDITORAO ELETRNICA E CRIAO DE CAPA:
RICARDO ARAJO - RP/DRT-PB 631
REVISO:
FLIX DE CARVALHO
MINISTRIO PBLICO DA PARABA
CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIOAMENTO FUNCIONAL - CEAF
Rua Monsenhor Walfredo Leal, n 353 Tambi
CEP. 58.020-540
Joo Pessoa - PB
Fone: (083) 3221-0917
e-mail: ceafdir@pgj.gov.br
Direitos reservados ao Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional
do Ministrio Pblico do Estado da Paraba
A responsabilidade dos trabalhos publicados exclusivamente de seus autores.
Catalogao da publicao elaborada pela Biblioteca do MPPB
Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Ministrio Pblico. Procuradoria-Geral de Justia /
Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional. Joo
Pessoa: MP/ PGJPB, CEAF, ano 1, n.1, (jan./jun.2007).
Semestral
1.DIREITO peridicos I.Ministrio Pblico do Estado
da Paraba. Procuradoria-Geral de Justia II.Centro deEstudos
e Aperfeioamento Funcional/CEAF
CDU 34(05)
ISSN 1980-9662
3
REVISTA JURDICA DO MINISTRIO PBLICO
Publicada pelo Centro de Estudos e Aperfeioamento Funcional - CEAF
CONSELHO EDITORIAL
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
PRESIDENTE
Antnio Hortncio Rocha Neto
SECRETRIO
Bertrand de Arajo Asfora
PROMOTOR DE JUSTIA
Guilherme Costa Cmara
PROMOTOR DE JUSTIA
Lcio Mendes Cavalcante
PROMOTOR DE JUSTIA
Oswaldo Trigueiro do Vale Filho
PROMOTOR DE JUSTIA
Adriano D Leon
PROFESSOR
Eduardo Ramalho Rabenhorst
PROFESSOR
Marcelo Weick Pogliase
PROFESSOR
Mrcio Accioly de Andrade
PROFESSOR
Rogrio Magnus Varela Gonalves
PROFESSOR
Rogrio Roberto Gonalves de Abreu
JUIZ FEDERAL
4
APOIO EDITORIAL
Lucelena Muniz Fernandes
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PESQUISA E PUBLICAO
Nigria Pereira da Silva Gomes
BIBLIOTECRIA E ESPECIALISTA EM ORGANIZAO DE ARQUIVO
Edmilson Furtado Lacerda
OFICIAL DE PROMOTORIA
Franciraldo Miguel
OFICIAL DE PROMOTORIA
Maria da Conceio Morato
TCNICO DE PROMOTORIA
Maria Perptua Brasileiro
TCNICO DE PROMOTORIA
Srgio Tlio Bezerra Rodrigues de Lima
OFICIAL DE PROMOTORIA
Vnia Soares Beltro
OFICIAL DE PROMOTORIA
APOIO
APMP - Associao Paraibana do Ministrio Pblico
Joo Arlindo Corra Neto
PRESIDENTE
FESMIP - Fundao Escola Superior do Ministrio Pblico
Guilherme Costa Cmara
DIRETOR-GERAL
5
Janete Maria Ismael da Costa Macedo
Presidente
Jos Marcos Navarro Serrano
Maria Lurdlia Diniz de Albuquerque Melo
Snia Maria Guedes Alcoforado
Lcia de Ftima Maia de Farias
Joslia Alves de Freitas
Alcides Orlando de Moura Jansen
Antnio de Pdua Torres
Risalva da Cmara Torres
Ktia Rejane de Medeiros Lira Lucena
Doriel Veloso Gouveia
Jos Raimundo de Lima
Paulo Barbosa de Almeida
lvaro Cristino Pinto Gadelha Campos
Marcus Vilar Souto Maior
Jos Roseno Neto
Otanilza Nunes de Lucena
Francisco Sagres Macedo Vieira
Nelson Antnio Cavalcante Lemos
Janete Maria Ismael da Costa Macedo
Presidente
Jos Roseno Neto
Corregedor-Geral
Alcides Orlando de Moura Jansen
Jos Raimundo de Lima
lvaro Cristino Pinto Gadelha Campos
Marcus Vilar Souto Maior
Francisco Sagres Macedo Vieira
COLGIO DE PROCURADORES
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTRIO PBLICO
6
MEMBROS DO MINISTRIO PBLICO
PROCURADORES DE JUSTIA
Jos Marcos Navarro Serrano; Maria Lurdlia Diniz de Albuquerque Melo; Janete Ma-
ria Ismael da Costa Macedo; Snia Maria Guedes Alcoforado; Lcia de Ftima Maia de
Farias; Joslia Alves de Freitas; Alcides Orlando de Moura Jansen; Antnio de Pdua
Torres; Risalva da Cmara Torres; Ktia Rejane de Medeiros Lira Lucena; Doriel Velo-
so Gouveia; Jos Raimundo de Lima; Paulo Barbosa de Almeida; lvaro Cristino Pinto
Gadelha Campos; Marcus Vilar Souto Maior; Jos Roseno Neto; Otanilza Nunes de
Lucena; Francisco Sagres Macedo Vieira; Nelson Antnio Cavalcante Lemos.
PROMOTORES DE JUSTIA DE 3 ENTRNCIA
Maria Regina Cavalcanti da Silveira; Jacilene Nicolau Faustino Gomes; Lcia Pereira
Marsicano; Valberto Cosme de Lira; Manoel Henrique Serejo Silva; Newton Carneiro
Vilhena; Maria Lcia Ribeiro Firemam; Lincoln da Costa Eloy; Joaci Juvino da Costa
Silva; Wandilson Lopes de Lima; Victor Manoel Magalhes Granadeiro Rio; Vasti
Cla Marinho da Costa Lopes; Marilene de Lima Campos de Carvalho; Maria das
Graas de Azevedo Santos; Antnio Carlos Ramalho Leite; Jos Eulmpio Duarte;
Herbert Douglas Targino; Snia Maria de Paula Maia; Afra Jernimo Leite Barbosa
de Almeida; Francisco Antnio de Sarmento Vieira; Maria Ferreira Lopes Roseno;
Ana Lcia Torres de Oliveira; Nilo de Siqueira Costa Filho; Scrates da Costa Agra;
Berlino Estrela de Oliveira; Maria Salete de Arajo Melo Porto; Suamy Braga da
Gama Carvalho; Maria do Socorro Silva Lacerda; Ana Raquel de Brito Lira Beltro;
Flvio Wanderley da Nbrega Cabral Vasconcelos; Luciano de Almeida Maracaj;
Arlan Costa Barbosa; Jos Guilherme Soares Lemos; Joo Geraldo Carneiro Barbosa;
Aristteles de Santana Ferreira; Clark de Souza Benjamim; Francisco Paula Ferreira
Lavor; Joo Arlindo Corra Neto; Dinalba Araruna Gonalves; Jos Farias de Sousa
Filho; Osvaldo Lopes Barbosa; Eriosvaldo da Silva; Guilherme Barros Soares; Rog-
rio Rodrigues Lucas de Oliveira; Arlindo Almeida da Silva; Noel Crisstomo de Oli-
veira; Fernando Antnio Ferreira de Andrade; Larcio Joaquim de Macedo; Valdete
Costa Silva de Figueiredo; Wildes Saraiva Gomes Filho; Aderbaldo Soares de Olivei-
ra; Francisco Glauberto Bezerra; Rosane Maria Arajo e Oliveira; Alexandre Csar
Fernandes Teixeira; Vanina Nbrega de Freitas Dias Vieira; Eny Nbrega de Moura
Filho; Roseane Costa Pinto Lopes; Jonas Abrantes Gadelha; Soraya Soares da Nbre-
ga Escorel; Alley Borges Escorel; Silvana de Azevedo Targino; Lus Nicomedes de
7
Figueiredo Neto; Cristiana Ferreira Moreira Cabral de Vasconcelos; Frederico Mar-
tinho da Nbrega Coutinho; Catarina Campos Batista Gaudncio; Manoel Cacimiro
Neto; drio Nobre Leite; Jllia Cristina do Amaral Nbrega Ferreira; Renata Carva-
lho da Luz; Rodrigo Marques da Nbrega; Alexandre Jorge do Amaral Nbrega; Joo
Manoel de Carvalho Costa Filho; Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; Carlos Romero
Lauria Paulo Neto; Gustavo Rodrigues Amorim; Antnio Hortncio Rocha Neto; Er-
nani Lucena Filho; Alusio Cavalcanti Bezerra; Valfredo Alves Teixeira; Maria Socor-
ro Lemos Mayer; Ronaldo Jos Guerra; Valrio Costa Bronzeado; Cludio Antnio
Cavalcanti; Leonardo Pereira de Assis; Maria Edilgia Chaves Leite; Amadeus Lopes
Ferreira; Dmitri Nbrega Amorim; Luiz Williams Aires Urquisa; Ivete Lenia Soares
de Oliveira Arruda; Isamark Leite Fontes; Tatjana Maria Nascimento Lemos; Carla
Simone Gurgel da Silva; Severino Coelho Viana; Priscylla Miranda Morais Maro-
ja; Bertrand de Arajo Asfora; Octvio Celso Gondim Paulo Neto; Guilherme Costa
Cmara; Hamilton de Souza Neves Filho; Darcy Leite Ciraulo; Francisco Serphico
Ferraz da Nbrega Filho.
PROMOTORES DE JUSTIA DE 2 ENTRNCIA
Otoni Lima de Oliveira; Onssimo Csar Gomes da Silva Cruz; Pedro Alves da N-
brega; Newton da Silva Chagas; Jos Raldeck de Oliveira; Carolina Lucas Ferrei-
ra; Alexandre Jos Irineu; Edjacir Luna da Silva; Francisco Lianza Neto; Marinho
Mendes Machado; Glucia Maria de Carvalho Xavier; Manoel Pereira de Alencar;
Nara Elizabeth Torres de Souza Lemos; Glucia da Silva Campos Porpino; Henrique
Cndido Ribeiro de Morais; Maria de Lourdes Neves Pedrosa Bezerra; Demtrius
Castor de Albuquerque Cruz; Aldenor de Medeiros Batista; Francisco Brgson Go-
mes Formiga Barros; Hermgenes Braz dos Santos; Patrcia Maria de Souza Ismael
da Costa; Alyrio Batista de Souza Segundo; Lcio Mendes Cavalcante; Romualdo
Tadeu de Arajo Dias; Norma Maia Peixoto; Anne Emanuelle Malheiros Costa Y
Pl Trevas; Antnio Barroso Pontes Neto; Ismnia do Nascimento Rodrigues Pessoa
Nbrega; Fabiana Maria Lbo da Silva; Anita Bethnia Rocha Cavalcanti de Mello;
Jovana Maria Pordeus e Silva; Ricardo Jos de Medeiros e Silva; Dulcerita Soares
Alves de Carvalho; Alessandro de Lacerda Siqueira; Ana Maria Frana Cavalcante
de Oliveira; Mrcia Betnia Casado e Silva; Judith Maria de Almeida Lemos; Ana
Cndida Espnola; Adriana Arajo dos Santos; Ana Maria Pordeus Gadelha Braga;
Otaclio Marcos Machado Cordeiro; Artemise Leal Silva; Maricelly Fernandes Vieira;
Adriana de Frana Campos; Adriana Amorim de Lacerda; Sandra Regina Paulo Neto
de Melo; Rhomeika Maria de Frana Porto; Herbert Vitrio Seram de Carvalho; Ana
Guarabira de Lima Cabral; Ana Caroline Almeida Moreira; Liana Espnola Pereira
de Carvalho; Marcus Antonius da Silva Leite; Raniere da Silva Dantas; Dris Ayalla
Anacleto Duarte; Juliana Couto Ramos; Andra Bezerra Pequeno; Gardnia Cirne de
Almeida Galdino; Mrcio Gondim do Nascimento; Juliana Lima Salmito; Clstenes
Bezerra de Holanda; Eduardo Barros Mayer; Rodrigo Silva Pires de S; Fernando
Cordeiro Stiro Jnior; Jos Leonardo Clementino Pinto; Joseane dos Santos Amaral;
8
Alexandre Varandas Paiva; Sandremary Vieira de Melo Agra Duarte; Edmilson de
Campos Leite Filho; Ricardo Alex Almeida Lins; Rafael Lima Linhares; Jos Bezerra
Diniz; Abrao Falco de Carvalho; Elaine Cristina Pereira Alencar.
PROMOTORES DE JUSTIA DE 1 ENTRNCIA
Joo Ansio Chaves Neto; Mrcio Teixeira de Albuquerque; Jeaziel Carneiro dos Santos;
Alcides Leite de Amorim; Rosa Cristina de Carvalho; Edivane Saraiva de Souza; Clu-
dia Cabral Cavalcante; Miriam Pereira Vasconcelos; Luciara Lima Simeo Moura.
PROMOTORES DE JUSTIA SUBSTITUTOS
Caroline Freire de Moraes; Joo Benjamin Delgado Neto; Paula da Silva Camillo
Amorim; Cludia de Souza Cavalcanti Bezerra; Fbia Cristina Dantas Pereira; Da-
nielle Lucena da Costa; Leonardo Cunha Lima de Oliveira; Ismael Vidal Lacerda;
Cassiana Mendes de S; Carmem Eleonora da Silva Perazzo.
9
SUMRIO
EDITORIAL .............................................................................................................................. 8
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM CASOS DE
AFRONTA AO DEVER DE LICITAR ..................................................................................... 9
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO MINISTRIO PBLICO
E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS .......................................................................18
Guilherme da Costa Cmara
A LIBERDADE EM DESCARTES ........................................................................................ 31
Antnio Jorge Soares
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO DAS CRIANAS
E DO ADOLESCENTE .......................................................................................................... 40
Fabiana Maria Lbo da Silva
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ...................................................... 60
Severino Coelho Viana
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO......................................... 85
Mrcia Betnia Casado e Silva
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL.................................................................94
Gardnia Cirne de Almeida Galdino
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA...................................................................................122
Srgio Alexandre de Moraes Braga Jnior
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO................................................146
Antnio Hortncio Rocha Neto
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS.............................................163
Amadeus Lopes Ferreira
LIMITAES LIBERDADE EM FACE DA PRTICA DE TIPOS PENAIS..................169
Ricardo Alex Almeida Lins
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDA DE APLICAO DO PRRNCIPIO DA PRECAO ...............................190
Talden Farias
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES E CARACTERSTICAS ............................... 210
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS E O PAPEL
DO MINISTRIO PBLICA ............................................................................................... 219
Marcos Alexandre Bezerra Wanderley de Queiroga
10
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA PBLICA DE
QUALIDADE E A AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL...................................... 242
Lcio Mendes Cavalcante
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS NO CENRIO
JURDICO BRASILEIRO..................................................................................................... 252
Luciano Gomes Flix de Medeiros
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL................... 264
Francisco Serphico da Nbrega Coutinho
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA DE TRANSAO
PENAL PELO MINISTRIO PBLICO.............................................................................. 282
Liana Espnola Pereira de Carvalho
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL NO CDIGO CIVIL E NO
CDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ..................................................................... 299
Fernando Antnio de Vasconcelos
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER: O NOVO PERFIL
JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06...................................................................... 323
Ana Carolina Almeida Moreira
11
EDITORIAL
Um sonho realizado. Este o sentimento que, hoje, impe-
ra no Ministrio Pblico da Paraba, com a edio da presente re-
vista. Como se sabe, o campo acadmico de suma importncia
para a atividade jurdica. A pesquisa nele desenvolvida faz crescer
o conhecimento, dando uma viso mais aprofundada e qualica-
da acerca dos assuntos investigados. Assim, o prossional que se
aperfeioa consegue desenvolver mais a contento os seus miste-
res, elevando o conceito da instituio a que pertence. essencial
tambm que se propicie aos demais operadores do direito o conta-
to com o raciocnio desenvolvido na pesquisa, sua fundamentao
e seus resultados, proporcionando o acesso a novos conhecimentos.
Com essa preocupao, j h algum tempo, os membros do
Ministrio Pblico Estadual ansiavam por um espao no qual pudes-
sem externar os seus conhecimentos jurdicos, atravs de artigos que
abordassem as mais variadas ramicaes do direito. Agora, o antigo
sonho tornou-se realidade. Esta revista disponibiliza aos membros do
Ministrio Pblico Estadual a oportunidade de desenvolverem os seus
pensamentos jurdicos, consubstanciados em anlises sobre os assun-
tos mais polmicos, controvertidos e intrigantes dos diversos ramos do
direito. Possibilita tambm a publicao de artigos escritos por outros
operadores do direito, professores e pesquisadores, criando, com isso,
um verdadeiro intercmbio entre as mais variadas esferas da atividade
jurdica e o campo acadmico. Assim, com esta publicao, os Promo-
tores e Procuradores de Justia do Estado da Paraba dispem de uma
nova fonte de conhecimento e pesquisa, dotada de informaes relevan-
tes acerca de assuntos de interesse direto da instituio e da sociedade.
12
Com a Emenda Constitucional n 45, que implantou a co-
nhecida Reforma do Poder Judicirio, tornou-se mais evidente a ne-
cessidade de aperfeioamento dos membros do Ministrio Pblico.
Trata-se de uma exigncia essencial, inclusive, no que diz respeito
promoo e remoo por merecimento, que sempre devero obedecer
a critrios objetivos. Nesse contexto, a revista busca contribuir tam-
bm para a obteno desse requisito, ao disponibilizar um novo espa-
o para publicao das pesquisas elaboradas pelos membros da nos-
sa instituio. Esta mais uma conquista que, com certeza, veio para
car, engrandecendo, ainda mais, o Ministrio Pblico da Paraba.
Conselho Editorial
13
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA EM CASOS DE AFRONTA
AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
Advogada
1. Introduo
A Constituio Federal de 1988 traz, em seu art. 37, XXI, a
regra da obrigatoriedade de licitao, tendo como nalidade preservar
os princpios da legalidade, igualdade, impessoalidade, ecincia, mo-
ralidade e probidade. Licitao o procedimento administrativo atravs
do qual um ente pblico, exercendo sua funo administrativa, abre
aos interessados que se adequarem s condies xadas no instrumento
convocatrio a faculdade de formularem propostas.
Dentre as propostas apresentadas, ser selecionada a mais
conveniente para a celebrao de um futuro contrato administrativo. A
Lei de Licitao tambm obriga as entidades privadas que estejam no
exerccio de funo pblica a cumprirem as regras ali estabelecidas. H
duas nalidades para a realizao da licitao: obter o contrato mais
vantajoso para a administrao pblica; cumprir os princpios inerentes
ao procedimento licitatrio.
O instrumento convocatrio, que contm as regras que vigora-
ro durante o processo seletivo, assim como as normas que sero obser-
vadas no contrato a ser celebrado, o meio solicitante dos interessados.
A lei prev duas formas de convocao: o edital e a carta. Para contra-
tar, a Administrao Pblica deve agir na conformidade da Constituio
e das leis, no cabendo a ela nenhum poder discricionrio.
A Constituio Federal acolheu a regra da presuno de que a
licitao prvia induz melhor contratao, garantindo maior vantagem
Administrao Pblica. Entretanto, esta presuno encontra excees
na prpria Constituio, quando faculta a contratao direta nos casos
previstos em lei. Essa hiptese est prevista no art. 37, XXI, da Carta
Magna, que foi regulamentado pela Lei n 8.666/93 (Lei de Licitaes
Revista Jurdica do Ministrio Pblico 2007
14
e Contratos da Administrao Pblica).
A Constituio Federal de 1988, em seu art. 22, XXVII, conce-
deu competncia privativa Unio, para legislar sobre normas gerais
de licitao e contratao (...). Entretanto, este dispositivo faculta aos
Estados e, por via reexa, ao Distrito Federal a edio de normas pe-
culiares para suas licitaes e contrataes futuras (art. 22, pargrafo
nico, e art. 32, 1, da Constituio Federal). Todavia, os Estados no
podem contrariar as normas gerais, mormente no que tange ao procedi-
mento licitatrio, na formalizao e execuo dos contratos, nos prazos
e nos recursos admissveis.
Com a edio da Lei de Licitao e Contratos (Lei n 8.666/93),
a Unio e suas autarquias tm a obrigao de cumprir tudo o que se
encontra disposto em suas regras. J os demais entes federados da ad-
ministrao indireta devero cumprir somente as normas gerais. Como
explicita Maria Sylvia di Pietro
1
, so (...) normas gerais, de mbito
nacional, e normas especcas, de mbito federal, sem qualquer critrio
orientador que permitisse distinguir umas das outras.
2. Excludentes da obrigatoriedade licitatria
A supremacia do interesse pblico fundamenta a exigncia da
licitao prvia para contrataes com a Administrao Pblica, como
regra geral. Entretanto, a Carta Magna prev hipteses taxativas possi-
bilitando ao ente pblico contratar diretamente. Em tais hipteses d-
se a dispensa ou inexigibilidade de licitao. Porm, a Administrao
Pblica somente poder deixar de realizar a licitao, quando a lei a
desobrigar, autorizando a sua dispensa, em decorrncia de uma situao
particular. Ou, no caso de ser a licitao inexigvel, pela impossibili-
dade de sua realizao. H tambm a hiptese de substituio de uma
modalidade por outra.
Esta exceo decorre do fato de que a exigncia do procedi-
mento licitatrio pode contrariar o interesse pblico e no assegurar a
contratao mais vantajosa. Desta forma, a Administrao Pblica est
1
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 9. ed. So Paulo: Atlas, 2007. p. 293.
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
Revista Jurdica do Ministrio Pblico 2007
15
autorizada a adotar outro procedimento, cujas formalidades sero supri-
das ou substitudas por outras. Convm frisar que tal exibilidade no
foi dotada de discricionariedade.
2.1 Licitao dispensada
O art. 17 da Lei n 8.666/93 elenca as hipteses em que o pro-
cedimento licitatrio dispensado: so os casos de alienao de bens e
direitos. Apesar de a norma legal elencar essas hipteses como de lici-
tao dispensada, Maral Justen Filho
2
entende que alguns casos descri-
tos no artigo referido (o inciso I, com exceo da alnea e, e o inciso
II, alneas a, b e f) so qualicveis como de inexigibilidade.
Entretanto, essa posio no consensual na doutrina.
Alienao toda transferncia voluntria do domnio de um bem
ou de um direito. Apesar de o instituto de compra e venda ser de direito
privado, suas regras so utilizadas nas alienaes de bens pblicos. de
se salientar que sero aplicados os princpios que regem o direito pbli-
co sempre que o regime de direito privado for com eles incompatvel.
No se aplica tambm clusula alguma ou regra peculiar a es-
ses contratos, quando isso contrariar os princpios de direito pblico.
No caso das alienaes, inexiste para o Estado a necessidade de se obter
a colaborao de terceiros, como ocorre nas obras, servios e compras.
O intuito do Estado abrir mo da titularidade de bens ou direitos, a m
de receber a prestao econmica mais proveitosa.
As hipteses legais so: contratao direta na alienao de im-
veis; dao em pagamento; doao e permuta; investidura; alienaes
para a Administrao Pblica; concesso de direito real de uso, aliena-
o, locao ou permisso de uso de bens imveis; contratao direta
na alienao de mveis; doao, permuta e venda de aes atravs da
bolsa de valores; venda de ttulos e de bens produzidos ou comerciali-
zados pela Administrao Pblica; venda de materiais e equipamentos;
doao com encargo.
2
JUSTEN FILHO, Maral. Comentrios Lei de Licitao e Contratos Administrativos. 6. ed. So Paulo:
Dialtica, 1999.
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
Revista Jurdica do Ministrio Pblico 2007
16
2.2 Licitao dispensvel
A licitao dispensvel permite Administrao Pblica, em
sua anlise discricionria, abrir ou no a competio, analisar o que
conveniente ao interesse pblico. Isso porque, em algumas hipteses,
os custos necessrios licitao ultrapassariam os benefcios que dela
poderiam advir. O art. 24 da Lei n 8.666/93 elenca vinte e quatro hip-
teses de licitao dispensvel. Maria Sylvia Zanella Di Pietro
3
reuniu
todas essas hipteses em quatro categorias:
a) Em razo do pequeno valor, englobando os incisos I, II
e pargrafo nico do art. 24.
b) Em razo de situaes excepcionais, nesta incluindo-
se: guerra ou grave perturbao da ordem; emergncia ou
calamidade pblica; licitao deserta; interveno no do-
mnio econmico; licitao fracassada; risco segurana
nacional, remanescente de obras; contrataes segundo
acordos internacionais; e contrataes vinculadas a ope-
raes militares.
c) Em razo do objeto, incluindo-se: compra ou locao
de imvel; compra de hortifrutigranjeiro; aquisio e
restaurao de obras de arte; contratao acessria para
manuteno de garantia; padronizao de material de uso
militar; aquisio de bens para pesquisa cientca.
d) Em razo da pessoa, nos contratos com pessoa da Ad-
ministrao Pblica; contratao no mbito da adminis-
trao indireta; contrataes especiais com a Administra-
o Pblica; instituio sem ns lucrativos; contratao
com associao de portadores de decincia; contratao
de energia eltrica; contratao com organizao social.
2.3 Licitao inexigvel
A inexigibilidade de licitao se d quando houver impossibi-
3
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Op. cit., p. 294.
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
Revista Jurdica do Ministrio Pblico 2007
17
lidade jurdica de competio entre os contratantes, acarretando a au-
sncia de licitao e a contratao direta. Pode acontecer em razo da
natureza especca do objeto ou dos objetivos sociais buscados pela
Administrao Pblica. Alm disso, a licitao no dever ser realizada
quando a hiptese de inexigibilidade derivar da impossibilidade de so-
luo satisfatria. Nesse caso, a licitao acarretaria desembolso intil
de recursos e perda de tempo. As excees regra da obrigatoriedade
licitatria previstas no art. 25 tm natureza apenas exemplicativa. So
elas: produtor ou fornecedor exclusivo; servios tcnico-prossionais
especializados; contratao de artistas; servios de publicidade.
2.4 Formalidades necessrias para a contratao sem licitao
A contratao direta feita mediante um procedimento admi-
nistrativo, sem o carter rigoroso da licitao. Divide-se em duas eta-
pas: interna e externa. Na etapa interna, a Administrao Pblica dene
o objeto fruto do contrato e as condies contratuais a serem observa-
das; na etapa externa, formaliza a contratao. Nesse caso, haver uma
liberdade relativa na escolha da proposta, que deve ser a mais vantajosa
possvel, e do contratante, que deve ser o mais qualicado.
Como a Administrao Pblica tem a faculdade de escolha entre
realizar ou no a licitao, a ela tambm cabe a deciso de, querendo,
promover o procedimento seletivo. Ao invs de realizar a licitao se-
gundo uma das modalidades previstas em lei, ela anuncia seu interesse
de contratar, divulga as condies bsicas de contratao e convoca os
interessados para formularem as suas propostas. Em seguida, examina os
documentos e as propostas, escolhendo uma delas. Essa medida expressa
o princpio da transparncia da atividade administrativa do Estado.
3. Lei de Improbidade Administrativa e a obrigao de licitar
A responsabilidade pela prtica de atos de improbidade admi-
nistrativa tem raiz no artigo 37, 4, da Constituio Federal. Esse dis-
positivo prev as sanes aplicveis a esta prtica, na forma e gradao
previstas em lei, remetendo sua aplicao lei especca. A Lei federal
n 8.429/92 estabelece as sanes aplicveis aos agentes pblicos em
caso de enriquecimento ilcito no exerccio de mandato, cargo, emprego
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
Revista Jurdica do Ministrio Pblico 2007
18
ou funo administrativa pblica direta, indireta ou fundacional.
Para Alexandre de Moraes
4
, atos de improbidade administra-
tiva so aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipicada
em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princpios constitucio-
nais e legais da Administrao Pblica. , num conceito mais espec-
co, a conduta de uma autoridade pblica, que exerce o poder indevida-
mente, em troca de vantagem material, beneciando interesse privado.
Como veremos adiante, a Lei de Improbidade Administrativa
pretende punir, no a ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do
agente pblico. Portanto, h duas caractersticas essenciais para se ca-
racterizar o ato mprobo do agente pblico: a natureza civil da conduta e
a tipicao em lei federal. Os atos mprobos compreendem trs moda-
lidades, descritas nos arts. 9, 10 e 11 da Lei Federal n 8.429/92: os que
importam enriquecimento ilcito, os que causam prejuzo ao errio e os
que atentam contra os princpios da Administrao Pblica, respectiva-
mente. Neste estudo, ser analisada apenas a segunda modalidade de
ato de improbidade administrativa: o que causa prejuzo ao errio. Esse
ato est previsto no art. 10, inciso VIII, da Lei n 8.429/92: frustrar a
licitude de processo licitatrio ou dispens-lo indevidamente.
Causar prejuzo ao errio diferente de causar prejuzo ao pa-
trimnio pblico. Errio diz respeito ao aspecto econmico-nanceiro,
ao tesouro da Administrao Pblica; j patrimnio pblico abrange,
alm do aspecto econmico, o histrico, o paisagstico e o artstico.
Desta forma, o art. 10 da Lei n 8.429/92 pretende proteger o conjunto
de rgos administrativos encarregados da movimentao econmico-
nanceira do Estado. Para sua tipicao, preciso haver a juno de
cinco requisitos, quais sejam: conduta dolosa ou culposa do agente;
conduta ilcita; existncia de leso ao errio; no exigncia de obteno
de vantagem patrimonial pelo agente; existncia de nexo causal entre o
exerccio funcional e o prejuzo concreto gerado ao errio pblico.
O inciso VIII do art. 10 da Lei n 8.429/92 indica uma modali-
dade de ato de improbidade administrativa que causa prejuzo ao errio,
ao dispor: Constitui ato de improbidade administrativa frustrar a lici-
tude de processo licitatrio ou dispens-lo indevidamente. A regra da
obrigatoriedade licitatria exige que todas as obras, servios, compras,
4
MORAES, Alexandre de. Constituio do Brasil interpretada e legislao constitucional. 9. ed. So
Paulo: Atlas, 2002. p. 2.610.
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
Revista Jurdica do Ministrio Pblico 2007
19
alienaes, concesses e locaes da Administrao Pblica, quando
contratados com terceiros, devem ser precedidos de licitao. Exige-se,
tambm, licitao para a contratao de servios de publicidade.
No aspecto licitatrio, neste caso, imprescindvel fazer-se o
estudo conjugado da Lei n 8.666/93 com a Lei n 8.429/92. Com base
nessas duas leis, vedado ao agente pblico admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos atos de convocao, clusulas ou condies que compro-
metam, restrinjam ou frustrem seu carter competitivo, como tambm
as que estabeleam preferncias ou distines sob qualquer aspecto do
objeto do contrato. H duas modalidades de fraude lesivas ao patrim-
nio pblico bastante comuns: o superfaturamento e a contratao de
servios fantasmas.
4. Penalidades previstas na Lei n 8.429/92
O art. 37, 4, da Carta Magna prev as sanes aplicveis
aos agentes pblicos, em caso de cometimento de improbidade admi-
nistrativa. Porm, remete a sua aplicao Lei n 8.429/92, que trata da
questo em seu art. 12. O citado dispositivo constitucional enumera trs
sanes: suspenso dos direitos polticos; perda da funo pblica e res-
sarcimento ao errio. Estas tm natureza civil e no excluem as sanes
penais eventualmente previstas em lei para a mesma conduta.
Isto advm do fato de que so trs as jurisdies passveis de
responsabilidade: a administrativa, a civil e a penal, as quais atuam com
uma relativa independncia. O agente pode sofrer punies nas trs es-
feras e tambm por improbidade, como estabelece o caput do art. 12
da Lei n 8.429/92. Esse dispositivo estabelece, de forma especca, as
sanes aplicadas ao agente que pratica ato de improbidade administra-
tiva, que so as seguintes:
- ressarcimento ao errio;
- perda da funo pblica e suspenso dos diretos
polticos;
- perda dos bens acrescidos ilicitamente;
- multa civil;
- proibio de contratar com o poder pblico ou de rece-
ber benefcios direta ou indiretamente.
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
Revista Jurdica do Ministrio Pblico 2007
20
Para a xao das penas, dispe o pargrafo nico do artigo
12: Na xao das penas previstas nesta Lei, o juiz levar em conta
a extenso do dano causado, assim como o proveito obtido pelo agen-
te. O rol dessas sanes no dever ser, obrigatoriamente, aplicado
de forma cumulativa. Portanto, no est o Poder Judicirio compelido
a aplicar todas as sanes em todos os casos de improbidade adminis-
trativa. Isso ocorre, devido ao princpio da individualizao da pena,
consagrado no art. 5, inciso XLVI, da Constituio Federal. Para tanto,
o Poder Judicirio dever analisar o ato mprobo, para, nos limites e na
extenso da lei, de forma exvel, equnime e criteriosa, aplicar, dentre
as sanes legais, a mais adequada ao caso concreto.
5. Consideraes nais
Este estudo demonstrou a necessidade de os agentes pblicos
estarem vinculados idia de irrestrita honestidade no trato da coisa p-
blica. Signica que devem atuar, com extrema cautela, nos julgamentos
que possam motivar a contratao direta, por tratar-se de exceo ao
princpio constitucional da licitao. O instituto da licitao nem sem-
pre alcana o seu m, que a contratao. Esta, apesar de devidamente
formalizada, no est imune a fraudes e desvios. Ao contrrio, pode
constituir-se em uma forma mais proveitosa de se disfarar a improbi-
dade, entabular conluios e consumar abusos, originando um enriqueci-
mento ilcito por parte de administradores e de terceiros desonestos.
Em face destes deslizes, o alcance e os diversos efeitos da Lei
de Improbidade Administrativa na sociedade so altamente salutares
e podero proporcionar soluo ecaz ao problema da scalizao da
probidade administrativa. Nesse sentido, preciso lembrar aos opera-
dores jurdicos que suas tarefas, mais que tudo, ligam-se a um contexto
social. Eles tm a incumbncia de julgar com base na transparncia e no
rigor, para o controle das administraes, em todas as suas esferas.
Foi escolha da sociedade o caminho do rigoroso combate
improbidade administrativa, em caso de locupletamento ilcito, s cus-
tas dos cofres pblicos. H muito, a sociedade vem lutando pela mo-
ralidade administrativa, pelo resgate de princpios ticos de lealdade,
honestidade e probidade no trato da coisa pblica e no exerccio das
funes pblicas.
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
21
Referncias bibliogrcas
BENEDICTO FILHO, Tolosa. Contratando sem licitao: comentrios
tericos e prticos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentrios Lei
n 8.429/92 e legislao complementar. 2. ed. So Paulo: Malheiros
Editores, 1997.
JUSTEN FILHO, Maral. Comentrios Lei de Licitaes e Contratos
Administrativos. 6. ed. So Paulo: Dialtica, 1999.
MARINO FILHO, Pazzaglini et al. Improbidade administrativa:
aspectos jurdicos da defesa do patrimnio pblico. 3. ed. So Paulo:
Atlas, 1998.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed.
So Paulo: Malheiros Editores, 2000.
MORAES, Alexandre de. Constituio do Brasil interpretada e
legislao constitucional. So Paulo: Atlas, 2002.
_____________________. Direito constitucional. 9. ed. So Paulo:
Atlas, 2001.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 13. ed. So
Paulo: Atlas, 2001.
A APLICAO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EM CASOS DE AFRONTA AO DEVER DE LICITAR
Alba Lygia Ismael da Costa Macedo
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Trata-se de um desao imperioso, porm inafastvel, dos que
esto comprometidos com o bem-estar social e voltados a um objeti-
vo fundamental: a promoo concreta da justia e a implementao da
igualdade e dos valores constitucionais superiores, norteando o conv-
vio numa sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna.
22
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
Discute-se atualmente se o Ministrio Pblico brasileiro est
ou no constitucionalmente autorizado a realizar investigaes crimi-
nais autnomas. Trata-se de forte debate travado tanto no meio jur-
dico-acadmico, como em diversos segmentos e instituies sociais.
Essa controvrsia tambm objeto de anlise pelo STF1. Demais dis-
so, inumerveis ensaios doutrinrios j foram publicados, nos quais
possvel colacionar variegados argumentos, tanto favorveis como
contrrios, a uma atuao proativa do dominus lites no campo inves-
tigativo.
Feitas estas brevssimas consideraes, cabe advertir que os
trabalhos j elaborados voltam-se - no que no se pretende retirar-lhes
s por isso a validade - para uma anlise positivo-legalista do proble-
ma. O presente texto, todavia, tem o propsito de lanar alguma luz
sobre um ngulo ainda no esquadrinhado: a relevncia funcional da
atuao ministerial na reduo das impressionantes cifras negras que
atingem a criminalidade estrutural.
Como se sabe, as cifras negras
2
dizem respeito intrans-
parncia ou opacidade de determinados comportamentos delitivos.
Convm observar que, em grande medida, so produzidas pelas
instncias formais de controle social (principalmente pela polcia,
1
Inqurito 1.968/DF. Rel. Ministro Marco Aurlio. Informativo STF-359.
2
Cifras negras como elemento redutor dos contingentes de deviance. Cf. DIAS, Jorge de Figueiredo;
ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: O homem delinqente e a sociedade crimingena. Coimbra:
Coimbra, 1984. p. 367. Sobre a normalidade e funcionalidade das cifras negras, cf. ALBRECHT, Peter-
Alexis, Kriminologie, 2. Auage, Muenchen: C.H. BECK, 2002. p. 134.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA
PELO MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA
DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
Promotor de Justia no Estado da Paraba
Professor do Centro Universitrio de Joo Pessoa - UNIP
23 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
instituio que desempenha intenso papel seletivo)
3
, traduzindo a
defasagem entre a criminalidade conhecida pelo sistema penal e a
criminalidade real
4
. Representam, assim, a criminalidade ocul-
ta, no registrada. Pode-se falar, portanto, de um efeito funil,
pois apenas uma pequena parcela da criminalidade registrada
no sistema
5
.
Vale acentuar que, no tocante criminalidade de massas, a
vtima
6
, juntamente com a polcia, contribui para a mortalidade de
ocorrncias criminais, participando como importante fator etiolgico
na construo das cifras negras. Assim, j no possvel responsabi-
lizar a vtima ou atribuir-lhe um papel de destaque quando se faz aluso
ao fenmeno da macrocriminalidade, em que de regra comparece uma
vtima abstrata ou inconsciente (processos de vitimizao difusa).
Nesse domnio da criminalidade, a interveno da polcia tem
um peso decisivo
7
. Com efeito, a depender da rea da normatividade
que se manifesta no nvel das cifras negras, o manto da invisibilidade
que lanado sobre determinadas condutas pode ter como causa pri-
mordial ora a vtima, ora a polcia.
3
Inmeras pesquisas lograram demonstrar que a polcia realiza constantes escolhas, selecionando as causas
penais que devero ingressar no sistema de justia penal. Este funciona em escala bastante reduzida, menos
em razo do carter fragmentrio do direito penal e mais em funo do papel discricionrio desempenha
por aquela instncia formal de controle social da criminalidade. Sobre as elevadssimas cifras negras
decorrentes da atividade seletiva da polcia com base em investigaes realizadas na cidade de Detroit, cf.
DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Op. cit., p. 445.
4
Gassin reporta-se distino existente entre chiffre noir e chiffre gris. A ltima baseia-se no contingente de crimes
em que apenas a autoria no foi identicada pela polcia. GASSIN, Raimond. Criminologie, 4. ed. Paris: Dalloz,
1998. p. 101. Quanto ambigidade que a expresso cifra negra carrega, cf. LDERSSEN, Klaus. Strafrecht und
Dunkelziffer (Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, bd. 412), Tbingen: J.C.B. Mohr, 1972. p. 6.
5
A visibilidade da criminalidade um fenmeno altamente complexo, e no tendo nada de acidental ou
contingente. Portanto, no se trata apenas de um fenmeno de ordem tcnica (no poltica). Trata-se de um
processo estreitamente atrelado a estraticaes sociais, econmicas e polticas de uma sociedade. Nesse
sentido, cf. SACK, (1993. p. 106), ALBRECHT, Peter-Alexis, 2000, p.132).
6
No se desconhece o papel relevante desempenhado pela vtima na produo do fenmeno em perspec-
tiva. Como se sabe, o desinteresse pela sorte da vtima tende a desencoraj-la a dar publicidade acerca
de infraes penais contra ela perpetradas. Desse modo, o desinteresse e a alienao da vtima provocam
perigoso incremento da cifra negra. Cf. GARCA-PABLOS, Antonio. La resocializacion de la victima:
victima, sistema legal y poltica criminal, Doctrina Penal, Teoria Y Prctica em las Cincias Penales.
Buenos Aires: Depalma, 1990. p.176.
7
Cf. DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Op. cit., p. 448.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
24
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
2. As cifras negras e o problema da criminalidade estrutural
Nessa zona crimingena, malgrado a irrecusvel importncia (e a
necessidade) de uma interveno dinmica da polcia, constata-se, inversa-
mente, uma atuao negativa, de sentido contrrio. Essa atuao negativa no
se restringe, simplesmente, a um no agir, isto , um no investigar. Tambm
implica um ato falho ou imperfeito, decorrente de uma gama de fatores, den-
tre os quais merecem destaque a ascendncia, a inuncia e o prestgio social
dos presumidos delinqentes. Tal atitude se revela decisiva para a solidica-
o de um nvel demasiadamente elevado de bitos de casos penais. Como
resultado, apenas uma nma parcela da ao macrodelitiva posta nas ma-
lhas da justia pblica e tudo o que se v no seno a ponta do iceberg.
Com isto, pe-se a descoberto a fragilidade da capacidade con-
tramotivadora
8
ou dissuasria do sistema de justia penal relativamente
a uma ampla faixa delinqencial. Isso resulta em um severo compro-
metimento da funo estabilizadora da pena. Essa fragilidade possui,
todavia, aptido para projetar-se para alm do marco delitivo ora anali-
sado, vindo a alcanar outras zonas de desvalor social. As normas pro-
tetivas tambm ressentem-se de uma perda de densidade contraftica,
colocando-se, drasticamente, em causa a opo da maioria em atuar em
conformidade com elas. Assim, a inobservncia da norma em razo da
no persecuo de condutas delitivas que permanecem fora do mbito
de investigao policial reduz quantitativa e qualitativamente a eccia
preventiva da lei penal, mitigando sua funo de garantir a paz social
pela observncia do direito estabelecido para a sociedade.
O elevado dcit de persecuo que as cifras negras ocul-
tam, mxime no campo da criminalidade estruturada, atesta, de modo
contundente, a realidade emprica
9
. Esse quadro afeta tanto o prestgio
8
O BverGE (Bundesverfassungsgericht) utiliza-se de uma linguagem em que aparece de modo bem desta-
cado o aspecto positivo da preveno geral. Fala-se, assim, em conservao e fortalecimento da conana
na capacidade da fora de estabilizao e de execuo da ordem jurdica. In: MLLER-DIETZ, Heinz.
Integrationsprvention und Strafrecht Zum positiven Aspeckt der Generalprvention, Fests fr Jes-
check, Berlin: Duncker & Humblot, 1985. p. 818.
9
Convm lembrar que criminologia incumbe reunir um ncleo de conhecimentos vericados empiri-
camente sobre o problema criminal. Cf. GARCA-PABLOS, Antonio. Criminologia (trad. Lus Flvio
Gomes), 4. ed., So Paulo: RT, 2002. p. 165.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
25 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
(j demasiadamente comprometido) da atividade investigativa desen-
volvida pela polcia brasileira
10
. Como, essencialmente, a prpria valida-
de das normas. Por ausncia ou insucincia de rearmao, as normas
penais podem atrair uma imagem translata. Elas prprias parecem reque-
rer o auxlio de penas mais duras, como se sua implacabilidade pudesse
de alguma forma reestabilizar o subsistema
11
penal, vindo a contribuir,
paradoxalmente, para a construo de um direito penal simblico.
Tambm de uma evidncia palmar que incurses episdicas e de
carter eventual no terreno extenso e frtil de uma zona delitiva, que tende ao
controle social, evidencia uma atuao discricionria sensivelmente contrria
ao princpio da legalidade em que ainda se fundamenta o direito penal mo-
derno. Assim, em um mundo em que a no-criminalizao a regra e a crimi-
nalizao uma exceo (fragmentariedade), pode-se questionar, at mesmo,
sua legitimidade para resolver conitos e promover a paz social (como o
fazem, e de modo incisivo, os defensores das teorias abolicionistas)
12
.
3. O Ministrio Pblico como instituio motivadora da transparncia
Comungamos da idia de que nenhuma sociedade seria capaz
de desocultar toda a delinqncia. Entendemos tambm que a busca
10
No de hoje que as polcias (especialmente as estaduais) encontram-se imersas em uma crise estrutural
insupervel, uma vez que so refns de um modelo autoritrio e centralizador. Faltam aos seus agentes auto-
nomia e independncia, s vezes at legitimidade para atuar. Veja-se: dezesseis anos aps a promulgao da
Constituio da Repblica ainda h governadores que designam, para o desempenho da funo de delegado
de polcia, pessoas absolutamente despreparadas, que sequer se submeteram ao crivo de concurso pblico
(delegados comissionados). De outro lado, os baixos salrios pagos no condizem com a relevncia do
cargo; antes servem de incentivo a incontveis desvio de conduta e prtica de atos de corrupo.
11
O controle social penal um subsistema dentro do sistema global do controle social; difere deste ltimo
por seus ns (preveno ou represso do delito), pelos meios dos quais se serve (penas ou medidas de segu-
rana) e pelo grau de formalizao que exige. Cf. GARCA-PABLOS, Antonio. Op. cit., p. 135.
12
Massimo Pavarini divide o abolicionismo em: a) abolicionismo institucional, voltado para a supresso da
priso e dos manicmios judicirios como consequncias jurdicas do crime; b) reducionismo penal, cuja
proposta envolve uma enrgica limitao da esfera jurdico-repressiva; c) abolicionismo penal radical, que
se orienta em direo a uma abolio do prprio direito penal e do sistema que o comporta. PAVARINI,
Massimo. Los connes de la crcel. Trad Roberto Bergalli. Montevideo: Instituto Ibero-Americano de Es-
tudos Criminais, 1995. p. 125-126. Apud OLIVEIRA, Ana Soa Schmidt. A vtima e o direito penal: uma
abordagem do movimento vitimolgico e de seu impacto no direito penal. So Paulo: RT , 1999. p. 107.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
26
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
por uma transparncia absoluta
13
, numa tentativa v de erradicao das
cifras negras, alm de inviabilizar o sistema judicirio-penal, levaria
a um Estado totalitrio, de interveno mxima, logo, contrrio ao prin-
cpio da dignidade humana. Porm, no estimamos como desarrazoa-
do buscar-se reduzir o contingente excessivo de criminalidade oculta
desvendado pela investigao criminolgica. Nesse desiderato, tem-se
mostrado de fundamental importncia o papel do Ministrio Pblico
brasileiro o principal interlocutor do sistema punitivo do Estado.
A investigao da criminalidade estruturada
14
sem disputa
corporativa com eventuais investigaes realizadas pela polcia, antes
com real desejo de que ela tambm passe a atuar cada vez mais em
harmonia com os anseios sociais no pode desenvolver-se de forma
semelhante a um trao (linear). Especialmente porque as evidncias das
condutas lesivas a interesses comunitrios
15
valorados como essenciais
ao funcionamento racional do sistema social (da revestirem-se de um
maior ndice de censurabilidade) no aoram no mesmo nvel. E assim
pelo motivo de que se trata de uma modalidade crimingena que no
germina nas ruas, na superfcie do tecido social, mas nas suas camadas
mais ocultas, sedimentadas nas entranhas do Estado. Nasce da prova da
prtica de crimes que a polcia foi condicionada a investigar (pequenos
furtos, roubos, leses corporais etc.). Tais condutas se ajustam, com
freqncia, ao conceito de obra tosca da criminalidade.
A delineao pelo Ministrio Pblico (no raro auxiliado pela
13
Popitz arma que uma sociedade que estivesse em condies de descobrir e de sancionar toda a deviance
destruiria simultaneamente o valor das suas normas. (Apud, DIAS, Jorge de Figueiredo; AN-DRADE,
Manuel da Costa. Op. cit., p. 368). Todavia, preciso lembrar que in medius est virtus. Assim, no se pode
recusar a idia de que a reduo da aplicao da norma a uma diminuta e insignicante expresso quanti-
tativa pode, outrance, aniquilar por inteiro a sua funo contramotivadora e transform-la numa luxuosa
inutilidade.
14
Esquematicamente, como marcos distintivos, e.g., das organizaes criminosas, podemos destacar as
seguintes caractersticas: a) estrutura hierarquizada; b) ausncia de orientao ideolgica; c) nmero limi-
tado de integrantes; d) estrutura adotada com nalidade de durao e permanncia; e) ganhos obtidos de
atividades ilcitas; f) instrumentalizao da prtica da corrupo colimando a neutralizao do aparelho
repressivo do Estado; g) diviso de trabalho (especializao); h) inteno de monopolizao da atividade
ilcita desenvolvida; i) discrio (opacidade, sigilo). Desta e de outras especicidades d-nos conta LAM-
PE, Klaus. Organized Crime: Begriff und Theorie organisierter Kriminalitt. In: DEN USA, (Frankfurter
Kriminalwissenschaftliche Studien, v. 67), Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. p. 162.
15
Parodiando Toms de Aquino: Bonum commune majus est et divinius quam bonum privatum.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
27 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
polcia) de estratgias investigativas mais elaboradas, com a intencio-
nalidade de conferir um maior grau de ecincia preventivo-repressi-
va relativamente a uma zona delitiva (criminalidade organizada) - cuja
plasticidade e capacidade de cooptao desaam o prprio Estado - no
pode realizar-se impunemente: s os ingnuos podem surpreender-se
com os inevitveis ataques dos contrariados
16
.
De outra parte, alguns esquecem que o resultado das investi-
gaes em que se no imputa qualquer acusao, logo no se atribui
culpa - conduzidas pelo Parquet
17
, tanto pode resultar em um arquiva-
mento, solicitado por seus prprios agentes (ao participar diretamente
da produo da prova os rgos ministeriais de persecuo, no raro,
muito melhor habilitados encontram-se para discernir relativamente
existncia de justa causa para a ativao de uma futura ao penal),
como ativar uma persecuo criminal judicializada, agora sob o plio
dos princpios e das garantias que informam o Estado Democrtico de
Direito
18
Em um estgio evolutivo da dogmtica ptria, no qual no
paira a mnima dvida de que o inqurito conduzido pela polcia, no
obstante a sua relevncia, procedimento informativo dispensvel
19
.
Alm disso, constitui apenas uma das variegadas espcies do gnero
investigao criminal
20
. Nesse caso, caberia ao Ministrio Pblico,
no entender de alguns doutrinadores, permanecer imperturbavelmente
contemplativo (ou seja, no lugar de exercitar uma poese, isto , agir,
caber-lhe-ia entoar um mantra que conduza ataraxia, i.e., quedar-se
16
No queremos nos referir boa doutrina j produzida sobre o tema, que advoga, racionalmente, entendi-
mento diverso ao ora esposado.
17
Parece-nos revelador de uma viso monocular das coisas pretender-se recusar legitimidade ativa investi-
gativa (inconfundvel, bem de ver, com o exerccio da presidncia de inquritos policiais), exatamente ao
titular constitucional da ao penal pblica.
18
Sistema poltico criminal de nalidade racional aquele que se fundamenta nos princpios de um Estado
Social de Direito (...). A poltica criminal no tem por objeto a luta contra a criminalidade a qualquer preo,
seno a luta contra o delito no marco de um Estado de Direito. ROXIN, Claus. La evolucin de la poltica
criminal: el derecho penal y el proceso penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2000. p. 70.
19
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 8. ed., So Paulo: Atlas, 1988. p. 77.
20
J faz algum tempo que a prtica processual penal brasileira confunde a investigao criminal com o in-
qurito policial, quando, na verdade, este apenas um modo de ser daquela. (Cf. CHOUKE, Fauzi Hassan.
Garantias constitucionais na investigao criminal. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 55).
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
28
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
indiferente e alheio realidade). Dito de outro modo, os representan-
tes do Ministrio Pblico deveriam permanecer incomovveis ou
indiferentes prtica do crime e defesa da sociedade contra a ma-
crocriminalidade. Ou abster-se de realizar qualquer investigao mi-
nimamente operacional, mesmo quando estejam em causa interesses
difusos e coletivos (e.g., patrimnio pblico).
Assinale-se que o Ministrio Pblico brasileiro
21
, sem ilu-
sionismos nem messianismos, apesar de no encontrar-se inteira-
mente livre da imaturidade tardia daqueles que se deixam atrair pelo
enganoso desejo de provocar admirao e simpatia atravs do apelo
da mass media, tem contribudo sensivelmente para a reduo das
extensivas cifras negras que assolam, por exemplo, a administra-
o pblica municipal.
4. A interveno da prtica (law in action) no domnio da teoria
Passemos do discurso aos fatos: do Rio Grande do Sul
22
ao
Amap, investigaes ministeriais autnomas (sem quebra dos prin-
cpios do contraditrio e da ampla defesa, pois estes postulados no
se irradiam sobre procedimentos de cunho meramente informativo),
mas com observncia da clusula de reserva de jurisdio, lograram
desvendar, pela vez primeira, elevadssimos ndices de corrupo ad-
ministrativa. E assim ps-se a nu a (i)responsabilidade de centenas de
prefeitos rotineiramente violadores do princpio da probidade admi-
21
Sem qualquer caracterstica capaz de ensejar uma aproximao com as atividades desenvolvidas pelas
polcias secretas de regimes ditatoriais, os rgos do Ministrio Pblico que se dedicam diuturnamente ao
controle da criminalidade organizada, alm de respeitarem o princpio da dignidade humana (no existe um
nico episdio indicativo da prtica de coao ou tortura na obteno de prova), contam com um notvel
manancial de recursos humanos em boa proporo refratrios, em razo da autonomia, independncia
e comprometimento social de seus membros s inuncias externas ou s foras contrrias ao rumo das
investigaes eventualmente em curso. Demais disso, o Ministrio Pblico no exerce atividade judicante,
logo no aplica punies; apenas prope a sua aplicao, exercendo parcela da funo persecutria estatal.
Portanto, no se pode falar (sosmadamente) em um superpoder, quando esto presentes mecanismos
slidos de reciprocidade de controle, de que espcie instrumental a prpria rejeio da denncia.
22
A ttulo de demonstrao estatstica, veja-se que, apenas no ano de 2003, o MP gacho ajuizou sessenta e
quatro denncias contra prefeitos municipais.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
29 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
nistrativa
23
. De igual modo, o combate evaso de divisas e sonega-
o scal
24
, imprescindveis higidez nanceira do Estado, s se tornou
sistemtico a partir do momento em que o Ministrio Pblico
25
passou
a exercitar plenamente e com total independncia (mas sem exclusivis-
mos) a atribuio investigativa que lhe inerente.
V-se, pois, sem muita diculdade, que retirar do Ministrio
Pblico a competncia para realizar investigaes criminais autno-
mas
26
, sob o insustentvel argumento de que esta tarefa constitui mo-
noplio das polcias judicirias (ou, o que ainda mais excntrico, me-
diante o raciocnio de que todos podem investigar, menos o Ministrio
Pblico), poder importar em um perigoso recuo do Estado. Esse en-
fraquecimento muito contribuir para estabilizar e solidicar estruturas
criminosas que passaro progressivamente a representar um genuno
fator de poder
27
, sem que tal movimento de regresso ao passado impor-
te em introduo de qualquer novel garantia para os investigados. E, o
que mais grave, resultar no apenas em um retrocesso, mas tambm
(sem catastrosmo) atrair um caos auto-esterelizador. O sentido que se
quer expressar funda-se na persuaso de que o organismo social ver-se-
privado da proveitosa atuao de uma instituio - a experincia em-
prica tem revelado - essencial para a reduo dos nveis indesejveis de
impunidade que assolam o sistema de judicirio brasileiro.
Tambm servir de estmulo polinizao de condutas ma-
crovitimizadoras (vitimizao difusa e indiscriminada) que, como
se sabe, atingem com maior intensidade o cidado comum. Nesse
23
Estes tambm tm-se revelado de uma obedincia atvica prtica do favoritismo neptico, em frontal
violao dos princpios democrticos (no devemos perder de vista que democracia signica perfeita igual-
dade de oportunidades) e da moralidade administrativa.
24
Sobre as discusses doutrinrias relativas criminalidade econmica, cf. DEODATO, Felipe. Direito
penal econmico. Curitiba: Juru, 2003. p. 39.
25
Praticamente todos os Ministrios Pblicos estaduais, assim como o Ministrio Pblico federal, possuem
agncias especializadas (Grupos de Atuao Especial), voltadas preveno e represso de comportamen-
tos macrodelitivos como lavagem de dinheiro, trco de substncias entorpecentes, roubo e receptao de
cargas, sonegao scal etc .
26
Sobre a matria, cf. SANTIN, Walter Foleto. O Ministrio Pblico na investigao criminal. So Paulo:
Edipro, 2001. p. 110-121; CHOUKE, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigao criminal.
Op. cit., p. 36/52.
27
KRZINGER, Josef. Kriminologie: Eine Einfhrung in die Lehre vom Verbrechen. 2. Auage, Stutgart-
Mnchen-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden: Richard Boorberg, 1996. p. 310.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
30
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
sentido, de fundamental relevo reconhecer-se a legitimidade social
e constitucional do Ministrio Pblico brasileiro para desempenhar
funes investigativas, com nfase no enfrentamento sistemtico da
criminalidade geradora de macrodesigualdades
28
(vitimizao estru-
tural).
Acrescenta-se, por oportuno, que uma atuao mais orien-
tada proteo de bens (jurdicos) coletivos tem sido no s admi-
tida como considerada de superior dimenso, mesmo pela doutrina
que se destaca por defender um direito penal mnimo. Logo est
decididamente norteada pelo princpio da ultima ratio, vindo a reco-
nhecer a existncia de uma zona socialmente nociva que precisa
ser atrada para as malhas do direito penal, porquanto, em muitos
casos, socialmente bastante mais danosas que a deviance crimina-
lizada e perseguida
29
. Nessa seara, armam Giorgio Marinucci e
Emilio Dolcini
30
:
O direito penal moderno deve corrigir-se com respeito
sua natural tendncia hipertroa, mas deve ao mesmo
tempo realizar uma tutela equilibrada de todos os bens
fundamentais, individuais e coletivos; e a doutrina pena-
lista, precisamente no momento em que a justia penal
comea a dedicar sua ateno tambm s guras impo-
nentes da economia e da poltica, no pode patrocinar,
nem sequer involuntariamente, um retorno ao passado,
algo que outra coisa no poderia signicar do que uma
restaurao do esteretipo do delinqente proveniente
das classes perigosas.
28
Detecta-se sutil contradio no discurso acrisolado daqueles que, com alguma freqncia, advogam que a
preveno primria a ideal (e de fato o ). Mas, de outro lado, revelam, simultaneamente, uma hiperestesia
em relao ao enfrentamento rme e inabalvel da criminalidade estrutural causa primordial do desvio e
da dilapidao de recursos pblicos e tambm privados. Tais medidas, no h como objetar, no contribuem
para a reduo das causas sociais da criminalidade endmica que nos engolfa.
29
BARATTA, Alessandro. Criminolga crtica y crtica del derecho penal: introduccin a la sociologa
jurdico-penal. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002. p. 209.
30
MARINUCCI, Giorgio; DOLCINI Emilio. Diritto penale minimo e nuove forme di criminalit. Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano: Giuffr, Luglio/Settembre, 1999. p. 802-820, p. 819.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
31 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
5. Consideraes nais
Entendemos que o enfrentamento do problema criminal no
pode fugir da realidade social. Por outro lado no deve divorciar-se de
nosso tempo histrico, nem desperspectivar um sentido de racionalida-
de prtica
31
. Uma interpretao jurisprudencial contrria interveno
proativa do Ministrio Pblico no campo investigativo ainda que ni-
tidamente no seja a melhor - poder vingar em razo do nosso modo
de ser e das caractersticas de nossa cultura: movedia, centrada na per-
sonalidade individual, assaz suscetvel dupla moral dos governantes,
permevel s interferncias metajurdicas do poder que, paradoxalmen-
te, conseguem com relativa facilidade penetrar a blindagem do pen-
samento positivista
32
mais esterilizante
33
. O mal consiste exatamente
no curto alcance de suas solues e no fato de desprezar a tenso
entre a norma e a realidade
34
, para dele valer-se e obstar as transfor-
maes necessrias ao progresso e bem-estar do conjunto da sociedade.
31
O mundo da juridicidade (...) sustentado e fabricado pela razo prtica. COSTA, Jos de Faria. A
linha: algumas reexes sobre a responsabilidade em um tempo de tcnica e de bioetica. O homem e o
tempo: Lber Amicorum para Miguel Baptista Pereira Porto: Fundao Eng. Antonio de Almeida, 1999. p.
397-411.
32
Puramente normativo e incapaz de interagir com a realidade atual: polimorfa, uida e cambiante, em
que o crime apresenta-se como fenmeno em constante mutao. Sem embargo, preciso sublinhar que
argumentar-se no sentido de que a inexistncia de marcos temporais (decorrente da ausncia de lei regu-
lamentadora) para a concluso das investigaes a cargo do Parquet inviabilizaria tal funo - no se
sustenta. No prospera porque no se pode realizar interpretao que coarte a vontade da constituio;
no procede, tambm, porque a prpria ordem normativa positivada no estabeleceu qualquer prazo fatal e
inultrapassvel para a concluso do inqurito policial. Tanto assim que so rarssimas as ocasies em que
a investigao concluda em 10 ou 30 dias. A bem de ver, o art. 16 do CPP, de modo induvidoso, permite
concluir que no h um prazo certo ou inultrapassvel. De qualquer modo, vale registrar que, recentemente,
o Conselho Superior do Ministrio Pblico Federal, atravs da Resoluo n 77, de 14 de setembro de 2004,
ao regulamentar o art. 8 da Lei Complementar n 75/93, estabelecem diversos procedimentos a serem
observados pelos procuradores da Repblica frente de uma investigao criminal, com destaque para os
seguintes aspectos: a preservao do princpio da impessoalidade (art. 4. da Resoluo); prazo de 30 dias
para encerramento passvel de prorrogao (fundamentada) em razo da imprescindibilidade da realizao ou
concluso de diligncias (art. 12); adoo da publicidade no procedimento investigativo como regra (art. 13).
33
Tem como caracterstica uma forte aptido para engessar a realidade e domesticar a dvida, ignorando o
senso heraclitiano de uxo e mudana.
34
FARIA, Jos Eduardo. Poder e legitimidade. Op. cit., p. 42; DINAMARCO, Cndido. A instrumentalida-
de do processo. 8. ed. So Paulo: Malheiros, 2000. p.153.
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
32
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Tudo isso trar, ao contrrio do que se tem armado, srias e danosas
conseqncias.
A prevalecer uma orientao jurisprudencial (STF) que invia-
bilize o exerccio do poder investigador pelo Ministrio Pblico, divi-
samos nocivos efeitos no apenas no plano criminolgico (disfuncional
dilatao das cifras negras), como tambm no campo da dogmtica
processual (problema da ilicitude da prova) e ainda da poltica criminal
(especialmente no tocante ao enfrentamento da criminalidade estrutu-
rada). O que h a necessidade de encontrar estratgias
35
capazes de
servir de elo entre as descobertas criminolgicas e a dogmtica, isto
, de compatibilizar a realidade emprica denunciadora do grave pro-
blema das cifras negras de que vimos falando, com futuras decises
judiciais inuenciadas por um acidental precedente jurisprudencial
36
,
no vinculante, mas com aptido, como da natureza das coisas, de
suplantar as mais consistentes lies doutrinrias.
35
No se objete que teremos uma reformulao do nosso modelo de atuao e investigao policial - h s-
culos falido - quando o Executivo for compelido a destinar macios investimentos com o escopo de realizar
uma profunda reestruturao das polcias, algo ainda indito em nossa experincia jurdica como nao, de-
certo esbarraria nos limites impostos pela construo terica da reserva do possvel (Cf. Informativo STF
n. 345). Entretanto, entendemos que uma diretriz voltada para a realizao de uma poltica de segurana
pblica sria, ecaz e responsvel acomode-se confortavelmente no conceito de mnimo existencial.
36
No de hoje que se reconhece o papel normoltico (de uniformizao da interpretao da legislao)
desempenhado pelo STF, funo que se orienta no sentido de abrandar utuaes interpretativas (juris-
prudncia errtica).
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
33 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
Referncias Bibliogracas:
ALBRECHT, Peter-Alexis. Kriminologie. 2. Auage. Muenchen: C.H.
Beck, 2002.
BARATTA, Alessandro. Criminolga crtica y crtica del derecho pe-
nal: introduccin a la sociologa jurdico-penal. Buenos Aires: Siglo
XXI Editores Argentina, 2002.
CHOUKE, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigao
criminal. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
COSTA, Jos de Faria. A linha: algumas reexes sobre a responsa-
bilidade em um tempo de tcnica e de biotica, O homem e o tempo:
Lber Amicorum para Miguel Baptista Pereira. Porto: Fundao Eng.
Antonio de Almeida, 1999.
DEODATO, Felipe. Direito penal econmico. Curitiba: Juru, 2003.
DINAMARCO, Cndido. A instrumentalidade do processo. 8. ed., So
Paulo: Malheiros, 2000.
DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminolo-
gia: o homem delinqente e a sociedade crimingena. Coimbra: Coim-
bra Ed., 1984.
GARCA-PABLOS, Antonio. La resocializacion de la victima: victi-
ma, sistema legal y poltica criminal. Doctrina penal, teoria y prctica
em las cincias penales. Buenos Aires: Depalma, 1990.
__________ _______. Criminologia. Trad. Lus Flvio Gomes. 4. ed.
So Paulo: RT, 2002.
GASSIN, Raimond. Criminologie. 4. ed. Paris: Dalloz, 1998.
KRZINGER, Josef. Kriminologie: Eine Einfhrung in die Lehre vom
Verbrechen. 2. Auage, Stutgart-Mnchen-Hannover-Berlin-Weimar-
Dresden: Richard Boorberg, 1996.
LAMPE, Klaus. Organized Crime: Begriff und Theorie organisierter
34
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A INVESTIGAO CRIMINAL DESENVOLVIDA PELO
MINISTRIO PBLICO E O PROBLEMA DAS CIFRAS NEGRAS
Guilherme Costa Cmara
Kriminalitt in den USA. Frankfurter Kriminalwissenschaftliche Stu-
dien, Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. 67 v.
LDERSSEN, Klaus. Strafrecht und Dunkelziffer: Recht und Staat in
Geschichte und Gegenwart, bd. 412. Tbingen: J.C.B. Mohr, 1972.
MARINUCCI, Giorgio; DOLCINI Emilio, Diritto penale minimo e
nuove forme di criminalit. Rivista Italiana di Diritto e Procedura
Penale. Milano: Giuffr, Luglio/Settembre, 1999.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 8. ed. So Paulo: Atlas,
1988.
MLLER-DIETZ, Heinz. Integrationsprvention und Strafrecht: Zum
positiven Aspeckt der Generalprvention. In: Fests fr Jescheck. Ber-
lin: Duncker & Humblot, 1985.
OLIVEIRA, Ana Soa Schmidt. A vtima e o direito penal uma aborda-
gem do movimento vitimolgico e de seu impacto no direito penal. So
Paulo: RT , 1999.
SANTIN, Walter Foleto. O Ministrio Pblico na investigao crimi-
nal. So Paulo: Edipro, 2001.
ROXIN, Claus. La evolucin de la poltica criminal, el derecho penal y
el proceso penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2000.
35 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
Uma das caractersticas bsicas do pensamento racionalis-
ta sua densidade. Ela no permite que se encontre lacuna alguma
em sua textura, de modo que, para as possveis questes, j so
ventiladas respostas. Todavia, h mentalidades simplistas que tm
acesso s obras filosficas dos racionalistas. Porm, no seguem
os conselhos dos filsofos, dentre eles Descartes, acerca da ne-
cessidade de estudar seriamente seus escritos antes de aventurar
uma opinio a respeito deles. E assim, terminam por se apressar
em atribuir-lhes algo que, freqentemente, eles efetivamente no
proferiram.
Neste artigo, procuraremos explicitar a concepo de li-
berdade em Descartes contida na obra a Quarta Meditao (1641).
Todavia, como o pensamento denso do racionalista Descartes no
permite que se analise um aspecto desvinculado de seus princpios
fundantes, faz-se necessrio examinar a terceira parte de Discurso
do Mtodo (1637). Nessa obra, ele trata da moral provisria que
adotara, da carta endereada Princesa Isabel, da Bomia, onde
ele trata das verdadeiras e das aparentes virtudes, e da carta dirigi-
da ao tradutor francs do livro Princpios de Filosofia (1644).
Descartes, dentre outras coisas, exige que seus leitores
procurem ver que tudo que escrevera era para mostrar que a boa
conduta deve vir sempre assentada nos primeiros princpios. Eles
esto nas Regras para Direo do Esprito (1625-1628), especial-
mente na Regra III, onde Descartes distingue a intuio da razo
como duas vias de acesso aos primeiros princpios. Tal distino
relevante para tratar da natureza da anlise no mbito do mtodo
A LIBERDADE EM DESCARTES
Antnio Jorge Soares
Professor da Universidade Federal do Semi-rido-UFERSA
36
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
geomtrico grego por ele cultivado.
2. Objeto maior da losoa em Descartes
Pouca gente conhece a obra de Descartes. Porm, muita gente
se sente encorajada a falar depreciativamente dela, notadamente no que
concerne sua concepo de universo, aps o advento do princpio da in-
determinao de Heisenberg, vulgarmente conhecido como princpio da
incerteza. Muitas dessas crticas so injustas, por provirem de pessoas
que conhecem os escritos do lsofo apenas por ouvi dizer. Colocam
na boca de Descartes palavras e interpretaes que ele efetivamente no
proferiu, no obstante j houvesse alertado: Advertirei (...) de que at os
espritos mais excelentes tero necessidade de muito tempo e de ateno
de compreenderem todas as coisas que tive a inteno de abordar
1
. Mais
adiante, dirigindo-se aos seus eventuais leitores, arma:
Nunca me atribuam qualquer opinio que no encontrem
expressamente em meus escritos, e que no aceitem ne-
nhuma como verdadeira, quer nos meus escritos quer em
outro lugar, se no vericarem que claramente deduzi-
das dos meus princpios
2
.
Menos gente ainda sabe que Descartes foi um daqueles espritos
geniais que dominou o saber do seu tempo, a ponto de apresentar contri-
buies originais. Com efeito, desde Aristteles, algum no era capaz ou
no ousava ser capaz de construir e de propor um novo sistema de uni-
verso; desde Euclides que algum no criava uma rea nova de pesquisa
no campo das matemticas; desde Galeno que no se ousava descrever a
siologia humana, especialmente a do corao, da circulao sangnea
e da neurosiologia; desde Aristteles que um novo sistema losco
no era proposto; desde os esticos que um esforo para construir um
1
DESCARTES, Ren. Carta ao tradutor francs. In: Princpio de Filosoa. Lisboa: Edies 70, 1997. p. 21.
2
Ibidem, p. 24.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
37 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
novo sistema de lgica no era tentado; desde h muito que uma psico-
logia, expressa num tratado sobre as paixes da alma, no era escrita.
Descartes ousou apresentar e discutir os fundamentos de tudo isto.
Mas o que pouqussima gente sabe que aquilo que Descartes
se esforou por mostrar ou por fundamentar estava diretamente direcio-
nado construo de um sistema moral, de posse do qual toda gente pu-
desse ser capaz de justicar seus atos e suas crenas perante os outros.
Na carta endereada ao tradutor de Princpios de Filosoa, aps elogiar
a delidade da traduo do latim para o francs, Descartes procura ex-
plicar o sentido da palavra losoa, tomando-a como legtimo sin-
nimo de sabedoria. Segundo ele, por sabedoria no se deve entender
apenas a prudncia nos negcios, mas um conhecimento perfeito de
todas as coisas que o homem pode saber, tanto para a conduta da sua
vida como para a conservao da sade e inveno de todas as artes.
3
.
Descartes, nesta passagem, primeiramente retrata aquilo que o
homem comum de bom senso concebe como sendo o bem mais elevado
advindo da sabedoria: prudncia nos negcios. Mas imediatamente
o contrape ao que vem assentado num conhecimento perfeito, para
a conduta da sua vida. Todavia, para que esse conhecimento perfei-
to seja obtido, necessrio deduzi-lo das causas primeiras, de modo
que, para obt-lo - e a isso se chama losofar h que comear pela
investigao dessas primeiras causas, ou seja, dos princpios. Mas que
princpios so estes e como deles pode ser deduzida a doutrina orien-
tadora da boa conduta? Em resposta primeira parte desta indagao,
Descartes explica:
A Filosoa como uma rvore, cujas razes so a Meta-
fsica, o tronco a Fsica, e os ramos que saem do tronco
so todas as outras cincias que se reduzem a trs prin-
cipais: a Medicina, a Mecnica e a Moral, entendendo
por Moral a mais elevada e mais perfeita, porque pres-
supe um conhecimento integral das outras cincias e
o ltimo grau da sabedoria
4
.
3
Ibidem, p. 15.
4
Ibidem, p. 22.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
38
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Neste texto, Descartes esclarece que as causas primeiras so ob-
jetos de estudo da Metafsica, uma vez que ela a raiz da rvore do conhe-
cimento. Desse modo, uma incurso Metafsica torna-se imprescindvel
para a compreenso dos fundamentos da Moral. Alm disto, j no nal do
texto, Descartes enfatiza que a Moral o fruto mximo que da sabedoria
pode brotar. Diz-nos, porm, algo mais: a Moral o mais perfeito fruto,
porquanto alicerada no contedo de todas as demais cincias. E esclarece:
Como no das razes nem do tronco das rvores que se colhem os frutos,
mas apenas das extremidades dos ramos, a principal utilidade da losoa
depende daquelas suas partes que so apreendidas em ltimo lugar.
3. Necessidade temporria de uma moral provisria
O lsofo sabe que a possibilidade de estar de posse do integral
conhecimento das demais cincias uma grande utopia humana. Assim,
enquanto esta utopia, um dia, no se tornar realidade, convm que se ado-
te uma moral provisria. A esse respeito, Descartes confessa:
A m de no ser irresoluto em minhas aes, enquanto
a razo me obrigasse a s-lo em meus juzos, e de no
de viver desde ento o mais felizmente possvel, formei
para mim mesmo uma moral provisria (...) que eu quero
vos participar (...). A primeira era obedecer s leis e aos
costumes de meu pas (...) e governando-me (...) segundo
as opinies mais moderadas e as mais distanciadas do
excesso, que fossem comumente acolhidas, em prtica,
pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de vi-
ver (...). Minha segunda mxima consistia em ser o mais
rme e o mais resoluto possvel em minhas aes (...).
Minha terceira mxima era a de procurar sempre antes
vencer a mim prprio do que fortuna, e de antes mo-
dicar os meus desejos do que a ordem do mundo (...).
Enm, para concluso dessa moral, deliberei passar em
revista as diversas ocupaes que os homens exercem
nesta vida, para procurar escolher a melhor
5
.
5
DESCARTES, Ren. Discurso do mtodo. In : Obras escolhidas. 2. ed. So Paulo: Difel, 1973. p. 59-62.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
39 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Entretanto, como a boa conduta est alicera-
da na moral provisria, convm, na vida com
e entre os homens, distinguir a natureza da vir-
tude, uma vez que ela ser a meta que se deve
almejar. Assim que, na carta dirigida Prin-
cesa Isabel, lha de Frederico, Rei da Bomia,
Descartes chama a ateno para o fato de que se
deve ter cuidado a respeito das virtudes. Adver-
te que umas advm do conhecimento - so as
verdadeiras virtudes - e outras procedem de um
erro ou de um pseudoconhecimento - so as vir-
tudes aparentes. Estas, no sendo to freqen-
tes como as outras que lhes so contrrias, cos-
tumam ser mais estimadas. Assim, como h
mais pessoas que receiam demasiado os perigos
do que as que receiam pouco, freqente consi-
derar-se que a temeridade uma virtude
6
.
Enquanto essas virtudes que apresentam algum tipo de imper-
feio recebem nomes diversos e diferem entre si, as verdadeiras virtu-
des no diferem entre si nem recebem nomes diversos, mas um nico
nome: sabedoria. Assim, s verdadeiramente sbio aquele que tem
a vontade rme e conante de usar sempre a razo o melhor possvel e
pratica, nas suas aes, o que julga ser o melhor, tanto quanto a natureza
o permite. isto que o torna justo, corajoso e moderado
7
.
Observemos que a vontade e a razo desempenham papel re-
levante. De fato, as duas so exigidas sabedoria. Porm, enquanto a
vontade , em grau, algo comum aos homens, a razo ou entendimento
apresenta-se melhor em uns do que em outros. Esta condio da vonta-
de em relao razo ou ao entendimento extremamente importante
para a compreenso da concepo de liberdade em Descartes.
Com efeito, na obra Meditaes, Descartes nos mostra quais
so os princpios primeiros e de como chegou a eles. Na Primeira Me-
6
DESCARTES, Ren. Carta ao tradutor francs. In: Princpios da Filosoa. Lisboa: Edies 70, 1997. p.
11-12.
7
Ibidem, p. 12.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
40
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ditao, consegue pr em dvida os trs princpios sobre os quais havia
sido educado e sobre os quais forjara sua concepo de mundo e de
homem
8
. Na Segunda Meditao, diz que existe como ser pensante, que
tal ser tem sua existncia co-extensiva ao pensamento e que o esprito
mais fcil de conhecer do que o corpo
9
. J na Terceira Meditao, so
apresentadas duas provas de que Deus existe, como contedo da idia de
perfeio e como conservador do ser pensante no tempo. E extrai, da, uma
outra concluso: no pode haver em Deus qualquer sinal de imperfeio.
Freqentemente, por preconceito, a losoa de Descartes
olhada com desdm por conter um princpio metafsico sobre Deus. De
fato, , no mnimo, estranho que o pai do racionalismo aceite algo que ,
por natureza, objeto de culto e de f. Todavia, um olhar um pouco mais
atento pode dissipar tal preconceito. Alis, para quem pretende extrair a
concepo de liberdade no lsofo, torna-se imprescindvel demonstrar
que, de fato, ela provm, dedutivamente, dos primeiros princpios, tal
como Descartes exigira acima. Eis porque abriremos um espao para
dedicar algumas palavras a isto.
4. O papel do mtodo grego de resoluo
Os antigos gemetras gregos partilhavam de um mtodo se-
creto de encontrar resolues aos problemas que lhes eram propostos.
Pappus de Alexandria, um antigo historiador das matemticas, lega-nos
a obra Tesouro da Anlise, a mais completa descrio desse mtodo.
Descartes, como profundo estudioso das matemticas, veio a conhec-
lo e, tal como Plato
10
, aplicou-o na fundamentao de sua doutrina.
Sobre esse mtodo arma Richard Robinson
11
:
8
So eles: 1) nihil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu (nada h no intelecto que no tenha estado
antes nos sentidos). 2) Os resultados das matemticas so seguros e indubitveis. 3) H um Deus suma-
mente bom que tudo pode.
9
Esta ltima concluso ou verdade de Descartes aprofunda a dvida a respeito do primeiro princpio acima
anunciado. Coloca a verdade no plano da introspeco do esprito, retirando-a das propriedades dos objetos
como proferira Aristteles e toda a Escolstica.
10
Cf. SOARES, Jorge Antnio. Educao e poltica: uma releitura de Plato. So Paulo: Cortez Editora.
11
ROBINSON, Richard. A anlise na geometria grega. In: Caderno de Histria e Filosoa da Cincia.
Campinas: UNICAMP, 1983. p. 7.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
41 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A anlise, ento, toma aquilo que procurado como se
fosse admitido e disso, atravs de sucessivas conseqn-
cias ( s ), passa para algo que
admitido como resultado de sntese: pois, na anlise, as-
sumimos aquilo que se procura como se (j) tivesse sido
feito (s), e investigamos de que que isto resulta, e
novamente qual a causa antecedente deste ltimo, e as-
sim por diante at que, seguindo nossos passos na ordem
inversa, alcancemos algo j conhecido ou pertencente
classe dos primeiros princpios; e a tal mtodo chamamos
de anlise, como soluo de trs para diante (
). Mas na sntese, revertendo o processo tomamos
como j feito o que se alcanou por ltimo na anlise, e,
colocando na sua ordem natural de conseqncias o que
eram antecedentes e conectando-os sucessivamente uns
aos outros, chegamos nalmente construo do que era
procurado; e a isso chamamos sntese.
Uma longa discusso foi travada a respeito da natureza da an-
lise, se ela seria dedutiva ou no, uma vez que a natureza da sntese
j estava assentada como dedutiva. A concluso a qual se chega de
que anlise no dedutiva, pois ela repousa em uma heurstica, em um
processo de descoberta de passos seguidos na ordem inversa da snte-
se. Est, por isso, mais prxima de uma intuio criadora. O prprio
Descartes refere-se a ela na Regra III: preciso procurar (...) aquilo
que podemos ver por intuio, com clareza e evidncia, ou aquilo que
podemos deduzir com certeza: nem de outro modo, com efeito, que se
adquire a cincia
12
.
Ora, como o procedimento metodolgico da anlise no
dedutvel e segue um processo de descoberta, suas verdades
tm validades condicionadas a um princpio maior. Aristteles
13
,
referindo-se dialtica, a qual, para ele, no deriva dos prin-
cpios primeiros, d-nos uma pista valiosa. Os princpios da
12
DESCARTES, Ren. Regras para a direo do esprito. In: Obras escolhidas. Lisboa: Editora Estam-
pa,1987. p. 18.
13
ARISTOTELES. Tpicos. So Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 20.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
42
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
dialtica so aqueles que todo mundo admite, ou a maioria das
pessoas, ou os filsofos. Em outras palavras: todos, a maioria
ou os mais notveis e eminentes. Poderia, porm, ter Descartes
tomado como princpio primeiro no um princpio primeiro, mas
um princpio comumente aceito, como fora o caso de Deus em
seu tempo? A questo delicada e convm que a examinemos
com cuidado.
Deus , de fato, um princpio aceito por todos ou pela maio-
ria dos intelectuais do tempo de Descartes. O prprio lsofo era
um convicto praticante catlico, educado num colgio jesuta em
La Flche. Contudo, as duas provas de que Deus , apresentadas
por Descartes na Terceira Meditao, so inteiramente racionais e
provm das verdades anteriores, obtidas na Segunda Meditao pelo
ser pensante.
Com efeito, ao examinar a relao entre o contedo de uma
idia e o ideado, objeto metafsico de onde proveria a idia, e ao admitir
que o objeto metafsico teria, potencialmente, mais realidade objetiva
do que os atributos que o ser pensante concebe como inerente ao con-
tedo da idia, a idia de perfeio, na qual residia a suma bondade, a
onipotncia, a oniscincia, a onipresena, a eternidade e a innitude,
no poderia ser, jamais, mais perfeita, como seria natural em Plato,
mas no em Descartes, do que o ideado. Logo, este ideado perfeito e
existe. Portanto, Deus.
Na segunda prova, o losofo arma que o tempo concebido
como um eixo orientado e apontado para o futuro, constitudo de in-
nitos e minsculos pedaos interligados, mas independentes. Desse
modo, se algum existe num tempo qualquer, nada garante que ele con-
tinuar existindo no tempo seguinte, salvo se algo o criar a cada instan-
te. Ora, como criar a cada instante conservar no tempo e para realizar
isto deve-se ter tanto poder quanto tirar do nada, dar existncia, s um
deus poderia realizar tal tarefa. Logo, Deus existe, porquanto conserva
o ser pensante no tempo.
Eis, porque Deus tomado como o princpio primeiro dos
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
43 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
princpios primeiros em Descartes, algo que, nas palavras de Porfrio
14
,
exerce o papel de gnero supremssimo: Denimos gnero supremo
do seguinte modo: o que, sendo gnero, no espcie, e ainda, o que,
acima do qual no pode haver outro gnero superior. Feito este escla-
recimento, voltemos ao mtodo.
As trs primeiras verdades so de carter subjetivo e tm suas
respectivas existncias condicionadas ao tempo que o ser pensante per-
manece pensando. por isso que elas devem ser entendidas como verda-
des colocadas na ordem da descoberta e no na ordem da razo. As duas
provas de que Deus , notadamente a primeira, inauguram a ordem da
razo ou da justicao. Marcam o m da anlise e o incio da sntese,
de onde a cadeia dedutiva partir, na ordem inversa da anlise, para
construir os passos da sntese, da prova propriamente dita. Eis porque,
ao tratar da origem dos erros humanos na Quarta Meditao, momento
em que ser formulada a concepo de liberdade, Descartes o faz a par-
tir dos primeiros princpios.
5. Liberdade
No nal da Primeira Meditao, buscando colocar em d-
vida um dos princpios sobre os quais erigira suas antigas opinies,
Descartes argumenta: h muito que eu tenho no meu esprito certa
opinio de que h um Deus que tudo pode. Mas, se Deus tudo pode,
pode enganar ao homem. Todavia, Deus a suma bondade, de modo
que seria uma mcula em sua bondade enganar a algum. Entretanto,
uma vez que todos os homens j experimentaram, pelo menos uma
vez, o sabor amargo do erro, quem poder garantir que Deus no os
engane sempre?
15
.
Todavia, j na Quarta Meditao e de posse das provas de que
Deus ser perfeito, nenhum sinal de imperfeio poder conter sua
14
PORFIRIO. Isagoge. Lisboa: Guimares Editores, 1994. p. 63.
15
Um fato corrente no tempo de Descartes e, qui, tenha-o levado a formular a dvida a respeito da possi-
bilidade de Deus levar o homem a incorrer no erro, diz respeito humanidade ter acreditado, induzida pela
passagem bblica, em que Josu ordenara ao Sol parar. Com isso, durante mais de dois mil anos, admitia-se
que o Sol girava em torno da Terra, at o advento de Coprnico.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
44
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
natureza, de modo que o erro no poderia estar em Deus. Ademais,
sendo a Suma Bondade, Deus no quis que o homem, cujas existncia
e presena foram ddivas e, por isso delas no pode reclamar, no fosse
provido de uma natureza susceptvel de compreender o erro e, tambm,
de evit-lo. Mas, ento, de que forma o homem incorre no erro? Des-
cartes volta exigncia acima citada a respeito da sabedoria: a distino
entre a vontade e a razo ou entendimento:
Sendo a vontade muito mais ampla e extensa que o en-
tendimento, eu no a contenho nos mesmos limites, mas
estendo-a tambm s coisas que no entendo; das quais,
sendo a vontade por se indiferente, ela se perde muito
facilmente e escolhe o mal pelo bem ou o falso pelo ver-
dadeiro. O que faz com que eu me engane e peque
16
.
A vontade de estabelecer uma extenso mais ampla excita o
juzo ou o julgamento para alm daquilo que o entendimento garante,
ao assegurar como verdadeiro somente aquilo que proveniente dos
primeiros princpios, corrompendo, desta maneira, o entendimento.
Assim, os juzos descuidados que seguem os ditames da vontade cor-
rem srios riscos de erro. Isto implica que a liberdade de julgar e de
executar aes, dentro dos parmetros da boa conduta, da conduta
alicerada nos primeiros princpios, ca restrita aos limites da razo
ou do entendimento.
Entretanto, embora no cresa innitamente a ponto de atingir a
sabedoria de Deus, o entendimento humano, seguindo estudos e experin-
cias diligentes, gradativamente pode ir sendo ampliado. Mas, ao ser grada-
tivamente ampliado, amplia tambm o campo de garantia do entendimento.
Dessa forma, potencialmente, juzos que no recebiam tal garantia, agora,
passam a ser assegurados, alongando, assim, o campo da liberdade.
Isso signica que os estudos e as experincias diligentes so os
propulsores da verdadeira liberdade. Esta determinada pela conscin-
cia das conseqncias dos atos humanos, uma vez que toda liberdade
16
DESCARTES, Ren. Meditaes. In: Obras escolhidas. So Paulo: Difel, 1973. p. 165.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
45 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
estabelecida no pelos atos que se pratica, mas pela potencialidade em
pratic-los. Eis, pois, a liberdade concebida pelo racionalista Descartes.
Pela natureza dessa liberdade, pode ser cobrada a responsabilidade do
agente, em face de seus atos, e atribuir-lhe mritos e punies.
Referncias bibliogrcas
ARISTTELES. Tpicos. So Paulo: Abril Cultural, 1973
DESCARTES, Ren. Carta Princesa Isabel. In: Princpios da Filoso-
a. Trad. Joo Gama. Lisboa: Edies 70, 1997.
________________. Carta ao tradutor francs. In: Princpios da Filo-
soa. Trad. Joo Gama. Lisboa: Edies 70, 1997.
________________. Discurso do mtodo. In: Obras escolhidas. 2. ed.
Trad. J. Guinsburg & Bento Prado Jnior. So Paulo: Difel, 1973.
________________. Meditaes. In: Obras escolhidas. 2. ed. Trad. An-
tnio Reis. Lisboa: Editorial Estampa, 1987.
________________. Regras para a direo do esprito. In: Obras esco-
lhidas. 2. ed. Trad. Lisboa: Editorial Estampa, 1987.
PORFRIO. Isagoge. Trad. Pinharanga Gomes. Lisboa: Guimares Edi-
tores, 1994.
ROBINSON, Richard. A anlise na geometria grega. In: Caderno de
histria e losoa da cincia. Trad. Roberto Lima de Souza. Campinas:
UNICAMP, 1983.
SOARES, Jorge Antnio. Educao e poltica: uma releitura de Plato.
So Paulo: Cortez Editora.
A LIBERDADE EM DESCARTES Antnio Jorge Soares
46
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Consideraes gerais sobre o direito fundamental liberdade de
locomoo
O direito liberdade denido por Jean Rivero
1
como o
poder de autodeterminao, em virtude do qual o homem escolhe por
si mesmo seu comportamento pessoal. Surgiu como reao aos ar-
btrios e s violaes das monarquias absolutistas, despontando, for-
malmente, no mundo moderno, com a Magna Carta de 1215. Desde
ento, vem sendo reconhecido na generalidade das constituies dos
Estados Democrticos de Direito, a exemplo da Carta Constitucional
brasileira.
Em seu contorno jurdico atual, o direito fundamental liberdade
comporta diversas outras liberdades, como a liberdade de locomoo, de
pensamento, de opinio, de religio, de conscincia e artstica. A primeira
delas a liberdade de locomoo - representa o direito que tem o indivduo
de ir, vir, car, permanecer, bem como de circular pelas vias pblicas
2
. Com
seu indubitvel carter de direito fundamental, a liberdade de locomoo
1
Apud SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 6 ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 1990, p. 207. Na explanao de De Plcido e Silva, liberdade vem do latim libertas, de liber
(livre), indicando, genericamente, a condio de livre ou estado de livre. Signica, no conceito jurdico, a
faculdade ou poder outorgado pessoa, para que possa agir, segundo sua prpria determinao, respeitadas,
no entanto, as regras legais institudas. A liberdade, pois, exprime a faculdade de se fazer ou no fazer o que
se quer, de pensar como se entende, de ir e vir, tudo conforme a livre determinao da pessoa, quando no
haja regra proibitiva para a prtica do ato, ou no se institua princpio restritivo ao exerccio da atividade
(SILVA, De Plcido e. Vocabulrio jurdico. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 84. 3 v.).
2
Destaca Alexandre de Moraes que a liberdade de locomoo engloba quatro situaes: o direito de acesso
e ingresso no territrio nacional; o direito de sada do territrio nacional; o direito de permanncia no ter-
ritrio nacional; o direito de deslocamento dentro do territrio nacional (MORAES, Alexandre de. Direito
constitucional. 13. ed. So Paulo: Atlas, 2003. p. 141).
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE
DE LOCOMOO DAS CRIANAS
E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
Promotora de Justia no Estado da Paraba
47 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
encontra-se consagrada, no ordenamento jurdico brasileiro, no art.
5, XV, da Constituio Federal, que assim dispe: livre a locomo-
o no territrio nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
Afora esse dispositivo, h outras regras constitucionais que a tutelam,
ainda que indiretamente, a exemplo do art. 5, LXI, que veda a priso
ilegal
3
.
Como direito fundamental, a liberdade de locomoo possui as
caractersticas tpicas dessa natureza de direito, tais como: a universa-
lidade
4
, a indivisibilidade
5
, a complementaridade
6
, a interdependncia
7
e a imprescritibilidade
8
. Apresenta, de igual modo, fora normativa que
3
Art. 5 (). LXI ningum ser preso seno em agrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciria competente, salvo nos casos de transgresso militar ou crime propriamente militar,
denidos em lei.
4
A universalidade decorre do fato de que todos so iguais e, por conseguinte, merecedores dos mesmos
direitos, independentemente de raa, etnia ou religio. A respeito, John Rawls enfatiza: Human rights are
thus distinct from, say, constitutional rights, or the rights citizenship, or from other kinds of rights that be-
long to certain kinds of political institutions , both individualist and associationist. They are a special class
of rights of universal application and hardly controversial in their general intention. They are part of a
reasonable law of peoples and specify limits on the domestic institutions required of all peoples by that law.
In this sense they specify the outer boundary of admissible domestic law of societies in good standing in a
just society of peoples (RAWLS, John. The law of peoples. In: On Human Rights. The Oxford Amnestry
Lectures 1993. Stephen Shute and Susan Hurley, Editors. New York: Basic Books, 1993. p. 70-71).
5
Em face da indivisibilidade dos direitos fundamentais, resta superada a dicotomia, outrora existente, que
separava os direitos civis e polticos de um lado e os direitos sociais, culturais e econmicos, de outro.
6
Comentando a complementaridade dos direitos fundamentais, Peter Hberle arma ser fcilmente demos-
trable que los diversos derechos fundamentales, incluso en relacin a cada uno de los titulares, se condicionan
recprocamente. Al objeto del pleno desarrollo de la personalidad , debe ofrecerse al individuo la oportunidad de
hacerse de una propiedad. () El derecho de formar asociaciones religiosas presupone de parte suya la libertad
de conciencia e viceversa.() La relacin de complementariedad en que se hallan cada uno de los derechos
fundamentales es una relacin de condicionamiento no slo con referencia al conjunto de la Constitucin, sino
tambin con referencia al individuo titular de los derechos subjetivos. Todos los derechos fundamentales se
encuentran en una relacin ms o menos estrecha ente s. Se garantizan y se refuerzan reciprocamenente. (H-
BERLE, Peter. La libertad fundamental en el Estado constitucional. Granada: Comares, 2003. p. 41-43).
7
Os direitos fundamentais devem ser entendidos e aplicados luz de outros direitos fundamentais. No h
como dissociar o direito liberdade religiosa, por exemplo, do direito vida. Em razo dessa interdepen-
dncia, a leso a certo direito fundamental pode atingir outro direito dessa espcie.
8
Para Luigi Ferrajoli, os direitos fundamentais apresentam a caracterstica da indisponibilidade ativa (no
so alienveis pelo sujeito que seu titular) e passiva (no so expropriados e limitados por outros sujeitos,
dentre os quais o Estado) (FERRAJOLI, Luigi. Derechos fundamentales. In: FERRAJOLI, Luigi et al.
Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2001. p. 32). Todavia, o mencionado
jurista criticado, em tal posicionamento, por Riccardo Guastini, que sustenta: a indisponibilidade s
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
48
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
atinge tanto o Estado, informando suas atividades polticas, administra-
tivas, judiciais e legislativas
9
, como os particulares, atravs da eccia
horizontal dos direitos fundamentais (Drittwirkung).
Por outro lado, assim como todos os direitos, o direito funda-
mental liberdade de locomoo no um direito ilimitado, sendo pass-
vel de restries e de limitaes. Com efeito, em certas circunstncias, a
prpria Constituio autoriza a restrio ao direito de liberdade de loco-
moo, quer de forma imediata (restries previstas diretamente no corpo
constitucional), quer de forma mediata (restries realizadas atravs de
autorizao expressa ou tcita
10
da Constituio ao legislador ordinrio)
11
,
independentemente de se estar ou no em tempo de guerra
12
.
Nesse contexto, certo que as leis restritivas do direito liber-
dade de locomoo, bem como as que venham restringir qualquer ou-
tro direito fundamental, devem respeitar o limite dos limites, que a
pode caracterizar um direito fundamental quando houver previso legal expressa. Em sua crtica, Riccardo
Guastini apresenta o exemplo da liberdade pessoal, que, embora consista em um direito fundamental, pode
ser disponibilizada por ordem judicial, v.g. (GUASTINI, Riccardo. Tres problemas para Luigi Ferrajo. In:
FERRAJOLI, Luigi et al. Op. cit., p.62).
9
A vinculao de entidades pblicas exige, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, uma vinculao de
todas as entidades pblicas, desde o legislador, os tribunais administrao, desde os rgos do Estado aos
rgos regionais e locais, desde os entes da administrao central at as entidades pblicas autnomas. A
clusula de vinculao de todas as entidades pblicas exige, pois, uma vinculao sem lacunas: abrange
todos os mbitos funcionais dos sujeitos pblicos e independente da forma jurdica atravs da qual as
entidades pblicas praticam os seus actos ou desenvolvem suas actividades (CANOTILHO, J.J.Gomes.
Direito constitucional e teoria da Constituio. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 439).
10
Compartilhamos do entendimento de que pode haver restries constitucionais aos direitos fundamentais
no expressamente previstas na Constituio, mas necessariamente nesta inclusas. Neste aspecto, cf. NO-
VAIS, Jorge Reis. As restries aos direitos fundamentais no expressamente autorizadas pela Constitui-
o. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 596.
11
Para Jorge Miranda, as restries podem deixar de fundar-se em preceitos ou princpios constitucionais,
mas, indubitavelmente, qualquer restrio tem de ser consentida, explcita ou implicitamente, pela Consti-
tuio (MIRANDA, Jorge. O regime dos direitos: liberdades e garantias. In: Estudo sobre a Constituio.
2. ed. Lisboa: Livraria Petrony, 1979. p. 81. 3 v.).
12
Discordamos do posicionamento de Jos Afonso da Silva, quando sustenta que o art. 5, XV, da Consti-
tuio s autoriza leis restritivas em tempo de guerra (SILVA, Jos Afonso da. Op. cit., p. 211).
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
49 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
observncia ao princpio da no-retroatividade
13
, da generalidade
14
, da
abstrao e da proporcionalidade, em seu triplo aspecto (adequao, ne-
cessidade e razoabilidade). Outrossim, tais leis devem sempre resguardar
o ncleo ou contedo essencial do direito fundamental a que se refere,
que consiste, na denio de Peter Hbeler
15
, naquele mbito dentro do
qual no h nenhum outro bem jurdico, de igual ou superior importncia,
que seja legitimamente limitador do direito fundamental
16
.
Por m, convm registrar que a liberdade de locomoo pode
colidir com outro direito ou valor constitucionalmente protegido. Nesse
caso, haver um conito a ser resolvido atravs da aplicao do prin-
cpio da harmonizao ou da concordncia prtica. Tal princpio, por
meio de um juzo de ponderao
17
, ir coordenar e combinar os bens
jurdicos em conito, evitando o sacrifcio total de uns em relao aos
outros, realizando uma reduo proporcional do mbito de alcance de
cada qual (contradio de princpios), sempre em busca do verdadeiro
signicado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas
nalidades precpuas, como ensina Alexandre de Moraes
18
.
Na impossibilidade de uma coordenao, o princpio em pauta
indicar o interesse de maior peso que dever prevalecer em determi-
nada situao de fato, no mbito de uma relao denominada de prece-
13
No apenas as leis restritivas totalmente retroativas (ou seja: que se aplicam a situaes e relaes j
esgotadas) so vedadas, mas tambm leis restritivas parcialmente retroativas (quer dizer: que se aplicam a
situaes vindas do passado e ainda no terminadas) (MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional.
3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 339. 4 t.).
14
Entende-se por lei individual aquela que impe restries aos direitos fundamentais de uma pessoa ou de
um grupo de pessoas determinadas ou determinveis, ferindo, dessa forma, o princpio da igualdade.
15
HBERLE, Peter. La garanta del contenido esencial de los derechos fundamentales en Ley Fundamen-
tal de Bonn. Madrid: Dykinson, 2003. p. 65.
16
Para Jos Carlos Vieira de Andrade, o ncleo essencial de um direito fundamental consiste nas facul-
dades tpicas que integram o direito, tal como denido na hiptese normativa, e que correspondem
projeco da idia de dignidade humana individual na respectiva esfera da realidade abrangem aquelas
dimenses dos valores pessoais que a Constituio visa em primeira linha proteger e que caracterizam e jus-
ticam a existncia autnoma daquele direito fundamental (ANDRADE, Jos Carlos Vieira de. Os direitos
fundamentais na Constituio portuguesa de 1976. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2001. p. 172).
17
Peter Hbeler se refere ponderao de bens como o princpio atravs do qual se determinam o contedo
essencial e os limites dos direitos fundamentais, bem como se solucionam os conitos que surgem entre os
bens jurdico-constitucionais, que coexistem uns junto aos outros (HBERLE, Peter. Op. cit., p. 33).
18
MORAES, Alexandre de. Op. cit., p. 61.
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
50
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
dncia condicionada. Como leciona Robert Alexy
19
, a precedncia de um
interesse sobre o outro se condiciona s circunstncias do caso concreto,
que, se alteradas, podero ocasionar uma soluo de precedncia inversa.
2. Direito liberdade de locomoo das crianas e dos adolescentes
Na qualidade de sujeitos de direitos, as crianas e os adolescen-
tes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes pessoa humana
20
.
Dentre esses direitos se encontra o direito liberdade, que lhes assegura-
do, expressamente, pelo art. 227, caput, da Constituio Federal brasileira
de 1988
21
.
Regulamentando o citado dispositivo constitucional, o Estatu-
to da Criana e do Adolescente, em seu art. 15, estabelece: A criana
e o adolescente tm direito liberdade, ao respeito e dignidade como
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituio e nas leis.
Logo em seguida, em seu art. 16, dispe sobre vrios aspectos do direito
liberdade infanto-juvenil, sendo o primeiro deles referente liberdade
de locomoo, ou seja, liberdade de ir, vir e estar nos logradouros
pblicos e espaos comunitrios, ressalvadas as restries legais.
Embora titulares da liberdade de locomoo desde o nasci-
mento (capacidade de direito)
22
, as crianas e os adolescentes no po-
19
ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estdios Constitucionales,
1997. p. 90.
20
Art. 3 A criana e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes pessoa humana,
sem prejuzo da proteo integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, to-
das as oportunidades e facilidades, a m de lhes facultar o desenvolvimento fsico, mental, moral, espiritual
e social, em condies de liberdade e de dignidade (Estatuto da Criana e do Adolescente).
21
Art. 227. dever da famlia, da sociedade e do Estado assegurar criana e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito vida, sade, alimentao, educao, ao lazer, prossionalizao,
cultura, dignidade, ao respeito, liberdade e convivncia familiar e comunitria, alm de coloc-los a
salvo de toda forma de negligncia, discriminao, explorao, violncia, crueldade e opresso.
22
Como salienta Lus Maria Dez-Picazo, com relao aos menores, no h problema quanto titularidade
de direitos fundamentais, mas sim quanto ao exerccio desses direitos (DEZ-PICAZO, Lus Maria. Sistema
de derechos fundamentales. Madrid: Thomson Civitas, 2003. p. 128). Assim, entendemos que as crianas e
os adolescentes, desde o nascimento, so titulares de direitos fundamentais, que cam em estado de latncia
at a conquista da sua gradativa maturidade. Por outra via, para John Stuart Mill, o direito de autonomia s
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
51 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
dem exercit-la livremente (capacidade de exerccio), enquanto no
atinjam o necessrio grau de maturidade biopsicossocial. A prpria lei
retira a autonomia, ou a autonomia absoluta, dos menores de determi-
nada idade. E assim o faz em carter protetivo, vista da sua maior
suscetibilidade e fragilidade frente aos perigos da vida. As restries
legais liberdade de locomoo das crianas e dos adolescentes podem
decorrer do normal exerccio do poder familiar ou das prprias funes
do Estado. De uma forma ou de outra, inegvel que possuem, no or-
denamento jurdico brasileiro, um denominador comum: o art. 227 da
Constituio Federal, que consagra a proteo integral da criana e do
adolescente a cargo da famlia, do Estado e da sociedade.
certo ainda que, em algumas hipteses, tais restries pos-
suem ns adicionais (alm da proteo das crianas e dos adolescentes),
como a defesa da ordem pblica e dos direitos alheios, conforme se ver
adiante. Em todo caso, devero observar os j explanados limites dos li-
mites dos direitos fundamentais. Devem resultar de leis no-retroativas,
genricas, abstratas e proporcionais, que preservem o ncleo essencial
da liberdade da criana e do adolescente, sob pena de interposio do
remdio constitucional do habeas corpus, utilizvel sempre que algum
sofrer, ou seja ameaado de sofrer, violncia ou coao em sua liberdade
de locomoo, por ilegalidade ou abuso de poder
23
.
3. Restries liberdade de locomoo das crianas e dos adoles-
centes decorrentes do poder familiar
A famlia, seja ela biolgica ou substituta, co-responsvel,
pertence aos adultos. Nesta linha, aduz: It is, perhaps, hardly necessary to say that this doctrine in meant
to apply only to human beings in the maturity of their faculties. We are not speaking of children, or of young
persons below the age which the law may x as that of manhood or womanhood. Those who are still in a
state to require being taken care of by others, must be protected against their own actions as well as against
external injury (MILL, John Stuart. On Liberty. Apud FORTIN, Jane. Childrens rights and the developing
law. 2. ed. Londres: Lexis Nexis, 2003. p. 21).
23
Art. 5 () LXVIII- conceder-se- hbeas corpus sempre que algum sofrer ou se achar ameaado de
sofrer violncia ou coao em sua liberdade de locomoo, por ilegalidade ou abuso de poder (Constitui-
o Federal brasileira de 1988).
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
52
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
nos termos do art. 227, caput, da Constituio, juntamente com o Esta-
do e a sociedade, pela garantia dos direitos fundamentais das crianas
e dos adolescentes. A obrigao constitucional se estende a todo o n-
cleo familiar, composto pelos ascendentes, bem como pelos colaterais
prximos. Todavia, no h como negar que os responsveis imediatos
por tal obrigao so os titulares do poder familiar
24
. Em outras pala-
vras, so os titulares do conjunto de poderes-deveres
25
irrenunciveis,
inalienveis e originrios, mediante os quais os genitores, biolgicos ou
adotivos
26
, assumem a responsabilidade pelos seus lhos menores
27
.
O Estatuto da Criana e do Adolescente, a esse respeito, em seu
art. 22, preceitua que so deveres dos pais para com os lhos menores os
de sustento, de guarda e de educao, bem como o de fazer cumprir as
determinaes judiciais no interesse da criana e do adolescente. A obri-
gao de sustento compreende a assistncia material em todos os seus as-
pectos. Por seu turno, o dever de educao envolve a formao moral, in-
telectual e espiritual do menor. J a incumbncia de guarda, como leciona
Tnia da Silva Pereira
28
, consiste na efetiva custdia e vigilncia que os
pais devem ter no direcionamento das aes da criana e do adolescente,
24
Expresso adotada pelo novo Cdigo Civil brasileiro em substituio ao termo ptrio poder. Para Mar-
cos Alves da Silva, a novel terminologia passvel de crticas, porque familiar implica referncia a toda a
famlia, e tal poder constitui prerrogativa exclusiva dos pais (SILVA, Marcos Alves da. Do ptrio poder
autoridade parental: repensando fundamentos jurdicos da relao entre pais e lhos. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002. p. 10).
25
minoritria (e atualmente superada) a corrente doutrinria que sustenta a natureza de direito subjetivo
do poder familiar, em detrimento da sua natureza de poder - dever.
26
Impende ressaltar que, com o art. 226, 5, da Constituio brasileira de 1988, foi denitivamente extinta
a gura do chefe de famlia, passando o poder familiar a ser exercido pelo pai e pela me em igualdade de
condies. De igual modo, a Constituio, em seu art. 226, 3 e 4, veio tornar dispensvel o matrimnio
para ns do exerccio do poder familiar, na medida em que reconheceu como entidade familiar a unio est-
vel entre pessoas de diferentes sexos e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
27
Nesse sentido, cf. SOTTOMAYOR, Maria Clara. Regulao do exerccio do poder paternal nos casos de
divrcio. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2004. p. 17. Por outro prisma, na denio apresentada pelo jurista es-
panhol Luis Gmez Morn, consiste o poder familiar em: Una suma de derechos y obligaciones que unen
a los padres con sus hijos en relacin recproca, comprobndose esta bilateralidad en todos los aspectos de
la organizacin paterno-lial, ya que dentro de ella no hay un solo derecho que no resulte compensado con
el correlativo deber (MORN, LUIS GMEZ. La posicin jurdica del menor en el derecho comparado.
Tesis Doctoral de las universidades de Madrid y Coimbra. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1947. p. 168).
28
PEREIRA, Tnia da Silva. Direito da criana e do adolescente: uma proposta interdisciplinar. Rio de
Janeiro: Renovar, 1996. p. 239.
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
53 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
como forma de proteg-los das inuncias nocivas sua formao.
Observa-se, claramente, da leitura dessas denies, que do
dever de educao e do dever de guarda decorre o poder-dever dos pais
de restringir a liberdade de locomoo dos lhos menores, como forma
de resguard-los e de lhes garantir um sadio desenvolvimento biopsi-
cossocial. Podem assim, nesse propsito, proibir que os lhos menores
freqentem determinados lugares ou que circulem nas ruas em horrios
avanados ou ainda desacompanhados ou em m companhia, respeitan-
do, sempre, a gradativa maturidade dos lhos. Isso porque, nas palavras
de Rosa Cndido Martins
29
, a funo protectora dos pais deve ser in-
versamente proporcional ao desenvolvimento fsico, intelectual, moral
e emocional dos lhos.
Assim, dentro dos limites do razovel, compete aos pais decidir
sobre a medida da liberdade a ser concedida aos seus lhos, sem que haja,
nesse aspecto, interferncia do Estado
30
. No entanto, em casos de abusos
ou omisses, torna-se necessria a interveno estatal, para fazer valer, em
nome da eccia horizontal dos direitos fundamentais, a liberdade de loco-
moo dos lhos
31
. Para tanto, h a previso de tipos penais
32
(como o de
abandono intelectual
33
e o de crcere privado de descendente
34
, estabeleci-
29
MARTINS, Rosa Cndido. Poder paternal vs autonomia da criana e do adolescente? In: Lex Familiae,
Revista Portuguesa de Direito da Famlia. Coimbra: Coimbra Editora, ano 1, n. 1, 2004. p. 70.
30
Jane Fortin salienta: The prospect of government intervention in family life through legislation has tradi-
tionally provoked strong hostility, especially if such legislation threatens to interfere with the parente-child
relationship (FORTIN, Jane. Op. cit., p. 08).
31
Antonio E. Perez Luo assinala que a ampliao da eccia dos direitos fundamentais esfera privada
torna necessria a atuao dos poderes pblicos encaminhada a promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas e a remover
los obstculos que impidan o diculten su plenitud.(LUO, Antonio E. Perez. Los Derechos Fundamen-
tales. 7. ed. Madrid: Tecnos, 1998. p. 23).
32
Nessa senda, Peter Hberle assevera: Si la libertad del individuo no fuese tutelada penalmente contra
la amenaza derivada del ajeno abuso de la libertad, no habra ms lugar para hablar del signicado de la
libertad para la vida social en conjunto. Se impondra el ms fuerte (HBERLE, Peter. La Libertad
Fundamental en el Estado Constitucional. Granada: Comares, 2003. p. 43-44).
33
Art. 247. Permitir algum que menor de 18 (dezoito) anos, sujeito a seu poder ou conado sua guarda
ou vigilncia: I - freqente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de m vida; II -
freqente espetculo capaz de pervert-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representao de igual
natureza; III - resida ou trabalhe em casa de prostituio; IV - mendigue ou sirva a mendigo para excitar a
comiserao pblica: Pena - deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
34
Art. 148. Privar algum de sua liberdade, mediante seqestro ou crcere privado: Pena - recluso, de 1
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
54
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
dos no Cdigo Penal brasileiro) e de medidas cveis (como as medidas de
perda e de suspenso do poder familiar, estabelecidas, respectivamente,
nos arts. 1.637 e 1.638 do Cdigo Civil brasileiro
35
), que punem o uso
irregular ou desproporcional do poder em questo
36
. A propsito, Carla
Fonseca
37
destaca que a famlia no se benecia de maior tolerncia
relativamente a qualquer abuso, uma vez que, justamente em seu seio,
deve ser o espao de maior segurana, do maior afeto, da melhor com-
preenso dos lhos menores.
Outrossim, no nosso entender, o Estado tambm poder inter-
vir contra os abusos e omisses do poder familiar sobre a liberdade de
locomoo do lho, criana ou adolescente, atravs da apreciao de
habeas corpus
38
. Nesse diapaso, Alexandre de Moraes
39
salienta: Na
maior parte das vezes, a ameaa ou coao liberdade de locomoo
por parte do particular constituir crime previsto na legislao penal,
(um) a 3 (trs) anos. 1 - A pena de recluso, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos: I se a vtima ascendente, des-
cendente, cnjuge do agente ou maior de 60 (sessenta) anos (Redao dada pela Lei n 10.741, de 2003).
35
Art. 1.637. Se o pai, ou a me, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arrui-
nando os bens dos lhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministrio Pblico, adotar a medida
que lhe parea reclamada pela segurana do menor e seus haveres, at suspendendo o poder familiar, quan-
do convenha. Pargrafo nico. Suspende-se igualmente do poder familiar ao pai ou me condenados por
sentena irrecorrvel, em virtude de crime cuja pena exceda a 2 (dois) anos de priso. Art. 1.638. Perder
por ato judicial o poder familiar o pai ou me que: I- castigar imoderadamente o lho; II- deixar o lho em
abandono; III- praticar atos contrrios moral ou aos bons costumes; IV- incidir, reiteradamente, nas faltas
cometidas no artigo antecedente.
36
Marcos Alves da Silva assevera que a famlia moderna no mais vista como uma instituio, tendo
adquirido uma funo instrumental que possibilita uma maior ingerncia do Estado, especialmente para
a proteo dos membros mais vulnerveis, como o caso da criana (SILVA, Marcos Alves da. Op. cit.,
p.135). Como arma Rosa Cndido Martins, surgiu um novo modelo de famlia de carter democrtico,
em substituio ao modelo autoritrio da completa submisso dos lhos aos pais. Para a mencionada
autora, esse novo modelo das relaes entre pais e lhos revela o facto de a famlia ter vindo a perder
algumas das funes que tradicionalmente desempenhava. Esta desfuncionalizao da famlia no se tra-
duziu, porm, no esvaziar de sentido da comunidade familiar, muito pelo contrrio. Na verdade, o processo
de desfuncionalizao foi acompanhado por outro processo, o da descoberta dos valores da intimidade e da
afectividade (MARTINS, Rosa Cndido. Op. cit., p. 65).
37
FONSECA, Carla. A proteco das crianas e jovens: factores de legitimao e objectivos. In: Direito
Tutelar de Menores. O sistema de mudanas. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p.10.
38
A Constituio brasileira de 1988, no nosso entendimento, no reduziu o plo passivo do habeas corpus
aos agentes estatais. Nesse sentido, h copiosos exemplares da jurisprudncia brasileira, a exemplo dos
seguintes: STF, HC, Rel. Orosimbo Nonato, RT 231/664; TJSP, HC, Rel. Cunha Bueno, RT 577/329; TJPR,
RHC, Rel. Heliantho Camargo, RT 489/389.
39
MORAES, Alexandre de. Op. cit., p.144.
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
55 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
bastando a interveno policial para faz-la cessar. Isso, porm, no im-
pede a impetrao do habeas corpus, mesmo porque existiro casos em
que ser difcil ou impossvel a interveno da polcia para fazer cessar
a coao ilegal. Por derradeiro, convm frisar que os prprios titulares
do poder familiar podem recorrer ao Estado, quando divergirem entre si
sobre as restries da liberdade de locomoo dos lhos, tal como prev
o art. 1.631, pargrafo nico, do Cdigo Civil brasileiro
40
.
4. Restries liberdade de locomoo das crianas e dos adoles-
centes decorrentes do poder estatal
O Estado tem o dever de restringir a liberdade de locomoo
das crianas e dos adolescentes, com o intento de garantir sua efetiva
proteo integral. Possui, de igual modo, a obrigao de restringir a
liberdade de qualquer pessoa, sempre que necessrio, para assegurar a
ordem pblica e os direitos fundamentais de terceiros
41
. Em face dessa
diversidade de ns (exclusivamente protetivos ou no), as restries
estatais liberdade de locomoo das crianas e dos adolescentes so
classicadas em restries estatais de natureza puramente protetiva e
restries estatais de natureza mista. So as denominadas medidas s-
cio-educativas.
4.1 Restries estatais de natureza puramente protetiva
Ao longo do texto do Estatuto da Criana e do Adolescente,
esto previstas vrias medidas restritivas da liberdade de locomoo
40
Art. 1.631. Durante o casamento e a unio estvel, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impe-
dimento de um deles, o outro o exercer com exclusividade. Pargrafo nico. Divergindo os pais quanto ao
exerccio do poder familiar, assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a soluo do desacordo.
41
A propsito, Jos Adriano de Souto Moura enfatiza que, nesses casos, o Estado intervm em nome da
segurana do cidado, mas, sobretudo, em nome do prprio interesse do menor (MOURA, Jos Adriano de
Souto. A tutela educativa: factores de legitimao e objectivos. In: Direito Tutelar de Menores. O sistema
em mudana. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. p. 108.).
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
56
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
infanto-juvenil de cunho estritamente protetivo. Uma delas a me-
dida prevista no art. 83, que probe que a criana viaje para fora da
comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsvel ou
sem expressa autorizao judicial
42
. J nos dois artigos subseqentes,
h o impedimento de que criana ou adolescente viaje para o exterior
desacompanhado de ambos os pais ou na companhia de um deles, mas
sem a autorizao expressa do outro (atravs de documento com rma
reconhecida) ou, ainda, sem autorizao judicial. A outra proibio a
de que qualquer criana ou adolescente nascido no territrio nacional
no pode sair do pas, sem prvia e expressa autorizao judicial, na
companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.
H, nesses casos, restries diretas ao preceito contido no art.
5, XV, da Constituio de 1988, que prev a livre locomoo no ter-
ritrio nacional. Porm, todas elas buscam proteger a criana e o ado-
lescente contra perigos rotineiros, a exemplo do trco interestadual e
internacional de menores para alimentar a prostituio infanto-juvenil
e do mercado criminoso de venda de rgos. O art. 75 do ECA, por sua
vez, determina que as crianas e os adolescentes s tero acesso s di-
verses e espetculos pblicos, quando classicados como adequados
sua faixa etria, vedando-se a entrada de menores de dez anos, caso no
estejam acompanhados dos pais ou responsvel. De forma semelhante,
o art. 80 probe a presena de crianas e adolescentes em estabelecimen-
tos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou jogos de aposta.
Em seu art. 149, o ECA veio conferir ao juiz da Vara da In-
fncia e da Juventude o poder de disciplinar, atravs de portarias, ou
autorizar, atravs de alvars, sempre de forma fundamentada e casu-
stica, a entrada e a permanncia de criana ou adolescente, desacom-
panhado dos pais ou responsvel, em determinados locais, bem como
a sua participao em certos eventos
43
. Tm-se, aqui, as denominadas
42
Estabelece o ECA que a autorizao judicial no ser exigida quando: a) tratar-se de comarca contgua
da residncia da criana, se na mesma unidade da Federao, ou includa na mesma regio metropolitana;
b) a criana estiver acompanhada: 1) de ascendente ou colateral maior, at o terceiro grau, comprovado do-
cumentalmente o parentesco; 2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, me ou responsvel
(art. 83, 1).
43
Art. 149. Compete autoridade judiciria disciplinar, atravs de portaria, ou autorizar, mediante alvar:
I - a entrada e permanncia de criana ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsvel, em: a)
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
57 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
intervenes restritivas, que consistem, na lio de J. J. Gomes Ca-
notilho
44
, em atos ou atuao das autoridades pblicas restritivamente
incidentes, de modo concreto e imediato, sobre um direito.
Poder-se-ia indagar, nesse contexto, se o juiz da Vara da
Infncia e da Juventude tem poder para baixar portaria, restringin-
do a liberdade de locomoo da criana e do adolescente, fora dos
casos previstos no aludido art. 149. No nosso entender, a resposta
positiva
45
, desde que a interveno judicial restritiva seja estrita-
mente necessria, adequada e razovel para resguardar outros di-
reitos fundamentais infanto-juvenis
46
. Tal portaria, por conseguinte,
encontraria seu fundamento no no artigo estatutrio em comento,
mas diretamente no art. 227, caput, da Constituio, que conclama a
co-responsabilidade do Estado (inclusive Estado-juiz) pela proteo
integral da criana e do adolescente. A ttulo de exemplo, armamos
ser legtima uma portaria do Juiz da Vara da Infncia e da Juventude,
que, sob os auspcios da proteo integral, venha coibir a permann-
cia de menores de idade, em determinados horrios, em locais pbli-
estdio, ginsio e campo desportivo; b) bailes ou promoes danantes; c) boate ou congneres; d) casa que
explore comercialmente diverses eletrnicas; e) estdios cinematogrcos, de teatro, rdio e televiso; II
- a participao de criana e adolescente em: a) espetculos pblicos e seus ensaios; b) certames de beleza.
1 Para os ns do disposto neste artigo, a autoridade judiciria levar em conta, dentre outros fatores: a)
os princpios desta lei; b) as peculiaridades locais; c) a existncia de instalaes adequadas; d) o tipo de
freqncia habitual ao local; e) a adequao do ambiente eventual participao ou freqncia de crianas
e adolescentes; f) a natureza do espetculo. 2 As medidas adotadas na conformidade deste artigo devero
ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinaes de carter geral.
44
CANOTILHO, J.J.Gomes. Op. cit.,p. 451.
45
Em outro sentido, Alyrio Cavallieri enfatiza: Crianas e adolescente no podem permanecer nos logra-
douros pblicos vedados pelas restries legais. Estas, entretanto, no so amplas, como seria adequado. A
interpretao autntica, aquela advinda do autor da lei, no sentido de que as restries legais s incidem
sobre os locais referidos no prprio Estatuto () arts. 75, 80, 83, 85 como aqueles sobre os quais caem
as restries legais. Neles no h nenhuma aluso rua. Apud LEAL, Luciana de Oliveira. Liberdade da
criana e do adolescente. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 18).
46
A esse respeito, Manoel Monteiro Guedes et al armam: encontrando-se a criana ou jovem em situao
de perigo, o Estado s poder interferir na sua vida e na vida da sua famlia, na medida em que esta interfe-
rncia seja estritamente necessria nalidade de proteo e de promoo de direitos. Exige-se que, para a
consecuo do m almejado, no seja possvel adotar outro meio a no ser a restrio liberdade do menor.
Alm do mais, a exigibilidade tem que ser material (a interveno tem de promover e no limitar, excessiva-
mente, direitos fundamentais do menor), espacial (a interveno deve circunscrever um mbito de atuao o
mais limitado possvel), temporal (a interveno deve ser limitada no tempo) e pessoal (a interveno deve
apenas dizer respeito ao menor in casu) (VALENTE, Manuel Monteiro Guedes et al. Direito de menores:
estudo luso-hispnico sobre menores em perigo e delinqncia juvenil. Lisboa: ncora, 2003. p. 69).
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
58
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
cos onde notoriamente se pratique prostituio ou se comercializem
substncias entorpecentes, mesmo que haja autorizao do titular do
poder familiar em sentido contrrio
47
.
Outra forma de restrio estatal de natureza puramente prote-
tiva a de acolhimento em abrigos
48
de criana ou de adolescente em
situao de risco social
49
, que ocorre nas hipteses previstas no art. 98
do Estatuto: violao ou ameaa de violao aos direitos da criana
ou adolescente pela falta ou omisso do Estado ou da sociedade; pela
falta, omisso ou abuso dos pais ou responsvel; ou ainda em razo da
sua prpria conduta. Quanto ao assunto, questionvel se a colocao
de crianas e adolescentes em abrigo pode dar ensejo impetrao de
habeas corpus, quando se pretenda discutir a legalidade da medida. En-
frentando questo similar, o Tribunal Constitucional Espanhol decidiu
que a medida de acolhimento de menor em centro assistencial no
medida privativa de liberdade, no comportando, deste modo, habeas
corpus
50
.
Em sentido contrrio, entendemos que a medida protetiva de
abrigo pode ser questionada via habeas corpus. Vislumbramos que ela
incide diretamente sobre a liberdade de locomoo da criana e do ado-
lescente, restringindo-a, limitando-a. Possui, conseqentemente, ineg-
vel carter de restrio de liberdade, que tem por m exclusivo a prote-
o do menor de idade. Como se sabe, o habeas corpus o remdio ju-
rdico cabvel sempre que a restrio ou ameaa de restrio liberdade
de locomoo seja ilegal ou abusiva, independentemente do m que
47
Convm esclarecer que, de regra, deve prevalecer, sobre qualquer avaliao estatal, a avaliao dos pais
quanto medida da liberdade de locomoo de seus lhos. Apenas em casos extremos, como o acima
aludido, em que a atitude permissiva, ou proibitiva, do titular do poder familiar possa causar um dano
formao moral, fsica ou psquica da criana ou do adolescente, que a restrio imposta pelo Estado deve
sobrepor-se vontade parental.
48
Art. 101. Vericada qualquer das hipteses previstas no art. 98, a autoridade competente poder determinar,
dentre outras, as seguintes medidas: ()VII - abrigo em entidade (Estatuto da Criana e do Adolescente).
49
No direito francs, utilizada expresso equivalente a risco social, que o termo lenfance en danger.
Trata-se da situao em que a sade, a segurana, a moral e a educao da criana esto gravemente com-
prometidas em razo da delinqncia ou de maus-tratos (DEKEUWER-DFOSSEZ, Franoise. Les droits
de lenfant. Paris : Universitaires de France, 1991. p. 97).
50
Tribunal Constitucional Espanhol. Sentena n 94/2003, n de registro: 20030610, julgada em 19 de maio
de 2003.
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
59 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
persiga. Portanto, em um fundamento lgico, havendo ilegalidade ou
abuso, poder-se-, perfeitamente, interpor habeas corpus contra medida
protetiva de acolhimento de criana ou de adolescente em abrigo.
J no que diz respeito colocao de crianas e adolescentes
abandonados - os conhecidos meninos de rua em abrigos, a doutrina
diverge sobre a possibilidade ou no de aplicao compulsria da medi-
da. Dentre os posicionamentos favorveis, destacamos o de Carla Fon-
seca
51
. No entender da autora, o Estado tem o dever de abrigar crianas
e adolescentes abandonados, mesmo contra a vontade destes. Conforme
argumenta, se tais menores de idade estivessem sobre o regular poder
familiar, tambm teriam sua liberdade de locomoo restringida.
Concordamos em parte com o referido posicionamento. De
fato, o Estado possui a irrefutvel obrigao de substituir os pais, quan-
do ausentes, nos deveres de guarda, de educao e de sustento da crian-
a e do adolescente, posto que co-responsvel da obrigao solidria
de proteo integral (art. 227, caput, da Constituio)
52
. Nesse norte,
no se pode permitir que crianas e adolescentes faam das ruas as suas
moradas, expondo-se a todos os tipos de perigo. No h dvida de que
a omisso do poder estatal d espao a tragdias, como a da Candel-
ria, no Estado do Rio de Janeiro, em que oito crianas foram mortas,
enquanto dormiam, por justiceiros. A propsito, enfatiza Luciana de
Oliveira Leal
53
que h o direito de liberdade de locomoo da criana
e do adolescente, mas h tambm, principalmente, o direito vida,
dignidade, proteo integral devida pela famlia, pela sociedade e pelo
Estado, que autorizam as restries daquela liberdade. No mesmo senti-
do, arma Peter Hbeler
54
, parafraseando Peters, que forma parte de la
esencia misma de la libertad el que sta venga delimitada en relacin
a nes ms altos.
Ocorre que, a pretexto de proteger a criana e o adolescen-
51
um direito dos cidados que o Estado intervenha sempre que a segurana, a sade, a formao, o
desenvolvimento fsico, psquico e emocional, o bem-estar, de uma criana ou jovem esteja em perigo
(FONSECA, Carla. Op. cit., p.12).
52
Nesse sentido, cf. TAVARES, Jos de Farias. Direito da infncia e da juventude. Belo Horizonte: Del
Rey, 2001. p. 90.
53
LEAL, Luciana de Oliveira. Liberdade da criana e do adolescente. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 20.
54
HBERLE, Peter. La libertad fundamental en el Estado Constitucional. Granada: Comares, 2003. p. 107.
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
60
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
te, no pode o Estado tranca-los entre grades e cercas, cerceando,
por completo, a sua liberdade de locomoo, assim como no poderia
fazer o titular do poder familiar, sob pena de cometimento de crime
de crcere privado. De fato, tratar um menor abandonado como menor
infrator retroagir ao antigo cenrio do Cdigo de Menores de 1979 e
da ultrapassada doutrina da situao irregular, impondo-lhe castigo a al-
gum que j pela vida castigado. Entendemos, portanto, que a melhor
soluo reside no dever do Estado de oferecer abrigos, mas abrigos de
portas abertas, em que a permanncia da criana e do adolescente seja
garantida pelo tratamento que lhes dispensado, pelas alternativas que
lhes so ofertadas e no pelos ferros dos portes.
4.2 Restries estatais de natureza mista
Como visto, o Estado pode impor medidas restritivas da liber-
dade de locomoo da criana e do adolescente, visando a resguardar,
paralelamente, a ordem pblica e os direitos fundamentais de terceiros,
violados ou ameaados de violao, em face de conduta do prprio me-
nor, que tenha contrariado os preceitos da lei penal
55
.
verdade que a inimputabilidade penal dos menores de 18
anos, consagrada pela Constituio, no afasta a responsabilidade pela
prtica de fatos tpicos, antijurdicos e culpveis
56
. O menor, embora
inimputvel, sujeito responsabilizao juvenil, nos termos do Esta-
tuto da Criana e do Adolescente
57
, que ressalva, apenas, a irresponsabi-
55
Arma Rui Epifnio que o Estado tem o dever de intervir corretivamente sempre que o adolescente
revele personalidade hostil, ao ofender valores essenciais da comunidade e regras mnimas de convivncia
social, pois torna-se necessrio educ-lo para o direito (EPIFNIO, Rui. Direito de menores. Coimbra:
Almedina, 2001. p. 91). No mesmo diapaso, Eliana Gerso sustenta: Mais educativo do que ignorar as
infraces praticadas, ser sem dvida chamar a ateno para as consequncias danosas das mesmas e levar
os respectivos autores a reparar de acordo com a sua idade e situao concreta as vtimas individuais e
a sociedade (GERSO, Eliana. Menores agentes de infraces criminais: que interveno? Apreciao
crtica do sistema portugus. Separata do nmero especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra:
Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, 1988. p. 50).
56
Sem tais caractersticas do ato perpetrado, no h que se falar em responsabilizao do adolescente, pois
no h sentido que o menor seja punido onde o maior no .
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
61 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
lidade absoluta das crianas (menores de 12 anos), s quais se aplicam,
to-somente, as medidas protetivas enumeradas no seu art. 101
58
.
Assim, se um adolescente praticar conduta equivalente a crime
ou a contraveno penal, ser por isso responsabilizado, podendo so-
frer, inclusive, restrio na sua liberdade de locomoo. Isso acontece
atravs das medidas scio-educativas de internamento ou de semi-liber-
dade, previstas ao lado das medidas scio-educativas de advertncia, de
reparao do dano, de prestao de servios comunidade, de liberdade
assistida e das denominadas medidas scio-educativas imprprias, que
so as medidas de proteo aplicadas ao autor de ato infracional
59
.
As medidas scio-educativas privativas de liberdade, bem
como as demais medidas aludidas, possuem evidente carter de sano,
embora apresentem prevalente contedo pedaggico
60
. vista disto,
57
Houve a substituio do princpio da imputabilidade pelo princpio da responsabilidade juvenil, bem
como do tratamento penalgico pelo tratamento pedaggico das medidas scio-educativas. Nesse aspecto,
no h, no nosso entender, que se cogitar de uma imputabilidade penal especial, tal como defendem os
seguidores da doutrina do Direito Penal Juvenil.
58
Art. 98. As medidas de proteo criana e ao adolescente so aplicveis sempre que os direitos reco-
nhecidos nesta lei forem ameaados ou violados: I - por ao ou omisso da sociedade ou do Estado; II
- por falta, omisso ou abuso dos pais ou responsvel; III - em razo de sua conduta. Art. 101. Vericada
qualquer das hipteses previstas no art. 98, a autoridade competente poder determinar, dentre outras, as
seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou responsvel, mediante, termo de responsabilidade; II
- orientao, apoio e acompanhamento temporrios; III - matrcula e freqncia obrigatrias em estabe-
lecimento ocial de ensino fundamental; V - incluso em programa comunitrio ou ocial de auxlio
famlia, criana e ao adolescente; V - requisio de tratamento mdico, psicolgico ou psiquitrico, em
regime hospitalar ou ambulatorial; VI - incluso em programa ocial ou comunitrio de auxlio, orientao
e tratamento a alcolatras e toxicmanos; VII - abrigo em entidade; VIII - colocao em famlia substituta.
Pargrafo nico. O abrigo medida provisria e excepcional, utilizvel como forma de transio para a
colocao em famlia substituta, no implicando privao de liberdade
59
Segundo Paulo Afonso Garrido de Paula, a medida de proteo decorrente da prtica de ato infracional
(medida scio-educativa imprpria) tem natureza de sano. J a medida de proteo decorrente de outra
situao de risco em que se encontre a criana ou o adolescente tem natureza assistencial (PAULA, Paulo
Afonso Garrido de. Estatuto da Criana e do Adolescente comentado. Coordenadores: Munir Cury et al. 3.
ed. So Paulo: Malheiros, 2000. p. 566).
60
SARAIVA, Joo Batista Costa. Direito penal juvenil. Adolescente e ato infracional. Garantias processu-
ais e medidas scio-educativas. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 22. No mesmo senti-
do, cf. MELLO, Marlia Montenegro Pessoa de. Inimputabilidade penal: adolescentes infratores, punir e
(re)socializar. Recife: Nossa Livraria, 2004. p. 107-110. Em sentido oposto, Rui Epifnio, reportando-se
ao similar ordenamento jurdico lusitano, arma que a interveno estatal educativa no visa punio.
Portanto, s deve ocorrer quando subsistir a necessidade de correo da personalidade do adolescente, no
momento da aplicao da medida no-punitiva (EPIFNIO, Rui. Direito de menores. Coimbra: Almedina,
2001. p. 92). Ainda quanto nalidade pedaggica das medidas menoristas, esclarece Romano Ricciotti
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
62
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tais medidas devem se pautar nos ditames do princpio da proporcio-
nalidade. Necessitam ser adequadas para a proteo e a reeducao
do adolescente e para a preservao da ordem pblica e dos direitos
alheios. Devem ser estritamente necessrias, representando uma ultima
ratio, somente aplicveis diante da ineccia das demais espcies de
medidas. Precisam, alm disso, ser proporcionais em sentido estrito,
para repreender na justa medida da gravidade do fato e da leso jurdica
produzida, atendendo s necessidades de educao e de proteo do
adolescente.
luz do princpio da proteo integral, as medidas scio-
educativas restritivas de liberdade s podem ser aplicadas pelo Estado
quando observadas todas as garantias constitucionais e processuais as-
seguradas aos imputveis. Nesse sentido, enfatiza Joo Batista Costa
Saraiva
61
: No pode o adolescente infrator, dependendo da natureza do
ato infracional que se venha a atribuir, receber de parte da Justia Espe-
cial da Infncia e da Juventude tratamento mais rigoroso do que aquele
que direcionado ao adulto (maior de 18 anos) pela Corte Penal, sob
pena de estarmos a subverter um sistema e negar vigncia Conveno
das Naes Unidas de Direito da Criana, na medida em que se nega ao
adolescente a quem se atribui a prtica de um ato infracional um direito
que se reconhece a um adulto pelo mesmo fato.
Logo, so reconhecidas aos adolescentes, dentre outras, as
seguintes garantias: garantia do devido processo legal, do contradi-
trio, da ampla defesa, da presuno de inocncia, do juzo natural,
da proibio de provas ilcitas, da proibio de apreenso sem que haja
agrante delito ou ordem judicial escrita e fundamentada
62
, do respei-
que, no ordenamento jurdico italiano, leducazione dei minori la funzione pi elevata che lordinamento attri-
buisce alla famiglia, con la fondamentale statuizione che, in caso di incapacit dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti. In questo quadro la pena assume, per i minorenni, la funzione rieducativa pro-
pria dellemenda (RICCIOTTI, Romano. La giustizia penale minorile. 2. ed.Padova: CEDAM, 2001. p. 5).
61
SARAIVA, Joo Batista Costa. Op. cit., p. 43-44.
62
O Estatuto da Criana e do Adolescente prev as seguintes guras tpicas: Art. 230. Privar a criana ou
o adolescente de sua liberdade, procedendo sua apreenso sem estar em agrante de ato infracional ou
inexistindo ordem escrita da autoridade judiciria competente: Pena - deteno de seis meses a dois anos.
Pargrafo nico. Incide na mesma pena aquele que procede apreenso sem observncia das formalidades
legais. Art. 231. Deixar a autoridade policial responsvel pela apreenso de criana ou adolescente de
fazer imediata comunicao autoridade judiciria competente e famlia do apreendido ou pessoa por
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
63 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
to ao princpio da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade
63
. Acres-
cente-se ainda o princpio in dubio pro libertate
64
. Devero ainda ser
respeitadas as garantias especicamente reconhecidas ao adolescente
infrator pelo art. 227, 3, da Constituio: do pleno e formal conheci-
mento da atribuio de ato infracional; de igualdade na relao proces-
sual; de defesa tcnica por prossional habilitado; da observncia aos
princpios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito condio
peculiar de pessoa em desenvolvimento, quanto s medidas de privao
de liberdade
65
.
O Estatuto da Criana e do Adolescente, regulamentando o
princpio constitucional da excepcionalidade das medidas scio-edu-
cativas restritivas de liberdade, estabelece, em seu art.122, que s se
aplicar a medida de internao nas seguintes hipteses: a) Tratar-se
de ato infracional cometido mediante grave ameaa ou violncia contra
pessoa. Aqui, a lei foi taxativa, de modo que no cabvel a internao
pela prtica de atos infracionais em que no haja ameaa ou violncia
contra pessoa, mesmo que sejam graves, a exemplo do correspondente
ao tipo de trco de drogas, como j se posicionou o Superior Tribunal
de Justia
66
; b) Por reiterao no cometimento de outras infraes gra-
ves. A reiterao no se confunde com a reincidncia.
ele indicada: Pena - deteno de seis meses a dois anos.
63
O ato infracional, embora tpico, pode ter sido cometido sob a gide de uma das causas excludentes da
antijuridicidade ou da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa ou ausncia da potencial conscin-
cia da ilicitude), hipteses em que no haver responsabilizao juvenil. Do contrrio, o adolescente seria
punido onde o maior no seria, conforme j ressaltado.
64
Como adverte Jos Carlos Vieira de Andrade, havendo dvidas, deve optar-se pela soluo que, em
termos reais, seja menos restritiva ou onerosa para a esfera de livre atuao dos indivduos (ANDRADE,
Jos Carlos Vieira de. Op. cit., p. 299).
65
Trs so os princpios que condicionam a aplicao da medida privativa de liberdade: o princpio da bre-
vidade, enquanto limite cronolgico; o princpio da excepcionalidade, enquanto limite lgico no processo
decisrio acerca de sua aplicao; e o princpio do respeito condio peculiar de pessoa em desenvolvi-
mento, enquanto limite ontolgico, a ser considerado na deciso e na implementao da medida (COSTA,
Antnio Carlos Gomes. Estatuto da Criana e do Adolescente comentado. Coordenadores Munir Cury et
al. 3. ed. So Paulo: Malheiros, 2000. p. 401).
66
Habeas corpus. Menor. Trco de entorpecentes. Medida scio-educativa. Internao. Incabimento. Art.
122 da Lei n 8.069/90. Enumerao taxativa. Concesso da ordem. 1. A norma inserida no art.122 do Esta-
tuto da Criana e do Adolescente estabelece, numerus clausus, as hipteses de imposio da medida de
internao, s quais faz-se estranho o ato infracional equiparado ao crime de trco de entorpecentes. 2.Or-
dem concedida, para imposio de medida protetiva diversa da internao(Superior Tribunal de Justia.
Habeas Corpus 25253/ RJ. 6 Turma. Rel. Min. Fontes de Alencar. Data do julgamento: 23.08.2004).
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
64
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A propsito, o Supremo Tribunal Federal rmou entendimento
de que s se justica a aplicao da internao quando houver reitera-
o por, no mnimo, trs vezes
67
. No entanto, discordamos deste posi-
cionamento, por compreender que esta interpretao objetiva pode dar
margem a perigosos sentimentos de impunidade e de injustia. Nesse
sentido, salienta Emlio Garcia Mendez
68
: Contribuir com a criao de
qualquer tipo de imagem que associe a adolescncia com impunidade
(de fato ou de direito) um desservio que se faz ao adolescente, assim
como, objetivamente, uma contribuio irresponsvel s mltiplas for-
mas de justia com as prprias mos, com as quais o Brasil desgraada-
mente possui uma ampla experincia.
A terceira hiptese prevista no art. 122 do ECA : Por des-
cumprimento reiterado e injusticvel de medida anteriormente impos-
ta. a denominada internao sano, aplicada pelo prazo mximo
de trs meses, com a devida observncia do princpio do contraditrio
e da ampla defesa. Nesta hiptese, no importa se a medida anterior
descumprida tenha sido estabelecida em sede de sentena, que julgou a
ao scio-educativa, ou em sede de deciso homologatria ou conces-
siva de remisso
69
.
Outrossim, o Estatuto prev a possibilidade de decretao, me-
diante ordem fundamentada, de medida cautelar de internao provisria
67
Supremo Tribunal Federal. HC 25817 / SP. Habeas corpus 2002/0166202-7. Min. Jorge Scartezzini. Data
do julgamento: 18/08/2004. De igual modo se posicionou o Superior Tribunal de Justia: Penal. Habeas
Corpus. Estatuto da Criana e do Adolescente. Prtica de novo ato infracional equiparado aos delitos cons-
tantes nos arts. 12 da Lei n 6.368/76 e 10 da Lei n 9.437/97. Inexistncia de laudo denitivo de exame
de entorpecentes. Supresso de instncia. Medida de internao aplicada. Impossibilidade. Inexistncia de
reiterao de conduta infracional ou descumprimento de medida educativa anterior. () III- A reiterao
no cometimento de infraes capaz de ensejar a incidncia da medida scio-educativa da internao, a teor
do art. 122, II, do ECA, ocorre quando praticados, no mnimo, 3 (trs) atos infracionais graves. Cometidas
apenas 2 (duas) prticas infracionais, como o foi na hiptese dos autos, tem-se a reincidncia, circunstncia
imprpria a viabilizar a aplicao da referida medida (HC n 24349/RJ. 5 Turma. Rel. Min. Flix Fisher.
Data do julgamento: 15.06.2004).
68
Apud SARAIVA, Joo Batista Costa. Op. cit., p. 32.
69
Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apurao de ato infracional, o representante
do Ministrio Pblico poder conceder a remisso, como forma de excluso do processo, atendendo s
circunstncias e conseqncias do fato, ao contexto social, bem como personalidade do adolescente e sua
maior ou menor participao no ato infracional. Pargrafo nico. Iniciado o procedimento, a concesso da
remisso pela autoridade judiciria importar na suspenso ou extino do processo (Estatuto da Criana
e do Adolescente).
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
65 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
do adolescente pelo prazo mximo e improrrogvel de 45 dias
70
, bem
como de sua apreenso em agrante de ato infracional
71
. Em ambos os
casos, exigem-se os pressupostos da gravidade do fato, da repercusso
social, da garantia da ordem pblica e da garantia da segurana do ado-
lescente, previstos no art. 174 do referido diploma legal
72
.
Analisando tais pressupostos, arma Antnio Fernando do
Amaral e Silva
73
que a gravidade do fato se d quando: o ato infracional
praticado equivale a crime punido com recluso; a repercusso social
causa revolta, provocada pelas circunstncias e conseqncias do ato;
a garantia da ordem pblica se reporta necessidade de se evitar que o
adolescente cometa outras infraes; a garantia da segurana pessoal do
adolescente se refere possibilidade de ameaa de vindita popular, do
ofendido, ou de sua famlia, contra o menor.
Finalmente, devemos registrar que o Estatuto da Criana e do
Adolescente assegura, em seu art. 124, vrios direitos ao adolescente
privado de liberdade. Tais direitos constituem, nas palavras de Emlio
Garcia Mendez
74
, uma Revoluo Francesa, com mais de duzentos
anos de atraso, no mundo dos adolescentes privados de sua liberda-
de. Dentre esses direitos, destacamos os seguintes: a) de ser tratado
com respeito e dignidade; b) de ser internado na mesma localidade
70
Quarenta e cinco dias o prazo mximo e improrrogvel para a concluso do procedimento infracional
ex vi do art. 183 do Estatuto quando o adolescente est internado provisoriamente (HC 597002500, 7
CCiv. do TJRS, Rel. Des. Srgio Fernando de Vasconcelos Chaves. Data do julgamento : 19.02.1997).
71
A apreenso em agrante do adolescente deve ser norteada pelos mesmos direitos e garantias constitu-
cionais orientadores da priso em agrante do maior, como o direito identicao do responsvel por sua
apreenso, o direito de permanecer calado, o direito de saber os motivos pelos quais est sendo apreendido
e o direito assistncia da famlia e de advogado. Nestes termos, dispe o art. 5 da Constituio Federal:
LXIII- o preso ser informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegura-
da a assistncia da famlia e de advogado; LXIV - o preso tem direito identicao dos responsveis por
sua priso ou por seu interrogatrio policial.
72
Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsvel, o adolescente ser prontamente liberado pela
autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentao ao representante do
Ministrio Pblico, no mesmo dia ou, sendo impossvel, no primeiro dia til imediato, exceto quando, pela
gravidade do ato infracional e sua repercusso social, deva o adolescente permanecer sob internao para
garantia de sua segurana pessoal ou manuteno da ordem pblica.
73
Apud SARAIVA, Joo Batista Costa. Op. cit., p. 51.
74
MENDEZ, Emlia Garcia. Estatuto da Criana e do Adolescente comentado. Coordenadores Munir Cury
et al. 3. ed. So Paulo: Malheiros, 2000. p. 406.
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
66
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ou naquela mais prxima ao domiclio de seus pais ou responsvel
(decorre do direito fundamental convivncia familiar); c) de receber
escolarizao e prossionalizao; d) de receber assistncia religiosa;
e) de realizar atividades externas, salvo expressa determinao judi-
cial em contrrio
75
; f) de reavaliao peridica, no mximo a cada
seis meses, sobre a necessidade de manuteno da medida; g) de no
ser interno por perodo superior a trs anos, contado separadamente
para cada medida imposta, segundo entendimento do Superior Tribu-
nal de Justia
76
; h) de liberao compulsria, com o implemento da
idade de 21 anos
77
; i) de cumprir a medida em entidades exclusivas
para adolescentes
78
; j) de entrevistar-se pessoalmente com o represen-
75
As atividades externas so monitoradas no regime de internao e exercidas sem vigilncia no regime
de semi-liberdade.
76
A exemplo do entendimento esboado no Recurso Ordinrio em Habeas Corpus n 12.187-RS
(2001/0176510-1) Rel. Min. Flix Fischer, DJ 04.03.2002. A propsito, corrente doutrinria majoritria,
com a qual concordamos, sustenta que, se sobrevier a aplicao de uma nova medida scio-educativa priva-
tiva de liberdade pela prtica de ato infracional anterior ao incio do cumprimento de medida de internao,
a execuo dessa nova medida car subsumida ao limite de 3 anos. Todavia, se a aplicao da nova medida
se deu por fato praticado durante o cumprimento da medida de in ternao ou aps este cumprimento, ser
xado novo prazo de 3 anos. Neste sentido, esclarece Joo Batista Costa Saraiva: Iniciado o cumprimento
da internao, por fato anterior internao, ainda que grave, no poder ser o adolescente novamente
internado aps o trmino daquela primeira medida aplicada, e a aplicao de uma nova internao no curso
da execuo de medida similar imposta em procedimento diverso no importar no reincio da contagem do
prazo a que se refere o art. 121, 3, da Lei 8.069/90 (SARAIVA, Joo Batista Costa. Op. cit , p. 114).
77
A alterao da maioridade civil de 21 para 18 anos, trazida pelo novo Cdigo Civil brasileiro, no afeta o limite
etrio estabelecido no Estatuto da Criana e do Adolescente para a liberao compulsria do interno, como j se
posicionou o Superior Tribunal de Justia: Criminal. HC. ECA. Paciente que atingiu 18 anos cumprindo medida
scio-educativa.Considerao da data do ato infracional praticado. Novo Cdigo Civil. Liberao compulsria.
Inocorrncia. Ausncia de constrangimento ilegal. Recurso desprovido. () II. A liberao obrigatria do ado-
lescente somente dever ocorrer quando o mesmo completar 21 anos de idade, nos termos do art. 121, 5, do
ECA, dispositivo que no foi alterado com a entrada em vigor do novo Cdigo Civil(Superior Tribunal de
Justia. RHC 16105/RJ. 5 Turma. Rel. Min. Gilson Dipp. Data do julgamento: 03.06.2004).
78
A internao deve ser feita em estabelecimento prprio. Entretanto, o Estatuto permite que o adolescente
possa car, excepcionalmente, por 5 dias, em estabelecimento prisional comum, desde que em cela especial,
separado dos adultos. Neste aspecto, j decidiu o Superior Tribunal de Justia: Habeas corpus. Adolescente.
Ato infracional cometido mediante violncia a pessoa. Homicdio qualicado por motivo torpe (CP, art. 121,
2, I). Medida scio-educativa de internao imposta a adolescente com quase 17 anos de idade (ECA,
art. 122, I). Possibilidade de a internao, em tal hiptese, estender-se at aps a maioridade penal (ECA,
art. 121, 5). Ausncia, na comarca, de estabelecimento prprio para adolescentes. Custdia provisria em
cadeia pblica, motivada por razes excepcionais de carter material. Admissibilidade extraordinria de tal
recolhimento, desde que efetuado em local completamente separado dos presos adultos. Laudo de avaliao
psicossocial inteiramente desfavorvel ao paciente. Pedido indeferido. () Situaes de natureza excepcio-
nal, devidamente reconhecidas pela autoridade judiciria competente, podem justicar, sempre em carter
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
67 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
tante do Ministrio Pblico; l) de peticionar diretamente a qualquer
autoridade; m) de avistar-se reservadamente com o seu defensor. Em
suma, o adolescente autor de ato infracional possui todos os direitos e
prerrogativas do adulto, bem como aqueles exigidos pela sua peculiar
condio de pessoa em fase de desenvolvimento biopsicossocial.
extraordinrio, a internao de adolescentes em local diverso daquele a que refere o art. 123 do ECA, desde
que esse recolhimento seja efetivado em instalaes apropriadas e em seo isolada e distinta daquela
reservada aos presos adultos, notadamente nas hipteses em que a colocao do adolescente em regime de
semiliberdade ou de liberdade assistida seja desautorizada por avaliao psicolgica que ateste a sua peri-
culosidade social (HC 81519 / MG - MINAS GERAIS. Relator: Min. CELSO DE MELLO. Julgamento:
19/11/2002. rgo julgador: Segunda Turma. Publicao: DJ DATA-02-05-2003 PP-00048).
68
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
Referncias bibliogrcas
ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Cen-
tro de Estdios Constitucionales, 1997.
AMARAL E SILVA, Antnio Fernando. Estatuto: o novo direito da
criana e do adolescente e a justia da infncia e da juventude. Rio de
Janeiro: Forense, 1999.
ANDRADE, Jos Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Cons-
tituio portuguesa de 1976. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2001.
CANOTILHO, J. J.Gomes. Direito constitucional e teoria da Consti-
tuio. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003.
DEKEUWER-DFOSSEZ, Franoise. Les droits de lenfant. Paris:
Universitaires de France, 1991.
DEZ-PICAZO, Lus Maria. Sistema de derechos fundamentales. Ma-
drid: Thomson Civitas, 2003.
EPIFNIO, Rui. Direito de menores. Coimbra: Almedina, 2001.
FERRAJOLI, Luigi. Derechos fundamentales. In: FERRAJOLI, Luigi
et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta,
2001.
FONSECA, Carla. A proteco das crianas e jovens: factores de
legitimao e objectivos. In: Direito Tutelar de Menores. O sistema de
mudanas. Coimbra: Coimbra Editora, 2002.
FORTIN, Jane. Childrens rights and the developing law. 2. ed. Londres:
Lexis Nexis, 2003.
GERSO, Eliana. Menores agentes de infraces criminais: que inter-
veno? Apreciao crtica do sistema portugus. Separata do nmero
especial do Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra: Estudos em
Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, 1988.
GUASTINI, Riccardo. Tres probelmas para Luigi Ferrajo. In: FER-
69 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
RAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales.
Madrid: Trotta, 2001.
HBERLE, Peter. La garanta del contenido esencial de los dere-
chos fundamentales en Ley Fundamental de Bonn. Madrid: Dykinson,
2003.
_______________. La libertad fundamental en el Estado Constitucional.
Granada: Comares, 2003.
LEAL, Luciana de Oliveira. Liberdade da criana e do adolescente.
Rio de Janeiro: Forense, 2001.
LUO, Antonio E. Perez. Los derechos fundamentales. 7. ed. Madrid:
Tecnos, 1998.
MARTINS, Rosa Cndido. Poder paternal vs autonomia da criana
e do adolescente? In: Lex Familiae. Revista Portuguesa de Direito da
Famlia. Coimbra: Coimbra Editora, ano 1, n. 1, 2004.
MENDEZ, Emlio Garcia. Estatuto da Criana e do Adolescente co-
mentado. Coordenadores Munir Cury et al. 3. ed. So Paulo: Malheiros,
2000.
MIRANDA, Jorge. O regime dos direitos, liberdades e garantias. In:
Estudo sobre a Constituio, 2. ed. Lisboa: Livraria Petrony, 1979. 3 v.
_______________. Manual de direito constitucional. 3. ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 2000. 4 t.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 13. ed. So Paulo:
Atlas, 2003.
MORN, LUIS GMEZ. La posicin jurdica del menor en el derecho
comparado. Tesis Doctoral de las Universidades de Madrid y Coimbra.
Madrid: Instituto Editorial Reus, 1947.
MOURA, Jos Adriano de Souto. A tutela educativa: factores de
legitimao e objectivos. In: Direito tutelar de menores. O sistema em
mudana. Coimbra: Coimbra Editora, 2002.
PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Estatuto da Criana e do Adolescente
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
70
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
comentado. Coordenadores Munir Cury et al. 3. ed. So Paulo:
Malheiros, 2000.
PEREIRA, Tnia da Silva. Direito da criana e do adolescente: uma
proposta interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 1996.
RAWLS, John. The law of peoples. In: On Human Rights. The Oxford
Amnestry Lectures 1993. Stephen Shute and Susan Hurley, Editors.
New York : Basic Books, 1993.
RICCIOTTI, Romano. La giustizia penale minorile. 2 ed. Padova: CE-
DAM, 2001.
SARAIVA, Joo Batista Costa. Direito penal juvenil: adolescente e ato
infracional. Garantias processuais e medidas scio-educativas. 2. ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
SILVA, De Plcido e. Vocabulrio jurdico. 10. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 1987. 3 v.
SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 6. ed.
So Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.
SILVA, Marcos Alves da. Do ptrio poder autoridade parental: re-
pensando fundamentos jurdicos da relao entre pais e lhos. Rio de
Janeiro: Renovar, 2002.
SOTTOMAYOR, Maria Clara. Regulao do exerccio do poder pater-
nal nos casos de divrcio. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2004.
VALENTE, Manuel Monteiro Guedes et al. Direito de menores/De-
recho de menores. Estudo luso-hispnico sobre menores em perigo e
delinqncia juvenil. Lisboa: ncora, 2003.
AS MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE LOCOMOO
DAS CRIANAS E DOS ADOLESCENTES
Fabiana Maria Lbo da Silva
71 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
O ser humano, na essncia de sua espiritualidade, traz con-
sigo um enigma indecifrvel, denotando, nas linhas deste labirinto
insondvel, um paralelismo entre luz e escurido; um permanente
antagonismo entre as foras do bem e do mal; a crena na dualidade
de seu tempo: se uma lmpada acesa com um o efmero ou uma
tocha brilhante nos prados da eternidade.
Enquanto isso, na sua existncia materializada, dene-se
como um ser racional, porque tem crebro; cheio de angstia, por-
que sente dor; cercado de emotividade pelas lgrimas originrias
dos olhos; direcionado por um corao recheado de aurolas da sen-
sibilidade; dominado por uma carga eltrica de necessidades. Alm
disso, carrega um ba lotado de vontade, desejo, ansiedade, pers-
pectiva. Esses sentimentos o levam aos encontros e desencontros,
derrotas e vitrias, iluses e desiluses, tristezas e alegrias, sonhos
e esperanas.
A abordagem deste tema delineia-se na viso de um mundo
em que a cidadania insere o homem em vrias dimenses: o homem
como uma criatura divina; o homem como um ser natural; o homem
com sua personalidade jurdica; o homem com sua cidadania; o ho-
mem com sua dignidade humana; o homem como centro do poder
poltico; o homem como construtor da sociedade.
H tambm o cidado excludo do contexto social; o cida-
do como um lutador de suas conquistas; o cidado como um sonha-
dor da igualdade social; o cidado com a sua solidariedade humana;
o cidado como conante na existncia de uma sociedade justa e
solidria; o cidado com sua dignidade no campo dos direitos hu-
manos.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Severino Coelho Viana
Promotor de Justia no Estado da Paraba
72
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
2. Dignidade da pessoa humana e losoa
Revolvendo a histria da antiguidade, no encontramos um
conceito preciso de dignidade da pessoa humana. Porm, os lsofos
tentaram o desenvolvimento do tema, conforme se ver a seguir. O ho-
mem, para a losoa grega, era um animal poltico ou social. Em Aris-
tteles, a cidadania estava no fato de pertencer ao Estado, que estava em
ntima conexo com o cosmos, com a natureza. Jaeger Zeller, citado por
Batista Mondin, chega a armar que na losoa antiga falta at mes-
mo o termo para exprimir a personalidade, j que o termo persona
deriva do latim.
O conceito de pessoa como categoria espiritual, como subje-
tividade, que possui valor em si mesmo, como ser de ns absolutos,
e que, em conseqncia, possuidor de direitos subjetivos ou direi-
tos fundamentais e possui dignidade, surge com o cristianismo, com
a chamada losoa patrstica, que foi depois desenvolvida pelos es-
colsticos. A proclamao do valor distinto da pessoa humana teria
como conseqncia lgica a armao de direitos especcos de cada
homem. Reconheceu-se que, na vida social, o homem no se confunde
com a vida do Estado. Isso veio provocar um deslocamento do direito
do plano do Estado para o plano do indivduo, na busca do necessrio
equilbrio entre a liberdade e a autoridade.
Para Kant
1
, na sua investigao sobre o verdadeiro ncleo da
teoria do conhecimento, o sujeito torna-se o elemento decisivo na ela-
borao do conhecimento. Props, assim, uma mudana de mtodo no
ato de conhecer, que ele mesmo denomina revoluo copernicana.
Ou seja, em vez de o sujeito cognoscente girar em torno dos objetos,
so estes que giram em redor daquele. No se trata mais, portanto, de
que o nosso conhecimento deve amoldar-se aos objetos, mas que estes
devem ajustar-se ao nosso conhecimento. Trata-se, como comenta Ge-
orges Pascal, de uma substituio, em teoria de conhecimento, de uma
hiptese idealista hiptese realista.
1
KANT, Immanuel. Os imortais do pensamento universal. So Paulo: [s.n.], 1981. p. 21.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
73 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Porm, o sujeito kantiano, o sujeito transcendental, a consci-
ncia enquanto tal, a razo universal uma estrutura vazia, que, se-
parada da sensibilidade, nada pode conhecer. O pensamento humano ,
pois, dependente da sensibilidade. Segundo Manfredo A. de Oliveira,
a teoria , para Kant, a dimenso da auto-alienao da razo. S atra-
vs da prxis, a razo se libertar da auto-alienao na teoria, porquan-
to, no domnio da prtica, a razo est a servio de si mesma. Signica
que no se podem procurar as normas do agir humano na experincia,
pois isso signicaria submeter o homem a outro homem. Assim, o que
caracteriza o ser humano e o faz dotado de dignidade especial o fato
de que ele nunca pode ser meio para os outros, mas m em si mesmo.
Segundo Kant
2
, a razo prtica possui primazia sobre a razo
terica. A moralidade signica a libertao do homem e o constitui
como ser livre. Pertencemos, assim, pela prxis, ao reino dos ns, que
faz da pessoa um ser de dignidade prpria, em que tudo o mais tem
signicao relativa. S o homem no existe em funo de outro e
por isso pode levantar a pretenso de ser respeitado como algo que tem
sentido em si mesmo. No pensamento de Kant, o homem um m em
si mesmo e, por isso, tem valor absoluto, no podendo, por conseguin-
te, ser usado como instrumento para algo. E, justamente por isso, tem
dignidade, pessoa.
A Bblia Sagrada
3
, no livro de Gnesis, conta a histria da ori-
gem do homem. Depois do caos, a fora poderosa da natureza, que ns
chamamos de Deus, ordenou: Faamos o homem nossa imagem e
semelhana. Em seguida, colocou-o no jardim do den para cultivar
e guardar, dando toda liberdade, mas proibindo de comer da rvore do
conhecimento do bem e do mal. Assim, captamos, na doutrina crist,
o passo inicial para a edicao de uma idia de sujeito como pessoa
e, portanto, mensageiro de especial dignidade. As Escrituras Sagradas
revelam no homem a imagem e semelhana do prprio Deus. E isso nos
concede a liberdade e inteligncia, distinguindo-nos dos demais seres
que compem a natureza.
2
Ibidem.
3
Bblia Sagrada. Gnesis 1: 20-20; 2:15-17.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
74
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Biologicamente, na linha do cienticismo, o feto um em-
brio humano, uma criatura animada, enquanto permanece no ventre
materno, completando a evoluo que possibilitar sua vinda luz. Mas
a pessoa natural, o homem sicamente considerado, um animal e,
ainda, como tal, no seria um ente jurdico. A personalidade a aptido
reconhecida pela ordem jurdica a algum, para exercer direitos e con-
trair obrigaes. Explica a doutrina civilista: Sendo a pessoa natural
sujeito das relaes jurdicas e a personalidade a possibilidade de ser
sujeito, ou seja, uma aptido a ele reconhecida, toda pessoa dotada de
personalidade. A personalidade o conceito bsico da ordem jurdica,
que se estende a todos os homens, consagrando-a na legislao civil e
nos direitos constitucionais de vida, liberdade e igualdade
4
.
tanto que, nos termos do art. 2 do Cdigo Civil, a persona-
lidade civil da pessoa comea do nascimento com vida; mas a lei pe
a salvo, desde a concepo, os direitos do nascituro. A doutrina que
melhor discorre sobre a personalidade da pessoa na lei civil agura-se
nos ensinamentos de Miguel Reale Jr.
5
:
O novo Cdigo Civil comea proclamando a idia de
pessoa e os direitos da personalidade. No dene o que
seja pessoa, que o indivduo na sua dimenso tica, en-
quanto e enquanto deve ser. A pessoa o valor-fonte
de todos os valores, sendo o principal fundamento do
ordenamento jurdico; os direitos da personalidade cor-
respondem s pessoas humanas em cada sistema bsico
de sua situao e atividades sociais, como bem soube
ver Ives Gandra da Silva Martins. O importante saber
que cada direito da personalidade corresponde a um va-
lor fundamental, a comear pelo do prprio corpo, que
a condio essencial do que somos, do que sentimos,
percebemos, pensamos e agimos. em razo do que re-
presenta nosso corpo que defeso o ato de dele dispor,
salvo por exigncia mdica, quando importar diminui-
o permanente da integridade fsica, ou contrariar os
4
DINIZ, Maria Helena. Cdigo Civil anotado. So Paulo: Saraiva, 2003.
5
REALE JR., Miguel. Os direitos da personalidade. Disponvel em: <http://www.miguelreale.com.br>.
Acesso em: 10.11.206.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
75 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
bons costumes, salvo para ns de transplante. Estatui o
Cdigo Civil que vlida, com o objetivo cientco, ou
altrusta, a disposio gratuita do prprio corpo, para,
depois da morte, ningum podendo ser constrangido a
submeter-se, com risco de vida, a tratamento mdico ou
a interveno cirrgica. Eis a os mandamentos que esto
liminarmente na base dos atos humanos, como garantia
principal de nossa corporeidade, em princpio intocvel.
Vem, em seguida, a proteo ao nome, nele compreen-
dido o prenome e o sobrenome, no sendo admissvel o
emprego por outrem do nome da pessoa em publicaes
ou representaes que a exponham ao desprezo pblico,
ainda quando no haja inteno difamatria. o mesmo
motivo pelo qual, sem autorizao, proibido o uso do
nome alheio em propaganda comercial. So esses os que
podemos denominar direitos personalssimos da pessoa,
assim como a inviolabilidade vida privada da pessoa
natural, devendo o juiz, a requerimento do interessado,
adotar as providncias necessrias para impedir ou fazer
cessar ato contrrio a esta norma. Nada mais acrescenta
o Cdigo nem poderia enumerar os direitos da persona-
lidade, que se espraiam por todo o ordenamento jurdico,
a comear pela Constituio Federal que, logo no artigo
1, declara serem fundamentos do Estado Democrtico
de Direito a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os
valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Enquanto
titular desses direitos bsicos, a pessoa deles tem garan-
tia especial, o que se d tambm com o direito vida,
liberdade, igualdade e segurana, e outros mais que
guram nos arts. 5 e 6 da Carta Magna, desde que cons-
tituam faculdades sem as quais a pessoa humana seria
inconcebvel.
3. Cidado e cidadania
O cidado caracteriza-se quando est no gozo dos direitos civis
e polticos. A preocupao com o reconhecimento e a efetivao plena
da cidadania constitui uma das aspiraes supremas do nosso tempo.
A cidadania trata de armar que todos os seres humanos tm digni-
dade. Esta se expressa, individual e coletivamente, atravs de valores
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
76
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
como a liberdade, a justia, a igualdade, a solidariedade, a cooperao,
a tolerncia, a paz, etc. Estes so elementos cruciais para denir o que
chamamos cidadania.
A cidadania expressa, alm do mais, a conscincia sobre os
deveres e os direitos de cada um e de todos. Implica uma vontade per-
manente de aperfeioar, propiciando uma religao do ser humano com
o sentido de comunidade, partilha, participao e solidariedade. uma
qualidade de cidado, isto , daquele que est em pleno gozo dos seus
direitos civis e polticos outorgados ou assegurados pela Constituio.
Cidadania um processo que comeou nos primrdios da hu-
manidade, no sendo algo pronto, acabado. Ela se efetiva num processo
de conhecimento e conquista dos direitos humanos. A sua existncia
pressupe no somente a reivindicao de direitos, mas tambm a pr-
pria identicao de deveres individuais e coletivos. Inmeros so os
direitos que deveriam ser naturais a todo ser humano: o direito vida,
igualdade, liberdade etc., independentemente de cor, raa, sexo, re-
ligio ou nacionalidade.
Ser cidado signica ser nascido ou naturalizado num Estado e
estar sujeito a direitos e deveres desse mesmo Estado. Cidado , pois,
aquele que est apto a participar da vida em sociedade. Ser cidado
participar das decises da sociedade e melhorar sua vida e a de outras
pessoas, especialmente das pessoas que mais necessitam. respeitar as
minorias, extirpar o preconceito, eliminar a discriminao e construir
uma sociedade de respeito liberdade individual.
A cidadania consiste no gesto de no jogar papel na rua, no
pichar os muros, respeitar os sinais e placas, respeitar os mais velhos
(assim como todas as outras pessoas), no destruir telefones e bens
pblicos. Consiste ainda em saber agradecer, pedir desculpas, usar as
expresses, por favor e bom dia. tambm combater o abandono
e a excluso das pessoas necessitadas; defender o direito das crianas
carentes e colaborar para a soluo de outros grandes problemas que
enfrentamos em nosso pas. pedir desculpa quando errar e corrigir-se
para no errar novamente. ter civilidade, ser educado.
No mbito poltico, a cidadania a lha obediente da demo-
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
77 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
cracia. Ensina Afonso Arinos de Melo Franco
6
a respeito da cidadania:
Entre as noes de soberania e de representao, introduz-se, logica-
mente, a de cidadania, ou seja, a de capacidade para o exerccio dos di-
reitos polticos, como processo de transformao do poder soberano em
poder representativo. No mesmo sentido, Manoel Gonalves Ferreira
Filho
7
arremata:
A cidadania, em sentido estrito, o status de nacional
acrescido dos direitos polticos, isto , poder participar do
processo governamental, sobretudo pelo voto. A nacionali-
dade, no direito brasileiro, condio necessria, mas no
suciente de cidadania. A cidadania um status ligado ao
regime poltico. Assim, correto incluir os direitos tpicos
do cidado entre aqueles associados ao regime poltico, em
particular, entre os ligados democracia.
O valor moral da dignidade da pessoa humana foi consagrado
como princpio constitucional na Declarao de Direitos de Virgnia,
que precedeu a Constituio norte-americana de 1787, e na Declarao
dos Direitos do Homem e do Cidado de 1789, que resultou da Revolu-
o Francesa. Neste aspecto, ambos os documentos se fundamentavam
nas doutrinas de Locke, Montesquieu e Rousseau, inuenciadas pela
noo humanista de reserva da integridade e da potencialidade do in-
divduo.
A Constituio Brasileira de 1988, j no seu prembulo, acen-
tua o carter poltico do Estado institudo em termos de Estado De-
mocrtico. Busca criar uma sociedade caracterizada como fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e compro-
metida, na ordem interna e internacional, com a soluo pacca de
controvrsias. Como valores supremos da sociedade, so destacados
a liberdade, a segurana, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade
6
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Curso de direito constitucional brasileiro. Rio de Janeiro: Forense,
1958. p. 112, 2 v.
7
FERREIRA FILHO, Manoel Gonalves. Curso de direito constitucional. 17. ed. So Paulo: Saraiva,
1990. p. 99.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
78
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
e a justia. Cabe, portanto, ao Estado assegur-los, bem como garantir
o exerccio dos direitos sociais e individuais. Trcio Sampaio Ferraz
Jnior
8
explica os paradigmas do prembulo da Constituio, luz de
um raciocnio prtico e objetivo:
Tomemos o elenco de valores. Pelo seu enunciado, apare-
ce, pela ordem, a liberdade como o primeiro deles. O va-
lor liberdade integra a personalidade como seu contor-
no essencial, de incio no sentido positivo da criatividade,
de expanso do prprio ser da pessoa, da capacidade de
inovar e, em seguida, num sentido de no ser impedido;
no sentido positivo, a liberdade tem relao com a reali-
zao do homem, com sua participao na construo po-
ltica, social, econmica e cultural da sociedade; no sen-
tido negativo, refere-se autodeterminao do homem,
possibilidade de ser diverso, de no submeter-se von-
tade dos outros. Pela ordem, a liberdade seguida da se-
gurana, que, como valor, tem a ver com os destinatrios
da ordem jurdica. Signica exigncia de tratamento uni-
forme dos endereados. Exige, pois, que todos, nas mes-
mas condies, tenham o mesmo tratamento. Segurana
exclui, portanto, tratamentos arbitrrios, ou seja, no s
os que no so uniformes, mas tambm os que ocorrem
margem do direito. Num primeiro momento, enquanto
valor tipicamente liberal, a segurana exige a submisso
do Estado lei da qual tambm o guardio. O sentido
legtimo da segurana exige a organizao legal do Esta-
do como ordem normativa, limites claros de sua atuao
como instituio. Mas, numa extenso mais ampla, con-
gura no apenas a repulsa ao tratamento arbitrrio do Es-
tado contra o cidado, mas a de cidado contra cidado,
sugerindo uma forte dimenso social. Como valor amplo
alcana, tambm, as arbitrariedades decorrentes de situ-
aes legalmente conformes, mas socialmente injustas
que so, ento, juridicamente repelidas pela sua incluso,
no artigo 6, como um direito social.
8
FERRAZ JNIOR, Trcio Sampaio. Direito e cidadania na Constituio. Disponvel em: <http://www.
pge.sp.gov.br.>. Acesso em: 10.11.2006.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
79 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A Constituio incluiu expressamente a cidadania entre os
fundamentos do Estado Democrtico de Direito de que se constitui a
Repblica Federativa, formada pela unio indissolvel dos Estados e
Municpios e do Distrito Federal (art. 1, inciso II). O princpio jurdi-
co da dignidade fundamenta-se na pessoa humana, e a pessoa huma-
na pressupe, acima de tudo, uma condio objetiva: a vida. De fato,
sem vida, no h pessoa, e sem pessoa no h dignidade. Embora a
vida esteja relacionada a qualquer espcie de ser que habita a natureza,
fundamentando a tutela holstica ao direito ambiental e ao direito dos
animais, ningum pode negar que a vida humana deve merecer ateno
especial do direito.
Dignidade humana um dos fundamentos da ordem constitu-
cional, portanto, um dos pilares do Estado Democrtico de Direito. Este
princpio no fcil de ser compreendido, muito difcil de ser vivido,
mas possvel de ser praticado. Basta somente querer. Nas palavras de
Jorge Miranda
9
, compreender, nos dias atuais, o que o princpio da
dignidade da pessoa humana ter como premissa que o ser humano,
como m de tudo, um ente real, cujas necessidades mnimas concretas
no podem estar sujeitas aos modelos abstratos tradicionais. Acrescenta
o citado autor:
Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa da pes-
soa concreta, na sua vida real e quotidiana; no de
um ser ideal e abstrato. o homem ou a mulher, tal
como existe, que a ordem jurdica considera irredu-
tvel e insubstituvel e cujos direitos fundamentais a
Constituio enuncia e protege. Em todo o homem e
em toda a mulher esto presentes todas as faculdades
da humanidade.
Acerca da concretizao do princpio da dignidade da pessoa
humana, Jos Cludio Monteiro de Brito Filho
10
, cuidando da questo
9
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed. Coimbra: [s.n.], 1988. 2 v.
10
BRITO FILHO, Jos Cludio Monteiro de. Trabalho com reduo condio anloga de escravo e dig-
nidade da pessoa humana. Disponvel em: <http://www.pgt.mpt.gob.br >. Acesso em: 10.11.2006.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
80
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
da reduo do homem condio anloga de escravo em matria de
relaes de trabalho, acentua:
que no se pode falar em dignidade da pessoa humana
se isso no se materializa em suas prprias condies de
vida. Como falar em dignidade sem direito sade, ao
trabalho, enm, sem o direito de participar da vida em
sociedade com um mnimo de condies? Dar trabalho,
e em condies decentes, ento, forma de proporcionar
ao homem os direitos que decorrem desse atributo que
lhe prprio: a dignidade. Quando se fala em trabalho
em que h a reduo do homem condio anloga a
de escravo, dessa feita, imperioso considerar que foi
violado o princpio da dignidade da pessoa humana, pois
no h trabalho decente se o homem reduzido a essa
condio, como entende, com perfeio, a OIT. O con-
trole abusivo de um ser humano sobre outro anttese do
trabalho decente.
Fbio Konder Comparato
11
, tratando do atualssimo tema da clo-
nagem de seres humanos, e ainda fulcrado no preceito kantiano de que o
ser humano jamais deve ser considerado como coisa, tambm ressalta a
necessidade de se atualizar a concepo de dignidade da pessoa humana:
Que pensar disso tudo, luz do princpio supremo do
respeito dignidade humana em qualquer circunstn-
cia? Em tese, a nica prtica aceitvel, sob o aspec-
to tico, parece ser a de clonagem humana para fins
teraputicos (por exemplo, tratamento de doenas
neurodegenerativas, como o mal de Parkinson, ou o
de Alzheimer), no prprio sujeito cujas clulas foram
clonadas. Todas as outras prticas de fecundao arti-
ficial ou de engenharia gentica violam, claramente, o
princpio kantiano de que a pessoa humana no pode
nunca ser utilizada como simples meio para a obten-
o de uma finalidade alheia, pois ela deve sempre ser
tida como um fim em si.
11
COMPARATO, Fbio Konder. A armao dos direitos humanos. 3. ed. So Paulo: Saraiva, 2003.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
81 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
4. Aspecto jurdico da dignidade humana
A dignidade situa o ser humano no centro de todo o ordena-
mento jurdico. Torna-o protagonista, tanto no mbito do direito p-
blico como na esfera do direito privado, repelindo qualquer atentado
proveniente de outras pessoas e dos poderes pblicos. Nesse diapaso,
arma Alexandre de Morais
12
:
A dignidade da pessoa humana um valor espiritual e
moral inerente pessoa, que se manifesta singularmente
na autodeterminao consciente e responsvel da prpria
vida e que traz consigo a pretenso de respeito por par-
te das demais pessoas, constituindo-se em um mnimo
invulnervel que todo estatuto jurdico deve assegurar,
de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas
limitaes ao exerccio dos direitos fundamentais, mas
sempre sem menosprezar a necessria estima que mere-
cem todas as pessoas enquanto seres humanos.
Esse alcance do conceito da dignidade humana foi um pro-
cesso de conquista ao longo da histria da humanidade; foi resultado
de uma luta permanente que teve incio com o homem da caverna e
chegou ao cume com o homem da contemporaneidade, at ser conso-
lidado como um princpio fundamental. Numa viso resumida arma
Nelson Rosenvald
13
:
A consolidao da noo de dignidade como mola mestra
de todo o ordenamento resultou de desastrosas interven-
es do Estado sobre a liberdade e a integridade corporal
do ser humano, a ponto de alcanar o genocdio como o
crime contra a humanidade. A viso de direitos humanos
12
MORAIS, Alexandre de. Constituio do Brasil interpretada. So Paulo: Saraiva, 2004. p. 129.
13
ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-f no Cdigo Civil. So Paulo: Saraiva, 2005. p. 13-14.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
82
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
como o direito a ter direitos desaada quando o Estado
recusa a condio humana da diversidade e discrimina
grupos, raas e etnias. Muitas vidas custaram para a in-
sero da dignidade nas legislaes contemporneas.
por isso que se torna necessrio identicar a dignidade da
pessoa humana como uma conquista da razo tico-jurdica, fruto da re-
ao s atrocidades que, infelizmente, marcaram a experincia humana.
Essas experincias histricas resultaram, cabalmente, na aniquilao
do ser humano, por exemplo, a inquisio, a escravatura, o nazismo,
o fascismo, o stanilismo, os genocdios ticos. Sobre a matria, arma
Rizzatto Nunes
14
:
A dignidade nasce com a pessoa. -lhe inata. Inerente
sua essncia. Mas, acontece que nenhum indivduo
isolado. Ele nasce, cresce e vive no meio social. E a,
nesse contexto, sua dignidade ganha - ou tem o direito
de ganhar um acrscimo de dignidade. Ele nasce com a
integridade fsica e psquica, mas chega um momento de
seu desenvolvimento, em que seu pensamento tem de ser
respeitado, suas aes e seu comportamento isto , sua
liberdade, sua imagem, sua intimidade, sua conscincia
religiosa, cientca, espiritual etc. de tudo compe a
dignidade.
A histria dos direitos humanos no Brasil est vinculada, de
forma direta, com a histria das constituies brasileiras. Portanto, para
falarmos a respeito deste assunto, abordaremos, resumidamente, a his-
tria das vrias constituies do Brasil e a importncia que elas deram
aos direitos humanos. A primeira constituio brasileira j surgiu pro-
vocando o repdio de inmeras pessoas. A Constituio Imperial de
1824 foi outorgada aps a dissoluo da Assemblia Constituinte. Por
essa razo, houve protestos em vrios Estados brasileiros, como Per-
nambuco, Bahia, Cear, Paraba e Rio Grande do Norte.
14
NUNES, Rizzatto. O princpio constitucional da dignidade da pessoa humana. So Paulo: Saraiva, 2002.
p. 49.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
83 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Essas reivindicaes de liberdade culminaram com a consa-
grao dos direitos humanos pela Constituio Imperial. Apesar de
autoritria (por concentrar uma grande soma de poderes nas mos do
imperador, o denominado poder moderador), revelou-se liberal no re-
conhecimento de determinados direitos. O primeiro alvo normativo da
Constituio Imperial brasileira de 1824 foi a inviolabilidade dos di-
reitos civis e polticos. Estes se baseavam na liberdade, na segurana
individual e, como no poderia deixar de ser, na propriedade (valor, de
certa forma, questionvel).
No dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira
Constituio Republicana. Tinha como objetivo, segundo Herkenhoff
15
,
corporicar juridicamente o regime republicano institudo com a Re-
voluo que derrubou a coroa. Foi essa Constituio que instituiu o
sufrgio direto para a eleio dos deputados, senadores, presidente e
vice-presidente da Repblica. No entanto, o seu contexto estabeleceu
tambm que os mendigos, os analfabetos, os religiosos, entre outras
categorias, no poderiam exercer esses direitos polticos. Em contra-
partida, ela aboliu a exigncia de renda como critrio para o exerccio
dos direitos polticos.
O sufrgio direto estabelecido pela Constituio de 1891 no
modicou as regras de distribuio do poder. Isso porque a prioridade
da fora econmica nas mos dos fazendeiros e o estabelecimento do
voto aberto contriburam para que estes pudessem manipular os mais
fracos economicamente, de acordo com seus interesses polticos. Em-
bora de forma embrionria, podemos armar que a primeira Constitui-
o Republicana ampliou os direitos humanos, alm de manter os direi-
tos j consagrados pela Constituio Imperial. No ano de 1926, com a
reforma constitucional, procurou-se, em primeiro lugar, conter os abu-
sos praticados pela Unio, com as intervenes federais nos Estados.
Entretanto, a reforma no veio atender, de forma plena, as exigncias
daqueles que entendiam que a Constituio de 1891 no se mostrava
adequada real instaurao de um regime republicano no Brasil.
15
HERKENHOFF, Joo Batista. Curso de direitos humanos: a construo universal de uma utopia. So
Paulo: Atlas, 2001. p. 76.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
84
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A Revoluo de 1930 provocou um total desrespeito aos direi-
tos humanos, que foram praticamente esquecidos. O Congresso Nacio-
nal e as Cmaras Municipais foram dissolvidos. A magistratura perdeu
suas garantias, suspenderam-se as franquias constitucionais e o habeas
corpus cou restrito a rus ou acusados em processos de crimes comuns.
No foram poucos os que se rebelaram contra essa prepotncia, cul-
minando com a Revoluo Constitucionalista de 1932. Como resultado,
o governo provisrio nomeou uma comisso para elaborar um projeto
de Constituio. Essa comisso, por reunir-se no Palcio do Itamaraty,
recebeu o nome pejorativo de a comisso do Itamaraty.
A participao popular cou reduzida, em razo da censura
imprensa. Apesar da existncia de censura, a Constituio de 1934 esta-
beleceu algumas franquias liberais, como, por exemplo: determinou que
a lei no poderia prejudicar o direito adquirido, o ato jurdico perfeito e
a coisa julgada; vedou a pena de carter perptuo; proibiu a priso por
dvidas, multas ou custas; criou a assistncia judiciria para os neces-
sitados (assistncia esta que, ainda hoje, no observada por grande
parte dos Estados-membros brasileiros); instituiu a obrigatoriedade de
comunicao imediata de qualquer priso ou deteno ao juiz compe-
tente para que a relaxasse, se ilegal, promovendo a responsabilidade da
autoridade coatora, alm de estabelecer vrias outras franquias.
Alm dessas garantias individuais, a Constituio de 1934 ino-
vou, ao estatuir normas de proteo social ao trabalhador, tais como:
proibiu a diferena de salrio para um mesmo trabalho, em razo de
idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; proibiu o trabalho para me-
nores de 14 anos de idade, o trabalho noturno para menores de 16 anos
e o trabalho insalubre para menores de 18 anos e para mulheres; esti-
pulou um salrio mnimo capaz de satisfazer s necessidades normais
do trabalhador; instituiu o repouso semanal remunerado e a limitao
de trabalho a oito horas dirias que s poderiam ser prorrogadas nos
casos legalmente previstos, alm de inmeras outras garantias sociais
do trabalhador.
A Constituio de 1934 no esqueceu os direitos culturais.
Tratava-se de uma Constituio que tinha como objetivo primordial o
bem-estar geral. Quando instituiu a Justia Eleitoral e o voto secreto, essa
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
85 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Constituio abriu os horizontes do constitucionalismo brasileiro, como
lembra Joo Batista Herkenhoff
16
, para os direitos econmicos, sociais e
culturais. Alm disso, estabeleceu o respeito aos direitos humanos. Vigo-
rou pouco mais de trs anos, at a instalao do chamado Estado Novo,
em 10 de Novembro de 1937, que introduziu o autoritarismo no Brasil.
Na vigncia do Estado Novo, foram criados os to polmi-
cos tribunais de exceo, que tinham competncia para julgar os cri-
mes contra a segurana do Estado. Alm disso, foi declarado estado de
emergncia no pas, caram suspensas quase todas as liberdades a que
o ser humano tem direito, dentre elas, a liberdade de ir e vir, o sigilo de
correspondncia (uma vez que as cartas eram violadas e censuradas) e
de todos os outros meios de comunicao, fossem orais ou escritos, a
liberdade de reunio etc. Os direitos humanos deixaram de ser respeita-
dos durante os quase oito anos em que vigorou o Estado Novo.
Com a Constituio de 1946, o pas foi redemocratizado, j que
essa Constituio restaurou os direitos e garantias individuais, sendo
estes, at mesmo ampliados. Restaurou tambm os direitos sociais. De
acordo com esses direitos, foi proibido o trabalho noturno a menores de
18 anos, estabeleceu-se o direito de greve, foi estipulado o salrio m-
nimo capaz de atender s necessidades do trabalhador e de sua famlia,
dentre outros direitos. Os direitos culturais tambm foram ampliados.
Essa Constituio vigorou at o surgimento da Constituio de 1967.
Todavia, sofreu vrias emendas e teve inmeros artigos suspensos por
fora dos atos institucionais de 9 de abril de 1964 e de 27 de outubro de
1965, por fora do golpe, autodenominado Revoluo de 31 de maro
de 1964. Apesar da ocorrncia de todas essas mazelas, podemos ar-
mar que, durante os quase dezoito anos de vigncia, a Constituio de
1946 garantiu os direitos humanos.
A Constituio de 1967, porm, trouxe inmeros retrocessos,
suprimindo a liberdade de publicao, tornando restrito o direito de
reunio, estabelecendo foro militar para os civis, mantendo todas as
punies e arbitrariedades decretadas pelos atos institucionais. Teori-
16
HERKENHOFF, Joo Batista. Op. cit., p. 77.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
86
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
camente, a Constituio determinava o respeito integridade fsica e
moral do detento e do presidirio. Porm, na prtica, tal preceito no
existia, pois era letra morta, com a implantao do regime de tortura.
No que dizia respeito aos demais direitos, os retrocessos continuaram:
a Constituio reduziu a idade mnima de permisso ao trabalho para
12 anos; restringiu o direito de greve; acabou com a proibio de dife-
rena de salrios, por motivos de idade e de nacionalidade; restringiu
a liberdade de opinio e de expresso; recuou no campo dos chamados
direitos sociais etc.
Essa Constituio vigorou, formalmente, at 17 de outubro de
1969. Porm, na prtica, vigorou apenas at 13 de dezembro de 1968,
quando foi baixado o mais terrvel ato institucional, o que mais desres-
peitou os direitos humanos no pas, provocando a revolta e o medo de
toda a populao, acarretando a runa da Constituio de 1967. O AI-5
trouxe de volta todos os poderes discricionrios do Presidente da Rep-
blica estabelecidos pelo AI-2. Alm disso, ampliou as arbitrariedades,
dando ao governo a prerrogativa de conscar bens. Suspendeu, inclu-
sive, o habeas corpus nos casos de crimes polticos contra a segurana
nacional, a ordem econmica e social e a economia popular. Foi um
perodo de arbitrariedades e corrupes. A tortura e os assassinatos po-
lticos foram praticados de forma brbara, com a garantia do silncio da
imprensa, que se encontrava praticamente amordaada, e as determina-
es e protees legais do AI-5. Na verdade, a Constituio de 1969
somente comeou a vigorar, com a queda do AI-5, no ano de 1978. A
Constituio de 1969 retroagiu, ainda mais, quando foram incorporadas
ao seu texto legal as medidas autoritrias dos atos institucionais.
A lei da anistia, promulgada em 1979, no aconteceu da forma
como era esperada, j que anistiou, em nome do regime, at mesmo
criminosos e torturadores. Apesar disso, no podemos negar que re-
presentou uma grande conquista do povo brasileiro. Para Joo Batis-
ta Herkenhoff
17
, a luta pela anistia representou uma das pginas de
maior grandeza moral escrita na Histria contempornea do Brasil,
juntamente com a convocao, a instalao e o funcionamento de uma
17
HERKENHOFF, Joo Batista. Op. cit., p. 88.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
87 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Assemblia Nacional Constituinte.
5. Dignidade e Constituio cidad
A Constituio de 1988 veio para proteger, talvez tardiamente,
os direitos do homem. Tardiamente, porque isso poderia ter se efetivado
na Constituio de 1946. Tratava-se de uma Constituio eminentemen-
te democrtica, mas, logo em seguida, foi derrubada, com a ditadura
instaurada no pas. Ulisses Guimares armava que a Constituio de
1988 era uma Constituio cidad, ao estabelecer que o homem tem
uma dignidade. Mas essa dignidade precisa ser resgatada, para expres-
sar-se, politicamente, como cidadania.
A Constituio de 1988 demarca, no mbito jurdico, o pro-
cesso de redemocratizao do Estado brasileiro, a consolidar a ruptura
com o regime autoritrio instalado em 1964. O regime militar foi ca-
racterizado pela supresso de direitos constitucionais, pela hipertroa
do Poder Executivo em relao aos demais Poderes e pelo centralismo
federativo na Unio, em detrimento da autonomia dos Estados. As For-
as Armadas passaram a exercer controle direto das principais funes
governamentais, consolidando a fuso entre os militares e o poder.
Aps o longo perodo de vinte e um anos de autoritarismo mi-
litar, que perdurou de 1964 a 1985, deagrou-se o processo de democra-
tizao no Brasil. Esse processo iniciou-se, originariamente, pela libe-
ralizao poltica do prprio regime autoritrio, em face de diculdades
encontradas para solucionar problemas internos. Com isso, os segmentos
de oposio da sociedade civil se beneciaram do processo de abertura,
fortalecendo-se mediante formas de organizao, mobilizao e articula-
o, que permitiram importantes conquistas sociais e polticas.
A transio democrtica, lenta e gradual, permitiu a formao
de um controle civil sob as foras militares. Exigiu ainda a elaborao
de um novo ordenamento jurdico, que rezesse o pacto poltico-social.
Esse processo culminou, juridicamente, na promulgao de uma nova
ordem constitucional. Nascia assim a Constituio de 05 de outubro de
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
88
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1988. A nova Carta Magna pode ser considerada como o marco jurdico
da transio democrtica e da institucionalizao dos direitos humanos
no Brasil. Introduziu indiscutvel avano na consolidao legislativa
das garantias e direitos fundamentais e na proteo de setores vulner-
veis da sociedade brasileira. A partir dela, os direitos humanos ganha-
ram relevo extraordinrio, situando-se a Constituio de 1988 como o
documento mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos huma-
nos jamais adotado no Brasil.
O direito dignidade da pessoa humana vem tratado na
Constituio de 1988, j no prembulo, quando este fala da inviola-
bilidade liberdade. retomado no art. 1, com os fundamentos da
Repblica e, ainda, no inciso III (a dignidade da pessoa humana),
e mais adiante, no art. 5, quando fala da inviolabilidade do direito
vida, liberdade, segurana e igualdade. Mas o que signica
essa dignidade? Signica que o homem no pode ser tratado como
um animal qualquer, pois ele tem a sua individualidade. Tem uma
essncia, que prpria dele. Cada indivduo totalmente diferente
de outro e o que nos identica essa essncia de ser pessoa. A nica
coisa capaz de garantir a dignidade da pessoa humana a justia! A
dignidade um valor supremo. O homem digno, pelo simples fato
de ser racional, o que o diferencia dos outros animais. A dignidade
, portanto, um valor fundamental.
Flvia Piovesan
18
ensina que a ordem constitucional de
1988 apresenta um duplo valor simblico, ela o marco jurdico da
transio democrtica, bem como da institucionalizao dos direitos
humanos no pas. A Carta de 1988 representa a ruptura jurdica com
o regime militar autoritrio que se estabeleceu no Brasil de 1964 a
1985. Com a Constituio de 1988, houve uma espcie de rede-
nio do Estado brasileiro, bem como dos direitos fundamentais
do cidado. Quando lemos os dispositivos constitucionais, podemos
deduzir o quanto foi acentuada a preocupao do legislador em ga-
rantir a dignidade, o respeito e o bem-estar da pessoa humana, de
modo a se alcanar a paz e a justia social.
18
PIOVESAN, Flvia. Temas de direitos humanos. So Paulo: Max, 2003. p. 206.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
89 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Logo no seu prembulo, a Carta de 1988 projeta a constru-
o de um Estado Democrtico de Direito destinado a assegurar o
exerccio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurana,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justia como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. No
entender de Jos Joaquim Gomes Canotilho, a juridicidade, a constitu-
cionalidade e os direitos fundamentais so as trs dimenses fundamen-
tais do princpio do Estado de Direito. Como se observa, a Constituio
de 1988 consagra amplamente essas dimenses, ao armar, nos seus
primeiros artigos (arts. 1 e 3), princpios que consagram os fundamen-
tos e os objetivos do Estado Democrtico de Direito.
Dentre os fundamentos que aliceram o Estado Democr-
tico de Direito, destacam-se a cidadania e a dignidade da pessoa
humana (art. 1, incisos II e III). V-se aqui o encontro do princpio
do Estado Democrtico de Direito com os direitos fundamentais.
Evidencia-se que os direitos fundamentais so os elementos bsicos
para a realizao do princpio democrtico, tendo em vista que exer-
cem uma funo democratizadora. A esse respeito, arma Jorge Mi-
randa
19
: A Constituio confere uma unidade de sentido, de valor e
de concordncia prtica ao sistema dos direitos fundamentais. E ela
repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepo que
faz a pessoa fundamento e m da sociedade e do Estado.
Por sua vez, construir uma sociedade livre, justa e soli-
dria, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e
a marginalizao, reduzir as desigualdades sociais e regionais e
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raa, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminao, constituem
os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, consagrados no
art. 3 da Carta de 1988. Nesse sentido, leciona Jos Afonso da
Silva
20
: a primeira vez que uma Constituio assegura, espe-
cificamente, objetivos do Estado brasileiro, no todos, que seria
despropositado, mas os fundamentais, e entre eles uns que valem
como base das prestaes positivas que venham a concretizar a de-
19
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: [s. n.]. 1988. 4 v. p. 166.
20
SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. So Paulo: Malheiros, 1996. p. 94.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
90
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
mocracia econmica, social e cultural, a fim de efetivar na prtica
a dignidade da pessoa humana.
6. O poder poltico afastado do cidado
O poder no Brasil sempre se estruturou margem do cidado.
Na verdade, no que o povo seja marginal ao poder estatal brasileiro.
Este que nunca quis se misturar com o povo e fez a sua prpria his-
tria margem da sociedade. Planos, projetos, rgos estatais nada fun-
ciona em termos de direitos fundamentais. O poder pblico no Brasil
tem sido, tradicional e infelizmente, muito pouco pblico, muito pouco
do povo. Ele exercido no pelo povo ou em seu nome e interesse, mas
por uns poucos grupos que o dominam desde os primrdios, em seu
nome e em seu prprio e nico interesse.
Desde o descobrimento do Brasil (que no estava, alis,
encoberto), o pas foi colonizado por um poder exercido no interes-
se do colonizador, cujo grupo compunha o ncleo do comando, que
os portes dos palcios no sabem daqueles que no tm teto. Quem
joga caviar fora no pode imaginar a fome dos que no tm sequer
um naco de po velho para se alimentar. Quem pisa em tapetes persas
custa a saber do embate dos que lutam por um pedao de cho onde
pisar sem medo e sem se esconder. Nesse aspecto, arma Carmen
Lcia Antunes Rocha
21
:
O fantstico descompasso entre uma Constituio, contra
a qual alguns insurgem ao argumento exatamente de que
reconhece e assegura direito demais e uma sociedade
na qual se reconhecem violaes constantes e gravs-
simas dos direitos humanos tem causas diversas e uma
histria comum: a histria de um Estado no qual o autori-
tarismo dominou e continua a porejar nas mais diferentes
21
ROCHA, Carmen Lcia Antunes. O constitucionalismo contemporneo e a instrumentalizao para a
eccia dos direitos humanos. Disponvel em: <www.cjf.gov.br.>. Acesso em: 10.10.2006.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
91 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
estruturas do poder. Do guarda da esquina ao ocupante
do mais alto cargo poltico da organizao, a distncia do
cidado comum e a condio de um poder sem controle e
acima de tudo inclusive do direito todos os quadrantes
da organizao social e poltica brasileira so tocados por
um arbtrio que no conhece ou faz por desconhecer os
limites negativos e positivos que os direitos fundamen-
tais do homem impem. Mudam-se as leis, mas quem as
cumpre e tem nas veias de seu prprio corpo e dos cor-
pos e rgos de que participam o mesmo sangue com que
se alimentavam antes do seu advento. As estruturas autori-
trias no mudam. Sem o conhecimento e a certeza de seus
direitos, as pessoas especialmente aquelas de classes so-
ciais mais pobres desconam mais que conam nos seus
direitos fundamentais, os quais, alis, consideram mais
favor quando se lhes reconhecem as prerrogativas que lhes
so devidas. A lerdeza das instituies e dos institutos em
assegurar ao cidado punio dos que ameaam ou violam
direitos torna-o perigosamente cmplice pelo silncio com
que prefere se haver quanto atingido.
Dentre os chamados direitos humanos fundamentais, encon-
tram previso legal, nos arts. 1 e 55 da Carta das Naes Unidas, os
princpios da autodeterminao dos povos, da no discriminao e da
promoo da igualdade. De acordo com o princpio da autodetermina-
o dos povos, o direito dos povos livre determinao um requisito
prvio para o exerccio de todos os direitos humanos fundamentais.
O princpio da no discriminao, por sua vez, determina que
o pleno exerccio de todos os direitos e garantias fundamentais perten-
ce a todas as pessoas, independentemente de raa, sexo, cor, condio
social, genealogia, credo, convico poltica, losca ou qualquer ou-
tro elemento arbitrariamente diferenciador. Segundo esclarece Flvia
Piovesan
22
, discriminao signica toda distino, excluso, restrio
ou preferncia que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular
o reconhecimento, gozo ou exerccio, em igualdade de condies, dos
direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos poltico, eco-
22
PIOVESAN, Flvia. Op. cit., p. 210.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
92
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
nmico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo. Logo,
discriminao signica sempre desigualdade.
Conforme determina a Declarao Universal dos Direitos Hu-
manos, qualquer espcie de discriminao deve ser eliminada, de modo
a assegurar a todos os seres humanos o pleno exerccio de seus direitos
civis, polticos, sociais, econmicos e culturais. Nossa Magna Carta, em
seu art. 5, inciso XLI, determina que a lei punir qualquer discrimi-
nao atentatria dos direitos e liberdades fundamentais. Dessa forma,
havendo injusticada diferenciao no tratamento entre os indivduos,
estar caracterizada a discriminao. No entanto, no basta apenas no
discriminar; preciso, tambm, criar normas que possibilitem a esses
grupos, j to marginalizados, sua incluso no contexto social do pas,
por meio da participao em instituies pblicas ou privadas, a m de
garantir a verdadeira e completa implementao do direito igualdade.
Com relao a esse assunto, Flvia Piovesan
23
enfatiza: Com
efeito, a igualdade e a discriminao pairam sob o binmio incluso
excluso. Enquanto a igualdade pressupe formas de incluso social,
a discriminao implica a violenta excluso e intolerncia diferena
e diversidade. O que se percebe que a proibio da excluso, em si
mesma, no resulta automaticamente na incluso. Logo, no sucien-
te proibir a excluso, quando o que se pretende garantir a igualdade
de fato, com a efetiva incluso social de grupos que sofreram e sofrem
um consistente padro de violncia e discriminao.
Linite Adma de Oliveira
24
relaciona os vrios tipos de excluso
social, enfatizando que, quando ns pensamos na palavra excluso,
logo nos vem mente sua relao com pobreza, ou a posse ou no de ri-
quezas. Num contexto de globalizao, revoluo tecnolgica e altera-
o no papel do Estado, que est deixando de lado as garantias sociais,
o surgimento de um sentimento de excluso de um indivduo, a partir
da comparao entre o que ele tem em relao aos demais indivduos,
independente da satisfao de suas necessidades bsicas.
23
Ibidem.
24
OLIVEIRA Linite Adma de. Reexes sobre desigualdade, excluso e analfabetismo. Disponvel em:
<http://www.uepg.br.>. Acesso em: 10.11.2006.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
93 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A excluso resultado da relao entre pessoas que tm o dom-
nio do sistema de escrita e que, quando querem ser hegemnicas, apro-
veitam-se daquelas que sabem menos. Embora as transformaes atuais
apontem a excluso como voltada a valores econmicos, necessrio
entend-la e perceb-la nas mais variadas espcies ou categorias. Assim,
ela nem sempre envolve o valor material, mas o valor social, mais nota-
damente cultural. A citada autora aponta os seguintes tipos de excluso:
Excluso pela localidade: pessoas que moram na perife-
ria, ou os sem-terra e sem-teto.
Excluso pela concentrao de renda: os pobres so ex-
cludos pela explorao de sua fora de trabalho. Ele
pode trabalhar por dez horas e ser remunerado como se
tivesse trabalhado duas horas.
Excluso cultural: a raa e os valores tnicos dos ndios e
negros sofrem excluso de outros povos tidos como raa
pura, porque queremos que o outro aceite e se insira na
sua cultura.
Excluso de gnero: estatsticas mostram que a mulher
ainda discriminada, porque, numa viso machista,
apontada para dar carinho ao marido e aos lhos.
Excluso pela formalidade: consideramos as pessoas lou-
cas, esquisitas. Tememos o deciente, porque ele geral-
mente pobre e feio e tememos a concorrncia deles.
Excluso pela religio: acontece quando no aceitamos a
crena do outro.
Excluso poltica: todo poltico visto pela sociedade
como marginal, porque pensa politicamente diferente.
Excluso pelos anos de vida: o idoso excludo porque
considerado como um intil, que no serve para mais nada,
a no ser para provocar apenas gastos; a criana excluda
porque no tem nada a oferecer pela sua imaturidade.
7. Cidadania e incluso social
A cidadania uma ao em prol da construo social. A prtica
da cidadania nasce da conscincia dos direitos e deveres; a prtica de
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
94
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
quem est ajudando a construir valores que contribuam para o aumento
dos nveis de liberdade do ser humano. No Brasil, a cidadania expressa-
se fundamentalmente na luta contra a excluso social, contra a misria.
a mobilizao concreta pela promoo da vida e pela construo de
estruturas voltadas para o bem-estar social da maioria. querer mudar
a realidade a partir da ao com os outros, da elaborao de propostas,
da crtica, da solidariedade e da indignao com o que ocorre entre ns.
Cidadania , portanto, o direito a ter direitos e o de assumir deveres
sociais. Arma Joo Luis Correia Jnior
25
sobre cidadania:
Como percebemos, humanismo e cidadania so como
que duas faces da mesma moeda. Aes humanistas
constroem a cidadania na medida em que possibilitam
ao ser humano a realizao mais plena possvel de sua
dignidade, dentro da convivncia social baseada na so-
lidariedade e no compromisso com a promoo da vida.
Na sua tarefa social de propiciar a igualdade, a integri-
dade, a liberdade, os direitos e deveres humanos, a cida-
dania uma prtica humanista, o elemento fundamental
para o crescimento de todo ser humano que busca sen-
tido para a vida.
A cidadania democrtica pressupe a igualdade diante da lei,
a igualdade da participao poltica e a igualdade de condies scio-
econmicas bsicas, para garantir a dignidade humana. Essa terceira
espcie de igualdade crucial, pois exige uma meta a ser alcanada,
no s por meio de leis, mas tambm pela correta implementao de
polticas pblicas, de programas de ao do Estado. aqui que se ar-
ma, como necessidade imperiosa, a organizao popular para a legtima
presso sobre os poderes pblicos. A cidadania ativa pode ser exercida
de diversas maneiras: nas associaes de base e movimentos sociais,
nos processos decisrios na esfera pblica, como nos conselhos comu-
nitrios, no oramento participativo, na iniciativa legislativa, nas con-
sultas populares, etc.
25
CORREIA Jr., Joo Luis. Humanismo e cidadania. Disponvel em: <www.unicap.br,>. Acesso em:
10.11.2006.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
95 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
importante deixar claro que a participao cidad em en-
tidades da sociedade civil no signica aceitar a diminuio do papel
do Estado. Este continua sendo o grande responsvel pelo desenvol-
vimento nacional, com a garantia efetiva dos direitos dos cidados. O
xito eventual de algumas parcerias ou de obras do chamado terceiro
setor no pode obscurecer essa realidade. dos poderes pblicos que
devem ser cobradas, por exemplo, as novas propostas de cidadania so-
cial, como os programas de renda mnima, de bolsa-escola, de banco do
povo, de polcia comunitria, de sade pblica, de poltica agrria etc.
Estes programas devem ter por objetivo melhorar a vida do povo e no
como mecanismo de projeo pessoal e mesquinharia poltica. A esse
respeito, Maria Victoria de Mesquita Benevides
26
argumenta:
A expanso da cidadania social implica, alm de uma ao
efetiva dos poderes pblicos e da presso popular, um tipo de mudan-
a cultural, no sentido de mexer com o que est mais enraizado nas
mentalidades marcadas por preconceitos, por discriminao, pela no
aceitao dos direitos de todos, pela no aceitao da diferena. Tra-
ta-se, portanto, de uma mudana cultural especialmente importante no
Brasil, pois implica a derrocada de valores e costumes arraigados entre
ns, decorrentes de vrios fatores historicamente denidos: nosso longo
perodo de escravido, que signicou exatamente a violao de todos
os princpios de respeito dignidade da pessoa humana, a comear pelo
direito vida; nossa poltica oligrquica e patrimonial; nosso sistema de
ensino autoritrio, elitista, e com uma preocupao muito mais voltada
para a moral privada do que para a tica pblica; nossa complacncia
com a corrupo dos governantes e das elites, assim como em rela-
o aos privilgios concedidos aos cidados ditos de primeira classe
ou acima de qualquer suspeita; nosso descaso com a violncia, quando
ela exercida exclusivamente contra os pobres e os socialmente dis-
criminados; nossas prticas religiosas essencialmente ligadas ao valor
da caridade em detrimento do valor da justia; nosso sistema familiar
patriarcal e machista; nossa sociedade racista e preconceituosa contra
todos os considerados diferentes; nosso desinteresse pela participao
26
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A questo social no Brasil. Disponvel em: <www.hottpos.
com.>. Acesso em: 10.11.2006.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
96
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
cidad e pelo associativismo solidrio; nosso individualismo consumis-
ta, decorrente de uma falsa idia de modernidade.
8. Solidariedade e dignidade humana
O momento de reconstruo da solidariedade humana. O dis-
curso solidarista deve ser resgatado. Mas no podemos pensar que o
enfrentamento terico e prtico do quadro atual de crise se resolva por
um simples retorno ao discurso solidarista. Devemos compreender que
a crise atual pressupe a reconstruo da solidariedade. Essa reconstru-
o passa por uma concepo de sociedade que seja capaz de vislumbrar
uma unidade, levando em conta a pluralidade da solidariedade vivida
e permitindo o encontro de uma auto-tica com uma tica comunitria.
Isto nos remete a uma das questes fundamentais de reexo sobre a
sociedade contempornea: Como articular o particular e o universal?
A ordem de reconstruo da solidariedade deve forjar uma uni-
dade, levando em conta a complexidade da vida social. A solidariedade
no pode deixar de partir das prprias prticas existentes na teia da
solidariedade social. No pode deixar de abrir caminho para a criao
de um espao social intermedirio entre a autonomia pblica e a auto-
nomia privada, o Estado e a sociedade civil, o Estado e o mercado, o
poltico e o econmico, o ideal e o emprico, o universal e o particular.
Portanto, deve ser concebida como uma nova forma de solidariedade
que estabelece relaes de complementaridade. A reconstruo da so-
lidariedade s acontecer desde que se expresse nos planos poltico,
tico, social, econmico e jurdico.
O Estado no a nica forma de vida coletiva. No basta uni-
camente a interveno do Estado para a reconstruo da solidariedade,
porque esta no se realiza exclusivamente pela via do Estado. Ao lado
do Estado socialmente ativo, a reconstruo da solidariedade pressupe
a existncia de uma lgica de solidariedade realizada em todo o espao
da sociedade civil, capaz de assegurar aos grupos e aos indivduos as
condies para uma efetiva participao no processo social. A solida-
riedade, portanto, deve ser vista como uma prtica alimentada pela pr-
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
97 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
pria complexidade social, que exige uma concepo aberta, exvel e
pluralista, baseada cada vez mais na autonomizao da sociedade civil,
dos grupos sociais e tambm dos indivduos. Estes no podem jamais
ser vistos de maneira isolada, mas no quadro da trama de solidariedade
existente na sociedade.
9. Consideraes nais
No podemos viver num mundo de sonhos e iluses. No que-
remos a teoria sobre cidadania e dignidade da pessoa humana expos-
ta somente no mbito do contexto normativo. No queremos saber da
existncia de lei escrita por sonhadores. Almejamos o respeito concreto
cidadania, com a dignidade da pessoa humana existente no somente
no momento do exerccio da soberania popular. Queremos assegurar os
direitos sociais previstos no art. 6 da Carta Poltica, que, por sua vez,
esto atrelados ao art. 225. So normas que garantem como direitos so-
ciais a educao, a sade, o trabalho, o lazer, a segurana, a previdncia
social, a proteo maternidade e infncia, a assistncia aos desam-
parados. Garantem tambm o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, essencial sadia qualidade de vida, somando-se a isso o
direito vida, liberdade, intimidade, vida privada, honra etc.
Numa concepo utpica, a primeira coisa que nos vem
mente algo irrealizvel, inatingvel. De fato, se formos buscar o sig-
nicado da palavra utopia nos nossos dicionrios, iremos encontrar:
Projeto irrealizvel; quimera. Destarte, no neste sentido que uti-
lizamos a palavra utopia, neste trabalho. Nicola Abbagnano ensina
que Thomas Moore deu o nome utopia a uma espcie de romance
losco escrito em 1516 (De optimo reipublicae statu de que nova
insula Utopia). Na obra, o autor relata as condies de vida em uma
ilha desconhecida, que denominou Utopia. Nela teriam sido abolidas
a propriedade privada e a intolerncia religiosa. Foi por isso que tal
termo passou a designar no apenas qualquer tentativa anloga, como
tambm qualquer ideal poltico, social ou religioso, cuja realizao
seja difcil ou impossvel.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
98
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Manheim considerou a utopia, como algo destinado a reali-
zar-se, ao contrrio da ideologia que no passvel de realizao. Nesse
sentido, a utopiaseria o fundamento da renovao social. Acrescenta
o autor: Em geral, pode-se dizer que a utopia representa a correo ou
a integrao ideal de uma situao poltica, social ou religiosa existente.
Como muitas vezes aconteceu, essa correo pode car no estgio de
simples aspirao ou sonho genrico, resolvendo-se numa espcie de
evaso da realidade vivida. Mas tambm pode tornar-se fora de trans-
formao da realidade, assumindo corpo e consistncia sucientes para
transformar-se na autntica vontade inovadora e encontrar os meios da
inovao. Em geral, essa palavra considerada mais com referncia
primeira possibilidade que segunda.
Em sua obra citada neste trabalho, Joo Baptista Herkenhoff
esclarece que a palavra utopia deriva do grego, e signica que no
existe em nenhum lugar. Para ele, a utopia o contrrio do mito, ou
seja, utopia a representao daquilo que no existe ainda, mas que
poder existir se o homem lutar para sua concretizao. Acrescenta o
autor dizendo que a utopia a conscincia antecipada do amanh. O
mito ilude o homem e retarda a Histria. A utopia alimenta o projeto
de luta e faz a Histria. Herkenhoff v o pensamento utpico como o
grande motor das revolues.
O pensamento utpico teve um importante papel no direito,
uma vez que atravs dele que encontramos os instrumentos necess-
rios para construir o nosso direito. o pensamento utpico que ilumina
o caminho em prol do que justo, j que no ca restrito s imposies
legais, que nem sempre esto de acordo com o que se entende por justi-
a. O pensamento utpico funciona como uma espcie de libertao das
amarras que prendem o direito aos aspectos legais. Atravs da utopia,
busca-se no o que diz a letra da lei, mas o que justo. Lei e justia
no so palavras sinnimas, muito menos direito e lei. Essa distino
proveniente, justamente, do pensamento utpico, que desvinculou o
direito da lei, proclamando que, antes de tudo, direito justia. Atravs
do direito, conforme o pensamento utpico, busca-se uma sociedade
mais justa, fraterna, igualitria, onde os direitos das chamadas minorias
sejam respeitados.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
99 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Referncias bibliogrcas
BENEVIDES, Maria Vitria de Mesquita. A questo social no Brasil.
Disponvel em: <http://www.hottpos.com.>. Acesso em: 07.10.2006.
BBLIA SAGRADA. Gnesis 1:20-20; 2:15-17.
BRITO Filho, Jos Cludio Monteiro de. Trabalho com reduo con-
dio anloga de escravo e dignidade da pessoa humana. Disponvel
em: <http://www.pgt.mpt.gov.br.>. Acesso em: 08.10.2006.
COMPARATO, Fbio Konder. A armao dos direitos humanos. 3.
ed. So Paulo: Saraiva, 2003.
CORREIA Jr., Joo Luis. Humanismo e cidadania. Disponvel em:
<http://www.unicap.br.>. Acesso em: 10.11.2006.
DINIZ, Maria Helena Diniz. Cdigo Civil anotado. So Paulo: Saraiva,
2003.
FERRAZ Jr., Trcio Sampaio. Direito e cidadania na constituio. Dis-
ponvel em: <http://www.pge.sp.gov.br.>. Acesso em: 10.11.2006.
FERREIRA Filho, Manoel Gonalves. Curso de direito constitucional.
17. ed. So Paulo: Saraiva, 1990.
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Curso de direito constitucional
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1958. 2 t.
HERKENHOFF, Joo Batista. Curso de direitos humanos: a construo
universal da utopia. So Paulo: Atlas, 2001.
KANT, Immanuel. Os imortais do pensamento universal. So Paulo:
[s. n.], 2001.
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Coimbra: [s. n.],
1998. 4 t.
MORAES. Alexandre de. Constituio do Brasil interpretada. So
Paulo: Saraiva, 2004.
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
100
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CIDADANIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA Severino Coelho Viana
MORAES. Alexandre de. Direito constitucional. So Paulo: Atlas,
2001.
NUNES, Rizzatto. O princpio constitucional da dignidade humana.
So Paulo: Saraiva, 2002.
OLIVEIRA. Lenite Adma de. Reexes sobre dignidade, exclu-
so e analfabetismo. Disponvel em: <www.uepg.br.>. Acesso em:
10.11.2006.
PIOVESAN, Flvia. Temas de direitos humanos. So Paulo: Max,
2003.
QUEIROZ, Victor Santos. Comentrio sobre a dignidade da pes-
soa humana. Disponvel em: <http://jus2.uol.com.br.>. Acesso em:
10.10.2006.
REALE, Miguel. Os direitos da personalidade. Disponvel em: <http://
miguelreale.com.br.>. Acesso em: 10.10.2006.
ROCHA, Carmen Antunes. O constitucionalismo contemporneo e a
instrumentalizao para eccia dos direitos humanos. Disponvel em:
<http://www.cjf.gov.br.>. Acesso em: 10.10.2006.
ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-f no Cdigo Civil.
So Paulo: Saraiva, 2002.
SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 11. ed.
So Paulo: Malheiros, 1996.
101 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
A nalidade do direito penal a proteo dos bens essen-
ciais ao convvio social. Nas palavras de Luiz Regis Prado
1
, o pen-
samento jurdico moderno reconhece que o escopo imediato e pri-
mordial do direito penal radica na proteo dos bens jurdicos es-
senciais ao indivduo e comunidade. Por sua vez, Nilo Batista
2
aduz que a misso do direito penal a proteo de bens jurdicos,
atravs da cominao, aplicao e execuo da pena.
O direito penal tem por objetivo tutelar os bens mais va-
liosos para a comunidade do ponto de vista poltico, porquanto os
demais ramos do direito no possuem sano suciente para coibir
e punir a prtica de determinados atos. Fala-se de critrio polti-
co de seleo de bens a serem tutelados pelo direito penal, porque
a sociedade evolui, diariamente. Assim, bens, outrora tidos como
fundamentais, hoje no mais gozam de tal condio
3
. Com efeito, o
direito penal, na atualidade, tem se distanciado muito daquele ide-
alizado pelos iluministas. poca, o direito penal era direcionado
proteo dos cidados contra a tirania do Estado e caracterizado,
essencialmente, pela pena privativa de liberdade e pelas garantias
individuais (direito penal de primeira velocidade, de acordo com
classicao adotada por Silva Snchez)
4
.
1
PRADO, Luiz Regis. Bem jurdico-penal e constituio. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 47.
2
BATISTA, Nilo. Introduo crtica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 1996. p. 116.
3
Quanto ao tema, Srgio Salomo Schecaira arma: no por outra razo que, no momento em que vive-
mos, de grandes modicaes sociais, de evoluo e superaes, estejamos a enfrentar um duplo problema:
quais bens jurdicos devem ser protegidos; quais bens jurdicos no mais precisam de proteo. Em outras
palavras, estamos diante de uma via de duas mos: a que criminaliza condutas e a que as descriminaliza
(Responsabilidade penal da pessoa jurdica. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 134).
4
SILVA SNCHEZ, Jess-Mara. A expanso do direito penal: aspectos da poltica criminal nas socieda-
des ps-industriais. Revista dos Tribunais, So Paulo, v. , p. 148, 2002.
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO
PENAL DO INIMIGO
Mrcia Betnia Casado e Silva
Promotora de Justia no Estado da Paraba
102
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Os riscos do mundo ps-moderno tm gerado a expanso
do direito penal, com o surgimento de um grande nmero de novos
delitos. Contudo, as penas tendem a ser mais brandas e alternativas,
com a implementao de acordos no mbito do processo penal. Com
isso, as penas privativas de liberdade so substitudas por penas al-
ternativas, como restritivas de direito e de multa, tal como ocorre,
no Brasil, no mbito dos Juizados Especiais Criminais, criados pela
Lei Federal n 9.099/95. Trata-se do direito penal de segunda velo-
cidade, conforme a j mencionada classicao de Silva Snchez.
Argumenta o referido autor
5
que a teoria de segunda velocidade do
direito penal considera que aos delitos scio-econmicos so impu-
tadas penas privativas de liberdade. Para essas penas, devem ser res-
peitadas todas as garantias e princpios processuais, devendo estes
ser relativizados, quando aplicadas penas mais brandas.
A exibilizao das garantias individuais e das regras de
imputao, com a nalidade de reduzir o sentimento de insegurana
social, o nus pago para a existncia de um direito penal funcional.
Entretanto, um direito penal de urgncia e demasiadamente amplo
pode causar insegurana jurdica, no tendo eccia prtica. Ade-
mais, o avano acelerado da criminalidade e a nsia em cont-la
um terreno frtil para o surgimento de novas teorias funcionalistas,
tal como a do direito penal do inimigo.
2. Surgimento do direito penal do inimigo
Gnther Jakobs, tido como um dos mais brilhantes discpu-
los de Welzel, foi o criador do funcionalismo sistmico (radical). Se-
gundo essa teoria, a funo primordial do direito penal a proteo
da norma, cabendo a este, apenas indiretamente, a tutela dos bens
jurdicos fundamentais. Segundo Cornelius Prittwitz
6
, Jakobs falou
5
SILVA SNCHEZ, Jess-Mara. Op. cit., p. 142-143.
6
PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre o direito penal do risco e o direito penal do inimigo: ten-
dncias atuais em direito penal e poltica criminal. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, n.
47, p. 42. 2004.
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
103 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
em direito penal do inimigo pela primeira vez em 1985, numa pales-
tra em Frankfurt, no despertando muito interesse. Porm, em 1999,
na Conferncia do Milnio em Berlim, o conceito causou grande
motivao. A atitude da doutrina mudou, pois, em 1985, Jakobs usou
a terminologia de forma crtica e, em 1999, defendeu-a vigorosa-
mente. Com efeito, no seu mais recente livro
7
, abandonou a postura
descritiva do denominado direito penal do inimigo, passando a em-
punhar (tal como fez em 1999), inequivocamente, a tese armativa,
legitimadora e justicadora dessa linha de pensamento.
Jakobs defende a existncia de dois tipos de direito: um vol-
tado para o cidado e outro para o inimigo. O direito dirigido ao
cidado caracteriza-se pelo fato de que, ao violar a norma, a este
dada a oportunidade de restabelecer a sua vigncia, de modo coati-
vo, mas como cidado, pela pena. Nessa hiptese, o Estado no o v
como um inimigo, que precisa ser destrudo, mas como o autor de
um ato ilcito, que mantm seu status de pessoa e seu papel de cida-
do. Porm, para Jakobs, existem indivduos que, pelos seus com-
portamentos e tipos de crimes praticados (delitos sexuais, trco de
drogas, terrorismo, participao em organizaes criminosas etc.),
afastam-se, de forma duradoura e decidida do direito. E assim, no
proporcionam sociedade a garantia cognitiva mnima necessria
a um tratamento como pessoa. Devem, destarte, ser tratados como
inimigos, sendo para estes que se volta o direito penal do inimigo.
A tese defendida por Jakobs
8
estruturada sobre o conceito
de pessoa e de no-pessoa. Para ele, o inimigo uma no-pessoa,
pois um indivduo que no admite ser obrigado a entrar em um es-
tado de cidadania no pode participar dos benefcios do conceito de
pessoa. Segundo esclarece, indivduo e pessoa so distintos. O in-
divduo pertence ordem natural. o ser sensorial, tal como aparece
no mundo da experincia, um animal inteligente, conduzindo-se
pelas suas satisfaes e insatisfaes, conforme suas preferncias e
7
JAKOBS, Gnther; CANCIO MELI, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madri: Civitas, 2003.
8
JAKOBS, Gnther; CANCIO MELI, Manuel. Direito penal do inimigo: noes e crticas. Porto Alegre:
2005. p. 36.
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
104
interesses. No tem referncia a nenhuma congurao objetiva do
mundo externo em que participam os outros indivduos. J a pessoa
est envolvida com a sociedade (mundo objetivo), tornando-se su-
jeito de direitos e obrigaes frente aos outros membros do grupo do
qual faz parte, propiciando a manuteno da ordem da comunidade
qual pertence.
De acordo com a doutrina do direito penal do inimigo,
para um indivduo que comete um delito, previsto o devido pro-
cesso legal. Esse processo resultar numa pena como forma de
sano pelo ato ilcito cometido. Ao contrrio, para o inimigo, o
Estado deve atuar pela coao, aplicando uma medida de seguran-
a, independentemente da existncia do devido processo legal, da
comprovao de culpa ou dolo ou mesmo da prtica de ato ilcito.
Portanto, o inimigo punido pela periculosidade que oferece ao
meio social, no sendo necessria a comprovao de sua culpa-
bilidade. O inimigo considerado um perigo a combater, deven-
do o direito se antecipar ao cometimento do crime, observando-se
o conjunto de circunstncias que indicam a probabilidade da sua
prtica. Jakobs utiliza a periculosidade do agente para distinguir o
inimigo, contrapondo-o ao cidado. Apesar de seu ato, este ltimo
oferece garantia de que se conduzir como cidado, respeitando o
ordenamento jurdico, enquanto o inimigo no oferece esta garan-
tia, devendo ser combatido.
No direito penal do inimigo, a punibilidade alcana o m-
bito interno do agente e a preparao. J pena se dirige segurana
frente prtica de atos futuros, sendo exemplo tpico de um direito
penal do autor. O trnsito do indivduo da condio de cidado (pes-
soa) para a de inimigo (no-pessoa) se d pela sua participao em
organizaes criminosas bem estruturadas. Outros elementos so: a
importncia de cada delito cometido; a habitualidade e a prossio-
nalizao criminosa, de forma a car claramente demonstrada sua
periculosidade. Assim, nas palavras de Silva Snchez
9
, o direito do
inimigo poder-se-ia conjecturar seria, ento, sobretudo o direito
9
SILVA SNCHEZ, Jess-Mara. Op. cit., p. 150.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
105
das medidas de segurana aplicveis a imputveis perigosos.
O ataque de 11 de setembro de 2001, ocorrido nos Estados
Unidos, considerado por Jakobs como exemplo tpico de um ato
de inimigo. Ao defender a tese do direito penal do inimigo, o autor
sustenta que a separao entre direito penal do cidado e direito pe-
nal do inimigo objetiva proteger a legitimidade do Estado de Direi-
to, voltado para o cidado. Segundo esclarece, este tem o direito de
exigir do Estado as medidas adequadas, a m de fornecer segurana.
Por outro lado, deve o Estado tratar o inimigo como no-pessoa, sob
pena de pr em risco a segurana dos demais membros (cidados).
Em sua anlise, Jakobs confronta duas tendncias opostas no direito
penal, as quais, para ele, convivem num mesmo plano jurdico: o
direito penal do inimigo e o direito penal do cidado. Ao primeiro
cumpre garantir a vigncia da norma como expresso de uma deter-
minada sociedade (preveno geral positiva); ao segundo compete
eliminar perigos.
3. Direito penal do inimigo: terceira velocidade do direito penal
H uma necessidade social cada vez maior de efetividade
do direito penal frente s novas formas de criminalidade surgidas
hodiernamente, tal como referido anteriormente. Esse quadro vem
acarretando o surgimento de novas formas de pena mais brandas que
a pena de priso e uma conseqente exibilizao das garantias pro-
cessuais. Contudo, o direito penal do inimigo vai alm de uma sim-
ples exibilizao, prevendo uma completa excluso dos direitos e
garantias processuais (conquista de dcadas de lutas) dos indivduos
considerados inimigos, caracterizando, segundo Silva Snchez, uma
terceira velocidade do direito penal.
Na verdade, a chamada terceira velocidade do direito penal
utiliza-se da pena privativa de liberdade (tal como o faz a primeira
velocidade), mas permite a exibilizao das garantias materiais e
processuais (o que ocorre no mbito do direito penal de segunda
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
106
velocidade). No entendimento de Silva Snchez
10
, o direito penal do
inimigo deve ser reduzido a um mbito de pequena expresso e apli-
cado em casos de absoluta necessidade, subsidiariedade e eccia.
Todavia, ele o considera inevitvel, quando da prtica de determi-
nados delitos (terrorismo, delinqncia sexual violenta e reiterada e
criminalidade organizada). Embora do ponto de vista cronolgico,
o direito penal do inimigo possa parecer uma evoluo, observa-se
que ele possui caractersticas semelhantes s do direito aplicado no
perodo inquisitrio, anterior s conquistas iluministas.
4. Crticas tese defendida por Jakobs
A concepo do direito penal do inimigo, defendida por
Jakobs, apesar de bem amparada losocamente
11
, vem recebendo
fortes crticas por parte da doutrina ptria e estrangeira, entre as
quais merecem destaque as seguintes:
a) O que Jakobs denomina de direito penal do inimigo no
passa de um exemplo tpico de direito penal do autor, que pune o
sujeito pelo que ele . Dessa forma, faz oposio ao direito penal do
fato, que pune o agente pelo que ele fez. Com efeito, no estgio atu-
al de desenvolvimento da humanidade e do direito, no pode haver
lugar para responsabilidade independentemente de culpa, tal como
ocorria na fase anterior s conquistas iluministas
12
, bem como no
10
SILVA SNCHEZ, Jess-Mara. Op. cit., p. 148-149.
11
O pressuposto necessrio para a admisso de um direito penal do inimigo consiste na possibilidade de se
tratar o indivduo como tal e no como pessoa. Nesse sentido, Jakobs inspira-se em autores que elaboraram
uma fundamentao contratualista do Estado, especialmente Hobbes e Kant.
12
A esse respeito, preleciona Gevan Almeida: No direito penal moderno e condizente com um Estado De-
mocrtico de Dirieto (art. 1 da CF), no h lugar para responsabilidade objetiva, o versari in re illicita, do
direito cacnico medieval. Nulla poena sine culpa. O Cdigo Penal brasileiro adotou este salutar princpio,
ao prescrever que o crime pode ser doloso ou culposo e que, pelo resultado que agrava especialmente a
pena, s responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente (arts. 18 e 19). Este princpio,
por conseguinte, proscreve qualquer espcie de responsabilidade objetiva, como, por exemplo, a causao
do resultado por caso fortuito ou fora maior, porquanto a relao de causalidade (art. 13) tem que ser
analisada, levando-se em conta se houve dolo ou culpa. (Modernos movimentos de poltica criminal e seus
reexos na legislao brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 31-33.).
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
107
perodo nazista.
b) A denominao direito penal do cidado um pleo-
nasmo, enquanto direito penal do inimigo uma contradio. O
direito penal verdadeiro s pode existir se vinculado com a Cons-
tituio Democrtica de cada Estado. Dessa forma, o direito penal
do inimigo no pode ser considerado direito, embora esteja presente
em muitas legislaes penais. Ao tratar do conceito de direito penal
do inimigo usado por Jakobs, Cancio Meli
13
destaca que o mesmo
constitui apenas a reao do ordenamento jurdico contra indivduos
perigosos, sendo tal reao desproporcional com a realidade. Argu-
menta que, na prtica, as reaes de combate dirigem-se mais para
inimigos em sentido pseudo-religioso do que na acepo tradicio-
nal-militar do termo.
c) No direito penal do inimigo, no se reprovaria a cul-
pabilidade do agente, mas sua periculosidade. Com isso, pena e
medida de segurana deixam de ser realidades distintas, confli-
tando frontalmente com a legislao posta que destina a medida
de segurana para agentes inimputveis ou semi-imputveis, que
necessitam de tratamento especial. Considerando-se apenas a pe-
riculosidade do agente para a aplicao da penalidade, tem-se
que no direito penal do inimigo abandona-se o princpio da pro-
porcionalidade
14
.
d) Trata-se de um direito penal prospectivo, em substituio
ao retrospectivo direito penal da culpabilidade. Historicamente, esse
sistema encontra ressonncia no positivismo criminolgico de Lom-
broso, Ferri e Garfalo, que propugnavam, inclusive, pelo m das
13
JAKOBS, Gnther; CANCIO MELI, Manuel. Op. cit., p. 54.
14
Apesar de no existir nenhuma relao naturalstica entre pena e delito, no podemos negar que a pri-
meira deva ser adequada ao segundo em alguma medida. O controle do quantum da pena est diretamente
ligado ao controle sobre o contedo de desvalor do delito, mais precisamente sobre os seus contedos
substanciais. indubitvel que qualquer juzo sobre a medida da pena, sobretudo se conduzido maneira
do critrio da proporo, pressupe necessariamente o acertamento do intrnseco desvalor do delito, se no
absolutamente a reconstruo conceitual da ratio legis e dos objetivos da disciplina. o desvalor do delito
que constitui, na verdade, o parmetro de valorao da proporcionalidade da pena, assim como so os ob-
jetivos assumidos pelo legislador os pertinentes para valorar-se a adequao. (COPETTI, Andr. Direito
penal e Estado Democrtico de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 133).
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
108
penas e imposio massiva das medidas de segurana.
e) No procedimento contra o inimigo, no se segue o devido
processo legal, mas sim um verdadeiro procedimento de guerra, que
no se coaduna com o Estado Democrtico de Direito, sobretudo,
em razo da supresso das garantias penais e processuais.
f) A expresso direito penal do inimigo tem signicado
simblico, pois no h somente um fato determinado que pertence
tipicao penal. Existem tambm outros elementos que permitem
a classicao do autor como inimigo. Ademais, percebe-se que tal
doutrina e a legislao nela baseada procuram apenas aplacar a ira
da populao contra governos que no lhe oferecem a segurana
esperada.
g) claramente inconstitucional, porquanto s so acei-
tveis medidas excepcionais em tempos anormais (tal como pode
ocorrer no Brasil, durante o estado de defesa e de stio). Alm dis-
so, a Constituio no permite que algum seja tratado pelo direi-
to como mero instrumento de coao, despido de sua condio de
pessoa (sujeito de direitos). Por outro lado, no h comprovao de
que as leis que incorporam suas caractersticas tenham diminudo a
criminalidade.
h) Os crimes a serem punidos, na forma proposta pelo direi-
to penal do inimigo, apesar de afetarem bens jurdicos relevantes e
causarem clamor pblico, no ameaam o Estado vigente, nem suas
instituies essenciais.
i) Critica-se, ainda, a armao de Jakobs de que o inimigo
uma no-pessoa. Ora, se o conceito de direito penal do inimigo
parte do pressuposto de que existem no-pessoas, resta saber se tal
conceito prvio a esta novel doutrina ou se criao da mesma.
Assim, os inimigos estariam identicados antes da incidncia do di-
reito penal do inimigo ou, do contrrio, somente seriam classicados
como tais aps sua incidncia. Com efeito, num Estado de Direito,
garantidor da dignidade do ser humano, no se pode admitir a perda
do status de pessoa. Destarte, no podendo existir no-pessoas, tam-
bm, no poder existir direito penal do inimigo.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
109
j) Tratar o criminoso comum como um criminoso de guerra
tudo de que ele necessita para questionar a legitimidade do sistema
(caracterizado pela desproporcionalidade, exibilizao de garan-
tias, processo antidemocrtico, com desrespeito ao devido processo
legal etc.).
Por outro lado, ao armar-se o sistema jurdico-penal nor-
mal, nega-se ao infrator a capacidade de questionar o sistema e seus
elementos essenciais. Caso se entenda possvel e legtimo um direito
penal do inimigo, ter-se- que reconhecer, tambm, a capacidade
do infrator de questionar a norma. Anal, este direito excepcional
necessita de uma demonizao de certos grupos de autores, baseada
em critrios de periculosidade. Congura-se, ento, um direito penal
do autor, desprovido das garantias e prerrogativas processuais pre-
vistas nas legislaes dos Estados de Direito. Na verdade, a melhor
forma de reagir contra o inimigo demonstrar que, independen-
temente da gravidade do ato praticado, jamais se abandonaro os
princpios e regras materiais e processuais, conrmando a vigncia
do ordenamento jurdico.
Sobre o tema, vale ressaltar a lio de Prittwitz
15
, que reco-
nhece o sucesso do Estado de Direito nos ltimos dois sculos, ainda
que havendo retrocessos, tais como os ocorridos com o nazismo e as
variadas velocidades desse processo em diversas partes do mundo. Este
sucesso, segundo o autor, deve ser observado na busca por uma resposta
aos riscos da sociedade atual, no devendo dar espao para outro que
no seja o direito compatvel com um Estado Democrtico de Direito.
5. Consideraes nais
Com base nas idias defendidas por Jakobs, percebe-se cla-
ramente que o direito penal continua sendo fruto de uma concepo
social; uma histria temporalmente circunscrita. A complexidade
com que o homem passou a encarar os fenmenos sociais fez com
15
PRITTWITZ, Cornelius. Op. cit., p. 45.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
110
que adotasse uma forte tendncia em buscar solues imediatistas.
Busca-se, com isso, solucionar os problemas existentes, ainda que
em nvel simblico, sem nenhuma preocupao com a origem das
mazelas sociais encontradas em todo o mundo, geradoras dos altos
ndices de criminalidade e da violncia atual.
A existncia de uma diferena ontolgica entre as pessoas
foi o argumento que legitimou a doutrina nazista em um passado
recente, no nos sendo permitido incorrer no mesmo erro. O direito
penal de urgncia perde o cerne de seus fundamentos, deixando de
ser um instrumento de proteo do cidado para transformar-se em
meio de conteno social e gesto de riscos. Sem dvida, a soluo
dos problemas sociais deve ser uma preocupao mundial, inclusive,
dos pases desenvolvidos, j que neles repercutem. Porm, o direito
penal no se mostra o melhor caminho para tanto. A proliferao dos
tipos penais e o enrijecimento exacerbado das penas so resultado de
um direito penal simblico.
Com o aumento dos atentados terroristas nos ltimos anos,
incentivados pelo ataque s torres gmeas, em 11 de setembro de
2001, e diante do clamor da mdia, os governos das naes desen-
volvidas passaram a procurar por solues capazes de acabar com a
violncia e os riscos dela decorrentes para tais naes. Nesse con-
texto, o direito penal do inimigo passou a ser difundido como uma
alternativa para a soluo dos problemas existentes. Passou tambm
a ser usado para justicar atitudes ilcitas dos governos contra os su-
postos inimigos. Entretanto, ao retirar destes o direito a um processo
penal justo, o Estado permite ao criminoso questionar a ordem jur-
dica. Apesar das fortes bases loscas, o direito penal do inimigo
um retrocesso no desenvolvimento do direito penal. Este deveria,
cada vez mais, ser a ultima ratio a ser utilizado nos casos de extrema
necessidade.
As conquistas democrticas foram objeto de sculos de lu-
tas, no podendo ser desprezadas pela nsia do Estado em buscar
solues imediatas aos problemas sociais atravs do direito penal.
Alis, esses problemas sempre existiram. Sua soluo nunca foi ob-
jeto de preocupao das naes ditas desenvolvidas at passarem a
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
111
pr em risco a sua segurana. Deve-se repensar o problema e procu-
rar solues em outros campos da cincia, reservando-se o direito,
especialmente o direito penal, para a proteo dos direitos funda-
mentais que requeiram sua incidncia.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
6. Referncias bibliogrcas
ALMEIDA, Gevan. Modernos movimentos de poltica criminal e seus
reexos na legislao brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
BATISTA, Nilo. Introduo crtica ao direito penal brasileiro. Rio de
Janeiro: Revan, 1996.
BONHO, Luciana Tramontin. Noes introdutrias sobre o direito pe-
nal do inimigo. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1048, 15 maio 2006.
Disponvel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8439>.
Acesso em: 18 set. 2006.
COPETTI, Andr. Direito penal e Estado Democrtico de Direito. Por-
to Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
GERBER, Daniel. Direito penal do inimigo: Jackobs, nazismo e a velha
estria de sempre. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 820, 1 out. 2005.
Disponvel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7340>.
Acesso em: 18 set. 2006.
GOMES, Luiz Flvio. Direito penal do inimigo (ou inimigos do direito
penal). Revista Jurdica. Disponvel em: <http://www.revistajuridicau-
nicoc.com.br/midia/arquivos/ArquivoID_47.pdf>. Acesso em: 22 set.
2006.
GRECO, Rogrio. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro:
Impetus, 2004.
JAKOBS, Gnther; CANCIO MELI, Manuel. Derecho penal del ene-
migo. Madri: Civitas, 2003.
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
112
JAKOBS, Gnther; CANCIO MELI, Manuel. Direito penal do ini-
migo: noes e crticas. Org. e trad. Andr Luis Callegari e Nereu Jos
Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
PRADO, Luiz Regis. Bem jurdico-penal e Constituio. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999.
PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre o direito penal do risco e
o direito penal do inimigo: tendncias atuais em direito penal e poltica
criminal. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, n. 47,
mar/abr. 2004.
SHECAIRA, Srgio Salomo. Responsabilidade penal da pessoa jur-
dica. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
SILVA SNCHEZ, Jess-Mara. A expanso do direito penal: aspectos
da poltica criminal nas sociedades ps-industriais. Trad. Luiz Otvio
de Oliveira Rocha. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CRTICAS DOUTRINA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO Mrcia Betnia Casado e Silva
113 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
A justia criminal, nos ltimos tempos, vem passando por
uma crise de credibilidade. Vrios tm sido os motivos que levaram a
esse descrdito. A violncia vem se agravando, a criminalidade vem se
acirrando, sobretudo com o surgimento de crimes mais especializados,
praticados pela internet, atravs de cartes de crdito, entre outros. Ro-
grio Lauria Tucci
1
aponta os seguintes fatores para esse quadro: a) ma-
nifesta desigualdade na distribuio da riqueza; b) violncia policial; c)
impunidade das elites econmica e poltica num Estado inescondivel-
mente falencial; d) equivocada elaborao legislativa, seqencialmente
Reforma Penal de 1984 e edio da Constituio Federal de 1988;
g) gritantes e graves falhas da justia criminal; f) sistema penitencirio
desumano.
Os poderes constitudos vm, a cada dia, buscando formas de
minimizar a criminalidade, aumentando, cada vez mais, a quantidade
de tipos penais, bem como tornando mais severas as reprimendas legais
e suas execues. Na verdade, a criao de novos tipos penais e o agra-
vamento das penas no vm solucionando a problemtica da violncia
decorrente da prtica de crimes. Quando houver menor desigualdade
social e mais investimentos em educao, certamente a criminalidade
diminuir.
H uma tendncia mundial no sentido de se buscarem mecanis-
mos para ampliar esse espao de consenso. A justia penal europia
est tendente a adotar solues que propiciem uma justia mais clere
e mais efetiva, inspirando-se, para tanto, no instituto norte-americano
do plea bargaining. Na Itlia, j existe o patteggiamento; na Espanha,
1
Apud NOGUEIRA, Mrcio Franklin. Transao penal. So Paulo: Malheiros, 2003. p. 38.
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL
Gardnia Cirne de Almeida Galdino
Promotora de Justia no Estado da Paraba
114
a conformidade; em Portugal, a suspenso do processo. No Brasil,
buscando-se desburocratizar a justia criminal e dar maior celeridade nos
julgamentos dos crimes de menor gravidade, surgiu a Lei n 9.099/95, que
buscou dirimir a criminalidade decorrente dos crimes de menor potencial
ofensivo. Trata-se daqueles crimes cuja pena mxima no ultrapasse dois
anos. Sobre a matria, arma Maurcio Antnio Ribeiro Lopes
2
:
Para alm de alvissareiramente anunciar o moderno e so-
cialmente til, os Juizados Especiais sinalizam o ocaso
do antiquado modelo napolenico e formalista de distri-
buir Justia, que um sistema de resposta nica (pena
de priso, que o Estado persegue a todo custo) conduta
desviada.
A referida legislao trouxe uma enorme mudana na justia
criminal. Na verdade, uma verdadeira revoluo. A justia penal clssica
passou a se preocupar com os crimes verdadeiramente graves, enquanto
que os crimes mais leves passaram a ser dirimidos por uma justia onde
o consenso predomina. Com o advento do Juizado Especial Criminal,
surgiram dois institutos jurdicos que tm desempenhado, desde o nas-
cimento, relevante papel no combate aos crimes de menor potencial
ofensivo: a transao penal e a suspenso condicional do processo.
bem verdade que a Lei n 9.099/95 criou instrumentos im-
portantes de despenalizao, alm de instituir um modelo de justia cri-
minal diferenciado. O novo modelo se baseia, sobretudo, no consenso,
o que acarretou um enorme avano em termos de justia penal. Todavia,
no podemos deixar de nos reportar omisso legislativa no que se
refere ao descumprimento da transao penal e sua conseqncia nega-
tiva no mundo do direito. Essa lacuna vem gerando grandes problemas,
sobretudo quando o autor de uma infrao penal de menor potencial
ofensivo descumpre pena restritiva de direito imposta no momento da
transao penal. Esse fato acarreta, muitas vezes, a converso da pena
restritiva de direito em privativa de liberdade ou, ainda, o oferecimento
2
Apud NOGUEIRA, Mrcio Franklin. Op. cit., p. 25.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
115
de denncia pelo representante do Ministrio Pblico.
Este trabalho faz uma anlise acerca da natureza jurdica da
sentena de transao penal, haja vista que o tema est intimamente
ligado conseqncia jurdica do descumprimento do referido instituto.
Existem poucos doutrinadores que discorrem sobre o tema. Entretanto,
alguns deles defendem uma tese que contraria, por completo, os prin-
cpios seculares do devido processo legal e do contraditrio. Tomando
por base esse contexto, o objetivo do presente trabalho demonstrar
como, na prtica, a nica conseqncia vivel ao descumprimento da
transao penal a retomada do processo, com o oferecimento da de-
nncia pelo promotor de justia.
Mostraremos a fragilidade da corrente que se posiciona pela
converso da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Sero,
ainda, realizadas anlises acerca das correntes que estudam a matria,
mostrando que a problemtica que circunda o tema decorrente da omis-
so legislativa. Por m, buscaremos apresentar sugestes ao Congresso
Nacional, a m de que se legisle acerca da matria, para, de forma deni-
tiva, haver o preenchimento da lacuna que gerou o problema.
2. Atual crise da justia criminal
H bastante tempo, existe uma preocupao em tornar efetivo
o direito penal, buscando-se um processo de melhor qualidade. E isso
se deu em virtude da grande crise vivenciada por este ramo do direito.
Havia, antes do advento da Lei n 9.099/95, uma grande burocratizao
na justia criminal, sobretudo no julgamento dos chamados crimes de
menor potencial ofensivo. A crise vivenciada pela justia criminal era
ocasionada por inmeros motivos, dentre eles, a enorme preocupao
do direito penal com a quantidade da reprimenda imposta ao infrator.
E assim, muitas vezes, esquecia a funo ressocializadora da pena e a
importncia da vtima.
Antes de analisarmos os motivos ensejadores da referida cri-
se, mister se faz conceituarmos o sistema penal, fazendo-se um breve
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
116
comentrio acerca da sua constituio, das suas preocupaes e de sua
funo na sociedade. Para tanto, adotaremos a conceituao de Zaffaro-
ni
3
, j que engloba todos esses aspectos. Segundo ele, o sistema penal
pode ser conceituado como sendo o controle social punitivo institucio-
nalizado, que na prtica abarca desde o momento em que se detecta
ou supe detectar-se uma suspeita de delito at o momento em que se
impe e executa uma pena. Pressupe uma atividade normativa que cria
a lei institucionalizadora do procedimento, regula a atuao de funcio-
nrios e dene os casos e condies para esta atuao.
O descrdito no sistema penal decorre da morosidade proces-
sual, das falhas na organizao judiciria, da precariedade das condi-
es de trabalho, da criao desnecessria de inmeros tipos penais, do
surgimento de novos tipos de criminalidade e do surgimento dos cha-
mados macrodelitos, dentre outros motivos. Como no poderia deixar
de ser, esse descrdito vem gerando uma grande preocupao por parte
dos poderes constitudos. O segmento jurdico preocupa-se, a cada dia,
com a real efetividade do direito penal. Diante dessa insatisfao da
sociedade, a cada dia que se passa, o legislador, movido pela presso
dos mais diversos segmentos sociais, traz ao mundo jurdico novos ti-
pos penais, buscando adaptar a moderna legislao atual necessidade
societria. Todavia, o surgimento de novos tipos penais no vem cor-
respondendo ao atual anseio da sociedade, que cobra menos violncia,
mais segurana e mais rapidez na prestao jurisdicional.
A partir dessa impotncia demonstrada pelos poderes consti-
tudos, viu-se a necessidade de se colocar em prtica um modelo dife-
renciado de justia criminal, baseado, fundamentalmente, na celerida-
de processual. A partir de ento, os poderes constitudos, buscando dar
uma resposta rpida e ecaz, vm realizando a adaptao do processo
penal tradicional. Essa adaptao baseia-se, sobretudo, no princpio da
obrigatoriedade, de uma justia penal consensual, fundamentada no
princpio da oportunidade. Dessa forma, para minimizar a crise viven-
ciada pela justia criminal, surgiu, ao lado da conhecida justia criminal
3
ZAFFARONI, Eugnio Ral ; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte
geral. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 27.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
117
de conito, reservada aos crimes mais graves, a justia criminal de
consenso, clere e informal, peculiar aos crimes menos graves.
Com efeito, o consenso no julgamento dos crimes mais le-
ves proporciona o desafogamento da justia comum, viabilizando uma
grande economia processual. Alm do mais, na medida em que h a
aplicao imediata de uma reprimenda, mesmo que seja mais branda
do que a aplicada em decorrncia de um julgamento na justia de con-
ito, h uma resposta imediata sociedade. Essa medida proporciona
uma maior eccia e credibilidade da justia criminal, devendo-se levar
em considerao, ainda, a reduo de gastos que a justia de consenso
proporciona ao errio.
A justia criminal consensual surgiu, dentre outros motivos,
em virtude da crise vivenciada pela justia criminal clssica. Esta, nos
ltimos tempos, no estava aplicando um direito penal efetivo aos cri-
mes menos graves, gerando insatisfao, insegurana e descredibilida-
de. Assim, surgiu a justia de consenso, fundamentada nos princpios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e cele-
ridade. A Lei n 9.099/95, que a criou, provocou uma grande mudana
na justia criminal brasileira.
3. O modelo consensual de justia criminal: Lei n 9.099/95
Vivia-se, antes do advento da Lei dos Juizados Criminais, um
perodo caracterizado pelas leis severas. Estas se caracterizavam pelo
aumento de penas, impossibilidade de progresso de regime para al-
guns crimes, cortes de direitos e garantias fundamentais, endurecimen-
to nas execues penais, etc. Nesse contexto, os poderes constitudos
estavam preocupados com o grau de severidade aplicado nas penas,
esquecendo-se do papel da vtima e da real efetividade do direito penal.
E isso estava acarretando uma enorme burocratizao no julgamento
dos crimes menos graves.
Foi com o surgimento da Lei n 9.099/95 que a justia criminal
comeou a se desafogar e se preocupar, sobretudo, com a aplicao de
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
118
leis severas aos crimes que, de fato, apresentavam riscos sociedade. Alm
disso, trouxe avanos signicativos para toda a sociedade, privilegiando a
conciliao nos crimes mais leves e dando importncia ao papel da vtima
no processo, que at ento estava esquecido. Sobre esse novo modelo de
justia criminal, armam Ada Pellegrini Grinover, Antnio Magalhes
Gomes Filho, Antnio Scarance Fernandes e Luiz Flvio Gomes
4
:
O poder poltico (Legislativo e Executivo), dando uma
reviravolta na sua clssica poltica criminal fundada na
crenadissuatria da pena severa (dterrance), cora-
josa e auspiciosamente, est disposto a testar uma nova
via reativa ao delito de pequena e mdia gravidade, pon-
do em prtica um dos mais avanados programas de
despenalizaodo mundo (que no se confunde com
descriminalizao).
A lei acima mencionada trouxe algumas inovaes que esto
exercendo papel de extrema importncia dentro da justia penal de con-
senso, tais como a transao penal e a suspenso condicional do pro-
cesso. Ademais, inovou o ordenamento jurdico-penal. Com base na
Constituio Federal de 1988, especicamente, em seu art. 98, I, colo-
cou-se em prtica, por meio da referida lei, um novo modelo de justia.
Fez-se uma verdadeira revoluo no mundo do direito penal, abrindo-se
caminho para o chamado espao de consenso. Esse novo modelo de
justia causou um impacto positivo nos operadores do direito e em toda
a sociedade brasileira. Valorizou-se o papel da vtima, propiciando, so-
bretudo, a conciliao no direito penal, gerando maior credibilidade e
respeitabilidade nos poderes constitudos e no prprio direito penal.
A Lei n 9.099/95 surgiu para propiciar o espao de consenso
na justia criminal brasileira, criando institutos fomentadores de medi-
das no privativas de liberdade aos infratores dos chamados crimes de
menor potencial ofensivo. Para uma melhor compreenso da matria,
4
GRINOVER Ada Pelegrini; GOMES FILHO, Antnio Magalhes; FERNANDES, Antnio Scarance;
GOMES, Luiz Flvio. Juizados especiais criminais: comentrios Lei n 9.099/95. 5. ed. So Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2005. p. 48.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
119
necessrio se faz abordarmos os critrios de competncia utilizados
pelo legislador. Ao estabelecer a competncia em razo da matria, o
legislador ordinrio levou em considerao, basicamente, a intensida-
de da sano abstratamente cominada. Nossa abordagem inicia-se com
o conceito originrio de crimes de menor potencial ofensivo, adotado
pela Lei n 9.099/95, passando pelas modicaes trazidas pela Lei n
10.259/01 e pela recente Lei n 11.313/06.
O art. 61 da Lei n 9.099/95, originalmente, dispunha da se-
guinte forma: Consideram-se infraes penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenes penais e os crimes
a que a lei comine pena mxima no superior a um ano, excetuados
os casos em que a lei preveja procedimento especial. Como veremos
mais adiante, tal conceito foi alterado pela Lei n 10.259/01, de modo
que a pena mxima, considerada para efeitos de conceituao do crime
de menor potencial ofensivo, atualmente de dois anos
Da vericao e interpretao do referido dispositivo, resta
saber se o legislador, no momento em que excluiu da competncia do
juizado criminal os casos em que a lei previsse procedimento especial,
quis restringir somente os crimes de procedimento especial ou, tam-
bm, as contravenes de procedimento especial. Resta saber, ainda,
se as contravenes cuja pena mxima ultrapassa o limite de um ano
estariam, ou no, excludas da competncia do juizado criminal. Esse
questionamento causou, at o surgimento das Leis n 10.259/01 e n
11.313/06, grande polmica no mundo jurdico, tanto na doutrina quan-
to na jurisprudncia.
Na verdade, se a interpretao de tal dispositivo fosse feita
apenas pelos critrios literais e sintticos, chegaramos concluso de
que o legislador, de fato, havia excludo da competncia do juizado
criminal os crimes e as contravenes que excedessem o limite de um
ano, bem como os crimes e contravenes que tivessem procedimentos
especiais. Nesse caso, por exemplo, estariam de fora as contravenes
previstas nos arts. 24, 50, 1, e 51 da LCP, cujas penas mximas ul-
trapassam o previsto no dispositivo citado. Ademais, as contravenes
penais previstas em legislaes especiais, como as do jogo do bicho
e corridas de cavalo fora do hipdromo, as de loterias, as orestais, as
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
120
referentes caa e s relativas a restries a brasileiros naturalizados,
tambm estariam fora do conceito atribudo pelo legislador ordinrio,
no podendo ser apreciadas e julgadas pelo juizado criminal.
Entretanto, no se pode utilizar, to-somente, as interpretaes
acima referidas. Ora, no momento da interpretao de uma norma, de-
vem ser levadas em considerao, sobretudo, a nalidade e a efetivida-
de da lei. Assim sendo, a interpretao mais coerente com o esprito da
lei a de que as restries, tanto do limite da pena quanto do procedi-
mento especial, abarcam apenas os crimes, restando de fora as contra-
venes penais. Dessa forma, procurando seguir o verdadeiro intuito do
legislador, conclui-se que todas as contravenes penais so, de fato, da
competncia do Juizado Especial.
Nesse sentido, concluiu a comisso nacional da Escola Nacio-
nal da Magistratura, presidida pelo Ministro Slvio de Figueiredo Tei-
xeira: As contravenes penais so sempre de competncia do Juizado
Especial Criminal, mesmo que a infrao seja submetida a procedimen-
to especial. Entendamos, desde a redao original da lei, que a prpria
natureza das contravenes penais as colocava como ilcitos penais de
menor gravidade. E isso vericado no momento em que o legislador
penal impunha, incluindo aquelas previstas em leis especiais, penas de
priso simples e multa. Assim, no teria sentido que, no conceito de cri-
me de menor potencial ofensivo, tivesse havido a excluso das contra-
venes previstas em procedimento especial. Se tal ocorresse, poderia
acarretar diferena de tratamento a tipos penais de igual gravidade.
A jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia, h bastante
tempo, vinha se posicionando acerca da competncia do Juizado Es-
pecial Criminal para a apreciao de todas as contravenes penais,
incluindo as previstas em procedimento peculiar. Esse posicionamento
consta do Informativo n 12, de 22 a 26 de maro de 1999. Alm da
divergncia acerca da competncia do Juizado Especial Criminal para
o julgamento das contravenes previstas em procedimento especial,
outro aspecto que gerou bastante discusso no mundo jurdico foi a
competncia desse Juizado para julgar os crimes contra a honra.
Na redao original do art. 61 da Lei n 9.099/95, o legislador
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
121
excluiu os crimes com procedimento especial, excetuando-se, primeira
vista, os crimes falimentares, de responsabilidade dos funcionrios pbli-
cos, os crimes contra a propriedade imaterial, os crimes de abuso de au-
toridade, os crimes de imprensa, os crimes previstos na Lei de Txicos e
os crimes contra a honra. Entretanto, a maioria dos operadores do direito
entendeu que os ditames da citada lei seriam aplicados nos crimes contra
a honra. A esse respeito, transcreve-se deciso do Tribunal de Alada Cri-
minal de So Paulo, em acrdo relatado pelo Juiz Jos Renato Nalini
5
:
O processo dos delitos contra a honra tambm est sob a in-
cidncia da Lei n 9.099/1995, de forma que, depois de rea-
lizada a audincia prevista no art. 520 do Cdigo de Proces-
so Penal e antes do eventual recebimento da queixa-crime,
o juzo haver de propiciar a oportunidade de aplicao dos
preceitos daquele diploma, notadamente no que concerne
aos arts. 76 e 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais.
Deciso semelhante foi adotada pelo STJ:
Juizados Especiais Criminais. Competncia. Crime de
difamao. Ao penal de iniciativa privada. Proposta de
transao. Ministrio Pblico. Possibilidade.1. A teor do
disposto nos artigos 519 usque 523 do Cdigo de Proces-
so Penal, o crime de difamao, do art. 139 do Cdigo
Penal, para o qual no est previsto procedimento espe-
cial, submete-se competncia dos Juizados Especiais
Criminais. 2. Na ao penal de iniciativa privada, desde
que no haja oposio do querelante, o Ministrio P-
blico poder, validamente, formular proposta penal que,
uma vez aceita pelo querelado e homologada pelo Juiz,
denitiva e irretratvel.3. Recurso improvido.
6
Aps o advento da Lei n 10.259/01, as divergncias acima
apontadas passaram a no mais existir, pois foi adotado um novo con-
5
TACrim. SP. SER n.1.194.807-3, DP.03.04.2000. Rel. Juiz Jos Renato Nalini.
6
STJ. RHC n. 8.123/AP, 6. T., Rel. Min. Fernando Gonalves, DJU 16.06.1999.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
122
ceito de crime de menor potencial ofensivo, resolvendo, aparentemen-
te, todos os problemas. Entretanto, uma nova polmica surgiu, girando
em torno de outro aspecto. Como sabemos, a Lei n 10.259/01 surgiu
com a nalidade de instituir os Juizados Especiais no mbito da Justia
Federal, trazendo um novo conceito de crime de menor potencial ofen-
sivo. Nesse sentido, o art. 2, pargrafo nico, dispe: Consideram-se
infraes de menor potencial, para os efeitos desta Lei, os crimes a que
a lei comine pena mxima no superior a dois anos, ou multa. Verica-
se, portanto, que o limite da pena, caracterizador do crime de pequeno
potencial ofensivo, foi alterado, de modo a abarcar as condutas que
tivessem pena mxima de at dois anos
No entanto, a Lei n 10.259/01 resolveu apenas parte dos pro-
blemas apresentados pela lei que instituiu os Juizados Especiais Cri-
minais, fazendo com que a doutrina passasse a discutir outras ques-
tes. Assim, j que o referido dispositivo legal veio alterar o conceito
de crime de pequeno potencial ofensivo no mbito da Justia Federal,
passou-se a questionar acerca da incidncia da referida lei, tambm,
no mbito da Justia Estadual. A indagao, agora, girava em torno da
existncia de um sistema jurdico bipartido, com dois conceitos autno-
mos e independentes. Portanto, existiriam dois conceitos de crimes de
pequeno potencial ofensivo, o que seria inadmissvel. Apesar da inicial
divergncia entre os operadores do direito, a corrente majoritria no
concordava com a bipartio do conceito de crimes de menor poten-
cial ofensivo. E assim entendia que o novo conceito trazido pela Lei n
10.259/01 tambm se aplicava nos juizados estaduais. Nesse sentido,
esclarece Luiz Flvio Gomes
7
:
A posio amplamente majoritria (Silva Franco, Biten-
court, Damsio, Tourinho Filho, Copes, Suannes etc.)
no concorda com a bipartio do conceito e vem en-
tendendo que o novo conceito da Lei n 10.259/01 se
estende aos juizados estaduais. Cuida-se de conceito (e
sistema) nico, portanto. a nossa posio, em razo
7
GOMES, Luiz Flvio. Tendncias poltico-criminais quanto criminalidade de bagatela. So Paulo:
IBCCrim, 2002.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
123
(sobretudo) do princpio constitucional da igualdade (ou
do tratamento isonmico) (CF, art. 5.), do princpio da
proporcionalidade ou razoabilidade e tambm porque se
trata de lei nova com contedo penal favorvel (CP, art.
2, pargrafo nico).
Se a fonte normativa dos juizados a mesma (legislao
federal: Lei n 9.099/95 e Lei n 10.259/01), no se pode
concordar com o argumento de que o legislador quis ins-
tituir dois sistemas (distintos) de juizados: um federal
diferente do estadual. Se o legislador pretendesse isso,
no teria mandado aplicar (por fora da Lei n 10.259/01)
praticamente in totum a Lei n 9.099/95 aos juizados fe-
derais. Teria criado um sistema jurdico ex novo.
Ademais, de modo algum se extrai da Constituio Bra-
sileira que ela tenha pretendido instituir dois conceitos
(distintos) de infrao de menor potencial ofensivo: um
para o mbito federal e outro para os Estados. Alis, sen-
do ambos regidos pela Lei n 9.099/95, no h mesmo
justicativa para isso.
Diante disso, um considrvel nmero de operadores do direito
chegou a adotar, majoritariamente, a seguinte postura: o art. 2, pargrafo
nico, da Lei n 10.259/01 derrogou o conceito anterior de crimes de
menor potencial ofensivo, modicando-o em dois pontos signicativos.
O primeiro refere-se ao limite mximo da pena, que no mais seria de
um ano e sim de dois anos. O segundo diz respeito aos procedimentos
especiais. Com isso, todos os crimes punidos com pena de priso de at
dois anos seriam da competncia do Juizado Especial. Apesar de existir
certo consenso por parte da doutrina, tal entendimento passou vrios anos
sendo objeto de divergncia entre os aplicadores do direito. Entretanto,
a recente Lei n 11.313/06 dirimiu, denitivamente, quaisquer dvidas
acerca do novo conceito de crimes de menor potencial ofensivo.
Desse modo, a discusso acerca da incidncia da Lei n
10.259/01 aos Juizados Estaduais , nos dias atuais, por demais des-
cabida. A Lei n 11.313/06 modicou o conceito de crime de pequeno
potencial ofensivo e acabou, denitivamente, com a polmica acerca
da competncia do Juizado Especial para os crimes e contravenes
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
124
que previam procedimentos especiais, bem como para os crimes com
pena de priso de at dois anos. Chega-se a essa concluso pela an-
lise da citada lei:
Art. 1
o
Os arts. 60 e 61 da Lei n 9.099, de 26 de setembro
de 1995, passam a vigorar com as seguintes alteraes:
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por ju-
zes togados ou togados e leigos, tem competncia para
a conciliao, o julgamento e a execuo das infraes
penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras
de conexo e continncia.
Pargrafo nico. Na reunio de processos, perante o juzo
comum ou o tribunal do jri, decorrentes da aplicao
das regras de conexo e continncia, observar-se-o os
institutos da transao penal e da composio dos danos
civis.
Art. 61. Consideram-se infraes penais de menor poten-
cial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenes
penais e os crimes a que a lei comine pena mxima no
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou no com multa.
Como se observa, os crimes cuja pena mxima no ultrapasse
o limite de dois anos, independentemente de estarem regidos por pro-
cedimento especial, assim como todas as contravenes previstas no
ordenamento jurdico ptrio, so da competncia do Juizado Especial
Criminal.
Assim, podemos vericar que a Lei n 9.099/95, com o apri-
moramento trazido pela Lei n 11.313/06, trouxe grandes avanos jus-
tia criminal. Por exemplo, instituiu um novo rito para os crimes mais
leves, conceituados por ela como sendo de menor potencial ofensivo,
seguindo as novas tendncias do direito penal. Devido ao fracasso das
penas privativas de liberdade, observa-se que o moderno direito penal
promove, cada vez mais, a aplicao de penas restritivas de direitos, por
serem estas mais adequadas funo de ressocializao do apenado.
Alm disso, o Juizado Especial Criminal proporciona mais celeridade e
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
125
eccia na resoluo dos crimes mais leves.
bem verdade que, atualmente, os principais estudiosos da
matria vm entendendo que a pena privativa de liberdade no tem sido
a soluo para a resoluo do problema que abarca a criminalidade,
principalmente nos crimes de menor gravidade, sobretudo naqueles
desprovidos de violncia ou grave ameaa. E esse um dos principais
motivos pelos quais as referidas leis tm assumido um papel de funda-
mental importncia no mbito do direito penal brasileiro.
4. Aspectos polmicos da transao penal
Antes de abordarmos outros pontos relacionados transao
penal, importante apresentarmos a conceituao desse instituto. Logo
aps o surgimento da transao penal, no ordenamento jurdico ptrio, a
Escola Paulista do Ministrio Pblico conceituou-a como sendo o ins-
tituto jurdico novo, que atribui ao Ministrio Pblico, titular exclusivo
da ao penal pblica, a faculdade de dela dispor, desde que atendidas
as condies previstas na lei, propondo ao autor da infrao de menor
potencial ofensivo a aplicao, sem denncia e instaurao de processo,
de pena no privativa de liberdade.
Para que se possa entender a fase da transao penal, neces-
sria a compreenso das condies de funcionamento do sistema dos
juizados criminais. Como se sabe, no momento em que ocorre uma in-
frao penal de menor potencial ofensivo, deve-se procurar a autoridade
policial para que seja lavrado um termo circunstanciado. Respeitados os
procedimentos habituais, o sujeito apontado como autor da infrao de-
ver comprometer-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal, onde
ser designada audincia, denominada de audincia preliminar
De acordo com os arts. 72 a 76 da Lei n 9.099/95, devero
comparecer audincia preliminar: o autor do fato e seu defensor; a
vtima, se houver; o responsvel civil, o conciliador, o representante
do Ministrio Pblico e o juiz. Todos devero se empenhar para que
haja, de logo, um consenso. O art. 74 do referido diploma legal prev
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
126
a gura da composio civil, que a primeira via consensual existente
em sede de Juizado Criminal. Caso haja uma composio civil, o juiz a
homologar, prolatando, nos casos de ao pblica condicionada e ao
penal de iniciativa do ofendido, uma sentena que extingue a punibili-
dade. Convm esclarecer que o acordo civil acarreta a renncia tcita ao
direito de representao ou queixa.
Tratando-se de ao penal pblica condicionada, e no tendo
havido acordo civil, ou de crime de ao penal pblica incondicionada, o
procedimento segue. Nesse caso, deve o representante do Ministrio P-
blico, aps a anlise de alguns requisitos (art.76, 2, da Lei n 9.099/95),
apresentar a proposta de transao penal, propondo pena restritiva de di-
reito ou multa. Para que haja a homologao da proposta, necessrio
que o autor do fato concorde com a formulao feita pelo representante
do Ministrio Pblico. Caso o autor do fato no preencha os requisitos
trazidos pela legislao ou no concorde com a proposta, deve o repre-
sentante do Parquet oferecer denncia. Vale ressaltar, aqui, que inca-
bvel a transao penal nos casos em que o Ministrio Pblico verica a
desnecessidade de instaurao de processo penal e isso o legislador fez
questo de deixar claro no caput do art.76 da Lei n 9.099/95.
Em matria de transao penal, existem vrios aspectos polmi-
cos. Um deles diz respeito possibilidade da proposta de transao em sede
de ao penal privada. bem verdade que o legislador, no caput do art. 76
da Lei n 9.099/95, excluiu a possibilidade de transao penal em sede de
ao de iniciativa do ofendido, abrindo-lhe apenas duas possibilidades: o
oferecimento da queixa-crime, na qual a vtima atua como substituto pro-
cessual, ou a inrcia, na qual o ofendido abre mo do oferecimento de quei-
xa- crime e, em conseqncia, desiste da persecuo penal.
Na poca da edio da Lei n 9.099/95, o legislador excluiu a
possibilidade de transao penal na ao de iniciativa privada. Contudo,
naquele momento, o processo penal ainda no tinha uma viso diferen-
ciada sobre o papel da vtima. Estava-se, ainda, na viso tradicional de
que o ofendido no tinha interesse na pena, tendo apenas o Estado como
interessado direto na aplicao da reprimenda legal. Todavia, os tempos
mudaram, tendo o papel da vtima se modicado no atual cenrio da
processualstica penal. Em conseqncia, h, atualmente uma preocu-
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
127
pao na reparao do dano e na aplicao da pena.
Alm da evoluo no prprio interesse da vtima, a aplicao
prtica da transao vem modicando o que o legislador, no caput do
dispositivo acima citado, previu em termos de transao penal. bem
verdade que, uma vez frustrada a possibilidade de realizao de compo-
sio civil, a vtima certamente oferecer queixa-crime se outra opo
no lhe for oferecida. Se assim no o zer, queda-se na inrcia. Dessa
forma, no teria sentido a impossibilidade de aplicao de transao
penal em face dos crimes de ao privada, uma vez que, quem pode o
mais, ou seja, oferecimento de queixa-crime, seguramente, pode o me-
nos, isto , propositura de transao penal.
Assim, diante da nova viso do papel da vtima no processo
penal, sobretudo na aplicao da pena, a viso que outrora se tinha da
vtima como titular apenas do jus persequendi in juditio vem se modi-
cando. Com isto, a vtima atualmente tambm se preocupa com o jus
puniendi. Diante de tal reconhecimento, a impossibilidade de transao
penal nos crimes de ao privada deixa de ser defendida pela maioria
dos doutrinadores. Dessa forma, vem se admitindo a aplicao da tran-
sao penal nos crimes de ao penal privada. Para tanto, utiliza-se a
analogia com o disposto no caput do art. 76 da Lei n 9.099/95. Con-
vm lembrar, no entanto, que se trata de norma prevalentemente penal e
mais benca. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justia decidiu:
Na ao de iniciativa privada, desde que no haja formal
oposio do querelante, o Ministrio Pblico poder, va-
lidamente, formular proposta de transao que, uma vez
aceita pelo querelado e homologada pelo juiz, denitiva
e irretratvel (RHC 8.123-AP, rel. Min. Fernando Gon-
alves, j.16.4.1999, DJU 21.6.1999).
Seguem outras decises mais recentes dos STF:
Habeas corpus. Processual penal. Juizado Especial Cri-
minal. Crime contra a honra. Injria. Transao penal.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
128
Possibilidade. 1. A Terceira Seo desta egrgia Corte
rmou o entendimento no sentido de que, preenchidos
os requisitos autorizadores, a Lei dos Juizados Especiais
Criminais aplica-se aos crimes sujeitos a ritos especiais,
inclusive queles apurados mediante ao penal exclusi-
vamente privada. 2. Em sendo assim, por se tratar de cri-
me de injria, h de se abrir a possibilidade de, consoante
o art. 76 da Lei n 9.099/95, ser oferecido ao paciente o
benefcio da transao penal. 3. Ordem concedida.
8
Habeas corpus. Processo penal. Falta de intimao do im-
petrante, do nmero da autuao e do rgo julgador do
habeas corpus. Nulidade no reconhecida. Crime contra
a honra. Transao penal. Aplicao analgica do art. 76
da Lei n 9.099/95. Oferecimento. Titular da ao penal.
Querelante. Precedentes. 1. No h que se falar em cer-
ceamento de defesa decorrente da falta de intimao do
impetrante, do nmero da autuao e do rgo julgador
do habeas corpus, dado que no demonstrado qualquer
prejuzo para a defesa. 2. O benefcio previsto no art. 76
da Lei n. 9.099/95, mediante a aplicao da analogia in
bonam partem, prevista no art. 3 do Cdigo de Processo
Penal, cabvel tambm nos casos de crimes apurados
atravs de ao penal privada. 3. Precedentes do STJ.4.
Ordem parcialmente concedida.
9
Como se verica, a jurisprudncia do STJ tem admitido a
transao penal nas aes penais de iniciativa exclusivamente privada,
desde que obedecidos os requisitos autorizadores. A jurisprudncia do
tribunal de Alada Criminal de So Paulo, entretanto, vem divergindo
nessa matria. Na doutrina, a matria ainda polmica. Entendem pela
possibilidade de aplicao da proposta de transao nas aes privadas
os seguintes doutrinadores: Luiz Flvio Gomes, Ada Pellegrini Grino-
ver e Ricardo Lewandowski. J Jos Luiz Antunes, Damsio Evange-
lista de Jesus e Julio Fabbrini Mirabete entendem pela impossibilidade
de aplicao da transao penal em sede de ao privada.
8
STJ. RHC 30443-SP, 5 T., Rel.Min. Laurita Vaz , DJU 05.04.2004.
9
STJ. RHC 31527-SP;6 T, Rel.Min. Paulo Gallotti , DJU 28.03.2005.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
129
5. Surgimento da transao penal
O tema da transao penal bastante recente no nosso ordena-
mento jurdico. No obstante tal armao, o anteprojeto do Cdigo de
Processo Penal, publicado no DOU de 27 de maio de 1981, previa uma
espcie de procedimento sumarssimo para o julgamento dos crimes de
menor gravidade. No captulo referente ao Ministrio Pblico, abria-se
a possibilidade de uma espcie de transao, se a infrao penal fosse
punida com multa, priso simples ou deteno. O referido anteprojeto
deu origem Lei n 7.655/83, que estabeleceu o procedimento sumars-
simo. Entretanto, no recepcionou o instituto da transao penal.
O anteprojeto de lei para a instituio dos Juizados Especiais,
elaborado pelos juzes paulistas Pedro Luiz Gagliardi e Marco Ant-
nio Marques da Silva, previa a transao tanto pela defesa como pelo
Ministrio Pblico quando o infrator confessasse espontaneamente a
autoria do crime perante a autoridade judiciria. Em 26 de setembro de
1995, foi editada a Lei n 9.099/95, a m de tornar efetivo o comando
constitucional do art. 98, I, da Carta Magna de 1988, que dispe:
A Unio, no Distrito Federal e nos Territrios, e os Estados
criaro juizados especiais, providos por juzes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliao, o julga-
mento e a execuo de causas cveis de menor complexi-
dade e infraes penais de menor potencial ofensivo, me-
diante os procedimentos oral e sumarssimo, permitidos,
nas hipteses previstas em lei, a transao e o julgamento
de recursos por turmas de juzes de primeiro grau.
Com a vigncia da Lei dos Juizados Especiais Criminais, gran-
des inovaes ocorreram no ordenamento jurdico penal e processual
penal, principalmente na desburocratizao e simplicao no julga-
mento dos crimes de menor gravidade. O legislador, na verdade, buscou
viabilizar solues rpidas e ecazes para certas espcies de infraes
penais, propiciando maior efetividade ao direito penal. No art. 62 da Lei
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
130
n 9.099/95, o legislador ordinrio objetivou a aplicao, sempre que
possvel, de pena no privativa de liberdade. Para tanto, criou, no art.
76, a gura da transao penal. Essa medida propiciou uma prestao
jurisdicional mais clere, gerando uma simplicao no julgamento das
infraes penais de menor potencial ofensivo. Em conseqncia, houve
melhores resultados nos julgamentos dos crimes de competncia da jus-
tia criminal, proporcionando uma melhor prestao jurisdicional em
relao aos crimes mais graves.
O instituto da transao penal foi recepcionado de forma bas-
tante positiva pelos operadores e estudiosos do direito penal e proces-
sual penal. Dentre os vrios argumentos na defesa do instituto, trs
merecem destaque. O primeiro envolve a espcie de sano ou reao
institucional aos delitos; a segunda diz respeito preocupao com a
adequao dos procedimentos penais s atuais exigncias; a terceira
abre uma viso de poltica criminal, ligada opo ou convenincia de
controle de determinada forma de criminalidade. Sobre esses trs argu-
mentos de defesa da transao penal e das modalidades de resoluo
consensual dos casos penais, Geraldo Prado
10
apresenta trs aspectos.
No que concerne perspectiva penal, o citado autor destaca:
a) a opo por penas e medidas alternativas, tendo em
vista a falncia da priso e do sistema carcerrio; o tema
reabilitao do infrator realado, concebendo-se as
penas e medidas alternativas priso como providncias
capazes de cumprir funes no alcanveis mediante a
citada pena de priso;
b) a utilidade de uma resposta estatal s infraes de menor
potencial ofensivo, sob pena de eroso da ordem jurdica.
No que se refere ao processo e ao procedimento penal, salienta:
a) a modernizao do procedimento implicando qualidade do
processo, atacando-se a disfuno do sistema tradicional;
10
PRADO, Geraldo. Transao penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 13-15.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
131
b) a celeridade proporcionada por procedimentos dota-
dos de um grau menor de formalidades em comparao
com a morosidade constatada no sistema tradicional;
c) a facilitao do acesso justia.
No que tange poltica criminal, enfatiza:
a) a necessidade de diminuio da populao carcerria;
b) a tutela efetiva dos interesses da vtima;
c) libera-se o sistema do peso dos casos de menor gravi-
dade, permitindo que a energia repressiva seja dirigida
de maneira ecaz aos casos mais graves.
Como se pode observar, a maioria dos operadores do direito
recepcionou a transao penal, bem como os recursos consensuais de
resoluo dos problemas penais de forma positiva. Enfatizou-se a ne-
cessidade de proporcionar uma prestao jurisdicional efetiva e clere,
a m de que a represso propriamente dita fosse utilizada nos casos
mais graves. A gura da transao penal veio desburocratizar a justia
penal. Trata-se de um instrumento de poltica criminal de que dispe
o Ministrio Pblico para, sem o oferecimento de denncia, aplicar ao
autor da infrao de menor potencial ofensivo pena no privativa de li-
berdade. Trata-se, sem dvida, de um marco na histria do direito penal
brasileiro. Entretanto, muitos aspectos do referido instituto ainda se en-
contram por merecer estudos. Da anlise da Lei n 9.099/95, verica-se
que o legislador foi omisso em muitos aspectos fundamentais. Por esse
motivo, h a necessidade urgente de uma medida do legislador ordin-
rio brasileiro, para tornar mais efetivo o instituto da transao penal.
6. Natureza jurdica da sentena que homologa a transao penal
Um aspecto de fundamental importncia dentro do estudo re-
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
132
lacionado s conseqncias jurdicas do descumprimento da transao
penal a natureza jurdica da sentena que a homologa. Ainda hoje,
passados mais de dez anos do surgimento da legislao que criou a -
gura da transao penal, h uma grande divergncia doutrinria a esse
respeito. D-se essa importncia pelo fato de que, dependendo da na-
tureza jurdica da sentena, a deciso far, ou no, coisa julgada mate-
rial. Sendo assim, poder ocorrer, ou no, a retomada do processo, com
o oferecimento de denncia pelo representante do Ministrio Pblico.
Diante desse fato, mister se faz analisarmos todas as correntes existen-
tes acerca da matria.
Antes de apresentarmos nossa posio, necessrio fazer uma
anlise do pensamento jurdico brasileiro sobre o assunto, a m de que
se possa vericar todos os principais posicionamentos sobre a natureza
jurdica da aludida sentena. H quem defenda ter essa deciso natureza
condenatria. Para tais autores, alm de ter natureza homologatria, a
sentena tem tambm natureza condenatria. Isso porque, alm de ser
declarada a situao do autor do fato, tornando certo o que era incerto,
cria-se uma situao ainda no existente, impondo uma sano penal.
Maurcio Antnio Ribeiro Lopes
11
defende a natureza condenatria da
referida sentena, ao justicar:
Ela , realmente, condenatria: primeiro, declarando a si-
tuao do autor do fato, tornando certo o que era incerto;
alm de declarar, cria uma nova situao para as partes
envolvidas, que at ento inexistia, como exemplica-
mos acima; por m, impondo (e esta a determinao da
lei, ao armar que o juiz, acolhendo o acordo, aplicar)
a sano penal transacionada ao autor do fato, que dever
ser executada, voluntria ou coercitivamente.
O Superior Tribunal de Justia tambm tem entendido ser con-
denatria a sentena que homologa a transao penal, consoante cou
decidido no Recurso Especial n 223.316/SP, julgado em 23.10.2001
11
Apud TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JR., Joel Dias. Juizados Especiais Cveis e
Criminais: comentrios Lei n 10.259/01. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
133
e publicado no DJ de 12.11.2001, tendo como relator o Ministro Fer-
nando Gonalves: A sentena homologatria da transao penal, por
ter natureza condenatria, gera a eccia de coisa julgada formal e ma-
terial, impedindo, mesmo no caso de descumprimento do acordo pelo
autor do fato, a instaurao de ao penal.
Vejamos outra jurisprudncia a esse respeito:
Transao penal. Sentena homologatria. Eccia. Des-
cumprimento do acordado. Impossibilidade de ofereci-
mento de nova denncia. Esta Corte vem decidindo que a
sentena que homologa transao penal possui a eccia
de coisa julgada material e formal. Assim, diante do des-
cumprimento do acordo por ela homologado, no existe
a possibilidade de oferecer-se denncia, determinando o
prosseguimento da ao penal e considerando-se insub-
sistente a transao homologada. Assim considerando,
agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, ao rejei-
tar a denncia oferecida contra o paciente, ponderando
que com a homologao judicial encerrou-se a atividade
jurisdicional no mbito criminal, restando ao Ministrio
Pblico executar o autor da infrao pela dvida de va-
lor decorrente do no pagamento da pena de multa im-
posta. Ademais, o art. 77 da Lei n 9.099/95 estabelece
que o Ministrio Pblico ofertar denncia nos seguintes
casos: quando no houver aplicao de pena diante da
ausncia do autor do fato ou, ainda, quando no houver
transao. No caso em tela, houve transao e, em face
do descumprimento do acordo realizado, dever-se- apli-
car o art. 85 da Lei n 9.099/95, combinado ao art. 51 do
Cdigo Penal, obedecendo-se nova redao conferida
pela Lei n 9.286/96. Precedentes. Ordem concedida para
anular o decisum que, reformando a deciso de primeiro
grau, determinou o recebimento da denncia e o proces-
samento do feito
12
No obstante tal entendimento, a referida Corte Superior vem
12
STJ, 5. T, Rel. Jorge Scartezzini, HC 11.111/SP, j. 13-09-2000, DJ, 18 dez. 2000, p. 219.
STJ. RHC 30443-SP, 5 T., Rel. Min. Laurita Vaz , DJU 05.04.2004.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
134
admitindo instaurao de ao penal quando a homologao judicial
no se efetivou, por estar condicionada ao efetivo cumprimento das
condies estabelecidas no acordo entre o Ministrio Pblico e o autor
do fato
13
.
bem verdade que, dentre os que defendem a natureza conde-
natria da sentena que homologa a transao penal, h os que entendem
que, por no produzir os efeitos peculiares das sentenas condenatrias
comuns, como a culpabilidade do agente, a criao de ttulo executrio
no juzo cvel e demais efeitos, no pode se classicar como condena-
tria comum. Dessa forma, deve car inserida no mbito da sentena
condenatria imprpria. Dentre os que defendem que a referida senten-
a possui natureza condenatria imprpria, esto Damsio E. de Jesus,
Weber Martins Batista e Julio Fabbrini Mirabette. Fundamentando seu
ponto de vista, arma Damsio E. de Jesus
14
:
A sentena no condenatria. Trata-se de um caso de
condenao penal imprpria (...). Se o ru no cumpre a
pena restritiva de direitos, h duas posies: 1a) conver-
te-se em pena privativa de liberdade, pelo tempo da pena
originalmente aplicada, nos termos do art. 181, 1o, c,
da LEP; 2a) retomada ou propositura da ao penal que
for evitada pela composio.
Outro entendimento a esse respeito defende que a sentena de
transao penal possui natureza constitutiva. Para tais doutrinadores, a
juno do ato em que o Ministrio Pblico prope uma pena no priva-
tiva de liberdade ao autor do fato e a aceitao deste , na verdade, que
um acordo de vontade, um consenso. Assim sendo, no pode jamais ter
natureza condenatria. Nesse sentido, esclarece Cezar Roberto Biten-
court
15
: A nosso juzo essa deciso uma sentena declaratria cons-
13
STJ, 5
a
Turma, RHC 11.350-SP, Rel. Gilson Dipp, DJU 27.08.2001; RHC 11.398- SP, Rel. Jos Arnaldo
da Fonseca, DJU 12.11.2001.
14
JESUS, Damsio Evangelista. Lei dos Juizados Especiais anotada. So Paulo: Saraiva, 1995.
15
BITENCOURT, Cezar Roberto. Juizados especiais criminais federais: anlise comparativa das Leis n
9.099/95 e n 10.259/01. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 2005. p. 124.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
135
titutiva. Alis, o prprio texto legal encarrega-se de excluir qualquer
carter condenatrio, afastando a reincidncia, a constituio de ttulo
executivo civil, de antecedentes criminais etc.
Outra posio sobre o assunto entende que a sentena de tran-
sao penal teria natureza meramente declaratria, no acarretando ne-
nhum efeito na esfera penal, tampouco fazendo coisa julgada formal ou
material. No obstante a existncia dessa corrente, os seus defensores
so minoria. Transcreve-se a seguinte deciso nesse sentido:
A sentena que homologa a transao penal no tem carter
condenatrio, mas simplesmente declaratrio da vontade
das partes, que no acarreta qualquer efeito de natureza pe-
nal, no indicando reconhecimento da culpabilidade penal,
nem gerando reincidncia nem efeitos civis e maus antece-
dentes. Alm do mais, no faz coisa julgada material, mas
apenas coisa julgada formal, o que permite ao Ministrio
Pblico, em face do descumprimento do acordo pelo au-
tor da infrao, promover a devida ao penal, oferecendo
denncia. E a execuo da multa na forma do disposto no
art.51 do Cdigo Penal deve ser restrita quela decorrente
de sentena condenatria com trnsito em julgado.
16
H, tambm, os que defendem ter a referida sentena natureza
interlocutria mista, ou com fora de denitiva, a exemplo daquela que
estabelece as condies de cumprimento do sursis. Pode-se conceituar
tal espcie de sentena como sendo aquela que tem fora de denitiva,
encerrando uma etapa do procedimento processual ou a prpria rela-
o do processo, sem o julgamento do mrito da causa. Dentre os que
defendem tal corrente, destacam-se Jos Laurindo de Souza Netto e
Mrcio Franklin Nogueira. O primeiro
17
arma:
Conclui-se que a sentena que aplica a medida ajustada
em sede de transao penal, a exemplo daquela que esta-
16
Habeas corpus n 317.624/1 Osasco; 2
a
Cm.; Rel. Juiz Erix Ferreira j. em 19-2-98.
17
Apud NOGUEIRA, Mrcio Franklin. Op. cit., p.200.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
136
belece as condies de cumprimento do sursis, sentena
processual de natureza interlocutria mista, ou com fora
de denitiva, que encerra uma etapa do procedimento,
sem julgamento do mrito da causa, e sem a produo
dos efeitos da coisa julgada material. Por conseqncia,
o no cumprimento da medida ajustada consensualmente
em sede de transao penal e estabelecida condicional-
mente por sentena enseja a denncia, a partir da fase em
que se encontrava. Esse entendimento vem sendo adota-
do no Juizado Especial Criminal de Curitiba.
Por outro lado, grande parte dos operadores e estudiosos do
direito penal defende que a natureza jurdica da sentena da transao
penal , to-somente, homologatria. Entretanto, os que defendem tal
entendimento deixam bem claro que o fato de a sentena ser meramente
homologatria no quer dizer que h uma atitude passiva por parte do
juiz. Ao contrrio, faz-se mister que haja uma anlise judicial sobre os
requisitos exigidos pelo art.76 da Lei n 9.099/95.
Os operadores do direito que atuam nos Juizados Especiais
Criminais de Curitiba/PR, na sua maioria, vm entendendo que a na-
tureza jurdica da sentena da transao meramente homologatria.
Assim, seu descumprimento deve acarretar a retomada do processo e a
conseqente instaurao da ao penal, com o oferecimento de denn-
cia. Seguem alguns julgados nesse sentido:
Ementa: art. 16 da Lei n 6.368/76. Transao homolo-
gada. Posterior oferecimento de denncia. Enunciado
15 desta turma recursal. Trata-se de recurso de apelao
interposto contra deciso proferida pelo MM. Juiz Su-
pervisor do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Jacarezinho que deixou de receber a denncia oferecida
pelo Ministrio Pblico em face de Carlos Henrique de
Medeiros pela prtica, em tese, do delito tipicado no art.
16 da Lei n 6.368/76, sob o fundamento de que j havia
sido prolatada sentena homologatria de transao pe-
nal, a qual deveria ser executada. O ilustre representante
do Ministrio Pblico junto a esta Turma Recursal pug-
na pelo provimento do apelo. Saliente-se primeiramente
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
137
que se entende desnecessria a intimao do infrator para
contra-arrazoar o recurso interposto, ante a inexistncia
de relao processual formalizada (ausncia de citao).
Ademais, mesmo regularmente intimado para dar cum-
primento transao, este restou silente (certido de
s. 22). Em que pese o posicionamento do E. Superior
Tribunal de Justia invocado pelo MM. Juiz Supervisor,
a orientao mais recente, inclusive naquela Corte, tem
sido no sentido de considerar vlida a ressalva de revo-
gao da deciso homologatria de transao na hip-
tese de descumprimento consoante bem exps o DD.
representante do Ministrio Pblico em atuao perante
esta Turma em seu parecer. esta precisamente a hip-
tese dos autos. De acordo com o que consta do termo de
audincia de s. 17, ao homologar a proposta de transa-
o oferecida pelo Ministrio Pblico, o ento MM. Juiz
Supervisor expressamente destacou sob pena de revo-
gao e instaurao da competente ao penal, o que
assegura agora o oferecimento de denncia. Observe-se,
por outro lado, que, a prevalecer o entendimento adotado
na deciso recorrida, estar-se-ia admitindo, nos casos de
pena alternativa no pecuniria, a converso em priva-
tiva de liberdade, o que j foi reputado inconstitucional
pelo E. Supremo Tribunal Federal. Lembrando-se ainda
o contedo do Enunciado n 15: O descumprimento da
transao penal possibilita o oferecimento de denncia
pelo Ministrio Pblico. Deciso: Acordam os Senhores
Juzes integrantes da Turma Recursal nica do Juizado
Especial do Estado do Paran, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para deter-
minar o regular processamento do feito, com a designa-
o de audincia de instruo e julgamento nos moldes
do art. 81 da Lei n 9.099/95.
18
Ementa : Recurso de apelao. Transao penal. Pena res-
tritiva de direitos. Descumprimento. Converso em pena
privativa de liberdade. Impossibilidade. Oferecimento
ou no de denncia. Diante de seu descumprimento, no
pode a pena restritiva de direitos decorrente de transao
penal ser convertida em pena privativa de liberdade, ten-
do em vista que a esta precede a instaurao do processo.
Entendimento contrrio importaria em frontal violao
18
Turma Recursal de Curitiba. Recurso 2005.0002671-1. Juiz Relator Letcia Marina.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
138
garantia constitucional do devido processo legal (CF,
artigo 5, LIV), sem o qual no se pode tolher a liberda-
de humana. Recurso conhecido e desprovido. Deciso:
acordam os Juzes integrantes da Turma Recursal nica
dos Juizados Especiais do Estado do Paran, por unani-
midade de votos, em conhecer do recurso e, no mrito,
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
19
O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a natureza
jurdica da sentena que homologa a transao penal no condenatria,
nem absolutria, mas meramente homologatria. Assim decidiu, pela
sua 1
a
Turma, ao julgar o HC 79.572/GO
20
, relatado pelo Ministro Mar-
co Aurlio, em 20.02.2000, onde se salientou que a sentena que homo-
loga a transao no tem natureza condenatria. No voto condutor do
acrdo, o Ministro Marco Aurlio armou: Disseram bem os autores
supramencionados que o termo de homologao do acordo no ganha
contornos de sentena condenatria, muito menos quanto ao exerccio
da liberdade de ir e vir Pela sua 1
a
Turma, ao apreciar o RE 268.320-
5/PR, sendo relator o Ministro Octavio Gallotti, em 15.08.2000 (DJ de
10.11.2000), voltou a armar esse entendimento. Esse tem sido o po-
sicionamento de Ada Pellegrini Grinover, Antnio Magalhes Gomes
Filho, Antnio Scarance Fernandes e Luiz Flvio Gomes
21
:
A concluso s pode ser esta: a sentena que aplica a
pena, em face do consenso dos interessados, no abso-
lutria nem condenatria. Trata-se simplesmente de sen-
tena homologatria de transao, que no indica aco-
lhimento nem desacolhimento do pedido do autor (que
sequer foi formulado), mas que compe a controvrsia de
acordo com a vontade dos partcipes, constituindo ttulo
executivo judicial. So os prprios envolvidos no con-
ito a ditar a soluo para sua pendncia, observados os
parmetros da lei.
19
Turma Recursal de Curitiba. Recurso 2004.0000569-1. Juiz Relator Edgard Fernando Barbosa. DJ
17/05/2004.
20
Informativo do STF 180, de 28.02 a 10.03.2000.
21
GRINOVER, Ada Pellegrini at al. Op. cit., p.168.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
139
Dentre os que defendem a natureza meramente homologat-
ria da sentena de transao penal, h os que admitem a existncia de
coisa julgada formal e material e aqueles que entendem que a aludida
deciso faz, apenas, coisa julgada formal. De nossa parte, no enxer-
gamos natureza condenatria no referido decisum, por no ter efeitos
peculiares das sentenas condenatrias tradicionais. Por outro lado, no
podemos aceitar a natureza de sentena condenatria imprpria. Nes-
se caso, teramos de admitir a possibilidade de execuo da medida e,
conseqentemente, a converso da pena restritiva em privativa de liber-
dade, hiptese que afastamos por completo. No nosso ponto de vista,
a sentena em estudo possui natureza meramente homologatria, pelo
fato de que o papel do magistrado no momento da prolao da deciso
, to-somente, dar fora jurdica ao consenso realizado entre as partes.
No h, portanto, na realidade, qualquer condenao, tampouco uma
modicao na situao do autor do fato.
Na realidade, o magistrado, observando a existncia dos requi-
sitos legais, prolata uma deciso homologatria, a m de dar juridici-
dade ao acordo formulado pelo Ministrio Pblico e pelo autor do fato,
nos crimes de ao pblica. Por outro lado, entendemos que a sentena
meramente homologatria de transao penal no faz coisa julgada ma-
terial, cando, apenas, no mbito da coisa julgada formal. Ela no entra
no mrito da questo, no discute a autoria, a materialidade ou quais-
quer outros aspectos do crime.
7. Conseqncias jurdicas do descumprimento da transao penal
Desde a instituio do Juizado Especial, uma grande discusso
vem ocorrendo no que se refere s conseqncias jurdicas do descum-
primento da transao penal. Algumas correntes se dividem acerca des-
sa matria. Por isso, preciso fazer um estudo sobre a natureza jurdica
da sentena que decreta o referido instituto. A princpio, deve-se separar
a pena alternativa de multa da restritiva de direitos. Vamos realizar um
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
140
breve comentrio acerca do descumprimento da pena de multa apli-
cada na proposta de transao penal. O legislador, no art. 85 da Lei n
9.099/95, previu expressamente: No efetuado o pagamento de multa,
ser feita a converso em pena privativa de liberdade, ou restritiva de
direitos, nos termos previstos em lei
No momento da elaborao da citada norma, o legislador pre-
viu que a referida converso deveria ser feita nos termos da lei. Entre-
tanto, atualmente no h lei prevendo os termos em que deve ocorrer
tal converso. O referido dispositivo foi revogado tacitamente pela Lei
n 9.268/95, que deu nova redao ao art. 51, caput, do Cdigo Penal.
Esse dispositivo dispunha sobre a converso da pena quando o conde-
nado solvente deixasse de pagar a multa ou frustrasse sua execuo.
A nova redao, todavia, no mais prev a referida converso, tendo
revogado, assim, o art. 182 da Lei de Execuo Penal, que conrmava
tal previso. Revogou tambm os 1
o
e 2
o
do art. 51 do Cdigo Penal,
que estabeleciam o modo de converso e sua revogao.
Em decorrncia de tais modicaes, no h mais lei prevendo
o modo como deve ocorrer a converso, motivo pelo qual o art. 85 da
Lei dos Juizados Especiais no mais vigora. Sobre a matria, lecionam
Ada Pellegrini Grinover, Antnio Magalhes Gomes Filho, Antnio
Scarance Fernandes e Luiz Flvio Gomes
22
:
O problema que, por no haver anterior previso da
converso da pena de multa em restritiva, no est ela
regulada na lei e, assim, no sendo paga a multa, no
haveria parmetros legais para a converso. Como con-
verteria o juiz, por exemplo, 100 dias-multa, sendo cada
dia no valor mnimo, em pena restritiva?
Atualmente, no restam dvidas no sentido de que, ocorrendo
descumprimento de pena de multa imposta na sentena homologatria
de transao penal, torna-se dvida de valor. Com isso, a execuo deve
ser feita, com aplicao das normas relativas dvida ativa da Fazenda
22
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Op. cit., p.217.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
141
Pblica. Quanto ao descumprimento da pena restritiva de direitos, exis-
tem vrias correntes. Uma delas defende que a referida sentena possui
carter condenatrio. Assim, uma vez descumprida a pena alternativa
imposta na deciso, no pode ocorrer o incio da ao penal com o ofe-
recimento da denncia. Dessa forma, deve haver a converso da pena
restritiva de direito em privativa de liberdade. Em seu entendimento,
essa corrente fundamenta-se no art. 181, 1
o
, c, da Lei de Execues
Penais.
Para outra corrente, no pode haver nem o incio do processo,
com o oferecimento da denncia, nem sua converso em pena privati-
va de liberdade, restando, simplesmente, a inecincia da sentena de
transao penal. Uma terceira corrente,de cujo entendimento compar-
tilhamos, defende que no h como realizar a converso da pena restri-
tiva de direito em privativa de liberdade. Assim, uma vez descumprido
o acordo homologado, prope-se a ao penal, com o oferecimento da
denncia.
Para que se possa fazer uma anlise mais detalhada da mat-
ria, preciso estabelecer um paralelo entre os posicionamentos acima
citados e a natureza jurdica da sentena que homologa a transao. Os
defensores da natureza condenatria da sentena em estudo entendem
que a conseqncia do descumprimento da transao penal implica a
converso da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Para
eles, no pode haver o incio da ao penal, com o oferecimento da de-
nncia, haja vista ter a sentena condenatria feito coisa julgada, tanto
na rbita material, como formal, encerrando, naquele momento, a pres-
tao jurisdicional. Esse entendimento, atualmente, tem muitos defen-
sores. O STJ unnime nesse sentido.
A segunda posio no sentido de que no pode haver nem a
converso da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, nem
o incio ou retomada da ao penal. Porm, tal tese torna incua a tran-
sao penal e foge, por completo, aos principais objetivos da Lei n
9.099/95. Existe uma outra corrente que defende a natureza meramente
homologatria da sentena de transao penal. Todavia, dentre os que
defendem tal postura, h os que acham que a sentena meramente ho-
mologatria tambm faz coisa julgada material e formal, o que acarreta
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
142
a impossibilidade de retomada da ao penal em caso de descumpri-
mento da Transao. Outro entendimento no sentido de que a sentena
meramente homologatria faz apenas coisa julgada formal, podendo
haver, em caso de descumprimento da transao penal, a retomada ao
processo, com incio da ao penal.
Ada Pellegrini Grinover, Antnio Magalhes Gomes Filho,
Antnio Scarance Fernandes e Luiz Flvio Gomes
23
entendem que a
sentena de transao possui carter meramente homologatrio. No
obstante, faz coisa julgada material, impossibilitando a retomada do
feito, com o oferecimento de denncia. A esse respeito, esclarecem:
Mas inquestionvel que a homologao da transao
congure sentena, passvel de fazer coisa julgada ma-
terial, dela derivando o ttulo executivo penal. Por isso,
se no houver cumprimento da obrigao assumida pelo
autor do fato, nada se poder fazer, a no ser execut-la,
nos expressos termos da lei.
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, partidrio da tese
de que a sentena homologatria da transao penal possui carter me-
ramente homologatrio. Faz coisa julgada apenas formal, sendo poss-
vel a propositura da ao penal nos casos de descumprimento da mes-
ma. Vejamos, a respeito, um julgado da Corte Suprema:
A transformao automtica de pena restritiva de direi-
tos, decorrente de transao, em privativa do exerccio da
liberdade discrepa da garantia constitucional do devido
processo legal. Impe-se, uma vez descumprido o termo
de transao, a declarao de insubsistncia deste ltimo,
retornando-se ao estado anterior, dando-se oportunidade
ao Ministrio Pblico de vir a requerer a instaurao de
inqurito ou propor a ao penal, ofertando denncia .
O inadimplemento do avenado na transao penal, pelo
autor do fato, importa desconstituio do acordo e, aps
23
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Op. cit., p.169.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
143
cienticao do interessado e seu defensor, determina a
remessa dos autos ao Ministrio Pblico. Nem se diga
que a viso resulta em desprestgio para o texto da Lei n
9.099/95. Possvel a execuo direta do que foi acordado,
esta h de ocorrer aplicando-se, subsidiariamente, as nor-
mas processuais comuns. Tratando-se de obrigao de fa-
zer de cunho pessoal, impossvel substitu-la na forma
estampada no acrdo do Superior Tribunal de Justia
24
.
Nessa linha de raciocnio, arma dison Miguel da Silva
25
:
Partindo do pressuposto de que o objetivo do novo mo-
delo de justia penal consensuada no a efetivao do
castigo ao autor do fato, como fator de credibilidade
coao psicolgica da pena cominada, mas sim a repara-
o dos danos sofridos pela vtima e a aplicao de pena
no privativa de liberdade, bem assim que a pena con-
sensuada que acaba imposta no resulta de um processo
penal condenatrio, dada a inexistncia de acusao, e
nem resulta da assuno de culpa por parte do autor do
fato , concluiu-se pela impossibilidade da converso. E,
mais, que a extino da punibilidade somente ocorre com
o cumprimento da pena aceita livremente pelo autor do
fato, implicando o seu descumprimento resciso do acor-
do penal, razo pela qual s resta ao Ministrio Pblico
iniciar a persecuo penal, na forma do art. 77, oferecen-
do denncia ou requisitando as diligncias que entender
necessrias.
Esta tambm a orientao sugerida por Luiz Paulo Sir-
vinskas
26
:
Homologada a transao, intima-se o autor para cumpri-
la dentro do prazo legal. Em no comparecendo, o juiz
determina a sua conduo coercitiva e, por m, revoga
24
STF HC 79.572/GO, 2
a
T., Rel. Min. Marco Aurlio
25
SILVA JR., dison Miguel. Lei n 9.099/95: descumprimento da pena imediata no Estado Democrtico
de Direito. So Paulo: RT, 2000. p. 549.
26
Apud NOGUEIRA, Mrcio Franklin. Op. cit., p. 196.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
144
a deciso homologatria ou torna prejudicada a transao
penal, abrindo-se vistas ao Ministrio Pblico para ofere-
cer denncia. Uma hiptese prtica aguardar, uma vez
aceita a proposta, o cabal cumprimento pelo autor da in-
frao. Cumprida a pena, homologa-se a transao penal e
extingue-se a punibilidade em um nico ato processual.
Voltando a discorrer acerca da corrente que defende a natureza
condenatria da sentena de transao penal, importante esclarecer
que divergimos totalmente dessa tese. E o fazemos tendo em vista que,
na referida sentena, no h qualquer juzo condenatrio, faltando o
exame das provas, dos elementos da infrao, da culpabilidade ou da
ilicitude do fato. Ademais, a deciso no acarreta os efeitos peculiares
de uma sentena condenatria, como a admisso de culpabilidade, a
reincidncia, a constituio de ttulo executivo civil etc. Sob outro pon-
to de vista, aqueles que admitem a natureza condenatria da sentena
em estudo admitem, tambm, a converso da pena restritiva de direito
em privativa de liberdade. Mas isso, no nosso entendimento, fere os
princpios basilares do direito, dentre eles, o devido processo legal e o
contraditrio.
Ora, o autor do fato, no momento em que aceita a pena pro-
posta pelo representante do Ministrio Pblico, abdica do seu direito
de defesa na instruo do processo. Isso porque aceita a pena restritiva
e, sem questionar acerca do mrito da deciso, concorda em cumprir
as condies impostas. Nesse momento no h, sequer, comentrios
acerca dos aspectos da infrao penal. Assim, questiona-se: Como pode
ocorrer, no caso de descumprimento da transao, uma imposio de
pena privativa de liberdade, sem sequer proporcionar-se ao autor do
fato a possibilidade de se defender, de instruir o processo, de ter o seu
direito ao contraditrio?
No nosso ponto de vista, essa converso uma afronta aos
princpios constitucionais. bem verdade que a converso em pena
privativa de liberdade proporcionaria maior fora sentena de transa-
o penal, tornando-a mais ecaz. Entretanto, no se pode querer dar
maior eccia ao referido instituto, passando-se por cima dos princpios
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
145
constitucionais do direito. O devido processo legal e o contraditrio
so princpios que, h muito, vigoram no nosso ordenamento jurdico.
Portanto, servem de base para todo e qualquer processo, sendo, pois,
inadmissvel a imposio de qualquer pena privativa de liberdade sem
a obedincia a tais princpios.
Por tais motivos, defendemos a natureza meramente homolo-
gatria da sentena de transao penal. Em primeiro lugar, porque a
aludida deciso no gera nenhum efeito prprio da sentena condena-
tria; em segundo, porque no modica a situao ftica do autor do
fato; em terceiro, porque a funo do magistrado resume-se anlise da
presena dos requisitos objetivos do autor do fato, bem como homo-
logao de um consenso anteriormente rmado entre as partes. Dessa
forma, entendemos que, uma vez descumprida a transao penal, deve
o Ministrio Pblico, em tendo elementos para tanto, oferecer a denn-
cia. Ou, em caso contrrio, requisitar diligncias autoridade policial
para, no momento oportuno, dar incio ao penal. S assim os prin-
cpios constitucionais do devido processo legal e contraditrio sero
preservados.
Na verdade, as divergncias jurdicas que existem em torno da
matria e as conseqncias malcas que ocorrem na aplicao prtica
do instituto s se fazem presentes por conta da omisso do legislador,
quando da elaborao da Lei n 9.099/95. Nos dias atuais, essa lacuna
inadmissvel, pois a referida lei surgiu h mais de dez anos. Portanto,
houve tempo suciente para que o legislador ordinrio tivesse sanado
a omisso que se faz presente em uma lei que modicou a aplicao do
direito penal no Brasil.
8. Crticas omisso legislativa e converso da pena restritiva de
direito na transao penal
Como vimos, muitos tm sido os aplicadores do direito que
vm, na prtica, convertendo a pena restritiva de direito, imposta no
momento da transao penal, em privativa de liberdade. bem verdade
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
146
que o nosso ponto de vista, aps um estudo mais aprofundado do tema,
mudou por completo. No podemos deixar de armar que, antes da
anlise realizada neste trabalho, aceitvamos a medida que convertia
a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mas o ponto de
vista jurdico sempre mutvel e isso faz da cincia jurdica uma rea
apaixonante.
Hoje, perguntamo-nos por que muitos operadores do direito
no percebem que essa converso juridicamente absurda, tendo em
vista afrontar os princpios constitucionais do devido processo legal e
do contraditrio. Como se sabe, em qualquer litgio jurdico, seja ele na
esfera penal, civil, administrativa, ou em qualquer outro ramo, exige-
se, obrigatoriamente, a obedincia ao devido processo legal e ao con-
traditrio. Estes so princpios soberanos, previstos expressamente na
Constituio Federal de 1988.
Portanto, em todo ato jurdico, deve haver, acima de tudo, o
respeito a tais princpios. Mas esse pressuposto, muitas vezes, no vem
ocorrendo em matria referente ao descumprimento da transao penal.
No se precisa ir a fundo na matria, para se observar que o autor do
fato que aceita a proposta de transao penal, feita pelo representan-
te do Ministrio Pblico, no tem a culpabilidade e a antijuridicidade
analisadas, naquele momento processual. Ali, na audincia preliminar,
o autor do fato abdica de seu direito de comprovar a inexistncia, por
exemplo, de algum elemento do delito para, sem maiores anlises, sub-
meter-se, por exemplo, a uma pena restritiva de direito.
Na prtica, muitos autores do fato, no intuito de no terem
de responder a um processo penal, mesmo que seja no Juizado Espe-
cial, deixam de comprovar sua iseno e acabam por aceitar a proposta
de transao penal feita pelo membro do Parquet. Por isso, mantemos
o nosso questionamento: Como pode haver a converso de uma pena
restritiva de direito em uma privativa de liberdade, sem que haja a pos-
sibilidade de o autor do fato ter a sua defesa apresentada, ser interroga-
do, enm, apresentar provas inerentes realizao de um julgamento
isento?
Tal converso , no nosso entendimento, uma afronta aos prin-
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
147
cpios assegurados pela atual Carta Magna. bem verdade, todavia,
que ns, operadores do direito, queremos dar eccia aos institutos ju-
rdicos. E a aludida converso, diga-se de passagem, a demonstrao
da eccia do instituto da transao penal. Todavia, colocando-se, de
um lado, a eccia do instituto da transao penal e, de outro, o direito
do cidado ao devido processo legal e ao contraditrio, conclui-se que
o direito do cidado prevalece, ou deveria prevalecer, em detrimento da
eccia do instituto jurdico. Por isso, a retomada do processo, com o
oferecimento de denncia, no demonstra ineccia do instituto, ape-
nas demonstra o respeito aos princpios acima referidos.
A maioria dos estudiosos que defende a aludida converso
busca, muito mais, dar uma resposta rpida sociedade do que fazer
uma aplicao justa do direito. Porm, preciso observar os dois princ-
pios acima citados, enunciados no art. 5
o
, LV, da Constitucional Federal
de 1988: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral so assegurados o contraditrio e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes. Em conseqncia, o autor do
fato no pode ter sua pena restritiva de direitos, imposta no momento
da transao penal, convertida em pena privativa de liberdade, sem ter
sido ouvido e vencido em juzo, sob pena, inclusive, de afronta sua
dignidade pessoal. Infelizmente, no obstante vivermos em um Estado
Democrtico de Direito, muitos operadores do direito, colocando de
lado os referidos princpios constitucionais, vm defendendo e aplican-
do essa medida.
Outro aspecto que no pode passar despercebido o fato de que a
Lei dos Juizados Criminais foi elaborada em 1995. Mas, desde essa poca,
com o surgimento do instituto da transao penal, h crticas e divergncias
de opinies sobre o descumprimento do aludido instituto. Entretanto, at
o momento, nenhum projeto de lei acerca da matria culminou em um su-
primento da referida lacuna legislativa. A omisso legislativa foi, indireta-
mente, a grande causadora desse desrespeito aos princpios ora estudados.
O legislador, h muito, deveria ter acrescentado um pargrafo ao art. 76
da Lei n 9.099/95, dispondo que, em caso de descumprimento da pena
restritiva de direito imposta na transao penal, o representante do Minis-
trio Pblico, tendo elementos para tanto, oferecer denncia. Caso isso j
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
148
tivesse ocorrido, no haveria esse desrespeito, causado pelos prossionais
da cincia jurdica, ao direito do cidado.
9. Concluses
A Lei n 9.099/95, que instituiu o Juizado Especial Criminal
no nosso Ordenamento Jurdico, foi um marco na justia penal. A nali-
dade da referida lei foi, sem sombra de dvidas, estabelecer o consenso
no mbito da justia criminal. Apesar da importncia dessa lei, bem
verdade que o legislador ordinrio, no momento de sua elaborao, foi
omisso no que se refere s conseqncias jurdicas do descumprimento
da transao penal. E esse fato vem gerando, no quotidiano jurisdicio-
nal, posies prticas e tericas bastante divergentes. Diante disso, com
o presente estudo, chegamos s seguintes concluses:
a) O Juizado Especial Criminal proporcionou maior desburo-
cratizao na justia criminal, uma vez que a apreciao dos delitos de
menor potencial ofensivo passou a ser de competncia de uma justia
especializada, facilitando o acesso justia no julgamento dos delitos
de maior gravidade.
b) O surgimento dos institutos da transao penal e da sus-
penso condicional do processo teve papel fundamental para o incre-
mento do consenso na justia brasileira. Porm, apesar do avano que
a legislao em estudo gerou no direito penal brasileiro, sobretudo com
a criao dos referidos institutos, vericamos que h omisso legislati-
va quanto ao descumprimento da transao penal. E isso vem gerando
conseqncias que, ao nosso ver, so inadmissveis em um Estado De-
mocrtico de Direito.
c) Apesar de haver vrias correntes que discorrem sobre a na-
tureza jurdica da sentena de transao penal, entendemos que ela tem
natureza meramente homologatria. E o fazemos com base em dois po-
sicionamentos. Em primeiro plano, porque a deciso em comento no
acarreta nenhum dos efeitos peculiares das sentenas condenatrias; em
segundo, porque no modica a situao do autor do fato, o que, de pla-
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
149
no, descarta a natureza condenatria e constitutiva defendida por alguns
estudiosos da matria. Defendemos o posicionamento mencionado,
tambm, pelo fato de que, na referida deciso, o magistrado, baseado
na vontade das partes, apenas homologa o acordo xado, observando,
para tanto, a presena dos requisitos exigidos pela lei.
d) Entendemos que a sentena meramente homologatria de
transao penal no faz coisa julgada material, situando-se exclusiva-
mente no mbito da coisa julgada formal. Tal fato possibilita a retoma-
da do processo, na hiptese de descumprimento da transao imposta.
Entendemos tambm que a nica conseqncia do descumprimento da
pena restritiva de direito imposta na transao penal que no acarreta
ofensa aos princpios constitucionais do devido processo legal e do con-
traditrio o retorno do processo ao estado anterior. A partir de ento, o
representante do Ministrio Pblico, tendo elementos para tanto, pode
oferecer a denncia, iniciando, dessa forma, a ao penal.
e) Por m, entendemos que todas as divergncias em torno do
descumprimento da transao penal foram ocasionadas pela omisso
legislativa. Por isso, lamentamos que, passados mais de dez anos da
promulgao da Lei dos Juizados Especiais Criminais, o legislador ain-
da no tenha preenchido essa lacuna.
Referncias bibliogrcas
BITENCOURT, Cezar Roberto. Juizados Especiais Criminais Federais.
2. ed. So Paulo: Saraiva, 2005.
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal: parte geral. 16.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
GOMES, Luiz Flvio. Tendncias poltico-criminais quanto
criminalidade de bagatela. So Paulo: IBCCrim, 2002.
CARVALHO, L.G.Grandinetti Castalho de; PRADO, Geraldo. Lei
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
150
dos Juizados Especiais Criminais: comentada e anotada. 4. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2006.
GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antnio Magalhes;
FERNANDES, Antnio Scarance; GOMES, Luiz Flvio. Juizados
Especiais Criminais: comentrios Lei n 9.099, de 26 de setembro de
1995. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
JESUS, Damsio Evangelista. Lei dos Juizados Especiais Criminais
anotada. So Paulo: Saraiva, 1995.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais: comentrios,
jurisprudncia, legislao. 4. ed. So Paulo: Atlas, 1996.
______________________. Manual de direito penal: parte geral. So
Paulo: Atlas, 2003.
NOGUEIRA, Mrcio Franklin. Transao penal. So Paulo: Malheiros,
2003.
PRADO, Geraldo. Transao penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2004.
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Criminologia e Juizado Especial
Criminal. 2. ed. So Paulo: Atlas, 1998.
SILVA JR., dison Miguel da. Lei n 9.099/95: descumprimento da
pena imediata no Estado Democrtico de Direito. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 2000.
TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIREDO JNIOR, Joel
Dias. Juizados Especiais Federais Cveis e Criminais: comentrios
Lei n 10.259, de 10.07.2001. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
ZAFFAROLI, Eugnio Raul; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual de
direito penal brasileiro: parte geral. So Paulo: Revista dos Tribunais,
1997.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
DESCUMPRIMENTO DA TRANSAO PENAL Gardnia Cirne de Almeida Galdino
151 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
O dever de probidade est formalmente ligado conduta do
administrador pblico, como elemento necessrio legitimidade de
seus atos. A probidade passou a ser uma virtude presente na nossa le-
gislao administrativa, como tambm na Constituio da Repblica,
que pune a improbidade na Administrao Pblica com sanes pol-
ticas, administrativas e penais. Nesse sentido, dispe o art. 37, 4, da
Constituio Federal:
Os atos de improbidade administrativa importaro a sus-
penso dos direitos polticos, a perda da funo pblica,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao Er-
rio, na forma e gradao prevista em lei, sem prejuzo da
ao penal cabvel.
Alm do dever de probidade e como seu complemento natural, est
sempre o dever de prestar contas. Nesse aspecto, relevante a funo dos
Tribunais de Contas
1
do pas, prevista no art. 70 da Constituio Federal:
1
Com o advento da Repblica e pela iniciativa de Rui Barbosa, ento Ministro da Fazenda, nasceu o Tribu-
nal de Contas. As sucessivas Constituies da Repblica conservaram e ampliaram a presena do Tribunal
de Contas na funo de controle da despesa pblica e da moralidade administrativa. A esta competncia
do Tribunal de Contas a Constituio de 1988 deu nova sionomia, dinamizando a presena tradicional do
rgo de controle. A scalizao adquire campo mais amplo. Mais do que apenas nanceira e orament-
ria, alcana igualmente feio contbil, operacional e patrimonial, compreendendo todas as entidades da
administrao direta e indireta, inclusive fundaes e sociedades institudas e mantidas pelo Poder Pblico.
Ademais, o controle a ser exercido vai alm da legalidade. Dirige-se tambm legitimidade e economi-
cidade na gesto nanceira, dilatando-se ao exame da aplicao de subvenes e aos casos de renncia de
receitas, ou seja, aos favores de incentivos scais.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
Professor Adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte/UERN
Professor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte - ESMARN
152
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Art. 70. A scalizao contbil, nanceira, oramentria,
operacional e patrimonial da Unio e das entidades da
administrao direta e indireta, quanto legalidade, le-
gitimidade, economicidade, aplicao das subvenes e
renncia de receitas, ser exercida pelo Congresso Na-
cional, mediante controle externo, e pelo sistema de con-
trole interno de cada Poder.
Pargrafo nico. Prestar contas qualquer pessoa fsica
ou jurdica, pblica ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
pblicos ou pelos quais a Unio responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigaes de natureza pecuniria.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacio-
nal, ser exercido com o auxlio do Tribunal de Contas
da Unio.
O dever de prestar contas conseqncia natural da Admi-
nistrao Pblica como nus de gesto de bens e interesses alheios.
Os atos de gesto trataro do desempenho de um mandato de zelo
e conservao de bens e interesses de outrem. Ento, mister que
quem o exerce dever contas ao proprietrio. No caso do adminis-
trador pblico, esse dever se expressa, porque a administrao se
refere aos bens e interesses da coletividade e assume o carter de um
mnus pblico, isto , de um nus para com a coletividade. Sendo
assim, surge o mnus irrenuncivel de todo administrador pblico
- agente eleito ou mero funcionrio - de prestar contas de sua gesto
administrativa. E, nessa tarefa destacam-se os Tribunais de Contas.
A prestao de contas no se limita apenas ao patrimnio p-
blico e gesto nanceira, estendendo-se a todos os atos de governo e
de administrao. Hodiernamente, a concepo da moral, no mbito da
Administrao Pblica, vai alm dos desvios de nalidade. A percep-
o da identidade pblica da participao popular atingiu um grau de
preocupao moral com a vida pblica. Corrobora esse entendimento
Manoel de Oliveira Franco Sobrinho
2
:
2
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O princpio constitucional da moralidade administrativa.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
153 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Espcie de ilegalidade ou no , o desvio de poder con-
sagra na vontade administrativa desnecessariamente um
pressuposto de imoralidade tal e qual a usurpao e o ex-
cesso. A vinculao legal ao ato no basta no domnio
dos motivos. No se podem esquecer nunca as diretrizes
subjetivas do prprio poder administrativo dimanadas de
uma obrigatria boa administrao.
Nessa perspectiva, Marcelo Caetano
3
destaca o dever de probi-
dade, a exigir que o funcionrio sirva Administrao com honestidade,
procedendo no exerccio de suas funes sempre no intuito de realizar os
interesses pblicos, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas de-
correntes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer.
Portanto, o agente autorizado a agir em nome do ente estatal, mesmo
quando exera competncia discricionria, no poder deixar de observar
a probidade da Administrao. Cabe-lhe desempenhar seu munus com
vista obteno da efetivao dos direitos individuais dos cidados.
A atuao administrativa conduzida atravs da moral resulta
em atributos, tais como: a urbanidade no trato ao cidado, o sigilo nos
trmites administrativos, a modicidade na cobrana das tarifas pblicas,
o estabelecimento de critrios objetivos e imparciais para as nomeaes
dos agentes, a adequada ascenso funcional desses agentes nos quadros
pblicos, o combate corrupo e a adequada prestao de servios
pblicos.
2. Lei n 8.429/92 e os seus antecedentes histricos
A Constituio outorgada de 1824, que se caracterizava por
demonstrar o carter sagrado e inviolvel da pessoa do Imperador (art.
99), previa, no art. 133, II e VI, a possibilidade de responsabilizao
dos Ministros de Estado por peita, suborno ou concusso, bem como
pela dissipao dos bens pblicos. Porm, a Constituio Republicana
Curitiba: Gnesis, 1993. p. 117.
3
CAETANO, Marcelo. Manual de direito administrativo. 10. ed., Coimbra: Almedina, 1999. p. 749. 2 t.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
154
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
de 1891 no descurou em prever, desde que houvesse a denio em lei
especial, de crimes de responsabilidade do Presidente da Repblica por
atos que atentassem contra a probidade da Administrao, a guarda e o
emprego constitucional dos dinheiros pblicos (art. 54). Tais preceitos
foram reproduzidos nas Constituies de 1934 (art. 57, alneas f e g) e
1937 (art. 85, alnea d).
A idia de moralidade administrativa em norma de status cons-
titucional surge, inicialmente, com o Decreto n 19.398, de 11 de no-
vembro de 1930, que instituiu o Governo Provisrio da Repblica dos
Estados Unidos do Brasil. Depois, no perodo de vigncia da Carta de
1937, foi promulgado o Decreto-Lei n 3.240, de 08-05-41, dispondo
sobre o seqestro dos bens de pessoas indiciadas por crimes que impli-
cassem prejuzo para a Fazenda Pblica. A medida, que poderia recair
sobre todos os bens do indiciado, seria decretada pela autoridade judi-
ciria, sem audincia da parte contrria, a requerimento do Ministrio
Pblico, desde que presentes indcios veementes de responsabilidade,
comunicados ao juiz em segredo de justia.
A Constituio de 1946 manteve a hiptese de crime de res-
ponsabilidade do Presidente da Repblica por ofensa probidade na
Administrao (art. 89, V). Alm disso, inseriu, na parte nal do art.
141, 31, relativo aos direitos e garantias individuais, permisso para
que a lei dispusesse sobre o seqestro e a perda de bens, no caso de en-
riquecimento ilcito decorrente de inuncia ou abuso no exerccio de
cargo ou funo pblica, ou de emprego em entidade autrquica.
Esse dispositivo constitucional foi regulamentado em 1 de
julho de 1957, com a promulgao da Lei Pitombo-Godi Ilha (Lei n
3.164). Essa lei possibilitava declarar a sujeio a seqestro, e conse-
qente perda em favor da Fazenda Pblica, dos bens adquiridos pelo
servidor pblico por inuncia ou abuso de cargo, funo ou emprego
pblico. O seqestro se vericaria mesmo ante a absolvio ou extino
da punibilidade no juzo criminal. Previa a possibilidade de o Minist-
rio Pblico ou qualquer cidado ajuizar medidas cabveis contra servi-
dor pblico que tivesse enriquecido ilicitamente. Alm disso, instituiu o
registro pblico obrigatrio de bens e valores dos servidores.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
155 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Em 21 de dezembro de 1958, foi promulgada a Lei Bilac Pinto
(Lei n 3.502/58), prevendo o seqestro e a perda de bens daquele que
tivesse enriquecido ilicitamente por abuso do cargo, emprego ou funo
pblica. Em 1965, com o propsito de proteger o patrimnio pblico
diante de atos ilegais e lesivos, foi editada a Lei n 4.717, responsvel
pela criao da ao popular, instituto que alcanou destaque com a
Constituio de 1967 (art. 150, 31). Com o advento da Constituio
de 1988, estabeleceu-se o resguardo da moralidade na Administrao.
Logo no seu art. 14, 9, inserto no Captulo IV do Ttulo II, que tra-
ta dos direitos polticos, o constituinte outorgou competncia para a
lei complementar estabelecer outros casos de inelegibilidade, alm dos
mencionados no seu texto, a m de proteger a probidade administrativa
e a moralidade no exerccio do mandato.
Estabelecendo os princpios bsicos que devem ser observados
pela Administrao Pblica direta e indireta, de qualquer dos poderes
da Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios, o art. 37 da Consti-
tuio Federal consagra, expressamente, a moralidade, a legalidade, a
impessoalidade, a publicidade e a ecincia. Assim, a ofensa morali-
dade administrativa requisito fundante para a anulao de ato lesivo
ao patrimnio pblico pelo uso de ao popular. Nesse sentido, o art.
14, 9, admite, em defesa da moralidade para o exerccio de mandato
eleitoral, possa lei complementar estabelecer a inelegibilidade. Dentre
outras penalidades, atos de improbidade administrativa podem acarre-
tar a cassao de direitos polticos, perda de funo, indisponibilidade
de bens e obrigaes de ressarcimento ao errio.
A legislao federal, alm dos casos expressamente previstos
no texto constitucional, s atinge os servidores estaduais e municipais,
quando dispe sobre as seguintes matrias: crimes funcionais (CP, arts.
312 a 327; CPP, arts. 513 a 518); inviolabilidade no exerccio da fun-
o pblica (CP, art. 142, III); perda da funo pblica e interdio de
direitos (CP, arts. 92, I, e 47, I); facilitao culposa de conhecimento de
segredo concernente segurana nacional, revelao de segredo fun-
cional relacionado com operaes anti-subversivas (Lei n 6.620/78,
arts. 29 e 37); sanes especcas, seqestro e perdimento de bens, pela
prtica de atos de improbidade administrativa (Lei n 8.429/92); coao
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
156
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
eleitoral (Cdigo Eleitoral, art. 300); requisio para o servio eleitoral
(Cdigo Eleitoral, arts. 30, XIV, e 344); retardamento ou recusa de pu-
blicao em rgo ocial de atos da Justia Eleitoral (Cdigo Eleitoral,
art. 341).
Aplica-se ainda s seguintes hipteses: proibio de uso de
servios ou dependncias pblicas em benefcio de partido poltico
(Cdigo Eleitoral, arts. 346 e 377); proibio de remoo no perodo
pr e ps-eleitoral (Lei n 6.091/74, art. 13); impedimentos e prazos
de desincompatibilizao (Lei n Complementar 64/90); proibio de
nomeaes no perodo pr e ps-eleitoral (Lei n 6.091/74, art. 13);
requisio de veculos e embarcaes ociais para o transporte gratuito
de eleitores (Lei n 6.091/74, art. 11, V); acidente do trabalho (Lei n
6.367/76); seguridade social (Lei n 8.212/91); programa de formao
do patrimnio do servidor pblico - PASEP (Lei Complementar n 8,
de 3.12.70).
A Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispe sobre o regi-
me jurdico dos servidores pblicos civis da Unio, das autarquias e das
fundaes pblicas federais. Por sua vez, a Lei n 8.429, de 2 de junho de
1992, dispe sobre as sanes aplicveis aos agentes pblicos nos casos
de enriquecimento ilcito no exerccio de mandato, cargo, emprego ou
funo na Administrao Pblica direta, indireta ou fundacional. Alm
dela, importante destacar a recente Lei n 9.784, de 29 de janeiro de
1999, que regula o processo administrativo no mbito da Administrao
Pblica federal, estabelecendo a garantia da moralidade (art. 2).
3. Conceito de improbidade administrativa
Flvio Stiro Fernandes
4
diferencia moralidade de probidade
administrativa, esclarecendo que a segunda o gnero do qual aquela
a espcie. Deste modo, a probidade administrativa abrange o princpio
da moralidade, o que se vericaria com a Lei n 8.429/92 que dene
4
FERNANDES, Flvio Stiro. Improbidade administrativa. Revista de Informao Legislativa, Braslia,
ano 34, n. 136, p. 102-103, out./dez., 1997.
157 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
os atos de improbidade. So aqueles atos que ensejam enriquecimento
ilcito, causam prejuzo ao errio ou atentam contra os princpios da Ad-
ministrao Pblica. Esto enunciados no art. 37, caput, da Lei Maior,
entre os quais destaca-se o da moralidade, juntamente com os princpios
da legalidade, impessoalidade e publicidade. Em suas consideraes, o
citado autor enfatiza:
A improbidade, por sua vez, signica a m qualidade de
uma administrao, pela prtica de atos que implicam
enriquecimento ilcito do agente ou prejuzo ao errio
ou, ainda, violao aos princpios que orientam a pbli-
ca administrao. Em suma, podemos dizer que todo ato
contrrio moralidade administrativa ato congurador
de improbidade. Porm, nem todo ato de improbidade
administrativa representa violao moralidade admi-
nistrativa.
Na mesma direo, posiciona-se Georges Ripert
5
, ao armar:
Se uma lei corresponde ao ideal moral, a sua observncia
ser facilmente assegurada; o respeito pela lei apoiar-se-
sobre a execuo voluntria e contente do dever, a sano
ser ecaz porque ela atingir os membros da sociedade
reconhecidamente rebeldes ao dever. Se, ao contrrio, a
lei fere o ideal moral da sociedade, ela no ser seno im-
perfeitamente obedecida at o dia em que, malgrado sua
aplicao difcil, ela conseguir deformar o ideal moral e
aparecer ela mesma como a traduo de um outro ideal.
Para Jos Afonso da Silva
6
, a imoralidade administrativa
mais ampla do que a probidade, entendendo que esta se trata de uma
imoralidade administrativa qualicada, denindo o mprobo como um
dilapidador da Administrao Pblica. Manoel de Oliveira Franco So-
5
RIPERT, Georges. Aspectos jurdicos do capitalismo moderno. So Paulo: Freitas Bastos, 1947.
6
SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. So Paulo: Malheiros Editores,
2000.
158
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
brinho
7
, por sua vez, aponta a relao entre legitimidade e moralidade,
ao lecionar:
Sem o elemento moral, presente nos demais elementos
ou participante deles, afastada a condio de moralidade,
jamais o ato administrativo atinge a perfeio e a eccia.
O ato aqui s aparece perfeito quando nele se integram
todos os elementos essenciais que o devam constituir, ou
melhor, form-lo concretamente desde que haja como
sempre h um indispensvel procedimento prvio.
4. Sujeitos da Lei n 8.429/92
Como toda ao ilcita, a improbidade administrativa surte
efeitos para dois plos, ou seja, os plos ativo e passivo da conduta.
Parece tarefa fcil a identicao dos sujeitos ativo e passivo dos atos
de improbidade administrativa, como se poderia depreender da simples
leitura dos arts. 1 a 3 da Lei n 8.429/92. Entretanto, tal interpreta-
o escorreita levaria a concluses que certamente no atingiriam os
ns colimados pelo legislador. Identicar o sujeito passivo dos atos de
improbidade administrativa importa saber quais os entes ou pessoas ju-
rdicas, sejam de direito pblico ou privado, passveis de sofrerem tais
atos. O sujeito passivo, por essncia, a Administrao Pblica, direta
ou indireta, como preceitua o art. 1 da lei em comento.
A doutrina se rmou no sentido de que as fundaes mantidas
pelo poder pblico so entidades da Administrao Pblica indireta, ao
lado das autarquias e empresas estatais. Sobre esse tema, no cabem
mais quaisquer debates, aps o advento da Emenda Constitucional n
19/98, que retirou do caput do art. 37 da Constituio Federal a expres-
so fundaes. Os conceitos de administrao direta e indireta esto
no prprio ordenamento jurdico. O art. 4 do Decreto-Lei n 200/67
dene administrao direta como a que se constitui dos servios in-
7
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Op. cit., p. 102.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
159 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tegrados na estrutura administrativa da Presidncia da Repblica e dos
Ministrios. J a administrao indireta conceituada como aquela
que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de per-
sonalidade jurdica prpria: a) autarquias; b) empresas pblicas; c) so-
ciedades de economia mista; d) fundaes pblicas. A ltima categoria
foi acrescentada pela Lei n 7.596/87.
Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, podero ser su-
jeitos ativos das condutas nela previstas, ou seja, atuantes nas prticas
mprobas, qualquer agente pblico e terceiros que induzam ou concor-
ram aos atos de improbidade administrativa, bem como deles se bene-
ciem. Tais disposies se encontram nos arts. 2 e 3 da lei. O art. 2
dene o que seja agente pblico para seus efeitos. Considera-se, assim,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remunera-
o, por eleio, nomeao, designao, contratao ou qualquer outra
forma de investidura ou vnculo, mandato, cargo, emprego ou funo
em qualquer das entidades previstas no art. 1. Entende-se, ento que
agente pblico todo aquele que atua no poder pblico.
Tambm os agentes pblicos judiciais, bem como os membros
do Ministrio Pblico, podem ser sujeitos ativos de atos de improbida-
de administrativa. Com isso, efetivamente so passveis de arcar com
as sanes previstas em lei. Porm, o mesmo no ocorre com os agentes
polticos, aos quais so conferidas certas prerrogativas, como ensina
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
8
: Quanto aos agentes polticos, cabem
algumas ressalvas, por gozarem, algumas categorias, de prerrogativas
especiais que protegem o exerccio do mandato.
o caso, em primeiro lugar, dos parlamentares que tm asse-
guradas a inviolabilidade por suas opinies, palavras e votos e a imu-
nidade parlamentar. A regra est expressa no art. 53 da Constituio
Federal, que dispe: Os Deputados e Senadores so inviolveis por
suas opinies, palavras e votos. O mesmo tipo de garantia assegu-
rada aos deputados estaduais (art. 24, 1) e aos vereadores (art. 29,
VIII). Em relao a estes, a inviolabilidade, limita-se circunscrio
do Municpio.
8
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 14. ed. So Paulo: Atlas, 2002. 222 p.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
160
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A inviolabilidade, tambm chamada de imunidade material,
impede a responsabilizao civil, criminal, administrativa ou poltica
do parlamentar pelos chamados crimes de opinio, de que constituem
exemplos os crimes contra a honra. Diz-se imunidade material porque,
embora ocorra o fato tpico descrito na lei penal, a Constituio exclui a
ocorrncia do crime. Fenmeno idntico aplica-se aos deputados esta-
duais, por fora do art. 27, 1, da Constituio Federal. Para os vere-
adores, no existe norma semelhante na Constituio Federal, podendo
aplicar-se inclusive pena de perda da funo pblica.
Em relao ao Presidente da Repblica, o art. 85, V, da Consti-
tuio Federal, inclui, entre os crimes de responsabilidade, os que aten-
tem contra a probidade na administrao. A Lei n 1.079/50, ao denir
os crimes de responsabilidade, refere-se a conceitos jurdicos indeter-
minados para denir tais crimes, estendendo-se a todas as categorias de
agentes abrangidos pela lei. Assim, constitui crime de responsabilidade
proceder de modo incompatvel com a dignidade, a honra e o decoro
do cargo.
Sobre a matria, arma Marino Pazzaglini Filho
9
: Assinale-se
que no so aplicveis as sanes de perda da funo pblica e de sus-
penso dos direitos polticos ao Presidente da Repblica que for sujeito
passivo de ao civil por improbidade administrativa. Essa concluso
resulta das normas constitucionais que disciplinam a cassao do Pre-
sidente da Repblica (arts. 85 e 86). Segundo o regramento constitu-
cional, a perda do mandato presidencial (impeachment) s se verica
por crime de responsabilidade denido em lei especial (Lei Federal n
1.079, de 10-4-1950), que dene os delitos de responsabilidade e regula
o processo de julgamento respectivo.
A competncia para instaurar o processo da Cmara dos De-
putados e para process-los e julg-los do Senado Federal, cabendo
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal presidir o julgamento. No
caso de condenao, por dois teros dos votos do Senado Federal, a
9
PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais,
administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade scal, legislao e jurisprudncia atua-
lizadas. So Paulo: Atlas, 2002. p. 134.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
161 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
punio (resoluo do Senado Federal) limita-se perda do cargo (im-
peachment) com inabilitao, por oito anos, para o exerccio de funo
pblica, sem prejuzo de sano penal por crime comum (art. 2 da Lei
n 1.079/50).
Dessume-se do exposto que o Presidente da Repblica poder
responder, em ao civil, por ato de improbidade administrativa. Na hi-
ptese de ser condenado, descabe a imposio das sanes de perda da
funo pblica e de suspenso dos direitos polticos, devendo o decreto
condenatrio limitar-se s demais penas previstas na Lei de Improbi-
dade Administrativa. A mesma garantia no prevista na Constituio
Federal, em relao aos governadores e aos prefeitos. Portanto, a eles se
aplica, em sua inteireza, a Lei de Improbidade Administrativa. Mesmo
que a legislao infraconstitucional ou as Constituies Estaduais pre-
vejam competncia do Poder Legislativo para julgamento dos crimes de
responsabilidade dos governadores, tais normas no tm o alcance de
afastar a incidncia do artigo 37, 4, da Constituio Federal.
Nos termos do art. 3 da Lei n 8.429/92, aquele que, mesmo
no sendo agente pblico, induz ou concorre para a prtica do ato de
improbidade, ou dele se benecie sob qualquer forma, direta ou indire-
ta, estar sujeito s sanes nela previstas no que couber. A expresso
no que couber refere-se to-somente impossibilidade de aquele que
no agente pblico receber sano tpica, por exemplo, a perda da fun-
o pblica. Para os ns previstos na citada lei, reputa-se agente pblico
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remunera-
o, por eleio, nomeao, designao, contratao ou qualquer outra
forma de investidura ou vnculo, mandato, cargo, emprego ou funo
em entidades da administrao direta, indireta ou fundacional ou de
empresa incorporada ao patrimnio pblico ou de entidade para cuja
criao ou custeio o errio pblico haja concorrido ou concorra com
mais de 50% do patrimnio ou da receita anual (art. 2, c/c o art. 1).
Os responsveis por atos de improbidade praticados contra o
patrimnio de entidade que receba subveno ou qualquer benefcio
do poder pblico ou para cuja criao ou custeio o errio pblico haja
concorrido ou concorra com menos de 50% tambm esto sujeitos s
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
162
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
penalidades da lei (art. 2, pargrafo nico). J o abuso de autorida-
de, denido na Lei n 4.898, de 9.12.65, alterada pela Lei n 6.657, de
5.6.79, sujeita o agente pblico federal, estadual ou municipal trplice
responsabilidade: civil, administrativa e penal.
A apurao da responsabilidade civil faz-se por ao ordinria,
no mbito da justia comum federal ou estadual, dependendo da auto-
ridade. A responsabilidade administrativa e a penal apuram-se atravs
dos processos especiais estabelecidos nos termos da prpria lei, atravs
de representao da vtima autoridade superior ou do Ministrio P-
blico competente para a ao criminal.
5. Modalidades dos atos de improbidade administrativa
A Lei n 8.429/92 classica os atos de improbidade adminis-
trativa em trs espcies: a) os que importam enriquecimento ilcito (art.
9); b) os que causam prejuzo ao errio (art. 10); c) os que atentam con-
tra os princpios da Administrao Pblica (art. 11). Em qualquer das
espcies, independentemente de outras sanes penais, civis e adminis-
trativas, previstas na legislao especca, a lei sujeita o responsvel
pelo ato de improbidade s cominaes previstas no art. 12. Segundo
a circunstncia, as cominaes podem ser: perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente; ressarcimento integral do dano; perda da fun-
o pblica; suspenso dos direitos polticos; multa civil; proibio de
contratar com o poder pblico ou receber benefcios ou incentivos s-
cais ou creditcios. Cabe ao Judicirio aplic-las, levando em conta a
extenso do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12,
pargrafo nico).
Na variada tipologia de atos de improbidade administrativa,
destaca-se: Adquirir, para si ou para outrem, no exerccio de mandato,
cargo, emprego ou funo pblica, bens de qualquer natureza cujo va-
lor seja desproporcional evoluo do patrimnio ou renda do agente
pblico (art. 9, VII). Esse destaque deve-se a seu notvel alcance, pois
inverte o nus da prova, sempre difcil para o autor da ao em casos
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
163 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
como o descrito pela norma. Sob esse prisma, quando desproporcional,
o enriquecimento ilcito presumido, cabendo ao agente pblico a pro-
va de que ele foi lcito, apontando a origem dos recursos necessrios
aquisio.
Formula-se, ento, o primeiro conceito, na lio de Cristiano
lvares Valladares do Lago
10
: O carter exemplicativo de menciona-
das hipteses decorre da interpretao literal, teleolgica e sistemtica
da expresso notadamente que antecede o rol descrito pelo legislador.
Filiamo-nos a esse entendimento, conforme se depreende da leitura do
caput do art. 9, que traz a expresso notadamente. Infere-se, assim,
ser possvel a ocorrncia de outros casos de improbidade administrati-
va que ocasionem enriquecimento ilcito, alm daqueles mencionados
na lei. A prpria expresso constante no artigo mencionado nos leva a
essa concluso, ao considerar como improbidade administrativa toda
conduta em que o agente pblico auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida. O art. 9 assim preceitua:
Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilcito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razo do exerccio de cargo,
mandato, funo, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1 desta Lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem mvel
ou imvel, ou qualquer outra vantagem econmica, di-
reta ou indireta, a ttulo de comisso, percentagem, gra-
ticao ou presente de quem tenha interesse, direto ou
indireto, que possa ser atingido ou amparado por ao ou
omisso decorrente das atribuies do agente pblico;
II - perceber vantagem econmica, direta ou indireta, para
facilitar a aquisio, permuta ou locao de bem mvel ou
imvel, ou a contratao de servios pelas entidades referi-
das no art. 1 por preo superior ao valor de mercado;
III - perceber vantagem econmica, direta ou indireta,
para facilitar a alienao, permuta ou locao de bem p-
blico ou o fornecimento de servio por ente estatal por
10
LAGO, Cristiano lvares Valladares do. Improbidade administrativa. So Paulo: RT, 2000. p. 786-791.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
164
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
preo inferior ao valor de mercado;
IV - utilizar, em obra ou servio particular, veculos, m-
quinas, equipamentos ou material de qualquer natureza,
de propriedade ou disposio de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1 desta Lei, bem como o trabalho de
servidores pblicos, empregados ou terceiros contratados
por essas entidades;
V - receber vantagem econmica de qualquer natureza,
direta ou indireta, para tolerar a explorao ou a prtica
de jogos de azar, de lenocnio, de narcotrco, de contra-
bando, de usura ou de qualquer outra atividade ilcita, ou
aceitar promessa de tal vantagem;
VI - receber vantagem econmica de qualquer natureza,
direta ou indireta, para fazer declarao falsa sobre me-
dio ou avaliao em obras pblicas ou qualquer outro
servio, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou
caracterstica de mercadorias ou bens fornecidos a qual-
quer das entidades mencionadas no art. 1 desta Lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exerccio de
mandato, cargo, emprego ou funo pblica, bens de
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional evo-
luo do patrimnio ou a renda do agente pblico;
VIII - aceitar emprego, comisso ou exercer atividade de
consultoria ou assessoramento para pessoa fsica ou ju-
rdica que tenha interesse suscetvel de ser atingido, ou
amparado por ao ou omisso decorrente das atribui-
es do agente pblico, durante a atividade;
IX - perceber vantagem econmica para intermediar a
liberao ou aplicao de verba pblica de qualquer na-
tureza;
X - receber vantagem econmica de qualquer natureza,
direta ou indiretamente, para omitir ato de ocio, provi-
dncia ou declarao a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimnio
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 desta
Lei;
XII - usar, em proveito prprio, bens, rendas, verbas ou
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
165 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1 desta Lei.
Sobre os atos de improbidade administrativa que causam pre-
juzo ao errio, assim dispe o art. 10:
Constitui ato de improbidade administrativa que causa
leso ao errio qualquer ao ou omisso, dolosa ou cul-
posa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriao,
malbaratamento ou dilapidao dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1 desta Lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a in-
corporao ao patrimnio particular, de pessoa fsica ou
jurdica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art.
1 desta Lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa fsica ou jur-
dica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores inte-
grantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas
no art. 1 desta Lei, sem a observncia das formalidades
legais ou regulamentares aplicveis espcie;
III - doar pessoa fsica ou jurdica bem como ao ente
despersonalizado, ainda que de ns educativos ou assis-
tenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimnio de
qualquer das entidades mencionadas no art. 1 desta Lei,
sem observncia das formalidades legais e regulamenta-
res aplicveis espcie;
IV - permitir ou facilitar a alienao, permuta ou locao
de bem integrante do patrimnio de qualquer das enti-
dades referidas no art. 1 desta Lei, ou ainda a prestao
de servio por parte delas, por preo inferior ao de mer-
cado;
V - permitir ou facilitar a aquisio, permuta ou locao
de bem ou servio por preo superior ao de mercado;
VI - realizar operao nanceira sem observncia das
normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insu-
ciente ou inidnea;
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
166
VII - conceder benefcio administrativo ou scal sem a
observncia das formalidades legais ou regulamentares
aplicveis a espcie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatrio ou dispen-
s-lo indevidamente;
IX - ordenar ou permitir a realizao de despesas no au-
torizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadao de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito conservao do
patrimnio pblico;
XI - liberar verba pblica sem a estrita observncia das
normas pertinentes ou inuir de qualquer forma para a
sua aplicao irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriquea ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou servio par-
ticular, veculos, mquinas, equipamentos ou material
de qualquer natureza, de propriedade ou disposio de
qualquer das entidades mencionadas no art. 1 desta Lei,
bem como o trabalho de servidor pblico, empregados ou
terceiros contratados por essas entidades.
Como se observa, os artigos 9 e 10 so enunciados, ora con-
cretos, ora abstratos, das diversas espcies de atos de improbidade ad-
ministrativa. Verica-se no estudo da improbidade que, quando o ato
mprobo ocorre, caso no esteja expresso nos art. 9 e 10, fatalmente
incorrer em uma das hipteses do art.11. Esse dispositivo trata dos
atos de improbidade administrativa que atentam contra os princpios da
Administrao Pblica, assim dispondo:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princpios da administrao pblica qual-
quer ao ou omisso que viole os deveres de honestida-
de, imparcialidade, legalidade, e lealdade s instituies,
e notadamente:
I - praticar ato visando m proibido em lei ou regulamen-
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
167
to ou diverso daquele previsto na regra de competncia;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de
ofcio;
III - revelar fato ou circunstncia de que tem cincia em
razo das atribuies e que deva permanecer em segre-
do;
IV - negar publicidade aos atos ociais;
V - frustrar a licitude de concurso pblico;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a
faz-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de
terceiro, antes da respectiva divulgao ocial, teor de
medida poltica ou econmica capaz de afetar o preo de
mercadoria, bem ou servio.
6. Espcies de sanes aplicveis
Para cada forma dos atos de improbidade administrativa, cabe
uma penalidade especca da Lei n 8.429/92, dentre as previstas nos
trs incisos do art.12, alm das sanes penais, civis e administrativas
previstas em leis e j analisadas. Caio Tcito
11
, tratando da matria,
destaca a importncia da adoo da preveno:
Mais construtiva, porm, do que a sano de desvios de
conduta funcional ser a adoo de meios preventivos
que resguardem a coisa pblica de manipulaes dolosas
ou culposas. (...) Os impedimentos legais conduta dos
funcionrios pblicos e as incompatibilidades de parla-
mentares servem de antdoto s facilidades marginais que
permitem a captao de vantagens ilcitas.
Na hiptese do enriquecimento ilcito, o responsvel pelo ato
11
TCITO, Caio. Moralidade administrativa. In: Revista de Direito Administrativo, n. 218, p. 1/10, out./
dez., 1999.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
168
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
de improbidade est sujeito perda dos bens ou valores acrescidos ili-
citamente ao patrimnio, ao ressarcimento integral do dano, quando
houver, perda da funo pblica e suspenso dos direitos polticos
de 8 (oito) a 10 (dez) anos. Sujeita-se ainda ao pagamento de multa civil
de at 3 (trs) vezes o valor do acrscimo patrimonial e proibio de
contratar com o poder pblico ou de receber benefcios ou incentivos
scais ou creditcios, direta ou indiretamente, ainda que por intermdio
de pessoa jurdica da qual seja scio majoritrio, pelo prazo de 10 (dez)
anos.
J no caso da prtica dos atos de improbidade administrativa
que causem prejuzo ao errio, o agente pblico estar sujeito s se-
guintes cominaes: ressarcimento integral do dano; perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimnio, se ocorrer esta circuns-
tncia; perda da funo pblica; suspenso dos direitos polticos de 5
(cinco) a 8 (oito) anos; pagamento de multa civil de at 2 (duas) vezes
o valor do dano. Fica tambm proibido de contratar com o poder p-
blico ou receber benefcio ou incentivos scais ou creditcios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja
scio majoritrio, pelo prazo de 5 (cinco) anos.
A terceira hiptese de cominao de pena aplica-se para os
atos de improbidade administrativa que atentam contra os princpios da
administrao pblica, previstos no art.11 da Lei n 8.429/92: ressar-
cimento integral do dano, se houver; perda da funo pblica; suspen-
so dos direitos polticos entre 3 (trs) a 5 (cinco) anos; pagamento de
multa civil de at 100 (cem) vezes o valor da remunerao percebida
pelo agente. Fica tambm proibido de contratar com o poder pblico
ou receber benefcios ou incentivos scais ou creditcios, direta ou in-
diretamente, ainda que por intermdio de pessoa jurdica da qual seja
scio majoritrio, pelo prazo de 3 (trs) anos. Na mensurao das penas
acima relacionadas, o juiz deve observar a extenso do dano causado,
assim como o provvel proveito patrimonial obtido pelo agente.
Vale lembrar que a perda da funo pblica e a suspenso dos
direitos polticos s se efetivam com o trnsito em julgado da sentena
condenatria. Porm, a autoridade judicial ou administrativa compe-
tente poder determinar o afastamento do agente pblico do exerccio
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
169 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
do cargo, emprego ou funo, sem prejuzo da remunerao, quando
a medida se zer necessria instruo processual. Tambm, deve-se
levar em conta que a aplicao das sanes previstas na Lei de Im-
probidade Administrativa independe da efetiva ocorrncia de dano ao
patrimnio pblico. Independe, alm disso, da aprovao ou rejeio
das contas pelo rgo de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho
de Contas.
7. Procedimento judicial
Caio Tcito
12
assim dene os meandros do procedimento judicial:
Na via judiciria, a par dos processos criminais, a ao
popular e a ao civil publica facultam a iniciativa popu-
lar, ou do Ministrio Pblico, como instrumento de con-
trole da legalidade nos atos da Administrao Pblica e
se especializam no combate corrupo e a seus efeitos
danosos ao patrimnio pblico.
Dessa forma, qualquer pessoa poder representar autoridade
administrativa competente para que seja instaurada investigao desti-
nada a apurar a prtica de ato de improbidade. Esta representao, por
sua vez, ser escrita ou reduzida a termo e assinada. Conter a quali-
cao de quem representa, as informaes sobre o fato e sua autoria e
a indicao das provas de que tenha conhecimento, segundo o art. 14
da Lei de Improbidade Administrativa. No sendo preenchidas as for-
malidades acima indicadas, a autoridade administrativa dever rejeitar
a representao, em despacho fundamentado. Mas esta rejeio no im-
pede a devida representao por parte do Ministrio Pblico. Porm, tal
representao dever conter as formalidades estabelecidas em lei.
Atendidos os requisitos da representao, a autoridade deter-
minar a imediata apurao dos fatos. Em se tratando de servidores
12
TCITO, Caio. Ibidem.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
170
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
federais, a ao ser processada na forma prevista nos arts. 148 e 182
da Lei n 8.112, de 11 de dezembro de 1990; em se tratando de servi-
dor militar, o feito correr de acordo com os respectivos regulamentos
disciplinares. De imediato, a comisso processante dar conhecimento
ao Ministrio Pblico e ao Tribunal ou Conselho de Contas da exis-
tncia de procedimento administrativo para apurar a prtica de ato de
improbidade (art. 15 da Lei n 8.429/92). Assim, o Ministrio Pblico
ou Tribunal ou Conselho de Contas poder, a requerimento, designar
representante para acompanhar o procedimento administrativo. Este
requerimento no poder ser negado pela autoridade administrativa.
O Ministrio Pblico e o Tribunal de Contas podero acompa-
nhar o processo administrativo, devendo comunicar autoridade pro-
cessante seu interesse, por meio de ofcio. Havendo fundados indcios
de responsabilidade, a comisso representar ao Ministrio Pblico ou
Procuradoria do rgo para que requeira ao juzo competente a decre-
tao do seqestro dos bens do agente ou de terceiro que tenha enrique-
cido ilicitamente ou causado dano ao patrimnio pblico. Tal pedido
de seqestro ser processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e
825 do Cdigo de Processo Civil, podendo-se incluir a investigao, o
exame e o bloqueio de bens, contas bancrias e aplicaes nanceiras
mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais. Enm, a norma permite a investigao ampla do Minis-
trio Pblico, no mais existindo o sigilo legal bancrio para as requisi-
es das necessrias informaes.
Aps o pedido de seqestro dos bens e a efetivao da medida
cautelar, dentro de 30 (trinta) dias, ser proposta pelo Ministrio P-
blico ou pela pessoa jurdica interessada a ao principal, a qual ter o
rito ordinrio. O prazo de 30 (trinta) dias somente deve ser observado
quando houver prvia ao cautelar de seqestro. Trata-se de prazo me-
ramente indicativo que, se no cumprido, pode tornar inecaz o seqes-
tro anteriormente deferido. Caso no seja ajuizada a ao principal no
prazo de 30 (trinta) dias, nem por isso h perecimento do direito de ao
contra o causador do dano ao patrimnio pblico e social.
vedado qualquer tipo de transao, acordo ou conciliao
nestas aes, segundo o 1 do art. 17 da Lei n 8.429/92 . A Fazenda
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
171 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Pblica, quando for o caso, promover as aes necessrias comple-
mentao do ressarcimento do patrimnio pblico. No caso de a ao
principal ter sido proposta pelo Ministrio Pblico, aplica-se, no que
couber, o disposto no 3 do art. 6 da Lei n 4.717, de 29 de junho de
1965. Vale acrescentar que, se o Ministrio Pblico no intervier no
processo como parte, atuar, obrigatoriamente, como scal da lei, sob
pena de nulidade do feito. Ao prolatar a sentena julgando procedente a
ao civil de reparao de dano ou decretando a perda dos bens havidos
ilicitamente, o juiz determinar o pagamento ou a reverso dos bens,
conforme o caso, em favor da pessoa jurdica prejudicada pelo ilcito.
7.1 Tutela cautelar
O CPC trata das medidas cautelares, em seu Livro III. Tal pre-
viso torna desnecessria a admisso de cautelares pela lei de improbi-
dade administrativa, pois, conforme o seu art. 17, as cautelares do CPC
so aplicveis ao processo de improbidade administrativa. O primeiro
ponto a ser ressaltado a vericao da possibilidade de serem utili-
zadas todas as cautelares previstas no Cdigo de Processo Civil para
os casos de improbidade administrativa. Nesse sentido, arma Marino
Pazzaglini Filho
13
:
De se ver, outrossim, que, para a proteo de providncia
jurisdicional pleiteada em ao de improbidade adminis-
trativa, o Promotor de Justia no est limitado s medi-
das cautelares nomeadas na LIA, podendo, perante a real
necessidade, utilizar-se do poder cautelar amplo espec-
co ou inominado previsto no CPC (arts. 796 a 889).
A possibilidade de utilizao de qualquer cautelar em se tra-
tando de improbidade administrativa no gera dvidas. Deve, todavia,
ater-se o magistrado aos princpios da proporcionalidade e razoabilida-
13
PAZZAGLINI FILHO, Marino. Op. cit., p. 134.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
172
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
de no tocante medida a ser utilizada, bem como em quais circunstn-
cias. A esse respeito, pondera Marcelo Figueiredo
14
:
Desnecessrio encarecer que a jurisprudncia brasileira
consagrou o princpio da proporcionalidade como uma
das vrias idias jurdicas que fundamentam o exerccio
dos direitos, bem como a atuao do Poder Judicirio.
Qualquer atuao do Poder Judicirio, e, sobretudo, em
suas manifestaes concessivas de medidas restritivas
(como o caso da consulta), exige necessidade, de forma
adequada e na justa medida, objetivando a mxima ec-
cia da atuao dos direitos fundamentais.
A concesso de medida cautelar em sede de improbidade admi-
nistrativa submete-se a todos os requisitos necessrios inerentes a qual-
quer medida cautelar. O fumus boni juris e o periculum in mora tambm
so necessrios ante a probabilidade de que ao pedido venha a ser dada
procedncia. Porm, no deve ser deferida a medida sem que se demons-
tre a extrema urgncia. As medidas cautelares podem ser preparatrias
ou incidentais. Quando preparatrias, requerem autuao e tramitao
prpria para que, em prazo determinado em lei, seja proposta a ao prin-
cipal. J nos casos de cautelares incidentais, a medida se faz necessria
durante o trmite processual. Para tanto, deve ser feito pedido ao juzo
que esteja conhecendo do processo. Nos casos de improbidade adminis-
trativa, tais medidas so de fcil acesso e admissibilidade, visto que o art.
12 da Lei n 7.347/85 prev expressamente tal possibilidade.
7.2 Competncia
No estudo da competncia, a doutrina se dividiu. Na anlise
da matria, abriu-se a discusso relativa possibilidade de cogitar-se
de foro por prerrogativa de funo na improbidade administrativa. F-
14
FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentrios Lei n 8.429/92 e legislao comple-
mentar. 3. ed. atualizada e ampliada. So Paulo: Malheiros Editores, 1998.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
173 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
bio Konder Comparato
15
repele esse entendimento, esclarecendo que,
nas aes de improbidade, inquestionvel a competncia do juzo de
primeiro grau, no sendo lcito ao legislador instituir foro privilegiado.
Essa armativa se acha apoiada nos fundamentos seguintes: a) a ins-
tituio de foro privilegiado matria submetida reserva constitucio-
nal, no existindo dispositivo expresso a esse respeito quanto ao de
improbidade, a qual no se confunde com ao penal; b) o princpio da
igualdade seria violado pela criao de foro privilegiado, tendo em vista
que o constituinte de 1988; no estabeleceu a possibilidade de criao de
foro privilegiado, nem autorizou a sua criao mediante lei; c) as dispo-
sies constitucionais que instituem foro por prerrogativa de funo, em
virtude de seu carter excepcional, so interpretadas de maneira restrita.
A discusso no cessou na jurisprudncia. O Superior Tribunal
de Justia, na Reclamao 591 SP
16
, relativa ao de improbidade
movida contra juzes de Tribunal Regional do Trabalho, decidiu que,
estando-se diante de ao civil e no criminal, no teria aplicao o art.
105, I, a, da CF. Entretanto, cou consignado no voto do relator que, no
futuro, impunha-se uma reviso das competncias jurisdicionais.
Cita-se tambm a Reclamao 2.138
17
, em cujo julgamento, ini-
ciado em 20-11-02, ensaiou-se uma reviravolta no Supremo Tribunal Fede-
ral. Votando, na qualidade de relator, o Ministro Nelson Jobim procedeu
distino entre os regimes de responsabilidade poltico-administrativa pre-
vistos na Constituio, quais sejam os referidos pelos arts. 37, 4, e 102,
I, c, ambos da Carta Poltica. Entendeu o Ministro que os agentes polticos,
neste ltimo dispositivo, por estarem regidos por normas especiais, no
respondem por improbidade administrativa com base na Lei n 8.429/92,
mas apenas por crime de responsabilidade em ao a ser ajuizada perante o
Supremo Tribunal Federal. A concluso do voto foi pela procedncia da re-
clamao, reconhecendo a competncia do Pretrio Excelso, com a extin-
o do processo em curso perante a 14 Vara da Seo Judiciria do Distrito
Federal. O relator foi acompanhado pelos Ministros Gilmar Mendes, Ellen
15
Apud PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Coord.). Improbidade administrativa. So Paulo:
Malheiros, 2001. p. 350-363.
16
Corte Especial, mv, rel. Min. Nilson Naves, DJU de 15-05-00.
17
Informativo STF 291.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
174
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Gracie, Maurcio Corra e Ilmar Galvo.
Em dezembro do mesmo ano, foi promulgada a Lei n
10.628/02, que inseriu dois novos pargrafos ao art. 84 do Cdigo de
Processo Penal, dispondo: a) a competncia especial por prerrogativa
de funo, relativa a atos administrativos do agente, prevalece quanto a
inqurito ou ao criminal ajuizada quando j cessado o mandato; b) a
ao de improbidade, prevista na Lei n 8.429/92, ser proposta perante
o tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcio-
nrio ou autoridade na hiptese de foro por prerrogativa de funo.
O novel diploma constituiu objeto da ADIN n 2.797 2, na
qual foi denegada liminar por deciso monocrtica da lavra do Min. Se-
plveda Pertence. Sem embargo da relevncia dos argumentos contr-
rios compatibilidade vertical de tal inovao, diante da presuno de
constitucionalidade que acompanha as normas emanadas do processo
legislativo regular, temerria a sua no aplicao pelos magistrados
singulares. At porque decises neste sentido poderiam beneciar os
rus diante da nulidade absoluta que poderia ser reconhecida na eventu-
al sentena condenatria, inclusive em grau de ao rescisria, podendo
at ocasionar prescrio da possvel renovao da demanda
18
.
18
Enquanto no decidida a questo acerca da inconstitucionalidade em tese do 2 do art. 84 do Cdigo de
Processo Penal, com a inovao da Lei n 10.628/02, o Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental
na Reclamao 2.381 MG (Pleno, mv, rel. Min. Carlos Britto, julg. em 06-11-03, Informativo STF 328)
manifestou entendimento que homenageia a presuno de constitucionalidade das leis, armando deverem
ser-lhe remetidos os autos de procedimento investigatrio instaurado contra atual senador, ento governa-
dor, poca dos fatos, o qual conclura pela necessidade de propositura de ao de improbidade. Por seu
turno, o Superior Tribunal de Justia, em julgamento proferido no Agravo Regimental na Petio 1.881 - PR
(Corte Especial, ac. un., rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 25-08-03), malgrado assentar
no lhe competir a instaurao de procedimento informativo ou administrativo por improbidade, cabendo
ao interessado representar autoridade administrativa competente ou ao Ministrio Pblico, frisou, com
muita propriedade, sua competncia para a respectiva ao judicial, caso ajuizada contra governador de
Estado, em virtude da superveniente edio da Lei n 10.628/02. A ementa do julgado, bem assim o pro-
nunciamento do relator, so bastante elucidativos a respeito do referido discrimen. Por sua vez, pequena
irregularidade tcnica, constatvel com a leitura da ementa do Agravo Regimental na Petio 1.883 PR
(Corte Especial, ac. un., rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 22-09-03), julgado dois dias aps, em 18-06-03,
parece supor radical mudana hermenutica, ilao sanada com o teor do voto, no qual se v inalterado o
entendimento de que, com o advento da Lei n 10.628/02, compete Augusta Corte o julgamento de ao
judicial de improbidade administrativa promovida contra governador de Estado.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
175 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Com sua nova composio, o Supremo Tribunal Federal pode-
r elucidar denitivamente a questo. iminente a necessidade de ma-
nifestao conclusiva do Pretrio Excelso sobre to relevante assunto, a
m de ser afastado qualquer risco de insegurana jurdica, o que poder
ocorrer com a retomada do julgamento da Reclamao 2.138, ou com o
processamento da ADIN 2.797 2.
8. Declarao dos bens
A lei da improbidade busca, de vrias maneiras, bloquear a
conduta do agente pblico, antes que venha a praticar atos mprobos.
Deste modo, a posse e o exerccio de agente pblico cam condiciona-
dos apresentao de declarao dos bens e valores que compem o
seu patrimnio privado, a m de ser arquivada no Servio de Pessoal
competente. O Dec. n 978/93 normatiza a forma da apresentao dessa
declarao de bens, conforme expressa o art. 13.
Essa declarao dever descrever os bens imveis, mveis, se-
moventes, dinheiro, ttulos, aes e qualquer outra espcie de bens e
valores patrimoniais, localizados no pas ou no exterior. Atente-se para
fato de que, em determinadas circunstncias, a declarao dever indi-
car tambm os bens e valores patrimoniais do cnjuge ou companheiro,
dos lhos e de outras pessoas que vivam sob a dependncia econmica
do declarante, excludos apenas os objetos e utenslios de uso domsti-
co. Outro ponto de relevo na declarao o fato de que ela dever ser
atualizada anualmente e, quando o agente pblico deixar o exerccio do
mandato, cargo, emprego ou funo, dever novamente demonstr-la.
A punio para o agente pblico que se recusar a prestar decla-
rao dos bens, dentro do prazo determinado, ou que prestar informa-
es falsas, ser a demisso, sem prejuzo de outras sanes cabveis,
segundo o 3 do art.13 da Lei n 8.429/92. Porm, lcito ao agente
pblico apresentar cpia da declarao anual de bens entregue na Re-
ceita Federal quando de sua declarao do imposto de rendas. Ocor-
rendo denncia falsa quanto a ato de improbidade de agente pblico
ou terceiro benecirio, a esfera administrativa no poder car inerte
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
176
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ao falsrio. Quando o autor da denncia tem conhecimento de que o
agente pblico ou o terceiro benecirio so inocentes e ainda assim faz
a representao, ser ele apenado com deteno de 6 (seis) a 10 (dez)
meses e multa. Alm desta sano penal, o denunciante est sujeito a
indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou imagem, que
houver provocado.
9. Prescrio
O entendimento de que o dano ao errio no prescreve acei-
to pela maioria da doutrina. Entretanto, o ato de improbidade em si
passvel de prescrio, segundo o art. 23 da Lei n 8.429/92. As aes
destinadas a levar a efeito as sanes previstas na citada lei podem ser
propostas:
I - at 5 (cinco) anos aps o trmino do exerccio de man-
dato, de cargo em comisso ou de funo de conana;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei espe-
cca para faltas disciplinares punveis com demisso a
bem do servio pblico, nos casos de exerccio de cargo
efetivo ou emprego.
Se o vnculo do agente com a administrao pblica derivar de
mandato eletivo, cargo em comisso ou funo de conana, o direito
de ao prescreve em cinco anos aps o respectivo exerccio. Se o agen-
te for titular de cargo efetivo ou emprego, a prescrio consumar-se-
nos termos do prazo previsto para a apurao das faltas disciplinares
punveis com demisso, que tambm de cinco anos. J aos agentes
que exercem cargos de direo em entidades privadas, no integrantes
da Administrao Pblica direta, a que se refere o pargrafo nico do
art. 1 da Lei n 8.429/92, mais consentnea a aplicao da regra do
art. 23, I, do mesmo diploma. Isso ocorre, em face da abertura concei-
tual da expresso mandato, o qual no abrange apenas atividades p-
blicas, mas a gesto de entes particulares, como , por exemplo, o caso
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
177 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
da investidura em diretoria ou conselho de administrao de sociedade
annima.
10. Concluses
Com base nas consideraes feitas ao longo deste estudo, po-
demos chegar as seguintes concluses:
a) A improbidade administrativa no alberga apenas questes
de ndole estritamente jurdicas, pois o relevo moral de suas aferies
gigantesco. H, inclusive, doutrinadores que divergem do gnero na re-
lao improbidade-moralidade. Em virtude das presses sociais, surgiu,
na nossa ordem poltico-constitucional, a criao de institutos de defesa
do patrimnio pblico, buscando conter as aes levianas de adminis-
tradores pblicos, a exemplo da Lei n 8.429/92. Sanes severas esto
dispostas neste diploma legal, justamente para coibir prticas delituosas
dos gestores inaptos ou mal intencionados, como a suspenso dos direitos
polticos, a perda da funo pblica, a indisponibilidade dos bens e o res-
sarcimento ao errio dos prejuzos causados. Em interpretao extensiva,
compreende-se que o termo agente pblico, usado na Lei n 8.429/92,
designa qualquer um que exera cargo, emprego ou funo em entidade,
no necessariamente prestadora de servio pblico, que receba subven-
o, benefcio ou incentivo, creditcio ou scal, do poder pblico.
b) Ao regulamentar o art. 37, 4, da Carta Magna, a Lei n
8.429/92, no seu art. 12, prev vrios espcimes punitivos a serem apli-
cados diante da caracterizao de atos de improbidade. No julgamento
desses casos, no dever passar despercebido pelo magistrado o princ-
pio da proporcionalidade, quer para excluir a presena do ato violador
da ordem moral administrativa, quer para regular a dosagem da sano
aos fatos cometidos. Deve ainda levar em considerao a incidncia
de outros limites constitucionais ao jus puniendi criminal, tais como a
vedao do bis in idem e das penas de cunho perptuo.
c) De acordo com a Lei n 8.429/92, a legitimidade para ajuizar
demanda por ato de improbidade administrativa pertence ao Ministrio
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
178
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Pblico ou pessoa jurdica interessada. No seu texto, est prevista fase
destinada ao recebimento da pea vestibular e a possibilidade de imposi-
o de providncias de ordem cautelar. Por sua vez, a indisponibilidade
de bens, permissiva quando se cogitar de ato que cause enriquecimento
ilcito ou leso ao patrimnio pblico, dever ser argumentada na pr-
pria ao ou em demanda cautelar. Na primeira hiptese, est restrita
aos bens adquiridos posteriormente aos fatos em apurao, exigindo-se,
para a sua decretao, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum
in mora, alm de outros previstos no art. 804 do CPC.
d) O afastamento prvio do agente, previsto no art. 20, par-
grafo nico, da Lei n 8.429/92, o qual pode sobrevir de ofcio, objetiva
assegurar a satisfatria colheita de provas, ameaada pela possibilidade
do acusado em eliminar ou obstar a produo de elementos de convic-
o acerca dos fatos a serem devidamente apurados. Essa circunstncia
deve ser demonstrada pelo julgador no ato que o deferir, sem esquecer
que a incidncia da medida aos titulares de mandato eletivo se congu-
ra exceo, exigindo, para tanto, cautelas redobradas pelo intrprete.
e) A designao do foro importante, no obstante a indiscut-
vel relevncia da argumentao de que a instituio de foro privilegiado
se submete reserva da Carta Poltica. Assim, a sua disposio median-
te lei ordinria afrontaria o postulado que impe tratamento igualitrio
(art. 5, I, CF). No se pode, por outro lado, inteiramente desconsiderar
a presuno de constitucionalidade das leis, de modo a reclamar-se,
com urgncia, a manifestao do Pretrio Excelso sobre o assunto, sob
pena de representar forte ferimento segurana jurdica.
Por m, a improbidade prescreve nos intervalos temporais
mencionados no art. 23 da Lei n 8.429/92. Sua contagem diferencia-se
conforme se trate de agente que exera cargo efetivo ou emprego pbli-
co, sem esquecer que, no tocante pretenso de ressarcimento, suporta
a imprescritibilidade, ex vi do art. 37, 5, da Carta Magna.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
179 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
Referncias bibliogrcas
ALMEIDA TOURINHO, Rita Andra Rehem. A eccia social da atu-
ao do Ministrio Pblico no combate improbidade administrativa.
In: Revista de Direito Administrativo, n. 227, 2002.
BANDEIRA DE MELO, Celso Antnio. Curso de direito administrati-
vo. 13. ed. rev. atual. e ampl. So Paulo: Malheiros Editores, 2001.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. So Pau-
lo: Malheiros Editores, 2002.
CASTRO, Jos Nilo de. Improbidade administrativa municipal. In: Re-
vista Interesse Pblico, n. 8, 2000.
COMPARATO, Fbio Konder. Aes de improbidade administrativa.
In: Revista Trimestral de Direito Pblico, n. 26, 1999.
DALLARI, Adilson Abreu. Administrao pblica no Estado de Direi-
to. In: Revista Trimestral de Direito Pblico, n. 5, 1994.
DELGADO, Jos Augusto.O princpio da moralidade administrativa e
a Constituio Federal de 1988. In: Revista dos Tribunais, v. 680.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 14. ed. So
Paulo: Atlas, 2002.
FERREIRA, Sergio de Andra. A moralidade na principiologia da
atuao governamental. In: Revista de Direito Administrativo, n. 220,
2000.
FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentrios Lei
n 8.429/92 e legislao complementar. 3. ed. atualizada e ampliada.
So Paulo: Malheiros Editores, 1998.
FRANCO JNIOR, Raul de Mello. Competncia para o julgamento de
prefeitos pela prtica de atos de improbidade administrativa. In: Revista
Interesse Pblico, n. 14, 2002.
180
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O princpio constitucio-
nal da moralidade administrativa. Curitiba: Gnesis, 1993.
GIACOMUZZI, Jos Guilherme. A moralidade administrativa: histria
de um conceito. In: Revista de direito administrativo, n. 230, 2002.
GOMES DE MATTOS, Mauro Roberto. Improbidade administrativa e
atos judiciais. In: Revista de Direito Administrativo, n. 230, 2002.
JUSTEN FILHO, Maral. O princpio da moralidade pblica e o direito
tributrio. In: Revista Trimestral de Direito Pblico, n. 11, 1995.
LAGO, Cristiano lvares Valladares. Improbidade administrativa. So
Paulo: RT, 2000.
LEITE, Rosimeire Ventura. O princpio da ecincia na administrao
pblica. In: Revista de Direito Administrativo, n. 226.
MARTINS JNIOR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. So
Paulo: Saraiva, 2001.
________________. Alguns meios de investigao da improbidade ad-
ministrativa. In: Revista dos Tribunais, So Paulo, v. 325.
MATTOS NETO, Antnio Jos. Responsabilidade civil por improbi-
dade administrativa. In: Revista Trimestral de Direito Pblico, n. 20,
1997.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27. ed.
Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo; Dlcio Balestero Aleixo e
Jos Emanuel Burle Filho, So Paulo: Malheiros Editores, 2002.
MELLO, Rafael Munhoz de. Sano administrativa e o princpio da
legalidade. In: Revista Trimestral de Direito Pblico, n. 30, 2000.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 9. ed. Atualizada com
a EC n 31/00, So Paulo: Atlas, 2001.
OSRIO, Fbio Medina. Improbidade administrativa. Porto Alegre:
Sntese, 1997.
181 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Srgio Alexandre de Moraes Braga Junior
PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa
comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais,
processuais e de responsabilidade scal, legislao e jurisprudncia
atualizadas. So Paulo: Atlas, 2002.
PEREIRA, Luiz Alberto Ferracini. Improbidade administrativa: teoria,
prtica e jurisprudncia. Vila Nova: Julex, 1996.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 14. ed. So
Paulo: Atlas, 2002.
PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. Improbidade Administrativa:
requisitos para tipicidade. In: Revista Interesse Pblico, n. 11, 2001.
PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Coord.). Improbidade admi-
nistrativa. So Paulo: Malheiros, 2001.
RIBEIRO JNIOR, Ubergue. Moral e moralidade administrativa:
aspectos ontolgicos. In: Revista de Direito Administrativo, n. 228,
2002.
RIPERT, Georges. Aspectos jurdicos do capitalismo moderno. So
Paulo, Freitas Bastos, 1947.
SILVA, Jos Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed.
So Paulo: Malheiros Editores, 2000.
TCITO, Caio, Moralidade administrativa. So Paulo: RDA, n. 218,
out./dez., 1999.
182
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Consideraes iniciais
Grande a evoluo pela qual vem passando a humanidade
ao longo do sculo que se ndou e deste que se inicia, com profunda
repercusso nas relaes entre as diversas sociedades e dentro de cada
uma delas. Nesse contexto, arma Diego Romero
1
:
Vivemos, ento, num tempo de transio entre uma so-
ciedade industrial e uma sociedade digital, entre uma so-
ciedade nacional e uma sociedade global, entre a lgica-
formal cartesiana e a cultura dos espaos virtuais, plurais
e fragmentados. Estamos envoltos em uma sociedade de
risco, na qual o homem e o planeta vivem cercados de pe-
rigo, decorrentes do exacerbado avano tecnolgico des-
provido da conscincia da nitude dos recursos naturais.
Essas situaes de perigo cresceram tanto que tornaram
temerria a vida em sociedade, ante o medo dos seus integrantes
de sofrerem, a qualquer momento, uma efetiva leso em seus bens
jurdicos. Diante de tal situao, o Estado se viu obrigado a in-
tervir de forma mais enrgica sobre tais condutas, para evitar um
verdadeiro colapso social. , ento, a partir da, que surgem as
figuras tpicas conceitualmente chamadas de crimes de perigo, que
vo tutelar no a leso ao bem jurdico, mas a sua exposio a um
perigo de dano.
Essa interveno do Estado visa a dar uma maior cobertura
1
ROMERO, Diego. Reexes sobre os crimes de perigo abstrato. Jus Navigandi, Teresina, a. 8, n. 439,
19 set. 2004. Disponvel em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5722>. Acesso em: 28 out,
2006.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO
Antnio Hortncio Rocha Neto
Promotor de Justia no Estado da Paraba
Professor do Centro Universitrio de Joo Pessoa - UNIP.
183 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
ao bem jurdico, de forma que ele seja protegido no s de condutas
que possam causar-lhe uma leso, como tambm daquelas que possam
exp-lo a uma situao perigosa, de iminente leso, de perigo de dano,
em uma verdadeira antecipao da tutela jurdico-penal. Essa pro-
teo, de carter globalizado, deve abranger to-somente aqueles bens
que so indispensveis e essenciais sociedade, sem os quais se acarre-
taria a runa social. Estes, sim, sero os bens merecedores dessa ampla
cobertura.
Jos Francisco de Faria Costa
2
indaga acerca das razes de
determinados bens jurdicos, notadamente a vida, mas no somente ela,
merecerem to ampla proteo. Essa proteo envolve o perigo de um
crime de leso, abrangendo aqui a tentativa, seja de um crime de perigo
concreto, seja de um crime de perigo abstrato. O prprio autor responde
que tal diferenciada armadura de tutela representa ou indicia, em nossa
opinio, uma maior dignidade penal.
Dessa forma, somente os bens jurdicos primordiais ao con-
vvio social estvel seriam passveis de proteo por todas aquelas
espcies de delitos. Surge, a partir da, a seguinte indagao: quais
so esses bens? A resposta nos dada por ngelo Roberto Ilha da
Silva
3
, ao esclarecer: Portanto, h que se tutelar, alm dos bens
constitucionalmente relevantes assinalados de forma expressa, so-
mente aqueles valores que no se puserem em contradio com ela,
observando-se as vedaes a incriminaes nela contidas, expressa
ou implicitamente.
Conclui-se, dessa forma, que somente sero considerados bens
jurdico-penais sujeitos quela proteo globalizada os que estiverem
expressamente tutelados pela Constituio. Sero protegidos tambm
aqueles que, apesar de no o serem de forma explcita, no entrarem
em contradio com a Lei Maior, ajustando-se, na verdade, aos seus
princpios e mandamentos. Somente estes que so essenciais para a
vida em sociedade.
2
COSTA, Jos Francisco de Faria. O perigo em direito penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 646.
3
SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Dos crimes de perigo abstrato em face da Constituio. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003, p. 88.
184
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
2. Princpio da ofensividade
Entre os princpios corolrios do nosso moderno ordenamento
jurdico penal, que eminentemente garantista
4
, insere-se o da ofensivi-
dade ou lesividade. Conforme esse princpio, no h crime sem ofensa
a bens jurdicos, assim considerados aqueles essenciais ao convvio so-
cial, como observado linhas atrs. Na verdade, essa ofensa envolveria
no s a leso propriamente dita, mas tambm a exposio a perigo de
leso. O bem jurdico seria, assim, o alvo dessa proteo, seja de uma
conduta que venha a les-lo, seja de uma conduta que o exponha a uma
situao de perigo de dano. Portanto, o controle social s teria legitimi-
dade para atuar quando houvesse leso a bens jurdicos concretos, isto
, quando o bem a ser atingido possusse a capacidade de evidenciar as
fronteiras do legitimamente criminvel.
Por isso, segundo Magalhes Noronha
5
, crime a conduta
humana que lesa ou expe a perigo bem jurdico protegido pela lei
penal. J para Heleno Fragoso
6
, crime a ao ou omisso que, a
juzo do legislador, contrasta violentamente com valores ou interes-
ses do corpo social, de modo a exigir seja proibida sob ameaa de
pena, ou que se considere afastvel somente atravs da sano pe-
nal. Acerca do que foi dito, ensina Fernando Capez
7
que a funo
principal da ofensividade a de limitar a pretenso punitiva estatal,
de maneira que no pode haver proibio penal sem um contedo
ofensivo a bens jurdicos. Tambm nesse sentido o pensamento
de Luiz Flvio Gomes
8
:
4
O direito penal moderno tem exatamente essa funo, ou seja, tem como nalidade garantir o respeito
aos direitos humanos e da cidadania, no se compadecendo com penas que venham a violar tais direitos,
como o caso da de morte, da perptua, das cruis, da de banimento e de trabalho forado, todas proibidas
constitucionalmente, consoante o art. 5, XLVII, a a e.
5
NORONHA, E. Magalhes. Direito penal. 15. ed. So Paulo: Saraiva, 1978. p. 105, 1 v.
6
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
p. 149.
7
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 7. ed. So Paulo: Saraiva, 2004. p. 26, 1 v.
8
GOMES, Luiz Flvio. Princpio da ofensividade no direito penal. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
p. 41.
185 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
A funo principal do princpio da exclusiva proteo de
bens jurdicos a de delimitar uma forma de direito pe-
nal, o direito penal do bem jurdico, da que no seja ta-
refa sua proteger a tica, a moral, os bons costumes, uma
ideologia, uma determinada religio, estratgias sociais,
valores culturais como tais, programas de governo, a nor-
ma penal em si etc. O direito penal, em outras palavras,
pode e deve ser conceituado como um conjunto normati-
vo destinado tutela de bens jurdicos, isto , de relaes
sociais conitivas valoradas positivamente na sociedade
democrtica. O princpio da ofensividade, por sua vez,
nada diz diretamente sobre a misso ou forma do direi-
to penal, seno que expressa uma forma de compreender
ou de conceber o delito: o delito como ofensa a um bem
jurdico.
Excelente conceituao nos dada por ngelo Roberto Ilha da
Silva
9
, para quem o princpio da lesividade ou ofensividade, nullum
crimen sine iniuria, consiste precisamente na considerao de que toda
incriminao deve ter por nalidade a proteo de bens jurdicos de
leses ou exposies a perigo, ou seja, o modelo legal deve descre-
ver uma conduta que seja apta a vulnerar um bem merecedor da tutela
penal. Por sua vez, Ren Ariel Dotti
10
arma que no admissvel
a incriminao de condutas que no causem perigo ou dano aos bens
corpreos e incorpreos inerentes aos indivduos e coletividade.
Como se observa, para a incriminao de uma conduta, exige-
se que ela tenha violado um bem jurdico. Essa violao envolve a leso
e o perigo de leso. preciso, porm, que se atente para o fato de que
a referida proteo dada ao bem jurdico essencial ao convvio social ,
na verdade, a mais ampla possvel. Por isso, ela abrange no s o dano,
como tambm a situao perigosa.
Esta, por sua vez, como lembra Jos Francisco de Faria Cos-
ta
11
, englobaria o concreto pr-em-perigo e o cuidado-de-perigo. Tal
9
SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Op. cit., p. 92/93.
10
DOTTI, Ren Ariel. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 62.
11
COSTA, Jos Francisco de Faria. Op. cit., p. 644.
186
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
nomenclatura permitiria, em ltima anlise, a justicao dos crimes
de perigo abstrato, como a seguir se demonstrar, contradizendo o en-
tendimento de alguns autores, para os quais o princpio da ofensividade
ou da lesividade no autoriza aquela espcie de delito perigoso; pelo
contrrio, considera-os inconstitucionais
12
.
De qualquer modo, verica-se que o conceito de ofensividade est
insitamente ligado ao conceito de antijuridicidade material, eis que ambos
prevem que determinada conduta somente poder ser considerada como
crime, caso venha a ofender um bem jurdico. , na verdade, a sua fonte
inspiradora. Por essa razo, armar-se-ia, seguramente, que, pelo princpio
da ofensividade ou da lesividade, seria possvel afastar-se a antijuridicida-
de, no seu aspecto material, e, por conseguinte, o prprio crime.
nesse sentido o entendimento de Roberto Bitencourt
13
, para
quem a antijuridicidade material se constitui da leso produzida pelo
comportamento humano que fere o interesse jurdico protegido; isto ,
alm da contradio da conduta praticada com a previso da norma,
necessrio que o bem jurdico protegido sofra a ofensa ou a ameaa
potencializada pelo comportamento desajustado.
Questo interessante, ainda referente ao princpio, em anlise,
a sua fundamentao dentro do ordenamento jurdico ptrio. Onde
estaria ele previsto? A busca na nossa legislao, em especial na Consti-
tuio Federal de 1988, leva-nos concluso de que a ofensividade no
est, de forma expressa, prevista em qualquer texto legal. Entretanto, da
anlise de princpios outros trazidos expressamente, podemos identi-
car o da lesividade.
Como se sabe, a nossa Lei Mxima considerada e at mesmo
designada de constituio cidad, diante da larga gama de princpios
protetivos dos direitos humanos e do cidado por ela trazida funo
garantista. Entre estes, encontra-se um princpio-base, ou seja, o prin-
cpio da legalidade, previsto no seu art. 5, XXXIX, para o qual no
h crime sem lei anterior que o dena, nem pena sem prvia cominao
12
CAPEZ, Fernando. Op. cit., p. 25.
13
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 8. ed. So Paulo: Saraiva, 2003.
p. 242.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
187 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
legal. Alm deste, existe a regra prevista no art. 1, II e III, que deter-
mina ser fundamento da Repblica Federativa do Brasil a cidadania e
a dignidade humana. Esta ltima est inserta, na Constituio Federal,
em vrios dispositivos, tais como os incisos III, XLVII, XLVIII, XLIX,
L, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, todos do art. 5. Todos eles
vedam a tortura e o tratamento desumano ou degradante de qualquer
pessoa, probem a pena de morte, a priso perptua, o trabalho forado,
o banimento e as penas cruis, determinam o respeito e a proteo ao
preso e disciplinam a priso processual.
Basta uma simples anlise dessas normas para se concluir acerca
da auncia do princpio da ofensividade. Por outro lado, preciso obser-
var, na elaborao da gura tpica que somente poder ser prevista em
lei, de acordo com o princpio da legalidade os princpios da cidadania e
da dignidade humana. Em conseqncia, no haveria como se considerar
crime uma conduta que sequer violasse ou ofendesse algum bem jurdico,
pois tal hiptese seria incompatvel com aqueles fundamentos.
A cidadania e a dignidade humana no se compadecem com
uma punio ao indivduo sem que este tenha violado qualquer bem ju-
rdico, porque representaria verdadeira responsabilidade penal objetiva.
Por isso, o princpio da legalidade, ao se concatenar com aqueles outros,
acaba por contaminar-se com os seus preceitos, fazendo impor s guras
tpicas da decorrentes a observncia da violao ao bem jurdico, como
requisito essencial sua plena formao. Se assim no se zer, no ser
ilcita, materialmente, a conduta tpica. Dessa forma, conclui-se que o
princpio da ofensividade ou lesividade est implicitamente previsto no
nosso texto constitucional, extrado a partir da anlise conjunta dos prin-
cpios da legalidade, da cidadania e da dignidade humana.
3. Crime de perigo concreto
Crime de perigo concreto aquele em que a conduta praticada
dever, efetivamente, expor a perigo de dano o bem juridicamente tute-
lado, dependendo sempre de comprovao. Nessa espcie de delito, o
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
188
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
perigo real, tendo que ser comprovado caso a caso. O perigo integra
o tipo, como elemento essencial, sem o qual no haver a congurao
do delito. Alis, a consumao desses crimes s ocorre com a efetiva
exposio do bem jurdico a perigo, exatamente pelo fato de este fator
perigo ser elemento essencial constatao do tipo.
Como bem assinala Diego Romero
14
, os delitos de perigo con-
creto so aqueles que requerem, para a sua vericao, a produo de
um resultado, individualmente vericvel no caso ftico, de real perigo
de dano ao objeto protegido pela norma. Diante disso, vericamos que
os crimes de perigo concreto sero, em regra, identicados na nossa le-
gislao penal com a palavra perigo fazendo parte integrante do tipo.
Essa palavra est inserida em expresses tais como: expondo a perigo
de dano, expondo a perigo a vida, a integridade fsica ou o patrimnio
de outrem ou, ainda, gerando perigo de dano.
Essa a regra. Entretanto, poder acontecer que alguns tipos
penais, apesar de no estarem acompanhados de tais expresses, por
uma m redao legislativa, sejam tambm de perigo concreto. Nessas
hipteses, a concluso ser obtida atravs de uma boa interpretao por
parte do aplicador do direito. Exemplo disso nos traz ngelo Roberto
Ilha da Silva
15
, ao se referir ao crime de gesto temerria, previsto no
art. 4, pargrafo nico, da Lei n 7.492/86, descrito da seguinte forma:
se a gesto temerria. Acrescenta o citado autor:
Trata-se, sem dvida, de crime de perigo concreto, ja-
mais podendo ser considerado como sendo de perigo abs-
trato ou presumido. O temor, vocbulo do qual deriva a
adjetivao temerria, revela, a nosso ver, a exigncia
do perigo de forma concreta, vislumbrando-o sob o as-
pecto subjetivo. De modo que o perigo est contido no
tipo do delito em questo e isso, e no s isso, demonstra
que se trata de crime de perigo concreto. O perigo, re-
pita-se, est presente no tipo, como reclama a doutrina
para a congurao do crime de perigo concreto, e no
se pode armar o contrrio exclusivamente pelo fato de
14
ROMERO, Diego. Op. cit.
15
SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Op. cit., p. 69.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
189 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o vocbulo perigo no estar expresso, mas implcito na
adjetivao temerria. O perigo no s a motivao,
mas elemento do tipo.
De qualquer modo, o perigo, explcita ou implicitamente previs-
to no tipo penal, dever ser real e constatado no caso concreto, sob pena
de no restar congurado o crime. Tomando-se como exemplo o crime
descrito no art. 250 do CP (incndio), que de perigo concreto, no basta
o agente causar o incndio. necessrio tambm que referida conduta
venha a expor, de forma efetiva e concreta, o bem juridicamente tutelado
a uma situao de perigo de dano. S assim, restar congurado o delito.
Caso no ocorra a mencionada exposio, ser atpica a conduta, ante a
ausncia da caracterizao de um de seus elementos essenciais.
O mesmo ocorrer no crime de direo de veculo automotor
sem a devida habilitao, previsto no art. 309 da Lei n 9.503/97 (Cdigo
Nacional de Trnsito). Aqui, no basta, como na hiptese anterior, ser o
sujeito agrado conduzindo o veculo automotor sem possuir habilitao
para tanto. Dever, para a congurao do tipo, ser comprovada uma real
situao de perigo produzida por ele ao praticar aquela conduta.
Assim, ser atpica a conduta quando a pessoa, que dirigia sem
habilitao, mas de forma normal, parada em uma blitz policial que
constata a ausncia do referido requisito para a conduo de veculo au-
tomotor. Em tal hiptese, por no ter gerado, de maneira concreta, pe-
rigo de dano para qualquer bem juridicamente tutelado, no responder
criminalmente, mas s por possvel infrao administrativa. Por essas
razes, imprescindvel conhecer a conceituao dos crimes de perigo
concreto para se fazer uma correta abordagem acerca de todos os seus
elementos essenciais, incluindo-se a efetiva e comprovada exposio
dos bens juridicamente tutelados ao perigo de dano.
4. Crime de perigo abstrato
O crime de perigo abstrato, diferentemente do crime de perigo
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
190
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
concreto, aquele em que o perigo no integra o tipo penal, mas, ao con-
trrio, presumido pelo legislador, diante da conduta. Em razo disso, o
perigo no precisa ser comprovado caso a caso, bastando, para a congu-
rao do crime, a prtica da conduta. Na verdade, o perigo aqui referido
inerente prpria conduta que, encarada de forma abstrata, leva a uma
concluso lgica de que sempre acarretar uma situao de perigo.
Dessa forma, o perigo aqui referido no elemento do tipo
penal, mas sim a sua prpria motivao, como ensina Jos Francisco
de Faria Costa
16
. Isso porque, como observado acima, a conduta, ge-
nrica ou abstratamente considerada, acarreta sempre, pela experin-
cia social, um perigo de dano ao bem jurdico. Ante a sua gravidade
e, em muitos casos, sua difcil comprovao, motiva o tipo penal,
mas no o integra como elemento necessrio, exatamente pelas razes
mencionadas.
Para ngelo Roberto Ilha da Silva
17
, o crime de perigo abstrato
aquele cujo perigo nsito na conduta e presumido, segundo a dou-
trina majoritria, juris et de jure. No mesmo sentido o ensinamento
de Damsio de Jesus
18
, para quem perigo presumido (ou abstrato) o
considerado pela lei em face de determinado comportamento positivo ou
negativo. a lei que o presume juris et de jure. Esse tambm o enten-
dimento de Julio Fabbrini Mirabete
19
, segundo o qual o perigo abstrato
aquele presumido pela norma que se contenta com a prtica do fato
e pressupe ser ele perigoso. Por m, para Roxin
20
, crimes de perigo
abstrato so aqueles em que se castiga a conduta tipicamente perigosa
como tal, sem que no caso concreto tenha que ocorrer um resultado de
exposio a perigo. Nessa trilha, pela relevncia das consideraes nele
contidas, importante relembrar os ensinamentos de Liszt
21
:
16
COSTA, Jos Francisco de Faria. Op. cit., p. 620-621.
17
SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Op. cit., p. 72.
18
JESUS, Damsio E. Direito penal: parte geral. 28. ed. So Paulo: Saraiva, 2005. p. 189, 1 v.
19
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral. 21. ed. So Paulo: Atlas, 2004. p. 134, 1 v.
20
Apud ROMERO, Diego. Op. cit.
21
LISZT, Franz Von. Tratado de direito penal alemo. Traduo e comentrios de Jos Higino Duarte
Pereira. Campinas-SP: Russell, 2003. p. 236. t. 1.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
191 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Por ofensa entende-se j a leso imediata, pela qual o
bem destrudo ou sofre diminuio no seu valor, ou pe-
rigo in concreto e precisamente determinado pela lei, por
exemplo, o perigo para a vida ou para o corpo, mediante
exposio ou abandono de uma pessoa incapaz de valer-
se. s normas que probem a ofensa e o perigo in concre-
to se contrapem as que probem certos atos, porque eles
envolvem in abstracto a possibilidade de um perigo para
certos bens jurdicos. Em tais casos esse perigo possvel
o nico motivo da norma.
4.1 Natureza da presuno nos crimes de perigo abstrato
Questo intrigante diz respeito natureza da presuno que ro-
deia os crimes de perigo abstrato. Apesar do entendimento majoritrio,
no sentido de que absoluta (juris et de jure) a presuno que norteia
esses crimes, existem doutrinadores que discordam de tal posio.
Uns, como Mantovani
22
, fazem verdadeira distino entre o
perigo abstrato e o perigo presumido. O primeiro seria aquele em que
o perigo nsito na conduta, levando-se em considerao a experincia
das coisas, cabendo ao intrprete somente vericar a adequao daque-
la ao tipo, enquanto que, no segundo, o perigo no nsito na conduta.
Mesmo assim, o legislador o presume de forma absoluta, no admitindo
prova em contrrio.
Para outros, como Zaffaroni e Pierangeli
23
, a presuno dos
crimes de perigo abstrato seria relativa, ou seja, juris tantum, hiptese
em que admitiriam prova em contrrio. H, ainda, os que entendem
existirem, nos crimes de perigo abstrato, uns com presuno absoluta e
outros com presuno relativa, como Joo Mestieri
24
.
22
Apud SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Op. cit., p. 73/74.
23
ZAFFARONI, Eugenio Ral; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte
geral. 4. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 561.
24
MESTIERI, Joo. Manual de direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 242, 1 v.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
192
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Por m, para ngelo Roberto Ilha da Silva
25
, os crimes de
perigo abstrato, como regra, devem manter a presuno absoluta, pres-
supondo que estejam adequadamente tipicados, ou seja, naqueles ca-
sos em que no h meio de separar o perigo da conduta, como, por
exemplo, no crime de moeda falsa, que por suas caractersticas constitui
sempre um potencial perigo f pblica. Para o referido autor, seriam,
ento, de presuno relativa os crimes de perigo abstrato em que, por
um equvoco do legislador na formulao do tipo, o perigo no fosse
nsito conduta, no fosse uma decorrncia lgica da ao, de acordo
com a experincia das coisas. Nessa ltima hiptese, seria admitida a
prova em contrrio.
Entretanto, a partir de uma anlise mais aprofundada da ma-
tria, constata-se que a adoo de qualquer entendimento que leve a
uma presuno relativa (juris tantum) em relao aos crimes de perigo
abstrato nos conduz a uma situao incompatvel com o ordenamento
jurdico penal ptrio. Isso porque, em se adotando a mencionada pre-
suno relativa, estaramos diante da seguinte hiptese: em um determi-
nado crime de perigo abstrato, a conduta bastaria para congur-lo, no
sendo necessria a comprovao da efetiva exposio a perigo de dano
do bem juridicamente tutelado, por parte do rgo acusador, in casu, o
Ministrio Pblico, ante a presuno do perigo.
Todavia, como a citada presuno seria relativa, admitir-se-ia
a prova em contrrio, que, como claro, caberia ao ru. Diante disso,
estaria sendo criada uma espcie de inverso do nus da prova no di-
reito penal. Porm, tal situao, como dito anteriormente, no se com-
patibiliza com o nosso ordenamento jurdico, por trs motivos, a seguir
delineados. Em primeiro lugar, porque o indivduo-ru no estaria em
igualdade com o Estado. Pelo contrrio, encontrar-se-ia em total des-
vantagem, o que, primeira vista, j nos indica a violao dos princ-
pios da proporcionalidade e da prpria dignidade humana, corolrios do
nosso sistema penal garantista.
Em segundo lugar, porque inconcebvel que algum, em ma-
tria penal, deva demonstrar o no preenchimento do tipo para, somente
25
SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Op. cit., p. 77/78.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
193 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
assim, ser considerado inocente. Mas, como se sabe, a comprovao
de sua responsabilidade criminal caberia ao prprio Estado. O que ca-
ber ao ru, caso faa parte de sua defesa, a demonstrao das cau-
sas de excluso da ilicitude (legtima defesa, estado de necessidade
etc.) ou da culpabilidade (erro de proibio, coao irresistvel etc.),
mas nunca que determinado elemento essencial do tipo (o perigo) no
se congurou. Tal tarefa, repita-se, atribuio da parte que acusa. A
esse respeito, convm transcrever o ensinamento de Eugnio Pacelli
de Oliveira
26
:
O princpio da inocncia, ou estado ou situao jurdi-
ca de inocncia, impe ao Estado a observncia de duas
regras especcas em relao ao acusado: uma de trata-
mento, segundo a qual o ru, em nenhum momento do
iter persecutrio, pode sofrer restries pessoais funda-
das exclusivamente na possibilidade de condenao, e
a outra, de fundo probatrio, a estabelecer que todos os
nus da prova relativa existncia do fato e sua autoria
devem recair exclusivamente sobre a acusao. defesa
restaria apenas a demonstrao da eventual presena de
fato caracterizador de excludente de ilicitude e culpabili-
dade, cuja presena fosse por ele alegada.
Em terceiro lugar, estar-se-ia ferindo frontalmente o princpio
do in dubio pro reo, para o qual, como se sabe, a dvida existente no
processo penal deve ser sempre considerada como favorvel ao ru. A
mencionada violao aconteceria, portanto, quando o acusado no con-
seguisse comprovar a inocorrncia do perigo, restando, ao menos, uma
dvida nos autos, consistente na efetivao ou no do perigo no caso
concreto. Em tal hiptese, essa dvida, mesmo dominando a interpre-
tao do juiz, no poderia ser por este aproveitada para beneciar o ru
com uma sentena absolutria. Nesse caso, s por no ter sido afastada
a presuno do perigo, caria o julgador, mesmo que estivesse com d-
vida, obrigado a prolatar uma deciso condenatria. Essa hiptese, sem
sombra de dvida, afronta o princpio em anlise.
26
OLIVEIRA, Eugnio Pacelli de. Curso de processo penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 23.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
194
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Por essas razes, no ser cabvel qualquer entendimento que
considere relativa a presuno dos crimes de perigo abstrato. A presun-
o deve ser, realmente, absoluta, restando aqueles delitos que, apesar
de considerados como de perigo abstrato, no atriburem a um perigo
nsito conduta a pecha de inconstitucionalidade, por violao do prin-
cpio da ofensividade, como mais adiante se ver.
4.2 Discusses acerca da antijuridicidade dos crimes de perigo abstrato
Como foi visto, de acordo com o princpio da ofensividade ou
lesividade, uma conduta s poder ser considerada criminosa quando
violar um bem juridicamente tutelado. Armou-se tambm que deter-
minados bens jurdicos, por sua essencialidade para a vida social, mere-
cem uma proteo mais abrangente. E assim, requerem punio para as
condutas que o lesionariam, para as que o exporiam a um efetivo perigo
de dano e para as que, insitamente, trariam uma potencial exposio ao
perigo de dano.
dentro desse contexto que devem inserir-se os crimes de pe-
rigo abstrato. Esta espcie de crime, para no afrontar o princpio da
ofensividade ou lesividade, tornando-se, ento, inconstitucional, ter
que violar o bem juridicamente tutelado. necessrio, ento, estudar
a fundo os crimes de perigo abstrato, correlacionando-os com o citado
princpio, para se constatar ou no a sua legitimidade. exatamente
nesse aspecto que os delitos, aqui analisados, sofrem duras crticas. No
so poucos os doutrinadores que entendem serem eles inconstitucio-
nais, isso porque, nas suas compreenses, no violariam qualquer bem
jurdico, afrontando o princpio da ofensividade, que informador do
direito penal e eminentemente garantista. Sobre a matria, leciona Die-
go Romero
27
:
Vislumbra-se que os crimes de perigo abstrato no bus-
cam responder a determinado dano ou prejuzo social re-
27
ROMERO, Diego. Op. cit.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
195 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
alizado pela conduta, seno evit-la, barr-la, prevenindo
e protegendo o bem jurdico de leso antes mesmo de
sua exposio a perigo real, concreto efetivo de dano. Ao
fazer uso desta modalidade delitiva, quer o direito penal
da atualidade proporcionar, ou melhor, dar a sensao de
segurana ao corpo social.
Em suas consideraes, acrescenta o citado autor: claramen-
te, desse emprego dos tipos penais de perigo abstrato, resulta afronta ao
enunciado do direito penal clssico nullum crimen sine injuria e, por
conseguinte, inobservncia ao princpio constitucional da ofensividade,
pois no h crime sem resultado. No mesmo sentido a lio de Lnio
Luiz Streck
28
:
Ora, ser demais lembrar que somente a leso concreta
ou a efetiva possibilidade de leso imediata a algum bem
jurdico que pode gerar uma intromisso penal do Es-
tado? Caso contrrio, estar o Estado estabelecendo res-
ponsabilidade objetiva no direito penal, punindo condu-
tas in abstracto, violando os j explicitados princpios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da secularizao,
conquistas do Estado Democrtico de Direito.
Edison Miguel da Silva Jr.
29
, a respeito da matria, faz as se-
guintes consideraes:
Preocupado com as implicaes dessa classicao, Da-
msio E. de Jesus arma que no so admissveis delitos
de perigo abstrato ou presumido em nossa legislao.
Igualmente, Luis Flvio Gomes alerta para a inconsti-
tucionalidade do tipo de perigo abstrato, por violar o
28
STECK, Lnio Luis. O crime de porte de arma luz da principiologia constitucional e do controle de
constitucionalidade: trs solues luz da hermenutica. Revista de Estudos Criminais do ITEC, Ano 1,
2001, n. 1, p. 54.
29
SILVA JR., Edison Miguel da. Crimes de perigo no Cdigo de Trnsito Brasileiro. So Paulo: Boletim
IBCCrim n. 76 - mar./99, p. 6-7.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
196
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
princpio da ofensividade, que conta com assento cons-
titucional indiscutvel. Francisco de Assis Toledo, por
sua vez, adverte: O crescimento descontrolado desses
crimes de perigo abstrato, especialmente na rea dos de-
litos de trnsito, delitos contra o meio ambiente, contra
a sade pblica, contra a ordem econmica e tributria
etc., pode pr em risco o direito penal de cunho liberal,
orientado e autolimitado pela exigncia da ofensa ao bem
jurdico, transformando essa exigncia em uma espcie
de co a ponto de j se falar na exposio a perigo
do direito penal pelo surgimento de um direito penal da
exposio ao perigo (Herzog).
Como visto, no entendimento de vrios autores, os crimes de pe-
rigo abstrato, exatamente por no exigirem a comprovao, caso a caso, da
efetiva exposio do bem jurdico a perigo de dano, no satisfazem o prin-
cpio da ofensividade, sendo, por isso, inconstitucionais. Entretanto, referi-
do entendimento no seria o mais correto, como a seguir se demonstrar.
4.3 Ofensividade na modalidade de cuidado-de-perigo
O princpio da ofensividade ou lesividade deve, como j aludi-
do, ser compreendido de forma ampla, envolvendo uma proteo globa-
lizada do bem jurdico. Nesse diapaso, na percepo de Jos Francis-
co de Faria Costa
30
, a ofensividade pode, assim, estruturar-se em trs
nveis, todos eles tendo como horizonte compreensivo e integrativo a
expressiva nomenclatura do bem jurdico: dano/violao; concreto pr-
em-perigo e cuidado-de-perigo. Por aqui se podem perceber, pois, os
pressupostos fundantes dos crimes de perigo abstrato.
O princpio da ofensividade envolve uma tutela ampla, uma
verdadeira armadura para os bens jurdicos. Abrange, portanto, o cui-
dado-de-perigo, que consiste em proibir conduta que seja apta a vul-
nerar algum bem jurdico
31
. E quais seriam essas condutas? A resposta
30
COSTA, Jos Francisco de Faria. Op. cit., p. 643/644.
31
SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Op. cit., p. 95.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
197 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
a tal indagao j foi, de certa forma, apresentada neste trabalho, mas,
pela sua importncia, merece ser repetida. Como j dito, pela experin-
cia das coisas, fcil notar que determinadas condutas, mesmo sendo
analisadas abstratamente, causariam exposio a perigo de dano, caso
viessem a ser praticadas.
So condutas que, pela sua gravidade, levam a uma concluso
lgica e inafastvel de que, se efetivadas, conduziro, obrigatoriamente,
a uma situao de perigo. So, pois, plenamente aptas a vulnerar o bem
jurdico. Por esse motivo, o legislador contenta-se somente com a sua
prtica para a caracterizao do delito, no exigindo a comprovao, no
caso concreto, do perigo. Deve-se, todavia, atentar para o seguinte fato:
o legislador no exige a comprovao do perigo no caso concreto, mas
a ocorrncia do prprio perigo.
De fato, a ocorrncia da situao perigosa nos crimes de perigo
abstrato inerente conduta, nsita a ela. Portanto, praticada a ao, a
situao perigosa advir, de maneira inexorvel, eis que assim informa
a experincia das coisas, razo pela qual no necessita de ser comprova-
da. Por isso que a presuno, nestes casos, ser sempre absoluta (juris
et de jure), no admitindo prova em contrrio. Signica que o perigo
sempre existir, no sendo, entretanto, necessria a sua comprovao.
Aqui, mais uma vez, preciso apresentar os ensinamentos de Jos Fran-
cisco Faria Costa
32
sobre o tema:
O intrprete, perante um caso de imediato enquadra-
mento na dogmtica dos crimes de perigo abstrato, tem
de, apelando hermeneia, repensar o tipo perscrutando o
seu interior, no sentido de o avaliar em funo do prin-
cpio da ofensividade. Por outras palavras: no basta o
legislador denir com exactido a conduta ou condutas
proibidas. preciso ainda e sempre, atravs da categoria
de mediao do cuidado de perigo, ver se aquela conduta
proibida visa a proteger, se bem que por meio da mais
avanada das defesas jurdico-constitucionalmente per-
mitidas, um concreto e determinado bem jurdico com
32
COSTA, Jos Francisco de Faria. Op. cit., p. 646.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
198
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
dignidade constitucional ou, talvez ainda de maneira
mais rigorosa, um bem jurdico-penal.
Exemplo clssico o do crime de moeda falsa, previsto no art.
289 do CP. Referido delito envolve conduta que, considerada de forma
abstrata, antes mesmo de sua efetivao, leva-nos concluso inarred-
vel de que, se praticada, colocar sempre em perigo de dano o bem juri-
dicamente tutelado, qual seja, o da f pblica. A violao a mencionado
bem, nesse caso, incontestvel. Por isso, quando praticada a conduta
descrita no citado tipo penal, no haver necessidade de comprovao da
ocorrncia do perigo, em razo de sua inafastvel concluso de existn-
cia, agurada, diga-se novamente, pela experincia das coisas da vida.
Outro exemplo o delito de quadrilha ou bando, descrito no art.
288 do CP. Isso porque a simples associao de mais de trs pessoas para a
prtica de crimes indeterminados, mesmo sendo um mero ato preparatrio
para os delitos a serem futuramente praticados, j pe em risco de dano a
sociedade. que, com tal conduta, a paz que deve reinar no seio social resta
afrontada e, com isso, sempre aparece, de maneira inafastvel, a exposio
situao de perigo. Assim tambm o ser nos crimes de perigo comum,
nos crimes contra a paz pblica, nos crimes ambientais etc.
Dessa forma, preciso analisar o princpio da ofensividade
em uma perspectiva mais ampla, envolvendo, alm do dano/violao
e do concreto pr-em-perigo, tambm o cuidado-de-perigo (proibio
de conduta apta a vulnerar o bem jurdico). Com isso, verica-se que
no h contraposio entre este e os chamados crimes de perigo abs-
trato, baseados naquela ltima forma de proteo do bem jurdico
33
.
33
Transcreve-se, a esse respeito, o entendimento de ngelo Roberto Ilha da Silva: Outros exemplos
poderiam ser mencionados, mas as hipteses aqui indicadas so sucientes para ressaltar o equvoco do
entendimento segundo o qual os delitos de perigo abstrato no respeitariam o princpio da lesividade.
O princpio da lesividade ou da ofensividade , portanto, observado, sempre que o tipo penal tiver por
nalidade proteger bens jurdicos, sendo que alguns, por suas caractersticas, tais como o meio ambiente, a
ordem econmica, a f pblica e a sade pblica, entre outros, s podem ser, em certos casos, ecazmente
tutelados de forma antecipada mediante tipos de perigo abstrato, seja em razo dos resultados catastrcos
que um dano efetivo traria, seja pela irreversibilidade do bem ao estado anterior, seja pelo fato de no se
poder mensurar o perigo imposto em certas circunstncias, ou a inviabilidade de estabelecer o entrelaa-
mento entre mltiplas aes e um determinado resultado danoso nos moldes rigorosos do processo penal.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
199 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Assim, se, pela experincia das coisas da vida, ou seja, da vi-
vncia social, determinada conduta, abstratamente considerada, vier a
ser efetivada ou expuser algum bem jurdico a perigo de dano, o crime
de perigo abstrato que a consignar no ser violador do princpio da
ofensividade. Pelo contrrio, estar em perfeita sintonia com este lti-
mo, de acordo com o seu terceiro nvel: o cuidado-de-perigo. No h,
portanto, que se falar em inconstitucionalidade dessa espcie de delito.
Por outro lado, se a conduta abstratamente considerada, mes-
mo quando efetivada, no expuser um bem jurdico a perigo de leso,
estar evidentemente constatada a violao ao princpio da ofensivida-
de. que no basta a previso legislativa de determinada conduta como
crime de perigo abstrato. preciso tambm que o perigo seja nsito na
conduta, seja uma conseqncia lgica dessa conduta. Se, porventura,
no o for, congurada estar a sua inconstitucionalidade, pela no obe-
dincia ao princpio acima esposado. Convm frisar, neste aspecto, que
no haver tambm violao do princpio da proporcionalidade, desde
que sejam observadas aquelas condicionantes. Alm disso, preciso
se atentar para a idoneidade e a necessidade da resposta penal e para a
razoabilidade entre o crime e o bem jurdico protegido
34
.
Em suma, os crimes de perigo abstrato no afrontam o princpio da lesividade sempre que estiverem a
tutelar determinados bens que requeiram uma tal forma de tutela antecipada, ou seja, quando a infrao
penal no congure uma mera violao de dever de obedincia, e, para tanto, mister uma rigorosa tcnica
de tipicao, bem como uma precisa e taxativa descrio do modelo incriminador. H que se pensar um
direito penal de forma mais atualizada, desprendido do individualismo extremado e voltado tanto para os
tradicionais quanto para os novos bens, que, por suas caractersticas, s possam ser protegidos de forma
ecaz mediante a tutela antecipada, que se traduz na adoo de tipos de ilcito de perigo abstrato (SILVA,
ngelo Roberto Ilha da. Op. cit., p. 101).
34
Esclarece, a respeito, ngelo Roberto Ilha da Silva: O que revela salientar, como procuramos demonstrar,
que o princpio da proporcionalidade no ser desprezado, de antemo, a priori, pelo simples fato de o legisla-
dor optar pelo modelo de incriminao de perigo abstrato. Vericamos, a partir da anlise de um mesmo bem
jurdico, dois tipos penais: um atendendo ao princpio, outro no. De modo que, para atender ao princpio da
proporcionalidade, o crime de perigo abstrato dever, antes de tudo, apresentar uma precisa descrio na qual
a conduta vulnere, ao menos potencialmente, um bem jurdico, ou seja, o perigo deve ser nsito conduta, de
acordo com as regras da experincia e do bom senso. Deve-se, ento, averiguar a idoneidade e a necessidade da
resposta penal ante a conduta e, num terceiro passo, fazer uma ponderao em torno da razoabilidade na relao
entre meio (incriminador) e m (tutela do bem jurdico). O legislador dever avaliar a convenincia, valendo-
se da prudncia para no incorrer em excesso, mas o exame se d caso a caso. De modo que o crime de perigo
abstrato ora poder ser proporcional ao fato, ora no (Op. cit., p. 116/117).
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
200
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Com isso, pode-se armar que uma possvel inconstituciona-
lidade no ser decorrente, de forma genrica, dos crimes de perigo
abstrato em si considerados, mas sim de um possvel equvoco de cons-
truo legislativa que venha a prever, como infrao penal, conduta que
no viola, em nenhum dos seus nveis, o princpio da ofensividade. Por-
tanto, a violao a tal princpio, diga-se novamente, efetivada por erro
legislativo e no pelo conceito de perigo abstrato.
Assim, para se conrmar a legitimidade de determinado cri-
me dessa espcie, basta analisar se a conduta nele prevista, caso venha
a ocorrer, ocasionar uma efetiva exposio de algum bem jurdico a
perigo de dano. Se a resposta for armativa, ser ele legtimo; se for
negativa, ser ilegtimo, por violao ao princpio em comento, j que,
na hiptese, no se estaria maculando qualquer bem jurdico. A anlise
dever, pois, ser feita caso a caso.
5. Consideraes nais
A sociedade vem passando por grande evoluo, com inegvel
inuncia em todas as relaes sociais. A atual conjuntura baseia-se em
uma verdadeira sociedade de risco. Em razo disso, foi necessria uma in-
terveno antecipada e mais enrgica do Estado, para dar proteo maior
aos bens jurdicos essenciais ao convvio social. Essa proteo veio prever,
como gura incriminadora, alm das condutas que produzam uma leso no
bem jurdico, tambm aquelas que o expunham a um perigo de dano.
Entretanto, essa nova forma protetiva, sob pena de ser consi-
derada inconstitucional, deve estar em consonncia com o princpio da
ofensividade ou lesividade, corolrio do nosso atual sistema jurdico pe-
nal, que eminentemente garantista. Para o referido princpio, traduzido
pela frmula nullum crimen sine iniuria, no haveria crime sem violao
a qualquer bem juridicamente tutelado, assim considerados aqueles pre-
vistos, explcita ou implicitamente, na Constituio Federal.
Surgiu, ento, a questo a ser enfrentada, qual seja a de corre-
lacionar os crimes de perigo com o princpio da lesividade. Quanto aos
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
201 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
crimes de perigo concreto, nenhum problema adveio, eis que, em sendo
estes caracterizados pela efetiva e comprovada exposio ao perigo de
dano, a violao ao bem jurdico seria evidente. J em relao aos cri-
mes de perigo abstrato, foi necessria a realizao de um estudo mais
apurado. Vericou-se que, nesta espcie de crime, o perigo a sua mo-
tivao, diferentemente do que ocorre nos crimes de perigo concreto,
em que o perigo elemento essencial do tipo. Na verdade, ele inerente
conduta. Assim, sendo esta praticada, obrigatoriamente, haver o pe-
rigo de dano, consoante constataes trazidas pela experincia da vida.
Por isso, a ocorrncia do perigo ser sempre presumida, no
necessitando de qualquer comprovao caso a caso. Aqui, emergiu o
embate quanto natureza de tal presuno: se absoluta ou relativa.
Apesar de argumentaes em contrrio, observou-se no ser consisten-
te qualquer entendimento que considere a presuno que informa os
crimes de perigo abstrato como sendo relativa. Isso porque uma in-
verso no nus da prova, em direito penal, violaria os princpios da
proporcionalidade, da dignidade humana e do in dubio pro reo. Alm
disso, imporia ao acusado a prova de sua prpria inocncia, quando tal
incumbncia competir ao rgo acusador. Em razo disso, o melhor
entendimento seria o que reputa a dita presuno como absoluta (juris
et de jure).
Todavia, vrios autores consideram os crimes de perigo abstra-
to inconstitucionais, por entenderem que tais delitos no se coadunam
com o princpio da ofensividade, ante a no violao de qualquer bem
jurdico. Ocorre que referido entendimento no leva em considerao
uma anlise mais ampla daquele princpio, de forma a abranger nele
trs nveis: o dano/violao, o concreto pr-em-perigo e o cuidado-de-
perigo. Este ltimo consiste na proibio de conduta capaz de vulne-
rar o bem jurdico. Neste terceiro nvel, o perigo inerente conduta.
Assim, diante da sua gravidade, pode-se concluir, de maneira inexor-
vel, em razo da experincia das coisas da vida, que o perigo de leso
ao bem jurdico sempre advir, caso seja ela efetivamente praticada.
exatamente aqui que se inserem os crimes de perigo abstrato.
Salientou-se tambm que no se deve confundir a no exign-
cia de comprovao do efetivo perigo de dano com a prpria exposio
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
202
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
a essa situao perigosa. que os crimes de perigo abstrato exigem, sob
pena de violao do princpio da ofensividade, com conseqente pecha
de ser ele inconstitucional, uma efetiva exposio do bem jurdico a
uma situao de perigo de dano, no sendo necessria, entretanto, a sua
comprovao. Isso nos leva a uma concluso lgica: em se vericando
aquele terceiro nvel de violao do bem jurdico cuidado-de-perigo
- com efetiva exposio deste ao perigo de dano, no h que se falar
em ilegitimidade do crime de perigo abstrato. Ao contrrio, se no for
observado esse pressuposto, ser ele inconstitucional, por violao do
princpio da ofensividade.
De qualquer forma, isso acontecer somente em casos de
equvoco legislativo. Ao no se atentar para a exigncia de respeito ao
princpio da lesividade, em quaisquer de seus nveis, formulam-se tipos
penais com condutas que, abstratamente consideradas, no trazem em
si, de maneira nsita, o perigo como conseqncia lgica. Por tudo isso,
pode-se concluir que os crimes de perigo abstrato, em si considerados,
no so inconstitucionais, pois o seu fundamento encontra suporte no
terceiro nvel de proteo do bem jurdico: o cuidado-de-perigo. In-
constitucional ser, sim, a m formulao tpica por parte do legislador,
que, extrapolando os seus limites, prev como crime conduta que no
viola o bem jurdico em quaisquer de seus nveis de proteo, ferindo,
com isso, frontalmente, o princpio da ofensividade.
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
203 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
6. Referncias bibliogrcas
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 8.
ed. So Paulo: Saraiva, 2003.
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 7. ed. So Paulo: Saraiva,
2004. 7 v.
COSTA, Jos Francisco de Faria. O perigo em direito penal. Coimbra:
Coimbra Editora, 2000.
DOTTI, Ren Ariel. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro:
Forense, 2001.
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal: parte geral. 4. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1980.
GOMES, Luiz Flvio. Princpio da ofensividade no direito penal. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
JESUS, Damsio E. Direito pena: parte geral. 28. ed. So Paulo:
Saraiva, 2005. 1 v.
LISZT, Franz Von. Tratado de direito penal alemo. Traduo e
comentrios de Jos Higino Duarte Pereira. Campinas-SP: Russell,
2003. 1 t.
MESTIERI, Joo. Manual de direito penal. Rio de Janeiro: Forense,
1999. 242 p. 1 v.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte geral. 21.
ed. So Paulo: Atlas, 2004. 1 v.
NORONHA, E. Magalhes. Direito penal. 15. ed. So Paulo: Saraiva,
1978. 1 v.
OLIVEIRA, Eugnio Pacelli. Curso de processo penal. 2. ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 2003.
204
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
LEGITIMIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO Antnio Hortncio Rocha Neto
ROMERO, Diego. Reexes sobre os crimes de perigo abstrato. Jus
Navigandi, Teresina, a. 8, n. 439, 19 set. 2004. Disponvel em: <http://
www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5722>. Acesso em: 19 nov.
2004.
SILVA, ngelo Roberto Ilha da. Dos crimes de perigo abstrato em face
da Constituio. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
SILVA JR., Edison Miguel da. Crimes de perigo no Cdigo de Trnsito
Brasileiro. So Paulo: Boletim IBCCrim n. 76, mar./99.
STECK, Lnio Luis. O crime de porte de arma luz da principiologia
constitucional e do controle de constitucionalidade: trs solues luz
da hermenutica. [s.l.]: Revista de Estudos Criminais do ITEC, ano 1,
n. 1, 2001.
ZAFFARONI, Eugenio Ral; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual
de direito penal brasileiro: parte geral. 4. ed. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 2002.
205 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
A violncia contra a mulher, freqentemente aviltada pelos
resqucios da ideologia patriarcal, fruto da sua histrica posio de
subordinao. Essa prtica condenvel sofreu notveis mudanas com
a entrada em vigor, no dia 22 de setembro de 2006, da Lei dos Crimes
contra a Mulher e Violncia Domstica e Familiar (ou Lei Maria da
Penha). Essas mudanas ocorreram principalmente com a criao de
mecanismos de interveno preventiva e repressiva. Os objetivos da
citada lei so, principalmente, o de coibir e prevenir a violncia doms-
tica e familiar, visando a assegurar a integridade fsica, psquica, sexual,
moral e patrimonial da mulher.
O Ministrio Pblico, na qualidade de guardio dos interesses
da sociedade, assumiu a responsabilidade de agir, em nome da mulher
vtima da violncia domstica, com base na legitimidade outorgada pela
Lei Maior e pela Lei Maria da Penha, para atuar em juzo, em defesa de
suas aspiraes maiores. A participao do rgo Ministerial indis-
pensvel. Tem legitimidade para agir como parte, intervindo nas aes
como custos legis, tanto nas causas cveis como criminais (art. 25). Ao
ser intimado das medidas que foram aplicadas (art. 22, 1), pode re-
querer a aplicao de outras (art. 19) ou sua substituio (art. 19,
3). Quando a vtima manifestar interesse em desistir da representao,
deve o promotor estar presente na audincia (art. 16). Tambm lhe
facultado requerer o decreto de priso preventiva do agressor (art. 20).
Mesmo que tenha sido atribuda aos rgos ociais do Sistema
de Justia e Segurana a instituio de um sistema nacional de dados e
informaes estatsticas sobre a violncia domstica e familiar contra a
mulher (art. 38), o Ministrio Pblico dever manter um cadastro simi-
lar (art. 26, III). As Secretarias Estaduais de Segurana Pblica devem
LEI MARIA DA PENHA:
ASPECTOS CONTROVERTIDOS
Amadeus Lopes Ferreira
Promotor de Justia no Estado da Paraba
206
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS Amadeus Lopes Ferreira
remeter informaes para a base de dados do Parquet (art. 38, pargra-
fo nico). Tal registro no se confunde com os antecedentes judiciais.
Ainda que a operacionalizao dessa providncia legal possa gerar mais
trabalho, a medida salutar. Trata-se de providncia que visa a detectar
a ocorrncia de reincidncia, como meio de garantir a integridade da
vtima. Tambm lhe foi atribuda a defesa dos interesses e direitos tran-
sindividuais previsto na lei (art. 37).
Pela primeira vez no Brasil, uma lei nova tenta conter o velho
problema da violncia contra a mulher. Foi implantado um sistema de
maior rigor penal, introduzido pela Lei n 11.340/2006, ao fato tpico
da infrao ali denida. A partir das ltimas dcadas do sculo XX, so
visveis os avanos, no Brasil, como de resto no mundo ocidental, no
sentido da armao e garantia dos direitos da mulher, da superao
das relaes de subordinao e da construo de uma nova forma de
convivncia entre os gneros. Esses avanos esto associados ao cres-
cimento da participao da mulher nas atividades econmicas, com sua
entrada macia no mercado de trabalho, coincidente com a expanso do
setor tercirio da economia. So tambm resultado da evoluo com-
portamental e da parcial superao de preconceitos no campo da sexu-
alidade.
Seguindo essa tendncia, h algum tempo, os movimentos fe-
ministas, dentre outros movimentos sociais, se zeram co-responsveis
pela hoje inegvel expanso do poder punitivo. Aderindo interveno
do sistema penal como base de soluo para esses problemas, contri-
buram decisivamente para a implantao do maior rigor penal. Como
resultado dessas lutas, as legislaes punitivas em vrios pases foram
alteradas, buscando conter ou prevenir a violncia contra a mulher. Es-
tabeleceram, nesse sentido, princpios e normas assentados nas decla-
raes universais de direitos e nas constituies democrticas, com a
crescente valorizao dos direitos fundamentais.
Mulheres e homens entusiastas do rigor penal como pretensa
soluo para a violncia de gnero vm lutando com a nalidade de su-
perao de prticas diferenciadas, arbitrrias ou discriminatrias. Lutam
para a concretizao do direito fundamental igualdade para homens e
mulheres. No aceitam mais as prticas diferenciadas, arbitrrias e dis-
207 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS Amadeus Lopes Ferreira
criminatrias que suprimem direitos fundamentais. Dentre as inovaes
trazidas pela Lei n 11.340/06, podemos destacar as seguintes:
a) No mbito da violncia domstica contra a mulher, ser pu-
nida a ao ou omisso que cause morte, leso, sofrimento fsico, se-
xual, psicolgico e dano patrimonial, provocados no ambiente familiar.
Entende-se, nesse caso, qualquer relao ntima de afeto, independen-
temente da opo sexual, onde as pessoas convivam ou tenham convi-
vido. Noutros termos, para efeito da citada lei, esto em sua esfera de
proteo a famlia tradicional que se origina do casamento, a famlia
que brota da unio estvel e at mesmo aquela que surge das relaes
homossexuais ou a famlia monopariental.
b) O art. 44 do novo diploma legal alterou o art. 129, 9, do
Cdigo Penal, elevando a pena mxima do delito para trs anos, afas-
tando-o, com isso, do rol dos crimes de menor potencial ofensivo. Tanto
assim que a nova lei prev a criao de juizados especiais criminais,
outorgando competncia ao juzo criminal comum para a aplicao da
Lei n 11.340/06 at a criao de tais rgos (art. 14 e 33).
c) O art. 41 trouxe expressa vedao aplicao da Lei n
9.099/95 aos crimes praticados com violncia domstica e familiar con-
tra a mulher, independentemente da pena prevista. A determinao tem
relevncia, mesmo diante do aumento da pena estabelecida no art. 44. Isso
porque existem dispositivos na Lei dos Juizados Especiais que se aplicam
aos delitos que esto alm de sua competncia, como a suspenso condi-
cional do processo, que seriam atingidos pela vedao mencionada. Alm
disso, existem infraes penais que continuam sendo de menor potencial
ofensivo, mesmo que praticadas no mbito da violncia domstica, como
a ameaa, por exemplo. Sem dvida, o art. 14 trouxe um grande avano
com a criao dos Juizados de Violncia Domstica e Familiar contra a
Mulher, com competncia cvel e criminal.
2. Aspectos controvertidos
O diploma legislativo, no af de proteger a mulher, no hesitou
208
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
em alterar disposies da Lei dos Juizados Especiais, estabelecendo a
aplicao de penas diferenciadas aos casos de violncia domstica e
familiar contra a mulher. Trata-se, portanto, de um dos pontos contro-
vertidos da nova lei. Nesse caso, houve a quebra da isonomia, mani-
festada na excluso da incidncia da Lei n 9.099/95 em hipteses de
crimes praticados com violncia domstica e familiar contra a mulher
(art. 41) ou na vedao da aplicao de penas de prestao pecuniria e
de substituio da pena privativa de liberdade que implique o pagamen-
to isolado de multa (art. 17).
O principio da isonomia exige que o mesmo tratamento seja
dado e os mesmo direitos sejam reconhecidos a todos que estejam em
igualdade de condies e situaes. O fato de uma determinada infrao
penal caracteriza-se como uma violncia de gnero no um diferen-
cial, quando se cuida de institutos relacionados dimenso do potencial
ofensivo da infrao penal. Tambm no o , quando se cuida do modo
de execuo da pena concretamente imposta, no se autorizando, assim,
por essa irrelevante particularidade, a desigualdade de tratamento.
O grau de uma infrao penal que a faz ser identicvel como
de menor ou de mdio potencial ofensivo determinado pela Lei n
9.099/95, com base, to-somente, na medida das penas mxima e m-
nima abstratamente cominadas. Trata-se aqui de lei geral imperativa-
mente aplicvel a todos que se encontrem na situao por ela denida.
Portanto, no est autorizada estabelecer a desigualdade de tratamento
entre pessoas a quem seja atribuda prtica de infraes penais. Em
regra, devem ser-lhes cominadas penas mximas ou mnimas de igual
quantidade, tendo em vista o igual teor.
No que concerne dimenso de seu potencial ofensivo, uma
infrao penal que se evidencia como violncia o gnero, a que comi-
nada pena mxima de dois anos, no se distingue de quaisquer outras
infraes penais para as quais so cominadas iguais penas mximas.
Todas se identicam, em sua igual natureza de infraes penais de me-
nor potencial ofensivo, pela quantidade das penas que lhes so abstra-
tamente cominadas.
Alm disso, todos os autores igualmente se identicam na
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS Amadeus Lopes Ferreira
209 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
igualdade de condies e situaes em que se encontram. Nessa discus-
so, merece destaque o fato de que a Constituio da Repblica igua-
lou, em direitos e deveres, homens e mulheres, especialmente no que
concerne sociedade conjugal (art. 226, 5). O mesmo fez em relao
aos lhos, dando-lhe total igualdade, nos termos do art. 227, 7.
A nosso ver, est a, um dos pontos controversos. Quando a lei
refere-se violncia domstica e familiar contra a mulher no est dis-
pondo, nica e exclusivamente, sobre a mulher que agredida pelo ma-
rido ou companheiro. Neste contexto de relaes, a violncia pode ser
exercida por pais contra lhas ou, ao contrrio, por lhos contra a me.
Como se observa, criou o legislador infraconstitucional duas situaes
distintas, deixando de lado a isonomia constitucional. Exemplicadamen-
te, imaginemos que a lha agredida pelo pai e essa agresso causa leso
corporal. Nesse caso, o pai responderia pelo crime previsto no art. 129 do
Cdigo Penal, com a nova pena prevista no art. 44 da Lei n 11.340/06,
sem direito aplicao de qualquer instituto despenalizador previsto na
Lei n 9.099/95, sendo a ao penal pblica incondicionada.
Imaginemos agora a agresso do pai contra o lho. Nesse
caso, pelo cometimento da infrao, responder tambm o pai pela re-
gra do art. 129 do Cdigo Penal, com a nova redao imposta pela Lei
n 11.340/06. Todavia, como o art. 41 da citada lei estabelece que a Lei
dos Juizados no se aplica aos casos de violncia domstica e familiar
contra a mulher, neste segundo caso, a ao penal seria pblica, condi-
cionada representao. Portanto, seria possvel, em tese, a suspenso
condicional do processo.
O mesmo raciocnio pode ser feito no caso do lho que ame-
aa a me e o pai. Na ameaa contra a me, no se aplica a Lei dos
Juizados Especiais, ao revs do que ocorre na violncia perpetrada
contra o pai. Ademais, esse tratamento diferenciado tem repercusso
nas relaes homoafetivas, que passam a ser reconhecidas no territrio
nacional. Aqui no preciso muito esforo para se perceber que a Lei
n 11.340/06 acabou por tratar de maneira diferenciada a condio de
homem e mulher, bem como entre lhos, entes que o poder constituinte
originrio tratou de maneira igual. E, como resultado, gerou desigual-
dade na entidade familiar.
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS Amadeus Lopes Ferreira
210
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Outro ponto que provoca controvrsia no texto da lei em an-
lise est na aplicao das medidas protetivas de natureza cvel. A hie-
rarquia dos bens jurdicos, tutelados pela Constituio da Repblica, se
v tambm violada. So medidas que impem o afastamento do autor
do alegado crime do convvio com a ofendida e testemunhas, retratando
violncia de gnero (inciso I a III do art. 22). Tais medidas tm natureza
cautelar, sendo aplicveis unicamente para assegurar os meios proces-
suais em que se busca a realizao da pretenso punitiva fundada na
alegada prtica do crime congurador da violncia de gnero.
Sua imposio, portanto, se condiciona existncia de fatos
demonstrativos de que a proximidade do autor de um tal crime com
a ofendida ou com as testemunhas estaria a impedir sua livre mani-
festao, assim constituindo um risco ao normal desenvolvimento do
processo. A Lei n 11.340/06 trata de matria cvel, incluindo, dentre
as medidas protetivas de urgncia, a restrio ou a suspenso de visitas
a dependentes menores e a prestao de alimentos provisionais ou
provisrios (inc. IV e IV do art. 22).
A restrio ou suspenso de visitas a lhos viola o direito
convivncia familiar, assegurado pela CF (art. 227) e pela Conveno
sobre os Direitos da Criana ( 3 do art. 9). Esta expressamente enun-
cia o direito da criana que esteja separada de um ou de ambos os pais
de manter regulamente relaes pessoais e contato direto com ambos.
Ao pretender suprimir tal direito, a Lei n 11.340/06 desconsidera a
vontade da criana ou do adolescente. Preocupando-se apenas com a
audio de equipe de atendimento multidisciplinar ou servio similar,
viola regras estabelecidas nos 1 e 2 do art. 12 da Conveno sobre
os Direitos da Criana. Esses dispositivos asseguram criana que for
capaz de formar seus prprios pontos de vista o direito de exprimir suas
opinies livremente sobre todas as matrias que lhe forem atinentes.
E assim, devem ser levadas em conta suas opinies em funo de sua
idade e maturidade, para esse m. Deve, alm disso, ser-lhe dada opor-
tunidade de ser ouvida em qualquer procedimento judicial ou adminis-
trativo que lhe diga respeito.
Outro aspecto controvertido da discriminatria proteo mu-
lher encontra-se na regra do art. 16 da lei em exame. Estabelece o cita-
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS Amadeus Lopes Ferreira
211 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
do dispositivo que a renncia representao s poder se dar perante
o juiz, em audincia especialmente designada para tal m e ouvido o
Ministrio Pblico. A mulher passa a ser assim, objetivamente, inferio-
rizada, ocupando uma posio passiva e vitimizadora. tratada como
algum incapaz de tomar decises por si prpria.
Ainda no tocante ao citado art. 14, para a plena aplicao da
lei, o ideal seria que em todas as comarcas fosse instalado um JVDFM.
O juiz, o promotor, o defensor e os serventurios da justia deveriam ser
capacitados para atuar nessas varas. As comarcas tambm precisariam
contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, integrada por
prossionais especializados nas reas psicossocial, jurdica e de sade
(art. 29), alm de curadorias e servio de assistncia judiciria (art. 34).
Porm, diante da realidade brasileira, no h condies de promover o
imediato funcionamento dos juizados com essa estrutura em todas regi-
es deste pas. At porque, de modo injusticado, sequer foi exigida sua
criao ou denidos prazos para a sua implantao.
3. Consideraes nais
Podemos concluir, nestas observaes sobre a Lei n
11.340/2006, que, infelizmente, o que se verica a constante ausncia
de uma poltica pblica criminal, atravs da raticao de uma legisla-
o de emergncia, com forte apelo sua funo simblica. Ainda que
se conclua pela existncia da eccia simblica da lei, o fato que esta
possui limites. Por isso, deve ser usada com parcimnia, sob pena de se
adotar um procedimento autofgico. Diante da pluralidade exacerbada
da legislao, os mecanismos de persecuo penal apresentam capaci-
dade reduzida de realizao do plano de criminalizao. Por conseq-
ncia, atuam de forma mais seletiva, pondo em xeque a credibilidade
do sistema que, por sua vez, componente indispensvel para a eccia
simblica da norma.
Desnuda-se, assim, a ineccia do sistema penal, mormente
no que toca aos crimes que compem a delinqncia e que, em regra,
esto fora das categorias atingidas pela Lei n 9.099/95. No h como
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS Amadeus Lopes Ferreira
212
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
compreender que o legislador pretenda resolver o problema da violn-
cia domstica recorrendo, de forma discriminatria e inconstitucional,
ao mesmo procedimento. O discurso do mais do mesmo j foi objeto
suciente de demonstrao na literatura especializada, para que se pre-
tenda apresent-la com foros de novidade. A questo passa a ser prag-
mtica: enquanto o pas no conseguir sair deste crculo vicioso, o pro-
blema criminal avulta. Portanto, ca difcil saber at quando o quadro
ser reversvel sem o recurso a prticas exterminatrias.
LEI MARIA DA PENHA: ASPECTOS CONTROVERTIDOS Amadeus Lopes Ferreira
213 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
O Estado, monopolizando o poder de coero, , de certa for-
ma, em relao ao homem, obstculo s suas liberdades, enquanto o
homem , por essncia, livre. A liberdade, reza a Declarao de Direitos
de 1789, inspirada nessa doutrina, consiste no poder de fazer tudo aqui-
lo que no prejudique a outrem. Assim, o exerccio da liberdade no
tem outros limites, alm daqueles indispensveis a assegurar a todos
o desfrute dos seus direitos. Tais limites esto estabelecidos, de forma
geral, na lei.
No tocante liberdade, Duguit
1
chegou a dizer que o homem
tem o dever de exerc-la. Alm disso, no deve dicultar o exerccio
da liberdade por parte das outras pessoas. O equilbrio entre autoridade
e liberdade tornou-se, ento, o principal problema poltico do direito.
Permite-se, pois, ao homem exercer seus direitos e suas liberdades nos
limites estabelecidos pela legislao oridinria, desde que no desgure
os direitos constitucionalmente declarados. As liberdades individuais,
vistas por esta seara, no so castelos onde o homem vive indiferente
ao resto da sociedade.
A interdependncia social e a solidariedade social e fraternal
exigem que as liberdades individuais sejam guiadas pelo bem-estar in-
dividual acomodado ao bem comum. Esse modo de entend-las con-
verge para o que se convencionou chamar de direito social. Segundo
Radbruch
2
, tutelando o bem comum, ele delimitado pelos direitos a
que todos aspiram: os direitos humanos, cuja essncia se expressa pre-
cisamente em garantir a liberdade exterior do homem, possibilitando,
1
Apud GUSMO, Paulo Dourado de. Filosoa do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 120.
2
Apud GUSMO, Paulo Dourado de. Filosoa do Direito. Op. cit., p. 129.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
Promotor de Justia no Estado da Paraba
214
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
assim, a liberdade interior da sua conduta moral. Para melhor entender
a necessidade de limitao da liberdade em vista do bem comum, ob-
serve-se o comentrio de Rawls
3
:
Ao limitar a liberdade por referncia ao interesse ge-
ral na ordem e na segurana pblicas, o governo age
apoiado num princpio que seria escolhido na posio
original. Pois, nessa posio, cada um reconhece que o
rompimento dessas condies constitui um perigo para
a liberdade de todos. Isso decorre, logicamente, da com-
preenso de que a manuteno da ordem pblica uma
condio necessria para que todos atinjam seus obje-
tivos, quaisquer que sejam (desde que se situem dentro
de limites).
Com efeito, o problema da liberdade se pe no mago da ex-
perincia do direito, pela razo fundamental de ser a liberdade a raiz
mesma do esprito. Consoante observao de Wilhelm Windelband
4
, s
possvel falar de preceito, ou de norma de conduta e de sua vigncia,
admitindo-se que existe no homem um poder capaz de transpor as fun-
es naturalmente necessrias da vida psquica, possibilitando o cum-
primento da prescrio normativa. Esse poder a liberdade e o domnio
do homem sobre sua conscincia, a determinao da conscincia em-
prica pela conscincia normativa.
Como se observa, a liberdade no alguma coisa que dada,
mas resulta de um projeto de ao. uma rdua tarefa cujos desaos
nem sempre so suportados pelo homem, da resultando os riscos da
perda da liberdade. Os caminhos da liberdade surgem quando ela su-
focada revelia do sujeito - no caso da escravido, da priso injusta, da
explorao do trabalho, do governo autoritrio, da violao intimidade
alheia, da prtica do ilcito - ou quando o prprio homem a ela abdica,
seja por comodismo, medo ou insegurana. Cabe reexo losca o
olhar atento para denunciar os atos de prepotncia, bem como a ao si-
3
RAWLS, John. Uma teoria da justia. So Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 231.
4
Apud REALE, Miguel. Filosoa do Direito. 14. ed., So Paulo: Saraiva, 1991. p. 219.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
215 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
lenciosa da alienao e da ideologia. A esse respeito, Mounier
5
arma:
O batismo da opo (Kierkegaard) marca e consolida
cada etapa da luta da liberdade. A opo aparece, inicial-
mente, como poder de quem opta; escolhendo isto ou
aquilo, indiretamente escolho-me a mim mesmo e nesta
opo me edico. A opo, deciso criadora, rompendo
com fatalidades e probabilidades, subverte necessaria-
mente clculos e previses, mas somente assim pode se
tornar a origem criadora de uma nova ordem e de uma
inteligibilidade nova e, para quem tomou tal deciso, da
maturidade graas qual o mundo progride e o homem
se forma.
Para raticar tal posicionamento, observemos o pensamento
de Whitaker da Cunha
6
, para quem a liberdade deve ser entendida
no como direito a comportamento sem limites, metasicamente con-
siderado, mas como uma conduta solidria, limitada pelos direitos dos
outros, num feixe de prerrogativas e responsabilidades, como perce-
beu Kant.
O homem alcana sua independncia pessoal interior, quan-
do adquire conscincia de si mesmo perante o ambiente em que vive
e perante o mundo; quando consegue discernir o seu poder como in-
divduo, como ente social e, acima de tudo, quando comea a reetir
sobre sua prpria liberdade. Entendemos, portanto, que liberdade in-
dividual um atributo da vontade humana e uma conquista da perso-
nalidade do homem, de posse de si mesmo. Ao trazer tona conside-
raes sobre a limitao interna e externa do postulado da liberdade,
conclamando a sociedade a averiguar como decorreu o processo de
motivao que leva um agente a ser culpado por determinado fato,
Eduardo Correia
7
enfatiza:
5
Apud MARTINS, Antnio Colao. Metafsica e tica da pessoa: a perspectiva de Emmanuel Mounier.
Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 75.
6
CUNHA, Fernando W. da. A declarao de direitos e garantias das liberdade individuais como princpios
bsicos na estrutura do Estado. Revista do Curso de Direito da UFU, p. 125. 1983.
7
CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. p. 45, 1 v.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
216
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Mesmo sem cometer o erro dos positivistas de negar a li-
berdade de autodeterminao ao homem, mesmo aceitan-
do, como se deve, que o delinqente quando se decidiu
pelo crime poder-se-ia ter decidido de outra maneira, no
pode recusar-se que um conjunto de circunstncias ex-
genas e endgenas facilitam ou dicultam a sua deciso
de o cometer.
H quem sustente, porm, que ser honesto ou ser criminoso
o produto de deciso livre atravs da qual se escolhe a tendncia que
existe dentro de cada homem para o bem ou para o mal. Desse modo,
todas as qualidades do carter do delinqente, seguindo tal linha de
entendimento, podem ser-lhe imputadas atravs de sua culpa pelas de-
cises tomadas. Assim, proporo que o direito criminal arma certos
valores ou bens jurdicos, cria para os seus destinatrios o dever de
formar ou, pelo menos, de preparar a sua personalidade com vista a no
se colocarem em conito com tais valores ou interesses. Violando este
dever, em conformidade com Eduardo Correia
8
, o delinqente se cons-
titui em culpa pela no formao ou no preparao conveniente da sua
personalidade. Nesse sentido, assinala:
O direito penal no quer fazer dos homens sbios artistas,
heris ou santos. Com o juzo de culpa apenas se quer
censurar o delinqente que no se preparou para respei-
tar aquele mnimo que a vida em sociedade impe. Em
face desta meta to modesta e dispondo o homem para a
alcanar do conjunto de todos os elementos de sua perso-
nalidade, dicilmente se poder falar de tendncias rela-
tivamente s quais ele nada pode.
A primeira idia, portanto, que se faz do direito penal que ele
um direito sancionador, que afeta a liberdade do indivduo, quando
este pratica atos reprovveis, contrariando as regras sociais e legais,
presentes no Estado Social e Democrtico de Direito em que vive. En-
8
CORREIA, Eduardo. Op. cit., p. 329.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
217 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
to, toda vez que houver uma conduta negativa e, portanto, proibida
pela lei penal, teremos a imposio da pena. Para reforar tal armao,
traz-se a lio de Kelsen
9
, que, na presente citao, despe-se do seu bri-
lhantismo e faz coro obviedade:
Quando uma norma estatui uma determinada conduta
como devida (no sentido de prescita), a conduta real
(ftica) pode corresponder norma ou contrari-la. Cor-
responde norma quando tal como deve ser de acordo
com a norma; contraria a norma quando no tal como
de acordo com a norma deveria ser, porque o contrrio
de uma conduta que corresponde norma.
Portanto, uma normal motivao obriga o agente a conduzir-se
de conformidade com o ordenamento jurdico. A norma de dever , as-
sim, dirigida a cada indivduo, impondo-lhe a obrigao de motivar-se
de conformidade com o direito. Signica que os comportamentos so
sempre fundados em um valor ou presos a um desvalor, posto que a
norma se dirige no exterioridade da ao, mas ao comportamento no
seu todo. Reprova-se o agente por ter podido agir diversamente, quando
no o fez. Deste modo, v-se que a reprovao pressupe uma anterior
utilizao da liberdade de modo contrrio ao estabelecido pelo ordena-
mento jurdico. Assim, atravs de um desgnio pessoal, ao se decidir
pela prtica do ilcito, o homem, ao mesmo tempo, usa sua liberdade e
obsta a sua preservao em plenitude.
Ademais, justica-se o peso das conseqncias do ato ilci-
to, qual seja a limitao da liberdade, quando se verica que a prtica
do ilcito previsvel e, portando, dotada de vontade. No dizer de Mi-
guel Reale
10
, o futuro no vem ao nosso encontro como um bem ou um
mal imprevisvel e gratuito da natureza; antes um desao liberdade
como condio que permite ao homem empenhar-se em operaes de
pesquisa. Assim, ainda que a liberdade seja tida como bem inalienvel,
sofre necessrias limitaes desde quando surgem os ilcitos penais.
9
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998. p. 18-19.
10
REALE, Miguel. Op. cit., p. 43.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
218
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Sem dvida, a prtica do delito extingue o status libertatis e faz com
que os indivduos sofram as conseqncias de uma ordem imperativa,
advinda da chamada custdia em agrante delito ou por ordem da au-
toridade que enfeixa poderes expressamente para deter a locomoo de
ir e vir de um infrator.
Tal cerceamento legitima-se na necessidade de uma medida
que evite a desordenao da sociedade. O tolhimento da liberdade, ante
o dever de justia, essencial no sentido da represso e da defesa social.
Da se inferir que, se os direitos individuais tm garantias, sofrem, por
outro lado, as devidas limitaes, para que venham atender aos recla-
mos da tranqilidade pblica. A permisso da restrio da liberdade de
cada indivduo corresponde necessidade de se proteger a liberdade de
todos, em uma concesso plenamente democrtica.
2. Justicativas para a interveno estatal na esfera penal
Quando a ao de algum coloca em risco a liberdade de outras
pessoas, a interveno do Estado se justica plenamente. Assim que,
quando h uma violao regra geral de coexistncia das liberdades,
est amplamente justicada a aplicao da pena com vistas a restringir
a liberdade daquele que ameaa a liberdade alheia. Kant
11
chega mesmo
a dizer que o direito e a faculdade de constranger so uma mesma coi-
sa. Faz parte, ento, da noo de direito a ameaa, o constrangimento,
a aplicao da pena.
Esclarece o citado autor que o direito a limitao da liber-
dade de cada um e a condio de sua consonncia com a liberdade de
todos, enquanto esta possvel segundo uma lei universal. Neste senti-
do, o direito pblico seria, ento, o conjunto de leis exteriores que tor-
nam possvel semelhante acordo universal. Assim, j que toda restrio
de liberdade pelo arbtrio de outrem chama-se coao, segue-se que a
constituio civil uma relao de homens livres que se encontrariam,
11
Apud NAHRA, Cnara Maria Leite. O imperativo categrico e o princpio da coexistncia das liberdades.
Princpios, Natal, UFRN, ano 2, v. 3, p. 13-31, jul./dez. 1995.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
219 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
contudo, merc de leis coercitivas.
No texto: Sobre o dito comum: isso pode ser dito em teo-
ria, mas nada vale na prtica, de 1793, Kant
12
arma que status ci-
vil, considerado como situao jurdica, fundamenta-se nos seguintes
princpios: a liberdade de cada membro da sociedade como homem, a
igualdade deste com todos os outros como sdito e a independncia de
cada membro de uma comunidade como cidado. A partir desses pres-
supostos, sero analisadas duas justicativas para a interveno estatal
na esfera penal.
2.1 Limitao da liberdade pela reprovao da opo realizada pelo agente
A reprovao penal o resultado da anlise de todo o fato con-
siderado criminoso nas suas relaes objetiva e subjetiva com o agente.
A existncia de uma imputao subjetiva, em nvel de culpabilidade,
fundamenta a reprovao penal pela conduta desviada dentro do gru-
po social. O liberalismo, no desejo de fundamentar a punio, condi-
cionou-se existncia de uma relao psquica entre o autor e o fato
delituoso. Outrossim, expulsou do campo penal a responsabilidade ob-
jetiva, tendo em vista que o aspecto objetivo passava a ser a razo da
responsabilidade. Neste passo, a limitao da liberdade pela punio s
legtima quando presente tal relao psquica.
Para que haja conscincia do ilcito, segundo Maggiore
13
, no
necessrio o exato conhecimento da norma. Basta a idia por parte
do agente de estar agindo ilicitamente, de modo que a norma penal no
tem a funo prtica de transformar-se em motivos de agir. Tal objetivo
a norma penal s pode alcanar desde que conhecida. Neste contexto,
a limitao liberdade pela punio s seria legtima, caso houvesse o
dolo manifesto. Para Musotto
14
, o direito penal deve atender s exign-
cias concretas da vida social, de modo que a reprovao ocorrer por ter
12
Apud NAHRA, Cnara Maria Leite. Op. cit., p. 24.
13
Apud REALE JR., Miguel. Teoria do delito. 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 139.
14
Ibidem, p. 141.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
220
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o agente agido diversamente do preceituado. A mera violao da norma,
ento, no capaz de legitimar a limitao da liberdade, pois no en-
cerra o contedo do crime. Este revelado pela disparidade entre o fato
violador e os valores e interesses sociais. Sobre a matria, leciona com
sua lucidez mpar, Miguel Reale Jnior
15
:
Liberdade de querer , ento, a capacidade de impor um
sentido aos impulsos, capacidade de determinar-se de
acordo com o sentido prprio do homem e de suas cir-
cunstncias. O homem livre aquele que pode interferir
no processo dos impulsos, impondo-lhe um sentido.
pressuposto da ao e logo, tambm, da culpabilidade
que o agente no seja prisioneiro dos impulsos, que ele
possa agir segundo sua determinao racional.
Deste modo, no domnio de sua liberdade que o agente, ao
optar pela prtica do ilcito, assume as conseqncias e se decide por se
sujeitar punio. Dirige, assim, sua existncia segundo seus impulsos
livres. O comportamento , conseqentemente, tanto uma deciso do
agente acerca de sua vida como, tambm, o reexo de sua personali-
dade. Tanto a deciso do agente como a sua personalidade possibilitam
que se individualize a reprovao da formao concreta da vontade de-
lituosa. Jorge Figueiredo Dias
16
entende, por isso, que a deciso de um
comportamento concreto, fundado na opo de um valor posto como
motivo de agir, tem de ser reconduzida a uma deciso prvia, na qual
o homem decide sobre si mesmo. Liberdade, assim, a capacidade de
decidir sobre seu prprio ser, pelo sentido de sua vida.
Mister se ressaltar, contudo, na esteira de Francisco Muhoz
Conde
17
, que a capacidade de poder atuar de modo diverso daquele
como se atuou indemonstrvel. Lembra o citado autor que, no direito
penal, como nos demais ramos do direito e da vida social, h casos em
que a pessoa, entre vrias tarefas possveis, elege uma que prejudi-
15
Ibidem, p. 149.
16
Ibidem, p. 159.
17
MUOZ CONDE, Francisco. Teoria geral do delito. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris Editor, 1988. p. 127.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
221 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
cial a outros, sem que isso lhe proporcione um juzo negativo por sua
conduta.
Ressaltando tal circunstncia, segundo o citado autor, em uma
sociedade em que coexistem distintos sistemas de valores, preciso
admitir a existncia de indivduos que, mesmo podendo, teoricamente,
conhecer a ilicitude de sua ao, nem sequer a questionam, quando essa
ao normal no grupo social a que pertencem (ciganos, estrangeiros,
etc.). Sendo sua conduta reprovada pela lei, mesmo no incorrendo em
erro de proibio, a sua liberdade ser cerceada, uma vez que o ordena-
mento jurdico xa uns nveis de exigncia mnimos, que podem ser
cumpridos por qualquer pessoa
18
. Alm desses nveis, o ordenamento
no pode impor o cumprimento de suas determinaes.
Assim, a limitao da liberdade consiste na reprovabilidade da
prtica da ao, ou seja, na reprovao da opo realizada livremente
pelo agente, quando poderia agir conforme o direito. Limita-se, assim,
a liberdade, reprovando-se pessoalmente o agente por ter, na situao
concreta, optado e agido, quando estava em seu poder no faz-lo, pon-
do-se em consonncia com a norma legal. Vale salientar, contudo, que
a limitao da liberdade atravs da punio s possvel quele que
livre. A imputabilidade pressuposto da ao, pois o inimputvel no
age, enquanto se compreenda a ao como escolha entre valores. Desse
modo, imputvel o homem que livre, que possui liberdade.
2.2 Adaptao social pela norma jurdica
Sobre a essncia da norma jurdica, que se apresenta como ins-
trumento de adaptao social, ensina Maria Helena Diniz
19
:
evidente, entretanto, que nem todos os fatos, mesmo
conduta, tm para a vida humana o mesmo valor, a mes-
ma importncia. H fatos, inclusive puros eventos da na-
18
MUOZ CONDE, Francisco. Op. cit., p. 161.
19
DINIZ, Maria H. Compndio de introduo cincia do direito. So Paulo: Saraiva, 1991. p. 210.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
222
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tureza, que possuem para os homens, em suas relaes
intersubjetivas, signicado fundamental, enquanto ou-
tros, ou por lhes fugirem ao controle, ou por no lhes
acarretarem vantagens, ou, ainda, por no lhes provoca-
rem o interesse, so tidos como irrelevantes.
A interligao entre o indivduo e os mandamentos da norma
apenas pode ocorrer se o indivduo tiver capacidade para se sentir mo-
tivado pela norma, conhecer o seu contedo ou se encontrar em uma
situao em que pode ser regido, sem maiores esforos, por ela. Des-
se modo, pode desenvolver suas faculdades para conhecer as normas
que regem a convivncia no grupo a que pertence e, assim, dirigir seus
atos de acordo com essas normas. A esse respeito, argumenta Francisco
Muoz Conde
20
:
A norma penal se dirige a indivduos capazes de se mo-
tivarem, em seu comportamento, pelos mandamentos
normativos. O importante no que o indivduo possa
escolher entre vrias aes possveis, que precisamente
o que a norma probe com a ameaa de uma pena. A par-
tir de determinado desenvolvimento mental, biolgico
e cultural do indivduo, espera-se que este possa moti-
var-se por mandatos normativos. [...] A motivao, a
capacidade para reagir frente s exigncias normativas,
, segundo acredito, a faculdade humana fundamental
que, unida a outras (inteligncia, afetividade, etc.), per-
mite a atribuio de uma ao a um sujeito e, em conse-
qncia, a exigncia de responsabilidade pela ao por
ele praticada.
Escrevendo sobre as caractersticas da norma jurdica, Arnaldo
Vasconcelos
21
arremata: Se a observncia voluntria da norma afasta
a coao, tornando-a prescindvel e, por isso, insuciente para discri-
min-la, no dispensaria, contudo, o momento hipottico da coativida-
20
MUOZ CONDE, Francisco. Op. cit., p. 130.
21
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurdica. So Paulo: Malheiros, 1993. p. 34.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
223 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
de. Permaneceria esta, fosse ou no fosse a norma acatada. Assim, a
coatividade tambm no serve como elemento caracterizador da norma
jurdica.
A pena um desses fatos sociais de validade universal, no tem-
po e no espao, do qual nenhum povo prescinde e, se quiser prescindir,
dissolve-se. A justicao da pena est na sua necessidade, ou seja, em
ser ela um meio imprescindvel para a manuteno de uma comunida-
de social humana. lvaro Mayrink Costa
22
arma esse pensamento, ao
explicar como e por que a norma jurdica essencial para dar ao Estado
instrumento de imputao e, assim, capacidade de promover a adapta-
o social daqueles que ferem o ordenamento atravs do uso inadequa-
do da liberdade. Nessa perspectiva, arremata:
O regime de paz jurdica em que se funda o Estado pres-
supe a submisso norma daquela tendncia que tem o
homem a dar satisfao s suas necessidades e interesses
por qualquer meio e, para alcanar um bem que pretende,
ser capaz de ameaar ou ferir um bem ou interesse alheio.
Sem a presso mediadora do Estado e a fora que apia
a ordem de Direito, seria a luta de todos contra todos, e a
organizao social ndaria por desagregar-se na extrema
anarquia.
3. O problema da coexistncia das liberdades
Todos podem fazer o que bem entendem dentro de sua liber-
dade, mas todos tm que responder por todas as suas aes. Cada ato
individual que reita o bem ou o mal registrado. Cada um de ns res-
ponde por todas as aes praticadas. Todos os atos praticados auxiliam
ou prejudicam nossa vida. A liberdade do homem est, portanto, cerca-
da e impregnada de limites, mas, mesmo assim, o homem continua a ser
livre. Ocorre que, no exerccio da liberdade, no nos permitido tudo
querer, pois a liberdade se exerce dentro dos limites das possibilidades.
22
COSTA, lvaro Mayrink. Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1982. p. 754.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
224
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Nesse aspecto, interessante anotar a posio de John Rawls
23
sobre tal
limitao:
Ao limitar a liberdade por referncia ao interesse geral
na ordem e segurana pblicas, o governo age apoiado
num princpio que seria escolhido na posio original.
Pois, nessa posio, cada um reconhece que o rompi-
mento dessas condies constitui um perigo para a li-
berdade de todos. Isso decorre, logicamente, da com-
preenso do que a manuteno da ordem pblica uma
condio necessria para que todos atinjam seus obje-
tivos, quaisquer que sejam (desde que se situem dentro
de certos limites), e para que cada um possa satisfazer
a prpria interpretao de suas obrigaes religiosas e
morais. Restringir a liberdade de conscincia dentro dos
limites, por mais imprecisos que sejam, do interesse do
Estado na ordem pblica uma limitao derivada do
princpio do interesse comum, isto , o interesse do ci-
dado representativo igual.
cedio que a liberdade encontra mais limitaes ao seu
exerccio, as quais provm da interdependncia recproca do convvio
humano e da reao de conceitos dominantes da organizao social,
quando tais conceitos so postos em dvida ou em xeque. O convvio
humano impe muitas restries ao uso que os indivduos podem fazer
de suas faculdades. Deste modo, ao se estudar o problema da liberdade,
no se pode perder jamais de vista que o homem se torna livre em um
conjunto de relaes recprocas de dependncia, de limitaes e absten-
es mtuas, que a sociedade.
Por extenso, preciso entender que a liberdade deve ser prati-
cada dentro de uma estrutura chamada de ordem legal, que perfaz o con-
junto de normas de organizao e conduta
24
. Destarte, podemos chegar
concluso de que apenas com a valorizao do homem como ser que so-
brevive, trabalha, cria um espao comum em que interage com outros, e
o entendimento pleno desse ser pelo direito, que conseguiremos cons-
23
RAWLS, John. Op. cit., p. 231.
24
LIMA, Hermes. Introduo cincia do direito. 32. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000. p. 324-325.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
225 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
truir um mundo onde todos os homens se sintam vontade
25
.
3.1 A vida em comunidade como premissa limitao da liberdade
individual
A vida do homem est passvel de condies superiores que
transcendem a prpria pessoa, de modo que no se desenvolve, se a
pessoa no lhes obedece. Tambm a comunidade impe certas exign-
cias ao indivduo, no meramente porque ela assim se determina, mas
por serem necessrias ao convvio saudvel e frtil entre os homens. A
reivindicao de nossa liberdade est intrinsecamente mesclada de ins-
tinto para no ser suspeita. Mounier
26
arma que ningum verdadeira-
mente livre, seno quando todas as outras pessoas, homens e mulheres,
que lhe rodeiam forem tambm livres. Ningum se torna livre, seno
atravs da liberdade dos outros.
O homem est destinado a conviver com os outros homens e
realizar-se plenamente ao interagir com eles. A liberdade desigual,
quando, por exemplo, uma categoria de pessoas tem uma liberdade
maior que outra, ou a liberdade menos extensiva do que deveria ser.
Ocorre que todas as liberdade de cidadania devem ser as mesmas para
cada membro da sociedade. Uma liberdade bsica, ento, s pode ser
limitada pela prpria liberdade, isto , apenas para assegurar que a mes-
ma liberdade bsica estar adequadamente protegida em um segundo
momento e para ajustar o sistema nico de liberdades da melhor forma
possvel.
A experincia da liberdade ambgua: ela nasce da emoo e
pode surgir de sentimentos sem valor ou falsos, que lhe proporcionam
uma justicao irreal. O perigo oculta-se no fato de a simples autenti-
cidade estar em oposio convenincia social daquele fato, ao efeito
de tal comportamento em face da vida de outrem. A vivncia real da
25
FIORATI, Jete Jane. Os direitos do homem e a condio humana no pensamento de Hannah Arendt.
Apud BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; ARAJO, Nadia de (org.). Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
p. 216.
26
Apud MARTINS, Antnio Colao. Op. cit., p. 73.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
226
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
liberdade, por outra via, consiste em se sentir livre de uma maneira es-
pecial, quando se faz bem aquilo que se tem a fazer, quando se apreende
a essncia do problema e depois se comporta em harmonia com isso.
Sobre tal aparncia de liberdade, pronuncia-se Guardini
27
:
primeira vista, a liberdade parece consistir em satisfa-
zer a vontade prpria. Fazer o que agrada ou til parece
ser, primeira vista, sinnimo de independncia e, por
isso, de liberdade. A experincia moral demonstra, po-
rm, que isso apenas me leva a depender de mim mesmo,
de todos os entraves interiores que me aprisionam, leva-
me a cometer o mal, a interferir negativamente na con-
duta dos outros, e isso verdadeira e essencialmente ne-
gao da liberdade. Porque o errneo, o falso, o invasor,
o injusto, o mal, tudo isso constitui escravido absoluta.
A real liberdade alcanada pela fuga do eu egosta e
elementar e pelo caminhar constante para uma exign-
cia mais pura, normalmente alcanada atravs da luta, do
vencimento prprio e do sacrifcio.
preciso que se distinga a verdadeira liberdade daquela que
simples aparncia e se consubstancia, no mais das vezes, na excitao do
prazer ocasionado pela ambio de mandar. Tal liberdade desgua, mui-
tas vezes, no exerccio da violncia e da crueldade para com os outros,
que, tendo os mesmos direitos, so prejudicados pelo excesso de seus
pares. Assim, tudo aquilo que se contrape s exigncias da liberdade,
embora momentaneamente d a sensao de poder e de exaltao da vida,
desemboca, nalmente, na estreiteza. Converte-se em um estorvo, em um
autntico tropeo, em uma negao da liberdade. Acerca da convivncia
em comunidade, trazemos a lume os comentrios de Rawls
28
:
As pessoas tm liberdade para fazer alguma coisa quando
esto livres de certas restries que levam a faz-la ou a
no faz-la, e quando sua ao ou ausncia de ao est
27
GUARDINI, Romano. Liberdade, graa e destino. So Paulo: Livraria Flamboyant; Lisboa: Editorial
ster, 1943. p. 42.
28
RAWLS, John. Op. cit., p. 219.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
227 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
protegida contra a interferncia de outras pessoas, quan-
do os demais tm um dever estabelecido de no interferir.
Um conjunto bastante intrincado de direitos e deveres ca-
racteriza qualquer liberdade bsica particular. No ape-
nas deve ser permissvel que os indivduos faam ou no
faam uma determinada coisa, mas tambm o governo
e as outras pessoas devem ter a obrigao legal de no
interferir e no criar obstculos.
Quando os valores morais so solapados, e se exaspera a noo
de direito, fazendo caso omisso do dever, alimentando a permissivida-
de, como tem acontecido, o egosmo cresce monstruosamente. Nesse
caso, o homem se desumaniza, porque seus sentimentos e sua vontade
so substitudos por desejos incontrolados e impulsos institivos, que
passam a dominar seu raciocnio. Neste aspecto, convm transcrever as
palavras de Arminda Miotto
29
:
Nessa situao de vale-tudo, denominada direito, para
satisfazer o egosmo, as instituies fundamentais para
o convvio humano so negadas e escarnecidas. Nesse
quadro, como admirar-se de que a criminalidade, em
uns e em outros pases, internamente e transpondo fron-
teiras, apresente-se como se est apresentando? Para
satisfazer o egosmo, como sua nsia de ter mais bens
materiais e mais facilmente obt-los; para aumentar o
gozo dos instintos, feito aquilo que est ao alcance:
roubos, homicdios, assaltos, seqestros, extorses, ne-
gociatas, trco de inuncias, trco de drogas, subor-
no, corrupo, etc.
Os homens so seres ticos. Na interao de sentimentos, co-
nhecimentos, manifestaes de vontade, atos e aes, direitos e deveres,
convivem em sociedade. Essa interao e esse convvio so imprescin-
dveis para que eles realizem a sua destinao humana. A criminologia
no pode deixar de levar isso em conta. importante, conseqente-
29
MIOTTO, Arminda Bergamini. A criminologia. Revista de Informao Legislativa, out./dez. 1979. p. 210.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
228
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
mente, que se perquira a relao psicolgica da pessoa com a realidade
objetiva com a qual se envolve.
Na mesma direo, Miguel Reale
30
arma que convm pensar-se
em um modelo ideal de Estado de Direito, ao modo de Max Weber. Um
modelo em que todas as valncias de liberdade se compem ou se relacio-
nam em unidade aberta e dinmica. Dessa forma, a liberdade individual,
compreendida ora como liberdade de conscincia, ora como liberdade po-
ltica e econmica, vem a se tornar uma liberdade social. Assim, pos-
svel congurar-se um bem comum a todos os membros da coletividade.
Para tanto, o valor da liberdade no precisa se converter no da igualdade,
pois se trata de valores diferentes, irredutveis um ao outro, mas sim corre-
lacionveis entre si at formarem uma ntima dade indecomponvel.
A existncia humana funciona como corolrio da expresso
maior do direito, pressupondo a questo da coexistncia humana, ou,
como querem Zaffaroni e Piarangeli
31
, as existncias simultneas em
sociedade. Em suas consideraes, esclarecerem:
Estas tm seu asseguramento com a introduo de uma
ordem coativa que impea a guerra de todos contra to-
dos (guerra civil), fazendo mais ou menos previsvel a
conduta alheia, no sentido de que cada um saiba que
seu prximo se abster de condutas que afetem entes
que se consideram necessrios para que o homem se
realize em coexistncia, que a nica forma em que
pode auto-realizar-se. Estes entes so os bens jurdicos
ou direitos. A funo da segurana jurdica no pode
ser entendida, pois, em outro sentido que no o da pro-
teo dos bens jurdicos (direitos) como forma de as-
segurar a coexistncia.
Tambm encontramos em Joo Mendes de Almeida Jnior
32
a
30
REALE, Miguel. Dimenses da liberdade na experincia jurdica e social brasileira. Presena losca.
Rio de Janeiro, v. 12, p. 15, jan../dez. 1986.
31
ZAFAFARONI, Eugenio Ral; PIARANGELI, Jos Henrique. Manual de direito penal: parte geral. 2.
ed. So Paulo: RT, 1999. p. 93.
32
ALMEIDA JR., Joo Mendes de. O processo criminal brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1911. p. 7, 1 v.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
229 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
idia de coexistncia social com base na idia de segurana. Para ele,
corroborando tudo o que vimos at agora, o primeiro interesse da so-
ciedade a segurana da liberdade individual, porque a sociedade nada
mais que a coexistncia dos indivduos. Sem a idia de coexistncia
embasando a questo de valores como justia e segurana, o direito
terminaria por transformar sua especicidade em um m em si mesmo,
o que no crvel nem hoje, nem em tempo algum. Isso se d porque,
no dizer de Anamaria Vasconcelos
33
, aplicar a lei no um m em si
mesmo. preciso que tal atuao tenha uma valorao qualquer que
seja segurana, como alguns defendem, ou mesmo a justia, que a
posio que acatamos. Justicando a teoria de o Estado direcionar a
vida social resulta do dever que lhe incumbe de garantir a segurana de
seus membros, escreve Claus Roxin
34
:
Hoje, como todo poder estatal advm do povo, j no se
pode ver a sua funo como na realizao de ns divinos
ou transcedentais de qualquer outro tipo. Como cada in-
divduo participa do poder estatal com igualdade de di-
reitos, essa funo no pode igualmente consistir em cor-
rigir moralmente, mediante a autoridade, pessoas adultas
que sejam consideradas como no esclarecidas intelectu-
almente e moralmente imaturas. A sua funo limita-se,
antes, a criar e garantir a um grupo reunido, interior e
exteriormente, no Estado, as condies de uma existncia
que satisfaa as suas necessidades vitais. De resto, no se
pode contestar seriamente a reduo do poder estatal para
esse m numa ptica terrena e racional de garantia total
da liberdade do indivduo para conformar a sua vida.
3.2 Motivos subsiadores da criao dos tipos penais
Nossa vida se desenvolve dentro de um mundo de normas.
Cremos ser livres, mas, na realidade, estamos presos em uma estreita
33
VASCONCELOS, Anamaria Campos Torres de. Prova no processo penal: justia como fundamento
axiolgico. Belo Horizonte: Del Rey, 1992. p. 77.
34
ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. 3. ed. Lisboa: Vega, 1992. p. 27.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
230
rede de regras de conduta, a qual, desde nosso nascimento at a morte,
dirige nossas aes nesta ou naquela direo. Muitas dessas normas se
tornam to costumeiras, que no nos damos conta da sua presena. Mas,
se observarmos como se desenvolve a vida de qualquer criana, pos-
svel vericar que toda ela est repleta de cartazes indicativos, alguns
ordenando que se tenha um certo comportamento, outros proibindo.
Muitos desses cartazes indicativos so regras de direito. Por isso, um
dos primeiros cuidados do estudo do direito criarmos a conscincia da
importncia da normatividade em nossa existncia individual e social.
O direito traa os limites da liberdade, mas a liberdade em si
no uma criao do direito nem do Estado. As liberdades individuais
so anteriores ao Estado e inatas. Trata-se de uma anterioridade lgica,
no cronolgica, atravs da qual se pode conceber a liberdade ante-
riormente a qualquer cogitao de Estado. Este no cria a liberdade,
mas, ao contrrio, limita-a e lhe regula o uso. Sabe-se que a liberdade
apenas jurdica, quando regulada pelo direito. Mas inegvel que a
sua matria, o seu suporte de fato anterior ao direito. Nessa direo,
transcrevemos algumas indagaes propostas por Reale
35
:
a razo pela qual se pem, hoje, como um desao, as
seguintes perguntas reversveis: Como ser possvel a
nossa experincia jurdica e social, sob o signo de uma
participao livre em uma comunidade concreta? Como
ser necessrio ordenar a comunidade nacional para que
o pas legal se identique com a comunidade real, em
sentido de efetiva participao s sedes decisrias do po-
der e aos benefcios da socializao do progresso? Como
dever ser a democracia social que, em nossa poca, o
nome novo da democracia liberal? Como conciliar liber-
dade e desenvolvimento?
Em linhas gerais, o direito penal surge como um importante
instrumento de manuteno da paz social. Como resume Jescheck
36
, la
35
REALE, Miguel. Op. cit., p. 22.
36
Apud GUASP DELGADO, Jaime. La pretensin procesal. Estudios Juridicos. Madri, Civitas, p. 582,
1996.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
231
misin del derecho penal es la proteccin de la convivencia humana en
la comunidad. No mesmo sentido, Wessels
37
explica que a tarefa do
direito penal a proteo dos valores elementares da vida comunitria,
no mbito da ordem social, e como garantidores da manuteno da paz
jurdica.
Assegura Francisco Muoz Conde
38
que o Estado, produto
da correlao de foras sociais existentes em um determinado momento
histrico, que dene os limites do culpvel e do inculpvel, da liber-
dade e da no liberdade. Ao discorrer sobre a culpabilidade, o citado
autor a dene como a culminao de todo um processo de elaborao
conceitual destinado a explicitar por que e para que, em um determina-
do momento histrico, se recorre a um meio defensivo da sociedade to
grave quanto a pena, e em que medida se deve fazer uso desse meio.
Com tal viso, tem-se que, um Estado social e democrtico de direito,
deve explicar empiricamente por quais razes faz uso da pena e a que
pessoas se aplica. Isso sempre ocorre para proteger, de modo ecaz e
racional uma sociedade que, se no completamente justa, tem em seu
seio e em sua congurao jurdica a possibilidade de vir a s-lo.
Segundo Ferri
39
, no intuito de prover o desenvolvimento or-
denado da sociedade civilizada, em virtude dos indivduos que, de uma
forma ou de outra, burlam ou tentam burlar o direito, o Estado exerce a
defesa social. E esclarece: Vivendo em sociedade, o homem recebe dela
as vantagens da proteo e do auxlio para o desenvolvimento da prpria
personalidade fsica, intelectual e moral. Portanto, deve tambm supor-
tar-lhe as restries e respectivas sanes, que asseguram o mnimo de
disciplina social, sem o que no possvel nenhum consrcio civilizado.
Nesse contexto, o legislador dita normas penais por necessidade de defe-
sa social e as dita para todos. Desse modo, busca radicar na conscincia
coletiva a impresso de que certas aes so ilcitas, proibidas e punidas.
Por outro lado, a aplicao da sano para qualquer cidado que trans-
grida a norma penal surge como uma necessidade imprescindvel para o
37
WESSELS, Johannes. Direito penal: parte geral. Porto Alegre: Srgio Fbris, 1976. p. 3.
38
MUOZ CONDE, Francisco. Op. cit., p. 129.
39
FERRI, Enrico. Princpios de direito criminal: o criminoso e o crime. 2. ed. Campinas: Bookseller, 1998.
p. 232.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
232
Estado. Sobre tais assertivas, enfatiza Enrico Ferri
40
:
Na realidade, o princpio fundamental de que, quando um
indivduo viola a lei penal deve responder por isso, quais-
quer que sejam suas condies siopsquicas, refora, direta
e indiretamente, o sentido de disciplina social e da obrigato-
riedade da lei, que lhe o fundamento; d completa e segura
satisfao s partes lesadas, eliminando, assim, as sobrevi-
vncias da vindicta privada; dirime toda a questo sobre a
obrigao de indenizao do dano por parte do delinqente
reconhecido enfermo mental ou imaturo; torna a justia pe-
nal mais sincera e mais segura, libertando-a das hodiernas
logomaquias sobre a culpabilidade e portanto punibilidade
dos acusados reconhecidos autores de crimes.
Na lio de Bittencourt
41
, apesar da existncia de outras formas
de controle social, algumas mais sutis e, por isso, mais difceis de limi-
tar que o prprio direito penal, o Estado utiliza a pena para proteger
de eventuais leses determinados bens jurdicos, assim considerados,
em uma organizao scio-econmica especca. A criao dos tipos
penais, portanto, prope-se a fazer do direito penal, no o exclusivo,
mas um dos instrumentos necessrios correo das distores causa-
das por um individualismo exacerbado favorecendo a homogenizao
social, com vistas realizao da igualdade concreta possvel entre os
cidados, ou seja, com a nalidade de contribuir para que se realize uma
sociedade dotada de justia social
42
.
4. Responsabilidade como pressuposto da liberdade
O ato livre no surge espontaneamente. Por um lado, nunca se
40
FERRI, Enrico. Op. cit., p. 239.
41
BITTENCOURT, Cezar Roberto. Algumas controvrsias da culpabilidade na atualidade. Direito e justi-
a, Porto Alegre, v. 20, p. 99, 1999.
42
LUISI, Luiz. Os princpios constitucionais penais. Porto Alegre: Srgio Antnio Fabris Editor, 1991. p.
11.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
233
livre sem limites. Muito freqentemente, o ato no procede de uma
escolha, mas da necessidade ou do hbito. Muitas vezes, realizado
a partir de domnios exteriores que se impem por fora: o instinto, a
defesa, a adaptao, por exemplo. Mas, mesmo dentro de seus limites,
a condio de liberdade no exige somente um esforo, nem traduz
unicamente o peso de suas conseqncias; sobre ela pesa tambm a
responsabilidade, envolvendo tudo o que isso signica. A esse respeito,
observa Guardini
43
:
Participo das coisas que fao de uma maneira que se dife-
rencia essencialmente de todas as demais. No tenho que
agentar apenas as conseqncias da ao, como em tudo
o que fao; tenho que responder pelo prprio fato de o
ter produzido. Sou responsvel pelas suas conseqncias,
boas ou ms. E esta responsabilidade no meramente
externa e jurdica; tambm interna, afetando o mago
do meu ser. O signicado e o peso da ao recaem sobre
mim. Pela ao co submetido a uma certa regra, e por
ela se determina o sentido da minha pessoa.
O medo perante a responsabilidade, a preocupao em fugir a
qualquer conhecimento e deciso, a preguia que no aceita a indepen-
dncia so atitudes que encontram justicativa na prpria natureza hu-
mana. Hoje, porm, mais que nunca, o indivduo deve se responsabilizar
por seus atos, opor resistncia a interferncias alheias, ao passo que luta
para que prevaleam medidas mais justas. A propriedade do homem so-
bre seus atos exprime-se pela maneira como ele os subordina a si, atravs
da responsabilidade. Liberdade e responsabilidade constituem a digni-
dade essencial do homem. Ambas, certo, levantam graves problemas
ao esprito humano, de onde decorre a grande tentao do homem em se
desfazer delas, mediante qualquer circunstncia de tenso.
Hengel
44
ressalta a fora do fator consciente, o fato de que cada
indivduo deve querer saber o que realiza praticamente. Trata-se da res-
43
GUARDINI, Romano. Op. cit., p. 13.
44
Apud ROSENFIELD, Denis L. Poltica e liberdade em Hegel. So Paulo: Brasiliense, 1983. p. 102.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
234
ponsabilidade da ao, no no sentido fraco da emoo experimentada
por uma subjetividade que fracassa na sua tentativa de traduzir a sua
inteno na realidade, mas no sentido forte que consiste em tornar o
indivduo senhor de si. Em outras palavras, algum no subordinado s
opinies de outrem, algum que quer sempre saber o que est exposto.
No se trata, ento, de desresponsabilizar os indivduos das conseq-
ncias no previstas de suas aes; pelo contrrio, busca-se tornar cada
um capaz de vericar interiormente o processo graas ao qual cada in-
divduo se determina conscientemente. De fato, as determinaes do
indivduo so determinaes pensadas.
caracterstica dos sistemas penais modernos que a responsa-
bilidade individual seja estabelecida como condio para a punio. O
legislador tem a prerrogativa de punir determinados atos, independen-
temente de o homem ser livre ou no, por julgar que os valores sociais,
nos casos punveis, so superiores aos individuais. Porm, deve o juiz,
diante do caso concreto, considerar os condicionamentos fticos, pois
ele no decide apenas com respeito aos valores em jogo, mas tambm
sobre a existncia de um fato.
Se a responsabilidade a capacidade de entender o carter cri-
minoso dos fatos e determinar-se de acordo com este entendimento,
voltamos base que a capacidade de agir com livre arbtrio. No di-
reito, o termo responsabilidade substitudo por imputabilidade, pois
imputar um fato a algum responsabiliz-lo do mesmo. Assim, no que
diz respeito responsabilidade de um sujeito por ato cometido, teremos
duas situaes a serem consideradas: se o autor podia entender, pelo
exerccio de sua capacidade mental, o ato que praticou; se, de acordo
com esse entendimento, quis provocar o resultado vericado. esta a
distino entre imputabilidade e responsabilidade esposada por Miguel
Chalub
45
:
Imputabilidade revela a indicao da pessoa ou do agente
a quem se deve atribuir ou impor a responsabilidade ou
45
CHALUB, Miguel. Introduo psicopatologia forense: entendimento e determinao. Rio de Janeiro:
Forense, 1981. p. 82.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
235
a autoria de alguma coisa em virtude de fato verdadeiro
que lhe seja atribudo ou de cuja conseqncia seja res-
ponsvel. Desse modo, a imputabilidade mostra a pessoa
para que se lhe imponha a responsabilidade, pois que no
haver esta quando no se possa imputar pessoa o fato
de que resultou a obrigao de ressarcir o dano ou res-
ponder pela sano legal. A imputabilidade, portanto, an-
tecede responsabilidade. Por ela, ento, que se chega
concluso da responsabilidade para a aplicao da pena
ou imposio da obrigao.
Para Fernando Pedroso
46
, a imputabilidade decorre da responsabi-
lidade, sendo aquela, portanto, pressuposto desta, que sua conseqncia.
Portanto, a liberdade envolve sempre responsabilidade social. Liberdade
no licenciosidade nem, simplesmente, fazer o que nos apetece. A liber-
dade limitada pelo fato de que o eu sempre existe em um mundo e com
ele tem uma relao dialtica. A liberdade de um ser humano limitada
pelo seu corpo, pela doena, pelo fato de que morre, pela sua capacidade de
inteligncia, pelos controles sociais, etc. O homem livre responsvel, na
medida em que pode pensar e atuar para o bem-estar do grupo.
A culpa a experincia subjetiva decorrente de no termos assumi-
do plena responsabilidade, isto , no termos correspondido s nossas pr-
prias potencialidades nos relacionamentos com o outro. Estar apto a pr em
dvida e a contestar o que nos distingue do mundo. Em nossa compreenso
em relao liberdade individual, o mais importante que os valores huma-
nos nunca so unilaterais, mas envolvem sempre um no e um sim.
Quando assumimos a nossa condio humana, com necessida-
des e liberdade, limites e potencialidades, e buscamos realizar o nosso
ser, tornamo-nos responsveis pelas nossas atitudes e atos. Isto , so-
mos responsveis no somente pelas intenes das nossas aes, mas
tambm pelas suas conseqncias. As nossas aes tm, por trs de si,
motivaes. Quando temos a conscincia do m almejado e dos meios
utilizados, praticamos um ato voluntrio. Ao contrrio do que muitos
podem pensar, somente uma pequena parte de nossas aes tem moti-
46
PEDROSO, Fernando de Almeida. Direito penal. So Paulo: Lend, 1993. p. 484.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
236
vaes conscientes e so voluntrias. A maioria delas tem motivaes
inconscientes e so automticas.
Segundo Kaufmann
47
, o objeto da ordem jurdica no pode
ser encontrado no prprio processo de produo jurdica, mas sim na
pessoa humana, que deve necessariamente gurar como seu objeto de
proteo. Alm disso, deve-se atentar para o fato de que, em uma socie-
dade pluralista e de risco, nem sempre possvel ao autor tomar conhe-
cimento do dever jurdico, concretizando sua compreenso atravs da
reiterao de condutas arriscadas e, por isso mesmo, induzindo edi-
cao do princpio da tolerncia, ao lado da responsabilidade. Atravs
da vontade, o indivduo pode dirigir sua conduta de acordo com a nor-
ma. Este o pensamento de Welzel
48
, para quem o objeto primrio da
culpabilidade a vontade livre, j que somente atravs dela se constri
toda a ao. Na esteira desse entendimento, arma o citado autor:
Culpabilidad es reprochabilidad de la conguracin de
la vonluntad. Toda culpabilidad es segn esto culpabi-
lidad de voluntad. Slo aquello respecto de lo cual el
hombre puede algo voluntariamente, le puede ser repro-
chado como culpabilidad. As en cuanto a sus faculta-
des y predisposiciones todo aqullelo que el hombre
simplementees-, ya sean valiosas o mediocres (desde
luego pueden ser valoradas), slo aquello que l hace con
ellas o cmo las pone en movimiento en comparacin
con lo que hubiera podido o debido hacer con ellas o
cmo hubiera podido o debido ponerlas en movimiento,
le puede ser tomado en cuenta como mrito o reprocha-
do como culpabilidad.
5. Necessidade de interveno mnima no mbito penal
No se pode ignorar as diculdades prticas com que o legis-
47
Apud TAVERS, Juarez. Culpabilidade e incongruncia dos mtodos. Revista Brasileira de Cincias Cri-
minais, ano 6, n. 24, p. 156, out./dez. 1998.
48
WELZEL, Hans. Derecho penal alemn: parte general. 11. ed. Santiago: Editorial Juridica de Chile,
1997. p. 167.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
237
lador se defronta para, em muitos casos, usar com correo os critrios
da proporcionalidade e da necessidade. Todavia, em se tratando da cria-
o de tipos penais, necessrio ao legislador ter presente que ele tem
o direito de interveno mnima, ou seja, tem o direito de criar o tipo
penal quando o caminho da tutela penal se apresenta como inarredvel
e necessrio.
O direito penal mnimo uma tcnica de tutela dos direitos
fundamentais. Segundo Ferrajoli
49
, congura a proteo do fraco con-
tra o mais forte; tanto do fraco ofendido ou ameaado pelo delito, como
tambm do fraco ofendido ou ameaado pela vingana; contra o mais
forte, que no delito o delinqente, e na vingana a parte ofendida ou
os sujeitos pblicos ou privados solidrios com ele. A proteo vem
por meio do monoplio estatal da pena e da necessidade de prvio pro-
cesso judicial para sua aplicao. Provm, alm disso, no processo, de
uma srie de instrumentos e limites, destinados a evitar os abusos por
parte do Estado na tarefa de perseguir e punir.
Segundo o entendimento de Francisco Muoz Conde
50
, todo
tipo penal deve incluir um comportamento humano capaz de colocar
em perigo ou lesionar um bem jurdico, que no seno o valor que a
lei quer proteger de aes potencialmente danosas. Bem jurdico, por-
tanto, uma qualidade positiva que o legislador atribui a determinados
interesses. Da a necessidade de se ter sempre presente uma atitude cr-
tica, tanto frente aos bens jurdicos protegidos como frente forma de
proteg-los penalmente. Por seu turno, Claus Roxin
51
aduz:
La exigencia de que el Derecho penal slo puede pro-
teger bienes jurdicos ha desempeado un importante
papel en la discusin de la reforma de las ltimas dca-
das. Se parti de la base de que el Derecho penal slo
tiene que asegurar determinados bienes previamente
dados, como la vida, la integridad corporal, el honor, la
Administracin de Justicia, etc., y de esa posicin se ha
deducido la exigencia de una sustancial restriccin de la
49
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razn: teoria del garantismo penal. 2. ed., Madri: Trotta, 1997. p. 335.
50
MUOZ CONDE, Francisco. Op. cit., p. 242.
51
ROXIN. Claus. Derecho penal: parte general. Madri: Civitas, 1997. p. 52.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
238
pubibilidad en un doble sentido.
Acrescenta o citado autor que a proteo de bens jurdicos
no se realiza somente atravs do direito penal, mas tambm pelo ins-
trumental de todo o ordenamento jurdico. O direito penal deve ser usa-
do apenas como a ltima entre todas as medidas protetoras de que se
disponha. Signica dizer que somente pode haver interveno estatal,
em matria penal, quando se vericar a falha de todos os outros meios
de soluo social do problema. Por isso, denomina-se a pena como a
ultima ratio da poltica social, e se dene sua misso como proteo
subsidiria de bens jurdicos. Assim, tendo em vista que o direito penal
apenas protege uma parte dos bens jurdicos, ou seja, apenas no tocante
a formas de ataque concretas, depreende-se, ento, a sua natureza frag-
mentria.
Seguindo o pensamento de Francisco Muoz Conde
52
, a partir
do momento em que o direito penal positivo respeitar os princpios po-
ltico-criminais mnimos, situando-se no contexto de um Estado demo-
crtico, ser vivel a interpretao dos preceitos penais com amplitude
suciente para tornar a maior e melhor proteo possvel aos valores
fundamentais da sociedade compatvel com o mnimo custo de repres-
so e sacrifcio da liberdade individual. O direito penal no encerra um
sistema exaustivo de proteo a bens jurdicos, mas um sistema descont-
nuo de ilcitos decorrentes da necessidade de criminaliz-los, por ser este
o meio indispensvel de tutela jurdica. Portanto, o direito penal tem uma
sionomia subsidiria, e sua interveno s se justica, no dizer de Fran-
cisco Muoz Conde
53
, quando fracassam as demais maneiras protetoras
do bem jurdico predispostas por outros ramos do direito.
Conforme esclarece Carlos Mans
54
, de acordo com o princ-
pio da interveno mnima, com o qual se relacionam as caractersticas
da fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal s deve inter-
ferir nos casos de ataques graves aos bens jurdicos mais importantes.
52
MUOZ CONDE, Francisco. Teoria geral do delito. Porto Alegre: Srgio Antonio Fabris Editor, 1988. p. 131.
53
MUOZ CONDE, Francisco. Introducin al derecho penal. Barcelona: Bosch, 1975. p. 60.
54
MANS, Carlos Vico. O princpio da insignicncia como excludente de tipicidade no direito penal.
So Paulo: Saraiva, 1994. p. 57.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
239
Raticando esse pensamento, preconiza Maurach
55
: Na seleo dos
recursos prprios do Estado, o direito penal deve representar a ultima
ratio legis, encontrar-se em ltimo lugar, e entrar somente quando se
revelar indispensvel para a manuteno da ordem jurdica. No mes-
mo sentido, ensina Carbonell Mateu
56
: A tarefa do direito penal pre-
cisamente a de interferir o mnimo possvel para conseguir o mximo
de liberdade. Assim, como a legalidade no tem tido fora suciente
para banir do sistema penal o indesejvel arbtrio do Estado, impe-se,
para evitar uma legislao inadequada e injusta, restringir e mesmo, se
possvel, eliminar o arbtrio do legislador.
Finalizamos este ensaio acerca do papel do Estado no mbito
penal com as palavras de Ricardo de Brito Freitas
57
. Para ele, a exis-
tncia do Estado de Direito impe um dever de absteno por parte
do Estado, ou seja, um dever de nada fazer no sentido de oferecer
obstculos ao pleno exerccio dos direitos individuais e, alm disso,
de garanti-los de forma ecaz em benefcio de todos os membros da
sociedade.
55
MAURACH, Reinhart. Tratado de derecho penal. Barcelona: Ariel, 1962. p. 31.
56
MATEU, Juan Carlos Carbonell. Derecho penal: conceptos y principios constitucionales. Valncia: Ti-
rant lo Blanch, 1996. p. 194.
57
FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razo e sensibilidade. So Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001. p.
147.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
240
Referncias bibliogrcas
ALMEIDA JNIOR, Joo Mendes de. O processo criminal brasileiro.
2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1911. 1 v.
BITTENCOURT, Cezar Roberto. Algumas controvrsias da culpabi-
lidade na atualidade. Direito e Justia, Porto Alegre, ano XXI, v. 20,
1999.
CHALUB, Miguel. Introduo psicopatologia forense: entendimento
e determinao. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Livraria Almedina,
1999. 1 v.
COSTA, lvaro Mayrink. Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro:
Forense, 1982.
CUNHA, Fernando W. da. A declarao de direitos e garantias das
liberdade individuais como princpios bsicos na estrutura do Estado.
Revista do Curso de Direito da UFU, 1983.
DINIZ, Maria Helena. Compndio de introduo cincia do direito.
So Paulo: Saraiva, 1991.
FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razn: teoria del garantismo penal. 2.
ed. Trad. de Perfecto Andrs Ibez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos
Bayn Mohino, Juan Terradillos Basoco e Roco Cantarero Bandrs.
Madri: Trotta, 1997.
FERRAZ JR., Trcio Sampaio. Teoria da norma jurdica. Rio de Janei-
ro: Forense, 1986.
FERRI, Enrico. Princpios de direito criminal: o criminoso e o crime.
Trad. Paolo Capitanio. 2 ed., Campinas: Bookseller, 1998.
FIORATI, Jete Jane. Os direitos do homem e a condio humana no
pensamento de Hannah Arendt. Os direitos humanos e o direito funda-
mental. Carlos Eduardo de Abreu Boucault e Nadia de Arajo. (Org.).
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
241
Rio de Janeiro, 1999.
FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razo e sensibilidade. So Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2001.
GUARDINI, Romano. Liberdade, graa e destino. Trad. Domingos Se-
queira. So Paulo: Livraria Flamboyant. Lisboa: Editorial ster, 1943.
GUASP DELGADO, Jaime. La pretensin procesal. Estudios Juridi-
cos, Madrid, 1996.
GUSMO, Paulo Dourado de. Filosoa do direito. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 1994.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. de Joo Baptista Macha-
do. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998.
LIMA, Hermes. Introduo cincia do direito. 32. ed. Rio de Janeiro:
Freitas Bastos, 2000.
LOPES, Maurcio Antonio Ribeiro. O papel da constituio, seus valo-
res e princpios na formao do direito penal. Direito Penal e Constitui-
o, So Paulo, 2000.
LUISI, Luiz. Os princpios constitucionais penais. Porto Alegre: Srgio
Antnio Fabris Editor, 1991.
MANS, Carlos Vico. O princpio da insignicncia como excludente
de tipicidade no direito penal. So Paulo: Saraiva, 1994.
MARTINS, Antnio Colao. Metafsica e tica da pessoa: a perspecti-
va de Emmanuel Mounier. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
MATEU, Juan Carlos Carbonell. Derecho penal: conceptos y principios
constitucionales. Valncia: Tirant lo Blanch, 1996.
MAURACH, Reinhart. Tratado de derecho penal. T. I. Trad. Juan Cr-
doba Roda. Barcelona: Ariel, 1962.
MIOTTO, Arminda Bergamini. A criminologia. Revista de Informao
Legislativa, Braslia-DF, ano 16, n. 64, out./dez. 1979.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
242
MUOZ CONDE, Francisco; ARN, Mercedes Garca. Derecho pe-
nal: parte general. 3. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998.
MUOZ CONDE, Francisco. Introducin al derecho penal. Barcelo-
na: Bosch, 1975.
________________________. Teoria geral do delito. Trad. Juarez Ta-
vares e Luiz Regis Prado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
1988.
NAHRA, Cnara Maria Leite. O imperativo categrico e o princpio
da coexistncia das liberdades. Princpios, Natal, UFRN, ano 2, v. 3,
jul./dez. 1995.
PEDROSO, Fernando de Almeida. Direito penal. So Paulo: Leud,
1993.
RAWLS, John. Uma teoria da justia. So Paulo: Martins Fontes,
1997.
REALE JNIOR, Miguel. Teoria do delito. 2. ed. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 2000.
REALE, Miguel. Dimenses da liberdade na experincia jurdica e so-
cial brasileira. Presena Filosca, Rio de Janeiro, ano 4, v. 12, n. 1,
jan./dez. 1986.
______________. Filosoa do direito. 14. ed. So Paulo: Saraiva,
1991.
REIS, Suely Pereira Reis. Psiquismo e inimputabilidade. Rev. da Facul-
dade de Direito Milton Campos, Belo Horizonte, v. 5, 1998.
ROSENFIELD, Denis L. Poltica e liberdade em Hegel. So Paulo:
Brasiliense, 1983.
ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Madri: Civitas, 1997.
____________. Problemas fundamentais de direito penal. 3. ed. Lis-
boa: Vega, 1992.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
243
SUNG, Jung Mo. Conversando sobre tica e sociedade. Petrpolis: Vo-
zes, 1998.
TAVARES, Juarez. Culpabilidade: a incongruncia dos mtodos. Re-
vista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, ano 6, n. 24, out./
dez. 1998.
VASCONCELOS, Anamaria Campos Torres de. Prova no processo
penal: justia como fundamento axiolgico. Belo Horizonte: Del Rey,
1992.
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurdica. So Paulo:
Malheiros, 1993.
WELZEL, Hans. Derecho penal alemn. 11. ed. Santiago: Editorial de
Chile, 1997.
WESSELS, Johannes. Direito penal: parte geral. Porto Alegre: Srgio
Fabris Editor, 1976.
ZAFFARONI, Eugenio Ral; PIARANGELI, Jos Henrique. Manual
de direito penal: parte geral. 2. ed. So Paulo: RT, 1999.
LIMITAES LIBERDADE EM FACE
DA PRTICA DE TIPOS PENAIS
Ricardo Alex Almeida Lins
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
244
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
Um forte debate acerca dos organismos geneticamente modi-
cados vem sendo promovido no Brasil nos ltimos anos, envolvendo
a comunidade cientca, determinados setores empresariais, imprensa,
poder pblico e sociedade civil organizada. De um lado, as empresas
que trabalham com biotecnologia prometem realizar maravilhas por
meio da manipulao gentica, como aumento da produtividade agr-
cola, criao de animais e plantas resistentes s intempries ambientais,
descoberta de novas vacinas, produo de alimentos mais nutritivos e
retirada dos genes defeituosos dos seres humanos.
De outro lado, parte da comunidade cientca e as organiza-
es no-governamentais alertam para os gravssimos riscos que essa
tcnica pode trazer para o meio ambiente e para a sade humana. Essas
entidades alegam que as conseqncias dessas alteraes genticas ain-
da no podem ser medidas, seja em termos ecolgicos, econmicos ou
de sade pblica. O meio ambiente considerado, nos termos do caput
do art. 225 da Constituio Federal, como um bem essencial sadia
qualidade de vida da coletividade. Assim, nem o poder pblico nem
a sociedade podem se furtar da obrigao de defend-lo, procurando
eliminar ou pelo menos diminuir esses riscos.
Nesse diapaso, ganha destaque a necessidade de proteo ao
patrimnio gentico e, conseqentemente, diversidade biolgica, de
que depende todo o equilbrio ambiental planetrio. A biotecnologia
pode trazer efeitos imprevisveis ao modicar a composio gentica
dos seres vivos. O princpio da precauo recomenda uma postura de
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO
E BIOTECNOLOGIA: NECESSIDADE DE APLICAO
DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
Advogado
Professor da Faculdade de Cincias Sociais Aplicadas - FACISA
Professor Universidade Estadual da Paraba - UEPB
245 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
cautela por parte do Estado e da sociedade, diante no das intervenes
que causam efeitos negativos sobre o meio ambiente e a sade humana,
mas daquelas que simplesmente podero chegar a causar tais efeitos.
Este trabalho tem o objetivo de analisar a importncia do pa-
trimnio gentico para a garantia do direito constitucional ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado. Para isso, abordar especialmente a
importncia da aplicao do princpio da precauo, em virtude das mo-
dicaes genticas de seres vivos oriundas da moderna biotecnologia.
2. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
Em junho de 1972, a Organizao das Naes Unidas ONU
promoveu, em Estocolmo, na Sucia, a 1 Conferncia sobre o Meio
Ambiente. Ao nal, foi aprovada a Declarao Universal do Meio Am-
biente, estabelecendo que os recursos naturais, como a gua, o ar, o
solo, a ora e a fauna, devem ser conservados em benefcio das gera-
es futuras. Para tanto, caber a cada pas regulamentar esse princpio
em sua legislao, de modo que esses bens sejam devidamente tutela-
dos. Nessa Declarao, o direito humano fundamental ao meio ambien-
te foi denitivamente reconhecido como uma questo crucial para todos
os povos do planeta, ao estabelecer no princpio 1: O homem tem o
direito fundamental liberdade, igualdade e ao desfrute de condies
de vida adequada em um meio, cuja qualidade lhe permita levar uma
vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigao de proteger e
melhorar esse meio para as geraes futuras e presentes.
A Declarao abriu caminho para que legislaes em todo o
mundo se voltassem cada vez mais para a proteo dos ecossistemas.
De acordo com Jos Afonso da Silva
1
, essa declarao deve ser consi-
derada como uma continuidade ou prolongamento da Declarao Uni-
versal dos Direitos do Homem, j que visa a resguardar um direito de
fundamental importncia para o ser humano. Nessa ordem de idias,
o Brasil editou a Lei n 6.938/81, que declarou, pela primeira vez, no
1
SILVA, Jos Afonso da. Direito constitucional ambiental. 4. ed. So Paulo: Forense, 1995. p. 59.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
246
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ordenamento jurdico nacional a importncia do meio ambiente para a
vida e para a qualidade de vida, estabelecendo os objetivos, os princ-
pios, os conceitos e os instrumentos para essa proteo.
O art. 2 da citada lei estabelece: A Poltica Nacional do Meio
Ambiente tem por objetivo a preservao, melhoria e recuperao da
qualidade ambiental propcia vida, visando a assegurar, no Pas, con-
dies ao desenvolvimento scio-econmico, aos interesses da segu-
rana nacional e proteo da dignidade da vida humana. importan-
te destacar que, em 1981, a referida lei j colocava a dignidade da vida
humana como objetivo maior de todas as polticas pblicas de meio
ambiente.
Com o advento da Constituio Federal de 1988, o meio am-
biente foi consagrado como um direito fundamental da pessoa humana.
O Ttulo II da Carta Magna brasileira, que trata dos direitos e garantias
fundamentais, faz uma referncia direta ao meio ambiente quando, no
art. 5, estabelece a ao popular como instrumento para a defesa do
meio ambiente. Ademais, o caput do art. 225 classicou o meio am-
biente como bem de uso comum do povo e essencial qualidade de
vida. Assim, evidente que se trata de um direito humano fundamental
reconhecido constitucionalmente. No se pode esquecer que, de acordo
com o 2 do art. 5 da Carta Magna, os direitos humanos considera-
dos fundamentais no so apenas aqueles ali elencados. So tambm os
outros decorrentes do regime e dos princpios adotados constitucional-
mente, ou dos tratados internacionais em que a Repblica Federativa do
Brasil seja parte.
A vida o direito do qual provm todos os direitos. Por essa
razo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi reconhecido
pelo art. 225 da Constituio Federal como essencial qualidade de
vida e prpria continuidade da vida. Na verdade, ao meio ambiente se
deve atribuir a mesma importncia que tem o direito vida, pois, sem
o necessrio equilbrio ambiental, o planeta fatalmente ser atingido.
Nesse diapaso, o art. 11 do Protocolo Adicional Conveno Ameri-
cana de Direitos Humanos, assinado no dia 17 de novembro de 1988,
em So Salvador, na Repblica de Salvador, estabelece: Toda pessoa
tem direito de viver em um meio ambiente sadio e de beneciar-se dos
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
247 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
equipamentos coletivos essenciais.
por isso que Jos Rubens Morato Leite
2
equipara o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado ao direito vida, igualda-
de e liberdade. Cristiane Derani
3
arma que a proteo ao meio am-
biente o resultado de uma escolha pela continuidade da vida humana.
Para Antnio Augusto Canado Trindade
4
, o meio ambiente essencial
continuidade da espcie humana e dignidade do ser humano enquan-
to animal cultural. Segundo esclarece, o meio ambiente resguarda tanto
a existncia fsica dos seres humanos quanto a qualidade dessa existn-
cia fsica, tornando a vida plena em todos os aspectos.
O direito ambiental um direito fundamental de terceira ge-
rao, visto que cuida no s da proteo do meio ambiente em prol
de uma melhor qualidade de vida da sociedade atual, mas tambm das
futuras geraes. Caracteriza-se, assim, como um direito transindividu-
al e transgeracional. Norberto Bobbio
5
apresenta o seu posicionamento
sobre o assunto:
Ao lado dos direitos sociais, que foram chamados de di-
reitos de segunda gerao, emergiram hoje os chamados
direitos de terceira gerao, que constituem uma catego-
ria para dizer a verdade, ainda excessivamente hetero-
gnea e vaga, o que nos impede de compreender do que
efetivamente se trata. O mais importante deles o reivin-
dicado pelos movimentos ecolgicos: o direito de viver
num ambiente no poludo.
Destarte, sendo os direitos fundamentais aqueles inerentes ao
valor mnimo de dignidade humana, evidente que o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado se enquadra nessa classicao.
2
LEITE, Jos Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 176.
3
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econmico. 2. ed. So Paulo: Max Limonad, 2001. p. 78.
4
TRINDADE, Antnio Augusto Canado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de
proteo ambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993. p. 76.
5
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 56.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
248
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Por isso, ao mesmo tempo em que colocado como um direito de todos,
o papel de defender o meio ambiente dever de qualquer pessoa, tanto
fsica ou jurdica quanto pblica ou privada. Essa a razo por que todas
as polticas pblicas, seja na fase de discusso, de planejamento, de exe-
cuo ou de avaliao, devem necessariamente levar em conta a varivel
ambiental, visto que esto em jogo a qualidade e a continuidade da vida.
3. Perspectiva jurdica do meio ambiente
praticamente unnime a doutrina brasileira ao armar que a
expresso meio ambiente, por ser redundante, no a mais adequa-
da, posto que meio e ambiente so sinnimos. Com efeito, segundo o
Dicionrio Aurlio meio signica lugar onde se vive, com suas ca-
ractersticas e condicionamentos geofsicos; ambiente; j ambiente
aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas
6
. Por isso se
utiliza, em Portugal e na Itlia, apenas a palavra ambiente, seme-
lhana do que acontece nas lnguas francesa, com milieu, alem, com
unwelt, e inglesa, com environment
7
.
A despeito disso, o uso consagrou esta expresso, de tal manei-
ra que os tcnicos e a prpria legislao terminaram por adot-la. A Lei
n 6.938/81, que dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente,
no apenas acolheu como precisou a terminologia:
Art. 3. Para os ns previstos nesta Lei, entende-se por:
I - Meio ambiente, o conjunto de condies, leis, inun-
cias e interaes de ordem fsica, qumica e biolgica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
A referida lei deniu o meio ambiente da forma mais ampla
6
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Aurlio Sculo XXI: dicionrio da lngua portuguesa. 3.
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
7
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituio Federal e a efetividade das normas ambientais. 2. ed. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 17.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
249 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
possvel, fazendo com que este se estendesse natureza como um todo
de um modo interativo e integrativo. Com isso, a lei encampou a idia
de ecossistema, que a unidade bsica da ecologia. Trata-se da cincia
que estuda a relao entre os seres vivos e o seu ambiente. Dessa forma,
cada recurso ambiental passou a ser considerado como sendo parte de
um todo indivisvel, com o qual interage constantemente e do qual
diretamente dependente.
Edis Milar
8
dene ecossistema como qualquer unidade que
inclua todos os organismos em uma determinada rea, interagindo com
o ambiente fsico, de tal forma que um uxo de energia leve a uma es-
trutura trca denida, diversidade biolgica e troca de materiais (troca
de materiais entre componente vivos). Trata-se de uma viso sistmica
que encontra abrigo em ramos da cincia moderna, a exemplo da fsica
quntica, segundo a qual o universo, como tudo que o compe, com-
posto de uma teia de relaes em que todas as partes esto interconec-
tadas
9
.
Consagrou-se denitivamente a terminologia, na medida em
que a Constituio Federal de 1988 se refere, em diversos dispositivos,
ao meio ambiente, recepcionando e atribuindo a este o sentido mais
abrangente possvel. Em face disso, a doutrina brasileira de direito am-
biental passou, com fundamentao constitucional, a atribuir ao meio
ambiente o maior nmero de aspectos e de elementos envolvidos.
Com base nessa compreenso holstica, Jos Afonso da Silva
10
conceitua o meio ambiente como a interao do conjunto de elementos
naturais, articiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equi-
librado da vida em todas as suas formas. Arthur Migliari
11
repete a
denio com a nica diferena de destacar expressamente o elemento
trabalhista com o que, alis, concorda a maioria dos estudiosos do
assunto. Arma o citado autor que o meio ambiente a integrao e a
interao do conjunto de elementos naturais, articiais, culturais e do
trabalho que propiciem o desenvolvimento equilibrado de todas as for-
8
MILAR, Edis. Direito do ambiente. 3. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 980.
9
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutao. 3. ed. So Paulo: Crculo do Livro, 1988. p. 88.
10
SILVA, Jos Afonso da. Op. cit., p. 19.
11
MIGLIARI, Arthur. Crimes ambientais. Braslia: Lex Editora, 2001.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
250
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
mas, sem excees. Logo, no haver um ambiente sadio quando no
se elevar, ao mais alto grau de excelncia, a qualidade da integrao e
da interao desse conjunto.
Com efeito, so quatro as divises feitas pela maior parte da
doutrina brasileira de direito ambiental no que diz respeito ao tema:
meio ambiente natural, meio ambiente articial, meio ambiente cultural
e meio ambiente do trabalho. Essa classicao atende a uma necessi-
dade metodolgica, ao facilitar a identicao da atividade agressora
e do bem diretamente degradado, visto que o meio ambiente por de-
nio unitrio. Como arma Celso Antnio Pachco Fiorillo
12
, inde-
pendentemente dos seus aspectos e das suas classicaes, a proteo
jurdica ao meio ambiente uma s e tem sempre o nico objetivo de
proteger a vida e a qualidade de vida.
O meio ambiente natural ou fsico constitudo pelos recursos
naturais, como o solo, a gua, o ar, a ora e a fauna, e pela correlao
recproca de cada um destes elementos com os demais. Esse o aspecto
ressaltado pelo inciso I do art. 3 da Lei n 6.938/81. J o meio ambiente
articial aquele construdo ou alterado pelo ser humano, sendo cons-
titudo pelos edifcios urbanos, que so os espaos pblicos fechados, e
pelos equipamentos comunitrios, que so os espaos pblicos abertos,
como as ruas, as praas e as reas verdes. Embora esteja mais relaciona-
do ao conceito de cidade, o conceito de meio ambiente articial abarca
tambm a zona rural, referindo-se simplesmente aos espaos habit-
veis
13
, visto que nele os espaos naturais cedem lugar ou se integram s
edicaes urbanas articiais.
O meio ambiente cultural o patrimnio histrico, artstico,
paisagstico, ecolgico, cientco e turstico. Constitui-se tanto de bens
de natureza material, a exemplo dos lugares, objetos e documentos de
importncia para a cultura, quanto imaterial, a exemplo dos idiomas,
das danas, dos cultos religiosos e dos costumes de uma maneira geral.
Embora comumente possa ser enquadrada como articial, a classica-
o como meio ambiente cultural ocorre devido ao valor especial que
12
FIORILLO, Celso Antnio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. So Paulo: Saraiva, 2003. p. 32.
13
FIORILLO, Celso Antnio Pacheco. Op. cit., p. 21.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
251 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
adquiriu
14
.
O meio ambiente do trabalho, considerado tambm uma ex-
tenso do conceito de meio ambiente articial, o conjunto de fatores
que se relacionam s condies do ambiente de trabalho, como o local
de trabalho, as ferramentas, as mquinas, os agentes qumicos, biol-
gicos e fsicos, as operaes, os processos, a relao entre trabalhador
e o meio fsico. O cerne desse conceito est baseado na promoo da
salubridade e da incolumidade fsica e psicolgica do trabalhador, inde-
pendentemente de atividade, do lugar ou da pessoa que a exera.
4. Importncia do patrimnio gentico
A Carta Magna de 1988 alou o patrimnio gentico brasilei-
ro categoria de bem constitucionalmente protegido. Por patrimnio
gentico se devem compreender as informaes de origem gentica
oriundas dos seres vivos de todas as espcies, seja animal, vegetal, mi-
crobiana ou fngica.
Lus Paulo Sirvinskas
15
arma que o patrimnio gentico for-
mado pelos seres vivos que habitam o planeta Terra. Portanto, inclui a
fauna, a ora, os microorganismos e os seres humanos. O inciso I do art.
7 da Medida Provisria n 2.186-16/01 dene patrimnio gentico como
a informao de origem gentica, contida em amostras do todo ou de
parte de espcime vegetal, fngico, microbiano ou animal, na forma de
molculas e substncias provenientes do metabolismo destes seres vivos
e de extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em
condies in situ, inclusive domesticados, ou mantidos em colees ex
situ, desde que coletados em condies in situ no territrio nacional, na
plataforma continental ou na zona econmica exclusiva.
Existe uma relao direta entre o patrimnio gentico e a bio-
diversidade ou diversidade biolgica, j que esta o conjunto de vida
existente no planeta ou em determinada parte do planeta. Nos termos
14
SILVA, Jos Afonso da. Op. cit., p. 23.
15
SIRVINSKAS, Lus Paulo. Manual de direito ambiental. 3. ed. So Paulo: Saraiva, 2005. p. 246.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
252
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
do art. 2 da Conveno Internacional sobre Diversidade Biolgica, que
foi promulgada no Brasil, pelo Decreto n 2.519/98, diversidade biol-
gica signica a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e
outros ecossistemas aquticos e os complexos ecolgicos de que fazem
parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espcies, entre es-
pcies e de ecossistemas.
A diversidade biolgica o mais importante pressuposto do
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual consi-
derado, no caput do art. 225 da Constituio Federal, como bem de
uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida. Essa uma
considerao muito ampla acerca da temtica ambiental, j que leva em
conta no apenas a individualidade dos recursos ambientais, mas espe-
cialmente a relao de interdependncia de cada um destes entre si.
Na opinio de Jos Rubens Morato Leite
16
, ao conceituar o
meio ambiente, o legislador brasileiro teve a inteno de destacar a re-
lao de interao e unicidade entre os recursos ambientais, inclusive
os seres humanos. nesse sentido o entendimento de Antnio Herman
de Vasconcellos e Benjamin
17
:
Como bem enxergado como verdadeira universitas
corporalis - imaterial, no se confundindo com esta ou
aquela coisa material (oresta, rio, mar, stio histrico,
espcie protegida etc) que a forma, manifestando-se, ao
revs, como o complexo de bens agregados que com-
pem a realidade ambiental.
Assim, o meio ambiente bem, mas como entidade, onde
se destacam vrios bens materiais em que se rma, ga-
nhando proeminncia na sua identicao, muito mais o
valor relativo composio, caracterstica ou utilidade
da coisa do que a prpria coisa.
16
LEITE, Jos Rubens Morato. Op. cit., p. 78.
17
BENJAMIN, Antnio Herman de Vasconcellos e. Funo ambiental. In: BENJAMIN, Antnio Herman
de Vasconcellos e (Coord). Dano ambiental: preveno, reparao e represso. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993. p. 75.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
253 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Uma denio como esta de meio ambiente, como ma-
crobem, no incompatvel com a constatao de que o
complexo ambiental composto de entidades singulares
(as coisas, por exemplo) que, em si mesmas, tambm so
bens jurdicos: o rio, a casa de valor histrico, o bosque
com apelo paisagstico, o ar respirvel, a gua potvel.
Em vista disso, o meio ambiente pode ser classicado de duas
formas: como microbem e como macrobem. Na condio de microbem,
o meio ambiente reduzido a um de seus elementos individuais, o que
leva a destacar normalmente apenas o aspecto econmico ou esttico
desse bem; j na condio de macrobem, qualquer componente do meio
ambiente merece ser protegido, por fazer parte de um sistema em que
todas as partes esto interconectadas. No macrobem, o aspecto ima-
terial do meio ambiente que se destaca, ao contrrio do que ocorre com
os microbens. Assim, possvel dizer que o patrimnio gentico um
bem de contornos essencialmente extrapatrimoniais, na medida em que
diz respeito a uma espcie inteira ou a espcies inteiras e ao equilbrio
das espcies como um todo. Compe uma gama de informaes estrat-
gicas sob diversos aspectos, necessrias ao equilbrio do meio ambiente
e qualidade de vida da coletividade.
Em ltima anlise, isso implica dizer que a proteo da diver-
sidade biolgica no apenas a garantia da sobrevivncia de determi-
nadas espcies e sim de todas as espcies, inclusive a humana, j que
existe uma interdependncia entre todas as formas de vida. por isso
que a defesa do patrimnio gentico considerada, no inciso II do 1
do art. 225 da Constituio Federal, como um pressuposto do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Alm de ser responsvel pela estabilidade dos ecossistemas
e conter uma das propriedades fundamentais do meio ambiente, o pa-
trimnio gentico constitui o fundamento das atividades scio-econ-
micas. So diretamente dependentes da diversidade biolgica a agri-
cultura, a pecuria, a pesca, o turismo ecolgico e uma grande parte
das atividades industriais, como a indstria alimentcia, biotecnolgica,
cosmtica, energtica e farmacutica. Na verdade, exceto os minrios
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
254
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
e os derivados do petrleo, todos os produtos e servios colocados no
mercado de consumo so retirados do estoque de biodiversidade da na-
tureza, posto que tm origem animal, vegetal, microorgnica ou fngi-
ca. So exemplos de tamanha riqueza os cereais, as ores, as frutas, as
essncias, os extratos medicinais, as madeiras, os leos e as verduras.
Talvez a maior diculdade para a defesa da diversidade bio-
lgica e de seu patrimnio gentico esteja no fato de, na maioria das
vezes, tal explorao no resultar em benefcio econmico imediato,
j que o conhecimento do ser humano acerca das potencialidades des-
sas informaes ainda supercial. O fato que, mesmo sem valor
econmico estipulado, o patrimnio gentico deve ser resguardado por
conta de seu valor ecolgico e por ser um elemento integrante do meio
ambiente.
5. Biotecnologia, biossegurana e organismos geneticamente
modificados
A engenharia gentica a cincia que trabalha com a mani-
pulao dos genes e a criao de inmeras variaes entre os genes de
organismos diferentes. Trata-se de uma srie de tcnicas que permitem
a identicao, o isolamento e a multiplicao de genes de qualquer
organismo. Olga Jubert Gouveia Krell
18
adverte que o conceito de en-
genharia gentica tem um alcance maior do que o da mera manipulao
gentica, posto que envolve tambm questes como reproduo assisti-
da, diagnose gentica, terapia gnica e clonagem. No entanto, o assunto
foi denido, no inciso IV do art. 3 da Lei n 11.105/05 como a ativida-
de de produo e manipulao de molculas cido desoxirribonuclico
(ADN) e cido ribonuclico (ARN) recombinante.
O ADN e o ARN so cidos nuclicos conceituados, nos ter-
mos do inciso II do art. 3 da referida lei, como o material genti-
co que contm informaes determinantes dos caracteres hereditrios
18
KRELL, Olga Jubert Gouveia. Biodiversidade, biotecnologia, biossegurana e proteo do meio ambien-
te. Revista Idia Nova. Recife, n. 1, p. 77, 2003.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
255 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
transmissveis descendncia. O ADN responsvel pela sntese das
protenas e controle das atividades metablicas e celulares como um
todo. Por sua vez, o ARN recebe as informaes contidas no ADN e as
encaminha para os ribossomos onde as enzimas e outras protenas so
produzidas.
Essa produo de protenas feita segundo o cdigo especco
de cada espcie, constituindo o cerne da engenharia gentica. Nessa
ordem de idias, o ADN e o ARN recombinante so os elementos mo-
dicados pela referida cincia. O inciso III do art. 3 da lei em comento
as dene como as molculas manipuladas fora das clulas vivas me-
diante a modicao de segmentos de ADN/ARN natural ou sinttico e
que possam multiplicar-se em uma clula viva, ou ainda as molculas
de ADN/ARN resultantes dessa multiplicao; consideram-se tambm
os segmentos de ADN/ARN sintticos equivalentes aos de ADN/ARN
natural.
A biotecnologia o ramo da engenharia gentica que se de-
dica modicao gentica dos organismos vivos com o objetivo de
atender a uma demanda agrcola, ambiental, cientca, econmica,
industrial, mdica ou sanitria. O art. 2 da Conveno Internacional
sobre Diversidade Biolgica dispe que biotecnologia signica qual-
quer aplicao tecnolgica que utilize sistemas biolgicos, organis-
mos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modicar produtos ou
processos para utilizao especca. Sobre o assunto, Aurlio Wan-
der Bastos
19
enfatiza:
A biotecnologia denida como a aplicao de princ-
pios cientcos e de engenharia para o processamento de
materiais e energias por agentes biolgicos com a na-
lidade de prover bens e servios. A(s) biotecnologia(s)
consiste(m) na utilizao de bactrias, levedos e clulas
animais e vegetais em cultivo, cujo metabolismo e capa-
cidade de biosstese esto orientados para a fabricao de
substncias especcas.
19
BASTOS, Aurlio Wander. Dicionrio brasileiro de propriedade intelectual e assuntos conexos. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 1995. p. 32.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
256
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A biossegurana consiste no sistema de segurana que se pro-
pe a impedir que ocorram danos ao meio ambiente e sade pblica
na manipulao gentica de organismos. o conjunto de regras cujo
objetivo impedir ou pelo menos minorar os riscos oriundos da biotec-
nologia. Assim, o conceito de biossegurana inerente e obrigatrio a
esse tipo de atividade. Os organismos geneticamente modicados, tam-
bm chamados de transgnicos, so o resultado da aplicao dos conhe-
cimentos biotecnolgicos quando da manipulao do cdigo gentico
dos seres vivos. O objetivo criar outro ser vivo geneticamente diferen-
ciado, ou obter um determinado produto ou resultado oriundo deste ser,
tendo em vista o aproveitamento agrcola, econmico ou teraputico. O
inciso V do art. 3 da Lei n 11.105/05 dene OGM como o organismo
cujo material gentico tenha sido modicado por qualquer tcnica de
engenharia gentica. A expresso geneticamente modicado se refere
ao uso da tecnologia do ADN recombinante para modicaes genti-
cas na fauna, na ora ou nos microorganismos.
Celso Antnio Pacheco Fiorillo
20
arma que o vocbulo trans-
gnico tem o sentido de alm do gene. formada pelo prexo lati-
no trans, que signica algo alm de ou para alm de, e pela palavra
gnico, que traz a idia relacionada ao gene. Com efeito, o contedo
da idia de transgenia est diretamente relacionado noo de modi-
cao gentica dos organismos. So denominados de OGMs aqueles
organismos cuja composio gentica foi alterada pelo ser humano de
uma forma tal que o ciclo evolutivo da natureza no poderia fazer. Isso
ocorre quando um ou mais genes selecionados so transferidos de um
organismo para outro, fazendo uma recombinao gentica entre esp-
cies que podem ser relacionadas ou no.
A Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana - CTNBio a
instncia administrativa de carter consultivo e deliberativo pertencente
ao Ministrio da Cincia e Tecnologia. Tem o objetivo de acompanhar
e de disciplinar o desenvolvimento cientco e tcnico em relao aos
OGMs. Por ser uma instituio com qualicao para atuar nas reas
de biossegurana, biotecnologia, biotica e ans, a funo da CTNBio
20
FIORILLO, Celso Antnio Pachco. Op. cit., p. 210.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
257 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
, a um s tempo, viabilizar o desenvolvimento tecnolgico e diminuir
ou evitar os riscos ao meio ambiente e sade humana.
O carter multidisciplinar da CTNBio se sobressai em face
dos inmeros interesses que a matria desperta, pois envolve os mais
diversos tipos de atividades e de prossionais. Por isso, o art. 11 da
Lei n 11.105/05 determina que o rgo deve ser composto por espe-
cialistas de notrio saber cientco e com grau acadmico de doutor
em reas como agricultura e pecuria, cincia e tecnologia, defesa do
consumidor, indstria e comrcio, meio ambiente, relaes exteriores,
sade do trabalhador e sade humana. A competncia da CTNBio est
especicada no art. 14 da referida lei, abarcando tudo o que diz respeito
aos OGMs, como autorizaes de funcionamento, emisso de pareceres
avaliadores e classicao dos transgnicos segundo o grau de nocivi-
dade apresentado.
O inciso II do 1 do art. 225 da Constituio Federal deter-
mina que o poder pblico obrigado a fazer o controle da pesquisa e
da manipulao de material gentico. Tais atividades, segundo o art. 1
da Lei n 11.105/05, envolve o cultivo, a manipulao, o transporte, a
comercializao, o consumo, a liberao e o descarte de OGMs. Em-
bora a CTNBio tambm cuide desse controle, evidente que os rgos
administrativos de meio ambiente possuem o papel mais importante na
defesa e na gesto pblica do meio ambiente.
por meio do licenciamento ambiental e da sua decorrente s-
calizao que a Administrao Pblica exerce o seu poder de polcia em
matria ambiental, o que inclui tambm as atividades biotecnolgicas.
Paulo Affonso Leme Machado
21
entende que apenas as atividades pu-
ramente tericas de ensino e de pesquisa que envolvem os organismos
geneticamente modicados estariam de fora dessa obrigao. Segundo
esclarece, o inciso IX do art. 5 da Constituio Federal consagra a li-
berdade de pensamento no que diz respeito s atividades intelectuais e
de comunicao.
Os 2 e 3 do art. 16 da Lei n 11.105/05 estabelecem, res-
21
MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito ambiental brasileiro. 14. ed. So Paulo: Malheiros,
2006. p. 968.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
258
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
pectivamente: Somente se aplicam as disposies dos incisos I e II do
art. 8
o
e do caput do artigo 10 da Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981,
nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM potencialmente
causador de signicativa degradao do meio ambiente: A CTNBio
delibera, em ltima e denitiva instncia, sobre os casos em que a ati-
vidade potencial ou efetivamente causadora de degradao ambiental,
bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Com o
mesmo objetivo de atrelar a possibilidade de exigncia ou no do licen-
ciamento ambiental e do estudo prvio do impacto ambiental CTN-
Bio, esto tambm o inciso III do 2 do art. 53 e o art. 54 do Decreto
n 5.591/05.
6. Riscos da biotecnologia
Ao dispor sobre as normas de segurana envolvendo os OGMs,
a Lei n 11.105/05 reconheceu a possibilidade de a engenharia gentica
trazer riscos. Alis, no fosse por isso, o inciso IV do 1 do art. 225
da Constituio Federal no determinaria o controle e a scalizao por
parte do poder pblico em relao s pessoas que desenvolvem tais ati-
vidades. Normalmente, o perigo est associado possibilidade do dano
e o risco potencialidade do perigo, de maneira que este mais previ-
svel que aquele. Nesse sentido, os riscos mais graves provocados pelos
OGMs dizem respeito ao meio ambiente e sade humana. Existem
tambm implicaes econmicas e sociais que devem ser observadas.
O problema desse tipo de risco que os danos causados ao
meio ambiente so de difcil ou mesmo de impossvel recuperao.
Dessa forma, a nica maneira de proteger efetivamente o patrimnio
ambiental evitando que tais danos ocorram. Nesse diapaso, Heline
Sivini Ferreira
22
arma que os riscos ambientais so ilimitados no que
diz respeito ao tempo e globais em funo do alcance e potencial ca-
tastrco. Os alimentos transgnicos esto relacionados ao aumento da
22
FERREIRA, Heline Sivini. O risco ecolgico e o princpio da precauo. In: FERREIRA, Heline Sivini;
LEITE, Jos Rubens Morato (Org). Estado de direito ambiental: tendncias, aspectos constitucionais e
diagnsticos. Rio de Janeiro: Forense Universitrio, 2004. p. 68.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
259 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
incidncia de alergias. Ao se transportar o gene de uma espcie para
outra, o elemento alergnico possivelmente estar sendo transplantado
junto. Alm do mais, no cruzamento de genes de espcies diferentes,
novos compostos podem ser formados, como protenas e aminocidos,
abrindo margem para o surgimento de outros elementos alergnicos. A
respeito desse assunto, Heline Sivini Ferreira
23
enfatiza:
A falibilidade da cincia na determinao de situaes
de perigo evidencia-se tambm quando analisamos a to
recente possibilidade de isolar e recombinar genes. Em
1989, por exemplo, a Food and Drug Administration
(FDA) aprovou, como suplemento alimentar, a venda
de aminocidos triptofano, obtido atravs da transgenia.
Por razes at ento desconhecidas, 37 pessoas morre-
ram e outras 1.500 foram infectadas por uma nova pato-
logia denominanda eosinophilia myalgia magna. Estu-
dos posteriores revelaram que o produto comercializado
continha impurezas altamente txicas provenientes do
processo biotecnolgico empregado, o que ocasionou a
sua retirada imediata do mercado.
Um outro exemplo de falha nas avaliaes cientcas
ocorreu em 1994, quando a FDA concedeu empresa
norte-americana Monsanto licena para utilizar o hor-
mnio rBGH com o intuito de aumentar o rendimento
da produo de leite. Inicialmente considerado inofen-
sivo, a injeo de rBGH provocou graves infeces
nos animais e aumentou, no leite, o teor de uma subs-
tncia denominada IGF, que eleva o risco de cncer
mamrio.
Outro problema vericado diz respeito aos antibiticos. Nor-
malmente, os cientistas inserem nos alimentos genes de bactrias resis-
tentes a tais medicamentos, com o intuito de se assegurarem do sucesso
da modicao gentica. Isso pode fazer com que determinados antibi-
ticos no surtam efeitos no corpo humano, em virtude da resistncia
23
FERREIRA, Heline Sivini. Op. cit. p. 61-62.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
260
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
dos microorganismos.
A potencializao dos efeitos das substncias txicas outra
questo importante, visto que inmeras plantas e micrbios dispem
naturalmente de tais substncias para se defenderem de seus inimigos.
possvel que o transplante de um gene de uma espcie para outra au-
mente o nvel de toxicidade dessas substncias, passando a prejudicar
os seres humanos e toda a cadeia ecolgica. O surgimento de pragas
devido transferncia de genes resistentes uma ameaa ao meio am-
biente, pois a tendncia que as pragas se tornem resistentes aos genes
transferidos. O uso continuado de sementes transgnicas criar um cr-
culo vicioso, j que cada vez mais se exigiro doses maiores ou mais
fortes de defensivos
24
.
A introduo de uma espcie no meio ambiente irrevers-
vel, j que o gene pode se espalhar sem qualquer controle. Assim, a
impossibilidade de controlar a natureza um risco a ser considera-
do
25
. por isso que no deve ocorrer o descarte de tais substncias na
natureza, pois podem causar graves danos aos recursos ambientais.
Os OGMs, por exemplo, podem causar a eliminao de insetos e de
microorganismos do ecossistema, empobrecendo-o e ocasionando de-
sequilbrio ambiental. Outro possvel efeito a transformao de cul-
turas tradicionais em culturas geneticamente modicadas, por meio
da troca de plen entre culturas de polinizao aberta, acarretando a
perda de variedades nativas e a contaminao das reservas e estoques
de material gentico
26
.
J entre as implicaes econmicas e sociais, cabe destacar as
seguintes: dependncia tecnolgica, aumento do desemprego no cam-
po, desfavorecimento da agricultura familiar, consolidao dos mono-
plios das grandes corporaes internacionais, elevao dos preos dos
produtos e servios oriundos da biotecnologia, inibio da livre circu-
lao da informao cientca em decorrncia do segredo comercial
24
FIORILLO, Celso Antnio Pachco. Op. cit., p. 217.
25
FIORILLO, Celso Antnio Pachco. Op. cit., p. 217.
26
GUERRANTE, Rafaela Di Sabato; ANTUNES, Adelaide Souza; PEREIRA JNIOR, Nei. Transgni-
cos: a difcil relao entre a cincia, a sociedade e o mercado. In: VALLE, Silvio; TELLES, Jos Luiz
(Org.). Biotica e biorrisco: abordagem transdiciplinar. Rio de Janeiro: Intercincia, 2003. p. 54.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
261 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
gerado pelo patenteamento e inviabilizao da pesquisa biotecnolgica
por parte dos pases em desenvolvimento
27
.
7. Importncia do princpio da precauo
Antnio Herman Benjamin
28
destaca que a preveno mais
importante do que a responsabilizao do dano ambiental, j que a di-
culdade, a improbabilidade ou mesmo a impossibilidade de recupera-
o a regra em se tratando de um dano ao meio ambiente. Com efeito,
so inmeros os casos em que as catstrofes ambientais tm uma recu-
perao difcil e lenta ou que at no tm reparao. Assim, seus efeitos
acabam sendo sentidos principalmente pelas geraes futuras.
Por conta dessas caractersticas do dano ambiental, a Consti-
tuio Federal estabelece que deve ser dada prioridade quelas medidas
que impeam o surgimento de leses ao meio ambiente. Tanto o caput
do art. 225, quando dispe sobre o dever do poder pblico e da cole-
tividade de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e
futuras geraes, quanto outros dispositivos determinam a adoo de
medidas na defesa dos recursos ambientais como uma forma de cautela
em relao degradao.
O problema que o princpio da preveno aplicado em rela-
o aos impactos ambientais conhecidos e dos quais se possa estabele-
cer as medidas necessrias para prever e evitar os danos ambientais, no
levando em conta a incerteza cientca. Contudo, inmeros danos ao
meio ambiente tm ocorrido e podem continuar a ocorrer simplesmente
porque no existe conhecimento cientco suciente a respeito da re-
percusso dos empreendimentos e tecnologias implementados, como
exatamente o caso dos OGMs.
Em decorrncia disso, pode-se armar que a mera preveno
27
VIEIRA, Paulo Freire. Eroso da biodiversidade e gesto patrimonial das interaes sociedade-natureza:
oportunidades e riscos da inovao biotecnolgica. In: VARELLA, Marcelo Dias; BORGES, Roxana Car-
doso Brasileiro (Org.). O novo em direito ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 236.
28
BENJAMIN, Antnio Herman de Vasconcellos e. Op. cit., p. 227.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
262
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
aos danos no garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, deixando de seguir a determinao constitucional. Para suprir
a necessidade de criao de um dispositivo que possa fazer frente aos
riscos ou incerteza cientca, ganhou corpo o princpio da precauo,
que exige uma ao antecipada diante dos riscos de danos ambientais
ou sade humana.
O princpio da precauo estabelece a vedao de intervenes
no meio ambiente, salvo se houver a certeza de que as alteraes no
causaro reaes adversas, j que nem sempre a cincia pode oferecer
sociedade respostas conclusivas sobre a inocuidade de determinados
procedimentos. A Declarao do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento consagrou pioneiramente o princpio da precauo
no mbito internacional, ao estabelecer no princpio 15: De modo a
proteger o meio ambiente, o princpio da precauo deve ser amplamen-
te observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando
houver ameaa de danos srios ou irreversveis, a ausncia de absoluta
certeza cientca no deve ser utilizada como razo para postergar me-
didas ecazes e economicamente viveis para prevenir a degradao
ambiental.
Existe realmente uma grande semelhana entre o princpio da
precauo e o princpio da preveno, pois o primeiro apontado como
um aperfeioamento do segundo. Prova disso que os instrumentos da
Poltica Nacional do Meio Ambiente que se prestam a efetivar a preven-
o so apontados tambm como instrumentos que se prestam a efetivar
a precauo. Entendendo que a precauo uma compreenso mais
alargada do conceito de preveno, arma Ana Carolina Casagrande
Nogueira
29
:
O princpio da precauo, por sua vez, apontado pe-
los que defendem seu status de novo princpio jurdico-
ambiental como um desenvolvimento e, sobretudo, um
reforo do princpio da preveno. Seu fundamento seria,
igualmente, a diculdade ou impossibilidade de repara-
29
NOGUEIRA, Ana Carolina Casagrande. O contedo jurdico do princpio da precauo no direito am-
biental brasileiro. FERREIRA, Heline Sivini. Op. cit., p 199.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
263 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o da maioria dos danos ao meio ambiente, distinguin-
do-se do princpio da preveno por aplicar-se especi-
camente s situaes de incerteza cientca.
Dessa forma, a precauo diz respeito ausncia de certezas
cientcas, enquanto a preveno deve ser aplicada para o impedimento
de danos cuja ocorrncia ou poderia ser conhecida, estando esta mais
relacionada ao conceito de perigo e aquela ao conceito de risco. Dentro
de uma acepo teleolgica, pode-se dizer que esse princpio signica
que mais correto errar tentando defender o meio ambiente do que cor-
rer riscos ambientais em favor de interesses individualizados
30
. Nesse
sentido, arma Paulo Affonso Leme Machado
31
:
A precauo age no presente para no se ter que chorar
e lastimar no futuro. A precauo no s deve estar pre-
sente para impedir o prejuzo ambiental, mesmo incerto,
que possa resultar das aes ou omisses humanas, como
deve atuar para a preveno oportuna desse prejuzo.
Evita-se o dano ambiental atravs da preveno no tem-
po certo.
No Brasil, j existem diversas bases legais referentes a esse
princpio. Por exemplo, o art. 5 do Decreto n 4.297/02 determina a
observncia da precauo em relao ao zoneamento ecolgico-econ-
mico, entre outros princpios do direito ambiental. J o 3 do art. 53
se refere precauo como instrumento de proteo do meio ambiente.
Para alguns autores, esse princpio estaria implcito no inciso IV do 1
do art. 225 da prpria Constituio Federal, que exige o estudo prvio
de impacto ambiental em relao s atividades, potencial ou efetiva-
mente, causadoras de signicativa degradao ambiental
32
.
30
RIOS, Aurlio Virglio Veiga. O Mercosul, os agrotxicos e o princpio da precauo. Revista de Direito
Ambiental, So Paulo, ano 7, n. 28, p. 50, out./dez. 2002.
31
MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Op. cit., p. 57.
32
COLOMBO, Silvana Brendler. O princpio da precauo no direito ambiental. Jus Navigandi, Teresina,
ano 9, n. 488, 7 nov. 2004. Disponvel em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto .asp?id=5879>. Acesso
em: 11 out. 2005.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
264
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
De qualquer forma, o art. 1 do Decreto n 5.591/05 impe
expressamente a observncia do princpio da precauo para a proteo
do meio ambiente, em se tratando de OGMs. Esse aspecto j era previs-
to nas consideraes da Resoluo n 305/02 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente que dispe sobre o licenciamento ambiental de trans-
gnicos. Ao prever, em seu prembulo, que, quando existir ameaa de
sensvel reduo ou perda de diversidade biolgica, a falta de plena cer-
teza cientca no deve ser usada como razo para postergar medidas
para evitar ou minimizar essa ameaa, a Conveno da Diversidade
Biolgica deixou claro que a precauo a postura mais indicada no
caso dos transgnicos.
8. Consideraes nais
Ao meio ambiente se deve atribuir a mesma importncia do
direito vida, pois sem o necessrio equilbrio ambiental, o planeta
fatalmente sofrer as conseqncias. O direito ambiental um direito
fundamental de terceira gerao, visto que cuida no s da proteo do
meio ambiente em prol de uma melhor qualidade de vida da sociedade
atual, mas tambm das futuras geraes. Caracteriza-se assim como um
direito transindividual e transgeracional.
O conceito de meio ambiente desdobrado pela doutrina em
quatro dimenses: meio ambiente natural, meio ambiente articial,
meio ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. O primeiro o
constitudo pelos recursos naturais propriamente ditos; o meio ambiente
articial aquele construdo ou alterado pelo ser humano sendo cons-
titudo pelos edifcios urbanos e pelos equipamentos comunitrios; o
meio ambiente cultural o patrimnio histrico, artstico, paisagstico,
ecolgico, cientco e turstico, constituindo-se tanto de bens de natu-
reza material quanto imaterial; por m, o meio ambiente do trabalho o
conjunto de fatores que se relacionam s condies laborais.
O patrimnio gentico, que o conjunto de informaes de
origem gentica oriundas dos seres vivos de todas as espcies, foi ala-
do pela Carta Magna de 1988 categoria de bem constitucionalmente
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
265 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
protegido. Signica dizer que essa proteo no apenas a garantia
da sobrevivncia de determinadas espcies, mas de todas as espcies,
inclusive a humana, j que existe uma interdependncia entre todas as
formas de vida. Alm disso, o patrimnio gentico constitui o funda-
mento da maioria das atividades scio-econmicas.
A engenharia gentica a cincia que trabalha com a mani-
pulao dos genes e a criao de inmeras variaes entre os genes de
organismos diferentes. A biotecnologia o ramo da engenharia gen-
tica que se dedica modicao gentica dos organismos vivos, com
o objetivo de atender a uma demanda agrcola, ambiental, cientca,
econmica, industrial, mdica ou sanitria. A biossegurana consiste
no sistema de segurana que se prope a impedir que ocorram danos ao
meio ambiente e sade pblica na manipulao gentica.
Os OGMs so o resultado da aplicao dos conhecimentos
biotecnolgicos quando da manipulao do cdigo gentico dos seres
vivos. A CTNBio a instncia administrativa, de carter consultivo e
deliberativo pertencente ao Ministrio da Cincia e Tecnologia tem o
objetivo de acompanhar e de disciplinar o desenvolvimento cientco e
tcnico em relao aos OGMs, com o intuito de viabilizar o desenvol-
vimento tecnolgico e diminuir ou evitar os riscos ao meio ambiente e
sade humana.
Os riscos mais graves provocados pelos OGMs dizem respeito
ao meio ambiente e sade humana. Todavia, existem tambm implica-
es econmicas e sociais que devem ser observadas. O problema desse
tipo de risco que os danos causados ao meio ambiente so de difcil ou
mesmo de impossvel recuperao. Assim, a nica forma de proteger efe-
tivamente o patrimnio ambiental evitando que tais danos ocorram.
O princpio da precauo estabelece a vedao de interven-
es no meio ambiente, salvo se houver a certeza de que as alteraes
no iro causar reaes adversas. Isso porque nem sempre a cincia
pode oferecer sociedade respostas conclusivas sobre a inocuidade de
determinados procedimentos. Tendo em vista os gravssimos riscos ao
meio ambiente e sade humana, faz-se necessrio que o princpio da
precauo seja aplicado, suspendendo o uso comercial dessa tcnica at
que os limites de segurana sejam comprovadamente adequados.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
266
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
9. Referncias bibliogrcas
BASTOS, Aurlio Wander. Dicionrio brasileiro de propriedade intelectu-
al e assuntos conexos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995.
BENJAMIN, Antnio Herman de Vasconcellos e. Funo socioambien-
tal. In: BENJAMIN, Antnio Herman de Vasconcellos e (Coord). Dano
ambiental: preveno, reparao e represso. So Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 1993.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutao. 3. ed. So Paulo: Crculo do Livro,
1988.
COLOMBO, Silvana Brendler. O princpio da precauo no direito am-
biental. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 488, 7 nov. 2004. Disponvel
em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto .asp?id=5879>. Acesso em:
11 out. 2005.
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econmico. 2. ed. So Paulo: Max
Limonad, 2001.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Aurlio sculo XXI: dicio-
nrio da lngua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 1999.
FERREIRA, Heline Sivini. O risco ecolgico e o princpio da precauo.
In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, Jos Rubens Morato (Org.). Estado
de direito ambiental: tendncias: aspectos constitucionais e diagnsticos.
Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2004.
FIORILLO, Celso Antnio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasilei-
ro. 4. ed. So Paulo: Saraiva, 2003.
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituio Federal e a efetividade das
normas ambientais. 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
GUERRANTE, Rafaela Di Sabato; ANTUNES, Adelaide Souza; PEREI-
RA JNIOR, Nei. Transgnicos: a difcil relao entre a cincia, a socieda-
de e o mercado. In: VALLE, Silvio; TELLES, Jos Luiz (Org.). Biotica e
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
267 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
biorrisco: abordagem transdiciplinar. Rio de Janeiro: Intercincia, 2003.
KRELL, Olga Jubert Gouveia. Biodiversidade, biotecnologia, biosseguran-
a e proteo do meio ambiente. Revista Idia Nova. Recife, n. 1, 2003.
LEITE, Jos Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo
extrapatrimonial. 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito Ambiental brasilei-
ro. 14. ed. So Paulo: Malheiros, 2006.
MIGLIARI, Arthur. Crimes ambientais. Braslia: Lex Editora, 2001.
MILAR, Edis. Direito do ambiente. 3. ed. So Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2004.
NOGUEIRA, Ana Carolina Casagrande. O contedo jurdico do princ-
pio da precauo no direito ambiental brasileiro. In: FERREIRA, Heline
Sivini; LEITE, Jos Rubens Morato (Org.). Estado de direito ambiental:
tendncias: aspectos constitucionais e diagnsticos. Rio de Janeiro: Foren-
se Universitria, 2004.
RIOS, Aurlio Virglio Veiga. O mercosul: os agrotxicos e o princpio da
precauo. Revista Direito Ambiental, So Paulo, ano 7, n. 28, out./dez.
2002.
SILVA, Jos Afonso da. Direito Constitucional Ambiental. 4. ed. So Pau-
lo: Forense, 1995.
SIRVINSKAS, Lus Paulo. Manual de direito ambiental. 3. ed. So Paulo:
Saraiva, 2005.
TRINDADE, Antonio Augusto Canado. Direitos humanos e meio am-
biente: paralelo dos sistemas de proteo ambiental. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1993.
VIEIRA, Paulo Freire. Eroso da biodiversidade e gesto patrimonial
das interaes sociedade-natureza: oportunidades e riscos da inovao
biotecnolgica. In: VARELLA, Marcelo Dias; BORGES, Roxana Car-
doso Brasileiro (Org.). O novo em direito ambiental. Belo Horizonte:
Del Rey, 1998.
MEIO AMBIENTE, PATRIMNIO GENTICO E BIOTECNOLOGIA:
NECESSIDADE DE APLICAO DO PRINCPIO DA PRECAUO
Talden Farias
268
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
O homem , por natureza, um ser eminentemente social, que
sente a necessidade de relacionar-se. Dessa forma, desde os primrdios,
passou a viver em conjunto, em grupamentos, ainda que de maneira
desorganizada e tribal. Todavia, com a natural evoluo dos tempos,
sempre motivado pelo desejo de melhoria de sua condio, o ser hu-
mano passou a se desenvolver atravs de vrios estgios. E assim, foi
avanando desde a fabricao rudimentar dos primeiros utenslios do-
msticos, passando pela tmida economia familiar, at atingir a poca
atual. No percurso dessa evoluo social do homem, um trao marcante
sempre esteve presente: a violncia. Rousseau (1712-1798) observava
que a sociedade humana, medida que progredia, tambm atingia n-
veis crescentes de agressividade. Na viso do aludido lsofo, o pro-
gresso diretamente proporcional agressividade.
Assim, a humanidade tem vivido num constante ambiente vol-
tado prtica da criminalidade. Esse fato observvel desde as antigas
civilizaes estruturadas nos esturios dos rios Tigre e Eufrates, na anti-
ga Mesopotmia. tambm permanente a idia da represso das aes
delitivas, com o objetivo de proteger a estrutura do corpo comunitrio.
Nasceu da, o direito penal, com sua base repressiva e retri-
butiva, formulando institutos jurdicos. Desde a primeira lei penal, a
do Talio, e a primeira codicao legal, com o Cdigo de Hamurabi,
na Babilnia, busca-se manter a ordem social, objetivando resguardar,
tambm, a dignidade do homem. Com efeito, desde as origens da ci-
vilizao, busca-se evitar a existncia de uma sociedade sem controle
no agir humano. Isso a tornaria totalmente anrquica e desorganizada,
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
Promotor de Justia no Estado da Paraba
Professor do Centro Universitrio de Joo Pessoa - UNIP
269 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
um verdadeiro caos, onde tudo seria liberado. nesse contexto que
nasce a norma, para disciplinar a vida em sociedade e, no caso em
estudo, a norma penal.
2. Conceito de norma penal
Advinda do latim, a expresso norma (esquadro, rgua) re-
vela, no campo da conduta humana, a diretriz de um comportamento
socialmente estabelecido. Em outras palavras, trata-se de uma regra de
conduta que exprime um dever-ser, prescrevendo o que deve ser feito
para atingir determinada nalidade. A norma jurdica prescreve a con-
duta adequada para se alcanar a segurana e a ordem no mbito dos
relacionamentos em sociedade. A respeito da matria, enfatiza J. Fls-
colo da Nbrega
1
:
As normas surgem por imposio de nossas necessida-
des, como modos de satisfaz-las com o mnimo de atri-
tos e desgastes possvel (...). A norma difere da lei natu-
ral em ser uma regra que exprime o que deve ser, o que
deve acontecer, enquanto a lei natural enuncia apenas o
que acontece, o que . Outra diferena se encontra em
que a lei natural necessria, traduz fato que acontece
de maneira certa, inevitvel, enquanto que a norma
contingente, exprime fato que pode, ou no, acontecer.
Outra nota diferencial que a norma se refere apenas s
relaes humanas, ao passo que a lei natural se aplica
a toda a natureza. A forma da norma sempre a de um
imperativo, um juzo prescrevendo um dever; impera-
tivo positivo, de fazer, ou negativo, de no fazer, nele
est sempre presente o verbo dever, de modo expresso,
ou subentendido. Em alguns sistemas normativos, como
a religio, a moral, o imperativo categrico, impe-se
de forma incondicional; no direito, nos usos sociais, na
tcnica, na poltica, o imperativo hipottico, depende
de condies determinadas na prpria norma.
1
NBREGA, J. Flscolo da. Introduo ao direito. 7. ed. So Paulo: Sugestes Literrias, 1987. p. 20.
270
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A norma penal, espcie do gnero norma jurdica, pode ser
conceituada em sentido amplo e estrito. Em sentido amplo, aquela que
dene um fato punvel, impondo, de forma abstrata e genrica, a sano
cabvel. Pode tambm ser denida como aquela que envolve princpios
gerais e disposies sobre os limites e ampliaes de normas incrimina-
doras. Em sentido estrito, norma penal aquela que descreve uma con-
duta ilcita, impondo uma sano. De forma genrica, pode-se armar
que a norma penal volta-se denio de crimes e ao estabelecimento
de sanes. Cuida tambm das condies para que seja aplicada a lei
penal. Esta, por sua vez, o principal meio de veiculao da norma pe-
nal, ou seja, seu instrumento primordial de manifestao.
As normas penais incriminadoras, contidas na parte especial
do Cdigo Penal e em leis extravagantes, so aquelas que denem cri-
mes e estabelecem sanes. As demais esto previstas na parte geral,
disciplinadoras da aplicao e dos limites das normas incriminadoras,
denominadas integrantes ou de segundo grau. Estas ltimas dividem-
se, essencialmente, nas seguintes espcies: normas de aplicao (que
estabelecem os limites de validade e aplicabilidade das normas incri-
minadoras); normas declarativas ou explicativas (que denem certos
conceitos previstos na lei); normas diretivas (que xam os princpios a
serem estabelecidos em determinada matria); normas interpretativas
(que se prestam interpretao de outras normas).
Na elaborao da norma jurdica, o legislador observa determina-
das particularidades tcnicas, vislumbradas na constatao de que o precei-
to imperativo a ser obedecido no se contm de maneira expressa na norma
penal. So explicitados, to-somente, a sano e o comportamento humano
ilcito, como decorrncia do princpio da reserva legal, previsto no art. 5,
XXXIX, da Constituio Federal e art. 1 do Cdigo Penal: no h crime
sem lei anterior que o dena, nem pena sem prvia cominao legal.
Na norma penal, a regra proibitiva (por exemplo, no matars)
permanece implcita na denio do crime, e s pode ser delimitada
indiretamente. Essa caracterstica motivou Karl Binding
2
a armar que,
2
Apud FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal: parte geral. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2003. p. 89-90.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
271 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
no cometimento de uma infrao, o criminoso no ofende a lei em si,
mas seu preceito proibitivo, ou seja, a prpria norma. H, por conse-
guinte, uma verdadeira distino entre a norma e a lei penal, no sentido
de que a primeira criaria o ilcito, enquanto a segunda caria respons-
vel pela denio do delito.
Nessa ordem de idias, proposta por Binding, a conduta deliti-
va violaria no a lei, mas a prpria norma, visto que o infrator praticaria
exatamente o comando previsto naquela. A lei teria carter descritivo da
conduta proibida ou imposta, tendo a norma, a seu turno, carter proi-
bitivo. Assim, de acordo com essa teoria, as normas gurariam como
imperativos puros imotivados, visto que no integrariam o mbito do
direito penal, mas de outras searas jurdicas. Acerca da referida tese,
Heleno Cludio Fragoso
3
apresenta a seguinte explanao:
Contra a teoria de Binding, porm, objetou-se que a in-
determinao da natureza dessas normas inconcebvel,
pois elas se situariam fora do campo do direito. Por outro
lado, levaria ela a crer que a sano no essencial nor-
ma jurdica (Hans Kelsen). No h, todavia, a distino
que Binding procurou estabelecer. Norma o imperativo
jurdico que possui os atributos a que j acima aludimos.
A lei uma das formas de expresso da norma jurdi-
ca, ou seja, fonte formal da norma, que pode revelar-se
tambm atravs do direito no escrito (consuetudinrio),
ou da jurisdio (no caso de precedentes judicirios obri-
gatrios, como ocorre nos Estados Unidos e na Inglater-
ra). Na norma penal (cuja nica fonte a lei formal), o
preceito est implcito na descrio da conduta incrimi-
nada, que aparece como um pressuposto da aplicao da
sano. Esta elemento essencial norma, constituindo
(antes de sua transgresso) a ameaa de um mal a ser
inigido pela inobservncia do preceito. Aps a viola-
o do preceito, a sano surge como sua conseqncia
jurdica.
A norma penal, portanto, formada, em sua modalidade incri-
3
FRAGOSO, Heleno Cludio. Op. cit., p. 90-91.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
272
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
minadora, pela unio indissolvel entre preceito e sano, apresenta na-
tureza imperativa. Essa dimenso manifestada por meio de mandatos
(imperativos positivos) ou proibies (imperativos negativos), implci-
tos e previamente formulados. Nesse aspecto, a lei penal moderna no
formulada em ordem direta, mas na estrutura de vedao indireta, na
qual descrito o comportamento humano pressuposto da conseqncia
jurdica materializada na sano
4
.
3. Funes da norma penal
Como se sabe, o direito uma forma de controle social. O ve-
culo de manifestao desse controle a prpria norma jurdica, que se
consubstancia em regra de conduta bilateral e coercitiva, amparada por
uma sano. Na lio de J. Flscolo da Nbrega
5
, o sistema de controle
social encontra traduo nos seguintes termos:
a) para que a vida social subsista, se faz necessria a satisfao das
necessidades fundamentais de ordem, segurana e eficincia;
b) para isso, impe-se a obedincia aos padres de com-
portamento aprovados pelo grupo social;
c) para conseguir essa obedincia, o direito traduz aqueles
padres em normas coercivas e bilaterais, normas autr-
quicas, com o poder de fazer-se realizar por si mesmas,
quando no o forem pela vontade do destinatrio.
De fato, o controle social o processo atravs do qual a socie-
dade procura adequar o comportamento de seus membros aos padres
tradicionalmente consagrados como aceitveis, de modo a garantir a se-
gurana e a ordem. Eugenio Ral Zaffaroni e Jos Henrique Pierangeli
6
4
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 2 ed. So Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2000. p. 90-91.
5
NBREGA, J. Flscolo da. Op. cit., p. 63.
6
ZAFFARONI, Eugenio Ral; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte
geral. 4. ed. Rev. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 70.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
273 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
apresentam, acerca do tema, o seguinte magistrio:
Chamamos sistema penal ao controle social punitivo
institucionalizado, que na prtica abarca a partir de quan-
do se detecta ou supe detectar-se uma suspeita de delito
at que se impe e executa uma pena, pressupondo uma
atividade normativa que cria a lei que institucionaliza o
procedimento, a atuao dos funcionrios e dene os ca-
sos e condies para esta atuao.
Com efeito, desenvolvendo sua funo de controle social, a
norma apresenta, genericamente, as hipteses de denio de crimes
e o estabelecimento das condies de aplicao da sano penal
7
. Em
uma anlise mais aprofundada, pode-se acrescentar que as normas pe-
nais no tm como nalidade nica punir os infratores, ou seja, aqueles
que praticam as condutas descritas nos tipos penais incriminadores. H
normas que, ao contrrio de apresentarem proibies ou mandamentos
cuja ofensa enseja punio ao agente, possuem um contedo explica-
tivo. Outras, ainda, existem que excluem o crime ou isentam o ru de
pena. So as chamadas normas penais no incriminadoras.
Assim, do quadro exposto, verica-se que, no obstante a -
nalidade genrica de controle social, as funes especcas das normas
penais so diversas, conforme sejam classicadas em incriminadoras
ou no-incriminadoras. As normas penais incriminadoras, ou normas
penais em sentido estrito ou mandamentais, tm a funo de denir
as infraes penais, proibindo ou impondo condutas, sob a ameaa de
imposio de uma sano. Constituem-se de dois preceitos: o primrio
(preceptum iuris), responsvel pela descrio detalhada e perfeita da
conduta que se procura proibir ou impor e o secundrio (sanctio iuris),
encarregado da individualizao da pena, ou seja, da cominao em
abstrato.
As normas penais no-incriminadoras, a seu turno, apresen-
tam as seguintes funes, conforme sejam permissivas, explicativas ou
7
FRAGOSO, Heleno Cludio. Op. cit., p. 89.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
274
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
complemantares: tornar lcitas determinadas condutas (normas permis-
sivas justicantes); afastar a culpabilidade do agente, atravs das causas
de iseno de pena (normas permissivas exculpantes); esclarecer de-
terminados conceitos (normas explicativas); fornecer princpios gerais
para a aplicao da lei penal (normas complementares)
8
.
4. Caractersticas das normas penais
As normas jurdicas, de maneira geral, apresentam as seguin-
tes caractersticas principais: emanao do Estado; generalidade e abs-
trao (regulamentao genrica de relaes ou fatos, com previso
hipottica de uma srie innita de casos enquadrveis em um tipo abs-
trato); bilateralidade (estabelecimento de direitos e deveres jurdicos
respectivos); coercibilidade e imperatividade (advindas do carter man-
damental da norma, signicando o conjunto de imperativos assegura-
dos coativamente pelo poder pblico, em decorrncia da chancela do
Estado, autorizando, conseqentemente, em face do descumprimento,
o emprego da fora pela via institucional); irrefragabilidade (revogao
apenas por outra norma jurdica)
9
.
Aponta-se, ainda, a heteronomia - do grego heteros (diverso)
+ nomos (regra) - signicando a caracterstica da norma jurdica que
esclarece ser esta imponvel vontade do destinatrio. A vontade do
Estado prevalece, no mbito da legalidade, sobre a vontade individual.
Enquanto a norma moral autnoma (do grego autos, por si s + no-
mos, regra), isto , seu cumprimento livre pelo destinatrio, a norma
jurdica heternoma, isto , o seu cumprimento obrigatrio. En-
quanto a norma moral dirige-se de dentro para fora, isto , o homem
se auto-impe um procedimento sem que sua vontade seja dirigida, a
norma jurdica heternoma, imposta por um ordenamento jurdico,
cuja caracterstica a coercitividade.
A norma moral no se ope vontade individual; pelo contr-
8
GRECO, Rogrio. Curso de direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. p. 22-24.
9
FRAGOSO, Heleno Cludio. Op. cit., p. 89.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
275 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
rio, exige liberdade de assentimento para a realizao de seu impera-
tivo. O ato moral s vlido quando praticado por livre e espontnea
vontade; praticado fora, seria imoral. A norma jurdica, por sua vez,
no leva em conta a convico ou assentimento de seus destinatrios;
trata-se de um comando irresistvel, a ser cumprido fora, se neces-
srio. J. Flscolo da Nbrega
10
, discorrendo sobre o assunto, apresenta
como caracteres diferenciais notveis das normas jurdicas, especica-
mente, a bilateralidade e a coercibilidade. Sobre a matria, enfatiza:
A bilateralidade se arma na estrutura imperativo-atri-
butiva da norma; esta, enquanto prescreve um dever, ou
obrigao de fazer, ou no fazer algo, confere ao mesmo
tempo uma pretenso, ou poder de exigir o cumprimento
desse dever. Atua de ambos os lados, de um, atribuindo
um direito, de outro lado, impondo uma obrigao (...).
Nenhum outro sistema normativo apresenta essa nota es-
sencial, que especca, exclusiva do direito.
A coercibilidade, ou coatividade, o poder que tem a
norma jurdica de fazer-se cumprir com emprego da for-
a fsica. As demais normas deixam seu cumprimento
vontade do destinatrio; a norma jurdica, porm, sobre-
pe-se vontade do destinatrio, anula essa vontade e
exige cumprimento de modo incondicional, inexorvel,
recorrendo, para consegui-lo, mesmo fora fsica, co-
ao. essa outra nota essencial, exclusiva do direito; a
norma jurdica nasce com o destino de realizar-se a todo
custo e cumprir esse destino, ou pela vontade do des-
tinatrio, ou sem essa vontade e mesmo contra ela (...).
Quando no possvel realizar de fato esse cumprimento,
realiza-se de modo indireto, por qualquer forma suced-
nea, a saber:
a) impondo uma sano contra o faltoso;
b) obrigando-o a reparar os danos causados com a sua
falta;
c) anulando-se os atos praticados em violao de seu dever.
10
NBREGA, J. Flscolo da. Op. cit., p. 21-22.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
276
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
No que tange, particularmente, norma penal, objeto do pre-
sente estudo, Damsio de Jesus
11
analisa suas caractersticas bsicas:
exclusividade, imperatividade, generalidade, abstrao e impessoalida-
de, conforme a dico que se segue:
1. Exclusividade.
A norma penal exclusiva, tendo em vista que somente
ela dene infraes e comina penas.
2. Imperatividade.
A norma penal autoritria, no sentido de fazer incorrer
na pena aquele que descumpre o seu mandamento. ela
que separa a zona do lcito do ilcito penal. Na primeira,
o homem pode agir livremente sem incorrer em qualquer
sano. No pode, porm, ingressar na zona do ilcito pe-
nal sem sofrer conseqncias jurdico-criminais.
A todos devido o acatamento lei penal. Da o seu ca-
rter de obrigatoriedade.
Todas as leis ou normas penais so imperativas, mesmo
as de carter no incriminador, como as permissivas.
Diz-se que os dispositivos legais permissivos, se por um
lado autorizam aes ou omisses dos sujeitos ativos, por
outro impem obrigaes aos sujeitos passivos, para que
no criem obstculos ao exerccio daquelas. Assim, com
respeito legtima defesa, prevista no art. 25 do CP, se de
um lado o legislador autoriza a conduta do sujeito ativo,
de outro impe ao sujeito passivo a obrigao de no obs-
taculizar a reao daquele.
certo que com a prtica do fato tpico surge a relao
jurdico-punitiva: aparece o direito concreto de punir do
Estado e a obrigao de o sujeito no impedir a aplicao
da pena. Quando h uma norma penal permissiva, po-
rm, como a que descreve a defesa legtima, ocorre uma
inverso nos plos da relao jurdica entre o sujeito e o
Estado. Sendo a legtima defesa um direito subjetivo em
relao ao Estado, este tem a obrigao de reconhecer os
efeitos dessa causa excludente da antijuridicidade (...).
11
JESUS, Damsio E. Direito penal: parte geral. 23. ed. So Paulo: Saraiva, 1999. p. 18-21.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
277 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
As normas penais no-incriminadoras, se bem que no
contenham sano expressa, no so desprovidas de san-
o jurdica. So normas que se dirigem, sobretudo, aos
rgos do poder pblico, e a sua violao juridicamente
sancionada.
3. Generalidade.
A norma penal atua para todas as pessoas. Tem eccia
erga omnes.
E aqui vem baila o problema dos destinatrios da norma
penal.
As normas no-incriminadoras, como vimos, dirigem-se,
sobretudo, aos rgos do poder pblico.
Quais so os destinatrios das normas penais incrimina-
doras?
Diz-se que, em relao ao seu preceito primrio, todos os
cidados so destinatrios de seu contedo, ao passo que
o secundrio se dirige aos encarregados de sua aplicao.
O certo, porm, que tambm a sanctio juris tem desti-
nao geral (...).
Assim, mesmo os inimputveis devem obedincia ao
mandamento proibitivo contido na norma penal incrimi-
nadora. E, como observou Grispigni, o Estado no pode
de antemo saber a que sujeitos ter eccia a norma; por
isso, a cominao legal de sanctio juris se dirige a todos,
para que aps a prtica do fato proibido possa ter-se em
conta a individualidade prpria do autor da infrao, para
se lhe aplicar, em lugar da pena, a medida de segurana
cabvel.
4. Abstrao e impessoalidade.
A norma penal , ainda, abstrata e impessoal, dirigindo-
se a fatos futuros.
Abstrata e impessoal porque no enderea o seu manda-
mento proibitivo a um indivduo. Dirige-se a fatos futu-
ros, uma vez que no h crime sem lei anterior que o
dena (arts. 5, XXXIX, da Const. Federal, e 1 do CP).
Em sntese, a norma penal possui como caracterstica a im-
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
278
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
peratividade. Assim, uma vez violada, h a previso de pena para o
infrator. A norma jurdico-penal endereada a todos os cidados gene-
ricamente considerados, atravs de mandados (imperativo positivo) ou
proibies (imperativo negativo) implcita e previamente construdos,
visto que a lei moderna no contm ordem direta.
A coercibilidade penal se distingue das demais formas de coer-
o jurdica, porque procura evitar novos delitos com a preveno espe-
cial. Em sua generalidade, a lei penal se destina a todos, com oposio
erga omnes; a impessoalidade e abstrao indicam que o regramento
penal no se destina a uma pessoa exclusivamente ou a uma catego-
ria de indivduos. construdo para vigorar no seio da sociedade, com
efeitos abstratos, disseminados. E, por m, a prpria irrefragabilidade,
determinando que, somente atravs de uma norma penal superveniente,
a primitiva lei poder ser revogada, deixando de ser aplicada.
5. Consideraes nais
Depreende-se, da evoluo do direito penal at os dias atuais,
que a norma sempre foi instrumento fundamental para a sua concre-
tizao no meio social. Essa exigncia impe-se, principalmente, na
atualidade, a partir de idias fortemente garantistas e democrticas. Isso
ocorre, especialmente pelo fato de que o direito penal o segmento do
ordenamento jurdico responsvel pela funo de selecionar os com-
portamentos humanos mais graves e perniciosos sociedade. Esses
comportamentos so capazes de ensejar risco e perigo aos valores mais
importantes para a convivncia humana. Por isso, o direito penal des-
creve as aes reprovveis como infraes, trazendo tona as respec-
tivas sanes, estabelecendo todas as regras complementares e gerais
necessrias correta materializao da justia criminal.
Atente-se, nessa linha, para o fato de que o direito penal, por
intermdio da norma, passa a controlar socialmente a conduta e o
comportamento dos indivduos. Abarca no s os grupos mais prxi-
mos dos centros do poder, como tambm todos os demais indivduos
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
279 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
disseminados na comunidade. indiscutvel que, em qualquer socieda-
de, existe uma estrutura de poder, vericando-se segmentos ou setores
mais prximos (hegemnicos) e outros mais alijados (marginalizados)
do poder.
Obviamente, essa estrutura tende a sustentar-se atravs do
controle social e de sua parte punitiva, denominada sistema penal. Uma
das formas mais violentas de sustentao justamente o sistema penal,
na conformidade da comprovao de resultados que este produz sobre
as pessoas. Nesse contexto, a norma penal cumpre a funo da crimina-
lizao seletiva, elegendo bens jurdicos relevantes que necessitam de
tutela jurdica, exemplicativamente, a vida, a sade e a liberdade, de
modo a conter, no tecido social, as diversas aes criminosas possveis
de lesionar os referidos bens.
Na tica abordada, a norma penal delimita um mbito, com
base no qual o sistema de que faz parte pode selecionar e criminalizar
pessoas. Porm, a lei, nesse aspecto, no pode ser interpretada de forma
simplria. Deve ser vislumbrada como objeto com carter programti-
co, institucionalizando e enunciando todo o sistema repressivo e suas
vertentes. Contudo, ao se reconhecer a eccia preventiva das leis pe-
nais, no se pode pretender a imposio geral de um mecanismo social
do terror. Pelo contrrio, deve-se ter em conta o reconhecimento da ne-
cessidade de uma crtica permanente em confrontao com a realidade
e a capacidade do direito penal para efetivar os direitos fundamentais,
ncleo intangvel da esfera humana, estabelecidos entre as garantias
constitucionais.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
280
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Referncias bibliogrcas
FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal: parte geral. 16.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
GRECO, Rogrio. Curso de direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Im-
petus, 2003.
JESUS, Damsio E. Direito penal: parte geral. 23. ed. So Paulo: Sa-
raiva, 1999.
NBREGA, J. Flscolo da. Introduo ao Direito. 7. ed. So Paulo:
Sugestes Literrias, 1987.
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 2
ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
ZAFFARONI, Eugenio Ral; PIERANGELI, Jos Henrique. Manual
de direito penal brasileiro: parte geral. 4. ed. Rev. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 2002.
NORMA PENAL: CONCEITO, FUNES
E CARACTERSTICAS
Frederico Martinho da Nbrega Coutinho
281 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
O presente trabalho ocupa-se da atuao do promotor de jus-
tia na rea cvel, centrando-se na anlise do Ministrio Pblico como
instrumento para a implementao das polticas pblicas constitucio-
nais, voltadas ao alcance da plena cidadania. Em primeiro plano, ser
abordada a elevao dos direitos sociais ao patamar constitucional, de-
monstrando como as polticas pblicas nessa rea alcanaram o status
de direitos fundamentais. Far-se- tambm o estudo do fenmeno da
constitucionalizao do direito, bem como da dimenso alcanada pelo
Estado Democrtico de Direito no ordenamento jurdico atual. Em se-
guida, sero discutidas as conseqncias da presena dos direitos sociais
no texto constitucional, avaliando-se a efetividade e a exigibilidade de
tais preceitos pelo jurisdicionado.
Sob a tica da tripartio dos poderes, ser analisada a legi-
timidade do Poder Judicirio para efetivar e implementar as polticas
pblicas, quando o Legislativo e o Executivo se mostrarem inertes.
Buscar-se- avaliar a atuao do Judicirio nesse campo tormentoso,
colhendo as posies do Pretrio Excelso e apresentando os principais
precedentes que assinalam positivamente essa possibilidade. Nesse con-
texto, ser analisado o conceito de polticas pblicas, examinando sua
implementao luz da reserva do possvel e do mnimo existencial,
como balizadores da constante tenso entre a limitao dos recursos
pblicos e a dimenso das necessidades coletivas.
O papel do Ministrio Pblico, na implementao das polticas
pblicas, ser visualizado, essencialmente, no que concerne forma
como o promotor de justia com atuao cvel poder agir na positiva-
o dos direitos sociais. Nesse sentido, sero avaliados os instrumentos
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre Bezerra Wanderley de Queiroga
Procurador da Repblica
282
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
processuais e legais colocados sua disposio, como forma de pre-
servao da dignidade da pessoa humana, na busca da cidadania plena.
Dar-se- nfase problemtica oramentria que envolve o tema, tra-
tando-se da ao civil pblica como instrumento de controle da execu-
o do oramento.
Por m, ser analisado o papel do Poder Judicirio na busca de
se conferir efetividade s decises judiciais, mormente as tomadas em
aes civis pblicas manejadas pelo Ministrio Pblico. Em suas linhas
gerais, o trabalho tecer alguns comentrios tpicos, considerados teis
para a atuao do promotor de justia, em especial dos que militam na
rea de curadorias, responsveis por velar pelo respeito Constituio,
com especial ateno aos direitos fundamentais.
2. Constitucionalizao do direito
As bases do constitucionalismo so encontradas entre os scu-
los XVI e XVIII, com a superao do Estado absolutista. Os primeiros
documentos formais que j evidenciavam o nascimento do movimento
constitucionalista foram a Petition of Rights, em 1629, e o Bill of Ri-
ghts, em 1688, idealizados pelos ingleses, como conseqncia da luta
travada entre a realeza e a burguesia. Importante ressaltar que a burgue-
sia lutava pelos seus prprios interesses e no na defesa dos desvalidos.
Um pouco mais tarde, aps a independncia das colnias norte-ame-
ricanas, surgiu a Constituio de Virgnia, em 1776, como forma de
consolidar sua autonomia poltica frente aos ingleses. Evidentemente,
deve ser lembrada como grmen do constitucionalismo a Magna Carta
Libertatum, documento imposto, em 1215, pelos bares ingleses ao Rei
Joo Sem Terra, com a nalidade de limitar os poderes reais, especial-
mente no campo tributrio.
Entretanto, pode-se dizer que o impulso determinante con-
cepo do constitucionalismo, como entendido atualmente, foi dado
pela Constituio norte-americana de 1787 e pela Declarao dos Di-
reitos do Homem e do Cidado de 1789, seguida da Constituio fran-
cesa de 1791. Embora percam em originalidade, visto que no foram as
283 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
pioneiras, as Constituies norte-americana e francesa tiveram grande
repercusso, em virtude da signicao assumida aps a sua adoo.
Nesse aspecto, destaca-se a Constituio francesa, que representou, de
forma pioneira, um movimento que eclodiu no seio do povo, e no ape-
nas reexo dos interesses burgueses.
Os primeiros textos constitucionais se basearam nas lies de
Locke e Rousseau. Tomaram a feio de um documento poltico, em
que era apenas estruturada a organizao do poder do Estado e previstos
limites ao exerccio deste mesmo poder frente liberdade dos indivdu-
os. O contexto histrico da poca explica esse modelo de constituio,
na medida em que o movimento constitucionalista servia burguesia
emergente, responsvel pela ruptura com o Estado absolutista. A bur-
guesia pretendia, com uma constituio, dispor de um documento for-
mal que contivesse a forma de obteno, o exerccio e os limites do
poder do Estado, procurando-se, sobretudo, a segurana jurdica e a
liberdade, to ausentes no Estado absolutista.
Portanto, o modelo das primeiras constituies, que inaugu-
raram o Estado liberal, reduzia-se a uma carta de organizao poltica
e limitativa do poder, j que o papel do Estado era garantir a liberdade
dos cidados, sem interferncia na esfera jurdica privada. Data daquela
poca o surgimento dos hoje chamados direitos fundamentais de pri-
meira gerao, que eram conhecidos como direitos de defesa do indi-
vduo contra o Estado. Naquele contexto, o movimento liberal-burgus
preocupou-se, sobremaneira, em impor limites ao Estado, evitando-se o
retrocesso ao absolutismo de outrora.
A constituio no possua poder normativo relevante, na me-
dida em que traava apenas as diretrizes, dependendo de normatizao
infraconstitucional. Assim, no se podiam aplicar diretamente as suas
determinaes ao caso concreto. Ademais, diante da inexistncia de
controle de constitucionalidade, o legislador infraconstitucional tinha
grande liberdade para legislar, sem maiores compromissos com os dita-
mes constitucionais. A constituio no ocupava o centro do sistema ju-
rdico, lugar reservado para os cdigos de direito privado, que tiveram
como modelo em todo o mundo o Cdigo Napolenico de 1804. Era o
primado da lei, e no da constituio. Esta ocupava um papel secund-
284
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
rio, meramente gurativo.
No difcil imaginar que as diretrizes constitucionais eram
freqentemente desrespeitadas por leis casusticas, carecendo o ordena-
mento jurdico de harmonia e unidade. Entretanto, paulatinamente, as
constituies foram alcanando prestgio e reconhecimento, sobretudo
na obra do austraco Hans Kelsen, para quem a constituio deveria
ocupar o topo da pirmide do ordenamento jurdico. Assim, as cartas
constitucionais foram vistas como instrumentos para conduzir toda a
ordem jurdica em uma direo nica, dando-lhe identidade e coerncia.
Para tanto, todas as normas deveriam estar conformadas com os manda-
mentos constitucionais. Nesse sentido, surgiram os primeiros sistemas
concentrados de controle de constitucionalidade. O primeiro sistema
surgiu na ustria, em 1920, sob os auspcios de Kelsen, servindo de
modelo para todo o mundo. A constituio ganhava fora, estando mais
apta a garantir a liberdade to almejada pelo modelo liberal-burgus.
O positivismo era a corrente losco-jurdica que vigia
poca. Segundo seus ensinamentos, o direito deveria ser excessivamen-
te objetivo, importando apenas os mandamentos legais. Distanciava-se
dos elementos ticos e morais. Desde que estivessem em conformidade
com a constituio, as leis deveriam ser invariavelmente cumpridas.
Esse regime desaguou nos sistemas nazista e fascista da Alemanha e
da Itlia. A lei justicava as atrocidades cometidas por esses regimes.
A constituio igualmente no os vedava, uma vez que, como se viu,
o seu papel resumia-se organizao poltica do Estado, no havendo
valores morais, ticos e humanos em seu corpo. A dignidade da pessoa
humana no era ainda reconhecida como princpio jurdico a povoar as
constituies daquele tempo.
Entretanto, as conseqncias foram severas. O desrespeito aos
direitos humanos, as atrocidades, a destruio foram sem precedentes.
Logo, percebeu-se que a constituio deveria dizer mais, fazer mais.
Como a carta poltica j possua fora, poderia conter mandamentos
ticos e morais, tornando-os obrigatrios e cogentes. Tambm se perce-
beu, especialmente no ps-guerra, que apenas a liberdade do indivduo
era insuciente. O Estado tambm poderia e deveria fazer mais para
corrigir as distores sociais e reconstruir as naes destrudas. Alm
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
285 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
da liberdade, proporcionar a igualdade substancial entre as pessoas de-
veria ser papel do Estado, que estaria obrigado a prestaes positivas,
para corrigir as distores advindas do modelo capitalista liberal. Alm
dos direitos polticos, tambm os sociais deveriam ser contemplados.
Surgem, destarte, os chamados direitos de segunda gerao e a noo
de justia distributiva.
O positivismo d lugar ao chamado ps-positivismo. Manti-
nha-se o apego lei, mas sem descurar dos elementos morais e ticos.
Surge no ps-guerra, com a redemocratizao e a necessidade de aliar a
lei ao elemento humano, como reao ao positivismo nazi-fascista. Su-
pera, assim, o modelo estril e legalista do positivismo, introduzindo,
ao lado do dogma legal, os conceitos de justia e eqidade, colocando
a dignidade da pessoa humana como centro do ordenamento jurdico.
Preocupa-se com a justicao da lei pela legitimidade moral, e no
em justicar na lei as condutas imorais. As cartas constitucionais atuais
passam a carregar em seu corpo normas dessa natureza, voltadas aos
direitos sociais, aos elementos ticos e humanos, conforme lembra Lus
Roberto Barroso
1
:
O constitucionalismo moderno promove, assim, uma
volta aos valores, uma reaproximao entre tica e di-
reito. Para poderem beneciar-se do amplo instrumental
do direito, migrando da losoa para o mundo jurdico,
esses valores compartilhados por toda a comunidade, em
dado momento e lugar, materializam-se em princpios,
que passam a estar abrigados na constituio, explcita
ou implicitamente.
A constituio assume o centro do ordenamento jurdico. Seus
comandos e princpios expressam a sntese dos valores do sistema, dan-
do-lhe unidade e harmonia. A dignidade da pessoa humana alcana o
status de princpio mximo, norteador de toda a atividade jurdica. Os
valores ticos aparecem positivados em normas constitucionais, pos-
1
BARROSO, Lus Roberto. Fundamentos tericos e loscos do novo direito constitucional brasileiro.
So Paulo: Saraiva, 1996. p. 28.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
286
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
suindo fora normativa. A constituio deixa de ser apenas uma carta
poltica, para servir de instrumento de transformao da realidade. Com
isso, passou a obrigar o Estado a assumir uma postura positiva, imple-
mentando polticas pblicas em prol de toda a populao, buscando a
satisfao das necessidades coletivas e o bem comum.
As normas constitucionais, imbudas de valores humanos, pas-
sam a espraiar-se pelo ordenamento. Nesse ambiente, a constituio
passa a ser no apenas um sistema em si - com a sua ordem, unidade e
harmonia - mas tambm um modo de olhar e interpretar todos os de-
mais ramos do direito. Este fenmeno, identicado por alguns autores
como ltragem constitucional, consiste em que toda a ordem jurdica
deve ser lida e apreendida sob a lente da constituio, de modo a reali-
zar os valores nela consagrados
2
.
Esse fenmeno caracteriza a constitucionalizao do direito. a
constituio como norma mxima, no centro do sistema jurdico, conten-
do regras e princpios cogentes, devendo toda a ordem jurdica ser vista a
partir da perspectiva constitucional. Por ocupar esse papel to relevante,
nada mais correto do que inserir na carta constitucional os valores mais
importantes e consagrados pela sociedade, sintetizados no princpio da
dignidade da pessoa humana. luz desse preceito, impe-se a realizao
de polticas pblicas para proporcionar a todos o mnimo de decncia,
atravs da implementao dos direitos sociais ou de segunda gerao.
3. O Estado Democrtico de Direito
O primeiro modelo de Estado concebido para pr em prtica
a realizao de polticas pblicas, como conseqncia da constitucio-
nalizao do direito, foi o chamado Welfare State, ou Estado de Bem-
Estar Social, na tradio europia do ps-guerra. A esse respeito, arma
Amrico Bed Freire Jnior
3
:
2
BARROSO, Lus Roberto. O neoconstitucionalismo e a constitucionalizao do direito (no prelo).
3
FREIRE JNIOR, Amrico Bed. O controle judicial das polticas pblicas. So Paulo. Editora Revista
dos Tribunais, 2005. p. 25.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
287 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Vericou-se, ento, a necessidade de uma efetiva inter-
veno estatal com o desiderato de materializar os sonhos
de garantia de direitos como vida, sade, alimentao e
quejandos. Emergem os direitos de segunda gerao a
exigir prestaes positivas por parte do Estado, a existir
uma regulamentao direta no comrcio e nas relaes
trabalhistas e surgem os primeiros sistemas de previdn-
cia social.
Contudo, o Estado de Bem-Estar Social fundava-se na exis-
tncia de normas programticas, consistentes mais em promessas do
que em atuao efetiva do poder pblico. No se previam mecanismos
ecientes de implemento. De outro lado, viu-se o Estado agigantar-se
demasiadamente, crescendo em igual proporo sua inecincia. Dian-
te de tais problemas, no tardou para que esse modelo fosse supera-
do, dando lugar ao chamado Estado Democrtico de Direito. Nunca
existiu tanta preocupao (ou conscincia da falta de efetivao) com
a efetivao da Constituio como em nossos dias. A Constituio do
Estado Democrtico de Direito tem a pretenso de se fazer normativa e
no meramente simblica
4
. Ocorreu, ento, o enxugamento da mqui-
na estatal, com o fomento de atividades pela iniciativa privada. Altera-
es signicativas no modelo administrativo zeram entrar em cena a
chamada administrao gerencial, centrada principalmente no princpio
da ecincia e na atuao do terceiro setor, as chamadas paraestatais.
Mas a mudana de interpretao da constituio talvez tenha
sido o ponto de maior destaque. O que antes era visto como simples pre-
ceitos enunciativos, como normas programticas, carentes de qualquer
fora vinculante, passa a ser encarado como princpios normatizados,
ou seja, verdadeiras normas jurdicas, com eccia e aplicabilidade di-
reta e imediata. As promessas do lugar ao, como bem ponderou o
Ministro Celso de Mello:
Cabe assinalar, presente esse contexto consoante j pro-
clamou esta Suprema Corte que o carter programtico
4
FREIRE JNIOR, Amrico Bed. Op. cit., p. 27.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
288
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
das regras inscritas no texto da Carta Poltica no pode
converter-se em promessa constitucional inconseqente,
sob pena de o poder pblico, fraudando justas expecta-
tivas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegtima, o cumprimento de seu impostergvel
dever, por um gesto irresponsvel de indelidade gover-
namental ao que determina a prpria Lei Fundamental
do Estado. (RTJ 175/1212-1213, relator Ministro Celso
de Mello).
Alm de se retirar do ordenamento jurdico as normas con-
trrias Constituio, deve-se atribuir aos princpios constitucionais
a eccia positiva ou simtrica. Tal eccia confere ao beneciado da
norma o direito subjetivo de obter, em juzo, a tutela especca prevista
no comando legal. Se os efeitos pretendidos pelo princpio constitu-
cional no ocorreram tenha a norma sido violada por ao ou omisso
, a eccia positiva ou simtrica pretende assegurar ao interessado a
possibilidade de exigi-los diretamente, na via judicial se necessrio
5
.
Portanto, o Estado Democrtico de Direito deve organizar-se de forma
a criar mecanismos efetivos para a implementao das polticas pbli-
cas. Deve, alm disso, permitir ao beneciado buscar perante a justia a
efetivao dos mandamentos constitucionais, que outrora eram conce-
bidos apenas como promessas.
Essa efetivao possvel porque as polticas pblicas consti-
tucionais acham-se fundadas em normas do texto magno, cuja aplicao
direta e imediata. So, portanto, exigveis segundo a melhor interpre-
tao. Por outro lado, a democracia consolida-se com a redescoberta da
cidadania, sobretudo na conscientizao dos direitos por parte da po-
pulao. Surgem mecanismos processuais e constitucionais de acesso
justia, em vrios nveis de proteo, desde o individual, passando pelo
coletivo e pelo difuso, acompanhando as necessidades do mundo cada
vez mais globalizado. H ascenso institucional do Poder Judicirio,
do Ministrio Pblico e de organismos de proteo. Diante dessas cir-
5
BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Lus Roberto. A nova interpretao constitucional e o papel
dos princpios no direito brasileiro. In: LEITE, George Salomo (Org.). Dos princpios constitucionais. So
Paulo: Malheiros, 2003. p. 367.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
289 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
cunstncias, sob a tica do Estado Democrtico de Direito, que, como
o prprio nome diz, baseia-se no poder do povo e nas regras jurdicas,
existe o ambiente propcio judicializao das polticas pblicas, como
instrumento para o alcance efetivo da dignidade da pessoa humana.
A Constituio Federal de 1988 no deixa dvida de que temos
um Estado Democrtico de Direito, ao prever esse modelo expressa-
mente no caput art. 1.. Tem como fundamento central a dignidade da
pessoa humana (inciso III), que, sem sombra de dvida, o princpio
central de todo o ordenamento jurdico. Uma vez se enquadrando a Re-
pblica Federativa do Brasil no conceito de Estado Democrtico de Di-
reito, passemos a analisar o tema sob essa tica.
4. Tripartio dos poderes e a legitimidade do Poder Judicirio na
implementao de polticas pblicas
Como se sabe, outro princpio norteador do Estado Democrti-
co de Direito a separao dos poderes, positivada no art. 2. da Cons-
tituio Federal. As bases desse preceito esto na obra de Montesquieu,
que os concebeu separados, mas harmnicos. Tanto que o lsofo dei-
xa apenas os seis pargrafos escritos sobre separao e todos os demais
dos setenta e um do captulo VI, descrevendo como imaginava coorde-
nao de poderes
6
.
Entretanto, preciso que se corrija a terminologia usualmen-
te empregada para designar esse princpio. Mais correto seria falar-se
em separao de funes, e no de poder. O poder uno e indivisvel,
titularizado pelo povo, segundo dispe o pargrafo nico do art. 1. da
Constituio Federal. Todavia, para melhor desempenho de suas fun-
es, o poder distribudo entre o Executivo, o Legislativo e o Judici-
rio, cada um com uma misso constitucionalmente denida. Entretanto,
quemos com a expresso separao dos poderes, posto que arraiga-
da na doutrina e, sobretudo, na Carta Constitucional.
A separao dos poderes do Estado mandamento basilar
6
PALU, Oswaldo Luiz. Controle de atos de governo pela jurisdio. So Paulo: RT, 2004. p. 49.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
290
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
para a manuteno do chamado Estado Democrtico de Direito. Dessa
forma, cada poder passa a limitar o outro, havendo uma moderao e
racionalizao das funes, em prol dos direitos dos indivduos. Sua
previso faz parte do ncleo intangvel da Constituio brasileira, gu-
rando como clusula ptrea, no art. 60, 4., III. Portanto, a separao
dos poderes existe como pressuposto da existncia do Estado Demo-
crtico de Direito, que visa, como visto, a preservar e implementar a
dignidade da pessoa humana. O alcance desse objetivo passa necessa-
riamente pela consolidao de polticas pblicas, quando o Estado age
positivamente em prol dos cidados.
Logo, fcil concluir que a separao dos poderes no um
m em si mesma. No pode ser encarada como fetichismo losco-
jurdico, mas como sustentculo manuteno do Estado Democrtico
de Direito. Este, por sua vez, deve desenvolver meios para a implemen-
tao da dignidade da pessoa humana. Por conseguinte, a separao dos
poderes no poder jamais ser entrave realizao dos direitos funda-
mentais, pois seria subverter toda a ordem. Ao contrrio, deve estar a
servio da consecuo de tais direitos, o que envolve necessariamente a
satisfao das polticas pblicas, voltadas aos chamados direitos de se-
gunda gerao. Sobre a matria, enfatiza Amrico Bed Freire Jnior
7
:
Nesse diapaso, deve ser frisado que no apenas os direitos
da primeira gerao devem ser protegidos pela separao
dos poderes, mas todas as geraes dos direitos fundamen-
tais, j que uma das caractersticas dos direitos fundamen-
tais a sua indivisibilidade. Todas as dimenses dos direi-
tos fundamentais, portanto, podem (devem) ser protegidas
pelo princpio em comento. Constatamos, assim, ser um
arremedo absurdo apontar o princpio da separao dos
poderes como entrave efetivao de direitos fundamen-
tais, uma vez que tal interpretao aniquila a efetividade
(correta aplicao) da separao dos poderes.
Como se pode notar, muitos apontam a separao dos poderes
7
FREIRE JNIOR, Amrico Bed. Op. cit., p. 38.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
291 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
como entrave ao exame das polticas pblicas pelo Poder Judicirio.
Ora, cada poder possui sua funo prpria e indelegvel. Cabe ao Le-
gislativo e ao Executivo eleger as prioridades e executar as polticas
pblicas conforme juzos de convenincia e oportunidade, no podendo
o Judicirio se imiscuir no assunto. Os membros do Legislativo e do
Executivo foram eleitos pelo voto popular, o que os legitima a traar o
rumo do pas. Nessa perspectiva, no se poderia admitir que o Judici-
rio ordenasse ao Executivo a construo de uma escola ou de um hos-
pital, ou mesmo que alterasse a lei oramentria, transferindo recursos
dirigidos construo de um campo de futebol para obras emergenciais
de saneamento bsico. Tudo isso seria apenas tarefa do administrador,
seguindo os comandos legais do legislador. Nessa direo, arma Ra-
fael Bicca Machado
8
:
Os membros do Judicirio no se submetem apre-
ciao do voto popular, logo, no so detentores do
direito de decidir o que, a seu ver, melhor para a
sociedade. At porque desta no receberam mandato
para tanto. Os que o receberam foram os integrantes do
Legislativo e do Executivo, estes sim que se submetem
e se expem, eleio a eleio, ao crivo do voto e
apreciao popular.
Importantes vozes se levantam para defender tal posiciona-
mento, a exemplo do Ministro Nelson Jobim. Em seu discurso de posse
na presidncia do Supremo Tribunal Federal, armou que A deciso
judiciria no pode se produzir fora dos contedos da lei lei essa
democraticamente assentada em processo poltico, constitucionalmente
vlido. No h espao legtimo para soberanismos judicirios estriba-
dos na viso mstica de poder sem voto e sem povo. A mensagem de-
mocrtica e republicana simples: cada um em seu lugar; cada um com
sua funo.
8
MACHADO, Rafael Bicca. Cada um em seu lugar: cada um com sua funo. Apontamentos sobre o atual
papel do Poder Judicirio brasileiro, em homenagem ao ministro Nelson Jobim. Revista Direito e Econo-
mia. So Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 43.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
292
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A armao correta at certo ponto. Em verdade, pelas ra-
zes acima expostas, realmente compete ao Legislativo e ao Executivo
a implementao das polticas pblicas. O constituinte reservou a esses
poderes tal misso. No entanto, no se pode esquecer de que as polticas
pblicas expressam a atuao do Estado na vida social, com o objetivo
de dar efetividade aos direitos fundamentais. Esse direitos, inclusive
os sociais, esto previstos na Constituio, tendo aplicabilidade direta
e imediata (art. 5., 1., da Constituio Federal). Tm, alm disso,
fora vinculante, espraiando-se por todo o ordenamento jurdico, bus-
cando assegurar a constitucionalizao do direito.
Esse nvel constitucional assumido pelos direitos fundamen-
tais, mormente aqueles de segunda gerao, foi fruto de um longo ama-
durecimento e aperfeioamento do movimento constitucionalista, j
analisado neste trabalho. O espao de discricionariedade do gestor p-
blico, na implementao de tais polticas, bastante reduzido, na medi-
da em que ele tem o dever de p-las em prtica. Nesse aspecto, convm
transcrever a lio de Luza Cristina Fonseca Frischeisen
9
:
Nesse contexto constitucional, que implica tambm a re-
novao das prticas polticas, o administrador est vin-
culado s polticas pblicas estabelecidas na Constituio
Federal; a sua omisso passvel de responsabilizao e
a sua margem de discricionariedade mnima, no con-
templando o no fazer. (...) Conclui-se, portanto, que o
administrador no tem discricionariedade para deliberar
sobre a oportunidade e convenincia de implementao
de polticas pblicas discriminadas na ordem social cons-
titucional, pois tal restou deliberado pelo constituinte e
pelo legislador que elaborou as normas de integrao.
(....) As dvidas sobre essa margem de discricionariedade
devem ser dirimidas pelo Judicirio, cabendo ao juiz dar
sentido concreto norma e controlar a legitimidade do
ato administrativo (omissivo ou comissivo), vericando
se o mesmo no contraria sua nalidade constitucional,
no caso, a concretizao da ordem social constitucional.
9
FRISCHEISEN, Luza Cristina Fonseca. Polticas pblicas: a responsabilidade do administrador e o
Ministrio Pblico. So Paulo: Max Limonad, 2000. p. 95-97.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
293 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Assim, compete ao Legislativo e ao Executivo a implementa-
o das polticas pblicas. Pelo princpio da separao dos poderes, o
Judicirio no poderia ser intrometer nessa seara, que reservada aos
representantes eleitos pelo povo. Contudo, se esses poderes se mostra-
rem relapsos e omissos na efetivao de tais comandos constitucionais,
o Judicirio pode ser acionado para fazer valer os preceitos constitu-
cionais. No se trata da sobreposio do Poder Judicirio quanto aos
demais, mas sim da sobreposio da Constituio. O Judicirio seria
chamado simplesmente para fazer valer os comandos da Carta Magna.
No estaria substituindo a discricionariedade dos demais poderes pela
sua, mas velando pela aplicao da Constituio. Como foi visto, no
h discricionariedade na omisso de polticas pblicas constitucionais,
mas sim verdadeira arbitrariedade. Logo, a omisso ou a insucin-
cia na satisfao das necessidades pblicas, resguardadas constitucio-
nalmente, no podem ser afastadas do controle jurisdicional (art. 5.,
XXXV, da Constituio Federal), a pretexto da preservao da separa-
o dos poderes.
Sob essa tica, Amrico Bed Freire Jnior
10
alerta: Em ne-
nhum momento, pretende-se colocar o Judicirio acima dos demais
poderes. Ao contrrio, em regra, o Executivo e o Legislativo devem
proporcionar a efetivao da Constituio; contudo, quando tal tarefa
no foi cumprida, no pode o juiz ser co-autor da omisso e relegar a
Constituio a um nada jurdico. Atento a essas diretrizes, a Supre-
ma Corte no tem cado inerte diante do problema, realando a nova
tendncia de implementao de polticas pblicas diante de inmeros
precedentes, dos quais apontaremos alguns mais notrios.
5. Precedentes no STF sobre a implementao de polticas pblicas
pelo Poder Judicirio
O papel do Poder Judicirio nesse tormentoso tema vem en-
contrando fora no Supremo Tribunal Federal, com destaque para a
10
FREIRE JNIOR, Amrico Bed. Op. cit., p. 71.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
294
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
atuao do Ministro Celso de Mello. Em julgado no ano de 2000, o
ministro j apontava a necessidade da interferncia do Judicirio na
implementao de polticas pblicas. Julgando o AgRE 271.286/RS
(publicado no DJ em 24.11.2000, p. 101), entendeu a 2. Turma do STF
que o Poder Judicirio poderia compelir o poder pblico a executar
programa de distribuio gratuita de medicamentos a pessoas carentes
e necessitadas, ao decidir:
O reconhecimento judicial da validade jurdica de pro-
gramas de distribuio gratuita de medicamentos a
pessoas carentes, inclusive quelas portadoras do vrus
HIV/AIDS, d efetividade a preceitos fundamentais da
Constituio da Repblica (arts. 5., caput, e 196) e re-
presenta, na concreo de seu alcance, um gesto reve-
rente e solidrio de apreo vida e sade das pessoas,
especialmente daquelas que nada tm e nada possuem, a
no ser a conscincia de sua prpria humanidade e de sua
essencial dignidade.
Assim, restou assente que o direito sade, previsto na Consti-
tuio Federal, pode ser cobrado judicialmente, quando os gestores p-
blicos carem omissos. No caso, no poderia haver discricionariedade
do Executivo em cumprir ou no essa poltica. Mas, diante do comando
constitucional que assegura a sade como direito pblico subjetivo, re-
presentando uma prerrogativa jurdica indisponvel, extensiva gene-
ralidade das pessoas (art. 196 da Constituio Federal), o administrador
est obrigado a garanti-la, podendo ser compelido judicialmente. Como
j dito e repetido, no est o Judicirio se sobrepondo aos demais pode-
res, mas fazendo valer a supremacia da Constituio.
Em outro importante julgado, o Ministro Celso de Mello, em
29 de abril de 2004, no julgamento da ADPF n 45 MC/DF (Informa-
tivo do Supremo Tribunal Federal n 345), admitiu a ingerncia do
Judicirio na formulao das leis oramentrias. No caso prtico, foi
ajuizada argio de descumprimento de preceito fundamental contra
o veto do Presidente da Repblica ao 2 do art. 55 (posteriormente
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
295 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
renumerado para art. 59) de proposio legislativa que se converteu na
Lei n 10.707/2003 (LDO), destinada a xar as diretrizes pertinentes
elaborao da lei oramentria anual de 2004.
O veto presidencial implicava desrespeito a preceito funda-
mental decorrente da EC 29/2000, que foi promulgada para garantir
recursos nanceiros mnimos a serem aplicados nas aes e servios
pblicos de sade. Assim, o veto acarretaria prejuzos na implemen-
tao de polticas pblicas ligadas sade, na medida em que poderia
tolher parte dos recursos destinados a tais programas. Embora o dispo-
sitivo vetado tenha sito espontaneamente restaurado pela Presidncia
da Repblica, o que acarretou a perda do objeto da ADPF, o Ministro
Celso de Mello apresentou suas razes, admitindo expressamente que
o Judicirio poderia e deveria intervir em tais casos, para garantir a im-
plementao das polticas pblicas. Nesse sentido, anotou:
certo que no se inclui, ordinariamente, no mbito das
funes institucionais do Poder Judicirio - e nas desta
Suprema Corte, em especial - a atribuio de formular e
de implementar polticas pblicas, pois, nesse domnio,
o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legisla-
tivo e Executivo. Tal incumbncia, no entanto, embora
em bases excepcionais, poder atribuir-se ao Poder Judi-
cirio, se e quando os rgos estatais competentes, por
descumprirem os encargos poltico-jurdicos que sobre
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comporta-
mento, a eccia e a integridade de direitos individuais
e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional,
ainda que derivados de clusulas revestidas de contedo
programtico.
Em outro caso emblemtico, no julgamento do RE 436996/SP,
em 26 de outubro de 2005 (Informativo do Supremo Tribunal Federal
n. 407), o Ministro Celso de Mello determinou que o Judicirio com-
pelisse o poder pblico municipal a garantir a matrcula de crianas em
idade pr-escolar em creches, nem que para isso tivesse que construir
novas unidades. Na deciso, o Ministro Celso de Mello considerou a
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
296
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
educao infantil prerrogativa constitucional indisponvel (Constitui-
o Federal, art. 208, IV):
Por efeito da alta signicao social de que se reveste a edu-
cao infantil, a obrigao constitucional de criar condies
objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor
das crianas de zero a seis anos de idade (CF, art. 208, IV),
o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de
pr-escola, sob pena de congurar-se inaceitvel omisso
governamental, apta a frustrar, injustamente, por inrcia, o
integral adimplemento, pelo poder pblico, de prestao es-
tatal que lhe imps o prprio texto da Constituio Federal.
Segundo o entendimento do ministro, a poltica pblica em
questo no poderia car merc de avaliaes meramente discricio-
nrias da Administrao Pblica, nem condicionada ao puro prag-
matismo governamental. No poderiam os municpios demitir-se do
mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorga-
do pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da Repblica, e que represen-
ta fator de limitao da discricionariedade poltico-administrativa dos
entes municipais, cujas opes, tratando-se do atendimento das crian-
as em creche (CF, art. 208, IV), no podem ser exercidas de modo a
comprometer, com apoio em juzo de simples convenincia ou de mera
oportunidade, a eccia desse direito bsico de ndole social. Embora
reconhecendo que a implementao das polticas pblicas deveria car
a cargo do Executivo e do Legislativo, acrescentou em seu voto:
Revela-se possvel, no entanto, ao Poder Judicirio, ain-
da que em bases excepcionais, determinar, especialmente
nas hipteses de polticas pblicas denidas pela prpria
Constituio, sejam estas implementadas, sempre que os
rgos estatais competentes, por descumprirem os encar-
gos poltico-jurdicos que sobre eles incidem em carter
mandatrio, vierem a comprometer, com a sua omisso,
a eccia e a integridade de direitos sociais e culturais
impregnados de estatura constitucional.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
297 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Em outra recente deciso, em 1 de fevereiro de 2006, no RE
393.175/RS (Informativo n 414 do Supremo Tribunal Federal), o Mi-
nistro Celso de Mello determinou que o poder pblico fornecesse medi-
camentos a pacientes em estado grave, independentemente de previso
oramentria para tanto, em deciso assim ementada:
Ementa: pacientes com esquizofrenia paranide e doena
manaco-depressiva crnica, com episdios de tentativa
de suicdio. Pessoas destitudas de recursos nanceiros.
Direito vida e sade. Necessidade imperiosa de se
preservar, por razes de carter tico-jurdico, a integri-
dade desse direito essencial. Fornecimento gratuito de
medicamentos indispensveis em favor de pessoas caren-
tes. Dever constitucional do Estado (CF, arts. 5, caput, e
196). Precedentes (STF). Reconhecido e provido.
Seguindo a linha das decises acima citadas, outras tantas vm
tomando forma nos mais diversos tribunais e juzos espalhados pelo
pas. Tais decises revelam uma tendncia atual de se dar efetividade
s normas da Constituio. Nesse sentido, o Poder Judicirio assume
papel relevante nessa misso, apesar de vozes ainda se levantarem con-
tra tais medidas, a exemplo do Ministro Nelson Jobim, como restou
evidente em seu discurso de posse na presidncia do STF. Entretanto, a
implementao de polticas pblicas atravs de comandos do Judicirio
esbarra em algumas diculdades prticas, centradas essencialmente na
denominada gura reserva do possvel. No prximo tpico, esse tema
ser abordado, relacionando-o a outros conceitos, como o de mnimo
existencial.
6. O mnimo existencial, as polticas pblicas e a reserva do possvel
Antes de tratarmos do tema, devemos voltar ao princpio da
dignidade da pessoa humana. Esse princpio garante um espao de
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
298
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua s exis-
tncia no mundo
11
. Representa um ncleo intangvel, normatizado na
Constituio Federal, exigvel judicialmente, uma vez que possui ec-
cia positiva. Sobre a matria, enfatiza Gustavo Tepedino
12
:
Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana
como fundamento da Repblica, associada ao objetivo
fundamental de erradicao da pobreza e da marginaliza-
o, e de reduo das desigualdades sociais, juntamente
com a previso do 2. do art. 5., no sentido da no ex-
cluso de quaisquer direitos e garantias, mesmo que no
expressos, desde que decorrentes dos princpios adotados
pelo Texto Maior, conguram uma verdadeira clusula
geral de tutela e promoo da pessoa humana, tomada
como valor mximo pelo ordenamento.
O mnimo existencial, como o prprio nome j deixa trans-
parecer, o elemento fundamental dessa dignidade. So as condies
bsicas e imprescindveis de que deve dispor o cidado para uma vida
digna ou bastante prxima dignidade. So os direitos mnimos, caren-
tes da implementao de polticas pblicas que os assegure. Segundo
Ricardo Lobo Torres
13
, sem o mnimo necessrio existncia, cessa a
possibilidade de sobrevivncia do homem e desaparecem as condies
iniciais da liberdade. A dignidade humana e as condies materiais da
existncia no podem retroceder aqum de um mnimo.
As polticas pblicas, nesse contexto, compem o conjunto de
medidas (ou mesmo uma providncia isolada), a serem adotadas pelo
Estado para a satisfao das necessidades bsicas dos indivduos. Essas
medidas devem garantir, pelo menos, o chamado mnimo existencial a
todos, como forma de implementar os direitos fundamentais resguar-
dados na Constituio. As polticas pblicas tendentes a satisfazer o
mnimo existencial, como j repisado ao longo do texto, no podero
11
BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Lus Roberto. Op. cit., p 372.
12
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 13. 2 t.
13
TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributao: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro:
Renovar, 1995. p. 129.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
299 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
car na discricionariedade do legislador e do administrador, j que a to-
dos, pelo simples fato de existirem, devem ser asseguradas as condies
bsicas de sobrevivncia. E aqui no se trata de caridade estatal, mas de
direito assegurado ao indivduo pela Constituio.
Esse, o mnimo existencial confere ao cidado a prerrogativa
de busc-lo em juzo, pois o poder pblico no pode, de forma alguma,
vilipendi-lo. Assim, questiona-se a possibilidade de o administrador
negar efetividade ao mnimo existencial, sob a alegao de ausncia de
recursos pblicos. At porque a receita do Estado deve ser empregada
prioritariamente nas aes bsicas. Todavia, bvio armar que as ne-
cessidades humanas, ainda que bsicas, so innitas, enquanto os recur-
sos pblicos so nitos. Ento, essa disparidade deve ser regulada por
um princpio. Deve haver uma conformao da limitao nanceira,
passando por um planejamento adequado, para que, dentro do possvel,
sejam reservados os recursos para a implementao das polticas pbli-
cas. Esse princpio chamado de reserva do possvel, servindo de norte
para a implantao sustentvel e vivel das polticas pblicas, permitin-
do a convivncia das necessidades com a limitao dos recursos.
Entretanto, a reserva do possvel geralmente desvirtuada
pelo poder pblico, servindo como desculpa para a ausncia de polti-
cas pblicas e para o desatendimento das decises judiciais. O adminis-
trador geralmente justica a inecincia dos servios bsicos alegando
a ausncia de recursos. Arma que os recursos j esto comprometidos
com outros gastos, no havendo disponibilidade para o cumprimento
desta ou daquela poltica bsica, ou mesmo de decises judiciais que as
determinem.
O problema passa necessariamente pela falta de planejamento
pblico, bem como por escolhas equivocadas na implementao dessas
medidas. Some a isso o alto grau de corrupo que envolve o poder
pblico, com a dilapidao dos recursos. No entanto, preciso que se
esclarea que a reserva do possvel, ou seja, a destinao dos recursos
a necessidades bsicas, igualmente no est no plano da discricionarie-
dade do administrador. A anlise prioritria dos investimentos no pode
ser concebida unicamente na viso subjetiva do gestor pblico, mas sim
sob a tica constitucional. A alegao de reserva do possvel no pode
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
300
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ser aceita sem critrios para justicar a inefetividade do poder pblico,
maiormente quando se tratar de decises judiciais. A respeito dessa te-
mtica, arma Ana Paula Barcellos
14
:
Em resumo: a limitao de recursos existe e uma con-
tingncia que no se pode ignorar. O intrprete dever
lev-la em conta ao armar que algum bem pode ser exi-
gido judicialmente, assim como o magistrado, ao deter-
minar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, no
se pode esquecer que a nalidade do Estado ao obter re-
cursos, para, em seguida, gast-los sob a forma de obras,
prestao de servios, ou qualquer outra poltica pblica,
exatamente realizar os objetivos fundamentais da Cons-
tituio. A meta central das constituies modernas, e da
Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como j
exposto, na promoo do bem-estar do homem, cujo pon-
to de partida est em assegurar as condies de sua pr-
pria dignidade, que inclui, alm da proteo dos direitos
individuais, condies materiais mnimas de existncia.
Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o
mnimo existencial), estar-se-o estabelecendo exatamen-
te os alvos prioritrios dos gastos pblicos. Apenas depois
de atingi-los que se poder discutir, relativamente aos
recursos remanescentes, em que outros projetos se dever
investir. O mnimo existencial, como se v, associado ao
estabelecimento de prioridades oramentrias, capaz de
conviver produtivamente com a reserva do possvel.
Assim, a limitao de recursos pode ser reconhecida pelo Po-
der Judicirio como justicativa para a no implementao de certa po-
ltica. Porm, preciso que haja uma anlise criteriosa, como advertiu
o Ministro Celso de Mello, no julgamento do RE 436996/SP, em 26 de
outubro de 2005 (Informativo do Supremo Tribunal Federal n 407):
Cumpre advertir, desse modo, que a clusula da reser-
14
BARCELLOS, Ana Paula de. A eccia jurdica dos princpios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar:
2002. p. 245-246.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
301 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
va do possvel - ressalvada a ocorrncia de justo motivo
objetivamente afervel - no pode ser invocada pelo Es-
tado, com a nalidade de exonerar-se, dolosamente, do
cumprimento de suas obrigaes constitucionais, nota-
damente quando, dessa conduta governamental negativa,
puder resultar nulicao ou, at mesmo, aniquilao de
direitos constitucionais impregnados de um sentido de
essencial fundamentalidade.
Por outro lado, no basta o gestor pblico alegar a impossibi-
lidade nanceira, pois preciso que demonstre isso de forma objetiva.
Ademais, a impossibilidade de que se cuida apenas momentnea, j
que dever haver um planejamento por parte do gestor para a futura
contemplao de determinada poltica pblica, sobretudo quando for
reconhecida judicialmente sua imprescindibilidade.
7. O papel do Ministrio Pblico na implementao das polticas
pblicas e a questo oramentria
Restou assente, no presente trabalho, a possibilidade de o Po-
der Judicirio determinar a implementao de polticas pblicas por
parte do poder pblico. Entretanto, preciso ainda analisar a forma pela
qual a justia deve ser acionada para tal m, uma vez que a jurisdio
inerte. nesse campo que entra em cena o papel do Ministrio P-
blico. Constitucionalmente, o Parquet conceituado como instituio
permanente, essencial funo jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses
sociais e individuais indisponveis (art. 127 da Constituio Federal).
Portanto, sem sombra de dvidas, cabe ao Ministrio Pblico
uma atitude ativa, com o to de velar pelos interesses sociais e indivi-
duais indisponveis, atuando quando constatar ausncia ou inecincia
do poder pblico no cumprimento das polticas pblicas. Anal, a fun-
o do Ministrio Pblico no comporta somente a atuao para corri-
gir os atos comissivos da administrao que porventura desrespeitem
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
302
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
os direitos constitucionais do cidado, mas tambm a correo dos atos
omissivos, ou seja, para a implantao efetiva de polticas pblicas vi-
sando efetividade da ordem social prevista na Constituio Federal de
1988
15
.
A participao do Ministrio Pblico na efetivao das pol-
ticas pblicas se apresenta ainda mais importante quando se percebe
que, no Brasil, a sociedade civil ainda no conseguiu se organizar a
ponto de reivindicar atuao dos representantes eleitos pelo povo
16
.
Outrossim, os entes pblicos co-legitimados, em regra, possuem atri-
buies diversicadas, no sendo dotados de aparato para a consecuo
de tal mister. O instrumento, por excelncia, disposio do Ministrio
Pblico a ao civil pblica, conforme entendimento rmado pelo
Superior Tribunal de Justia:
Administrativo e processo civil. Ao civil pblica. Ato
administrativo discricionrio: Nova viso. 1. Na atuali-
dade, o imprio da lei e o seu controle, a cargo do Judici-
rio, autorizam que se examinem, inclusive, as razes de
convenincia e oportunidade do administrador. 2. Legiti-
midade do Ministrio Pblico para exigir do municpio a
execuo de poltica especca, a qual se tornou obriga-
tria por meio de resoluo do Conselho Municipal dos
Direitos da Criana e do Adolescente. 3. Tutela especca
para que seja includa verba no prximo oramento a m
de atender a propostas polticas certas e determinadas.
Recurso especial provido. (Revista Dialtica de Direito
Processual. n. 14/120).
Assim, o promotor de justia deve reconhecer o poder que tem
nas mos, atravs dos instrumentos assegurados constitucionalmente
ao Ministrio Pblico. Tem a possibilidade de alterar a realidade, cor-
rigindo as omisses e inecincias do poder pblico na implementao
de polticas voltadas satisfao das necessidades essenciais da popu-
lao, na busca do mnimo existencial como reexo do princpio maior
15
FRISCHEISEN, Luza Cristina Fonseca. Op. cit., p. 126-127.
16
FREIRE JNIOR, Amrico Bed. Op. cit., p. 98.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
303 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
da dignidade da pessoa humana. O membro do Parquet com atuao na
rea cvel, mormente junto s curadorias, deve exercer uma ao com-
prometida com a plena cidadania, que direito de todos. Deve voltar os
olhos, sobretudo, aos mais necessitados, na busca da igualdade material
e do equilbrio entre aqueles que tm e os que no tm.
A atuao do Ministrio Pblico no pode esbarrar na alegao
de falta de recursos por parte do gestor. Como se viu, a reserva do poss-
vel existe para permitir uma implementao planejada e sustentvel. Cla-
ro que deve haver escolhas criteriosas nos dispndios pblicos, j que os
recursos so limitados. A Constituio Federal deve servir de norte para
o planejamento, porquanto ela impe a consecuo de inmeras polticas
pblicas, que no podem ser simplesmente desconsideradas.
As leis oramentrias igualmente no podem constituir um
obstculo, pois a ao civil pblica tem o poder de determinar atuaes
positivas, regulando o contingenciamento e a inrcia do administrador.
Em primeiro lugar, cabe ao Ministrio Pblico exigir o cumprimento
das polticas j previstas nas leis oramentrias, ou seja, no Plano Plu-
rianual, na Lei de Diretrizes Oramentrias e nas Leis Oramentrias
anuais. No h, no Brasil, a gura do oramento impositivo, tendo em
vista que a alocao de recursos em determinado projeto no garante o
gasto efetivo
17
. No raro acontecer que o poder pblico sequer con-
siga despender os recursos reservados a determinada poltica. Nessas
hipteses, deve o Ministrio Pblico exigir o cumprimento das regras
oramentrias, com a liberao e emprego dos valores j previstos.
Entretanto, se determinada poltica constitucionalmente prevista
no estiver contemplada na regra oramentria, cabe ao Parquet exigir
sua incluso no prximo oramento, com reserva de verbas sucientes
sua implementao, inclusive com remanejamento de recursos de reas
no prioritrias se necessrio. Desse modo, possvel que ordem judi-
cial determine a incluso de verba no oramento do exerccio nanceiro
seguinte. Tal argumentao guarda pertinncia com o nosso sistema cons-
17
Nos Recursos Extraordinrios 34.581-DF e 75.908-PR, o STF assentou que o simples fato de ser includa,
no oramento, uma verba de auxlio a esta ou quela instituio no gera, de pronto, direito a esse auxlio; (...)
a previso de despesa, em lei oramentria, no gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
304
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
titucional, principalmente no que tange obrigatoriedade de efetivao
de polticas sociais estabelecidas em planos de governo e que integram
as polticas pblicas do Estado
18
. H ainda casos mais urgentes, em que
no se pode mesmo esperar a incluso de verbas no prximo oramento.
Existem mecanismos nanceiros para tanto, como a abertura de crditos
extraordinrios, especiais ou suplementares, conforme o caso, para refor-
ar o oramento, permitindo a realizao das medidas necessrias.
Em casos extremos, em que esteja em jogo a prpria vida do
jurisdicionado, deve o Ministrio Pblico, quando for necessrio o
cumprimento imediato da deciso, como, por exemplo, a concesso de
remdio ou realizao de cirurgia, exigir a prestao imediata do servi-
o independentemente de prvia dotao. Nesses casos, haver a pre-
valncia da deciso na satisfao de um direito fundamental em detri-
mento de uma regra oramentria. O oramento no pode ser concebido
como um m em si mesmo, mas como uma regra instrumental da boa
administrao. Contudo, na coliso com um direito fundamental, no
difcil concluir que este deve inevitavelmente prevalecer, pois cer-
to que uma lei oramentria no poder desconhecer um mandamento
constitucional, deixando ao desamparo inmeras pessoas necessitadas.
Em deciso, de 1 de fevereiro de 2006, no RE 393175/RS (Informati-
vo n 414 do Supremo Tribunal Federal), o Ministro Celso de Mello se
pronunciou mais uma vez sobre o tema, armando:
Tal como pude enfatizar em deciso por mim proferida
no exerccio da Presidncia do Supremo Tribunal Federal,
em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/
SC), entre proteger a inviolabilidade do direito vida e
sade, que se qualica como direito subjetivo inalienvel
assegurado a todos pela prpria Constituio da Repbli-
ca (art. 5, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra
essa prerrogativa fundamental, um interesse nanceiro e
secundrio do Estado, entendo - uma vez congurado esse
dilema - que razes de ordem tico-jurdica impem ao
julgador uma s e possvel opo: aquela que privilegia o
respeito indeclinvel vida e sade humanas.
18
SOARES, Ins Virgnia Prado. Ao civil pblica como instrumento de controle da execuo orament-
ria. In: Ao Civil Pblica: 20 anos da Lei n 7.347/85. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 504.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
305 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
8. A efetividade da ao civil pblica como instrumento na imple-
mentao de polticas pblicas
A ao do Ministrio Pblico no surtiria os efeitos sem um
Judicirio atento s necessidades do jurisdicionado. A ao civil pblica
precisa de efetividade, devendo o direito de ao exercido pelo Parquet
ser entendido como um direito fundamental da coletividade, compreen-
dendo em seu contedo a necessidade de uma tutela efetiva, adequada e
tempestiva. O processo serve como instrumento s necessidades mate-
riais, devendo haver uma maior adequao do processo tutela preten-
dida. Nesse sentido, arma Luiz Guilherme Marinoni
19
:
A obviedade est em que o direito material e o proces-
so no podem mais ser tratados separadamente. Assim
como o processo no somente mero meio para a rea-
lizao do direito, o direito no apenas resultado do
processo. No h como deixar de perceber, hoje, que
entre o processo e o direito material h uma relao de
integrao (...). No entanto, para a integrao processo-
direito material, imprescindvel, alm da classicao
das tutelas, que o direito de ao seja pensado como
direito fundamental, ou seja, como direito fundamental
efetiva tutela jurisdicional.
O Poder Judicirio deve esforar-se para conferir a tutela es-
pecca buscada pelo Ministrio Pblico. Como esto em jogo, nor-
malmente, direitos indisponveis e fundamentais, o Judicirio tem que
estar comprometido com a justa resoluo do litgio, na medida em que
h um premente interesse do Estado na causa. No se trata de meros
interesses particulares. O juiz no deve car inerte. Precisa perscrutar
os fatos e a realidade, tendo participao ativa na colheita das provas,
inclusive. No processo coletivo, alm dessa necessidade de uma in-
tensa participao do juiz na colheita das provas, preciso ir alm e
19
MARINONI, Luiz Guilherme. Tcnica processual e a tutela dos direitos. So Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004. p. 27-29.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
306
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
entender ser possvel ao magistrado utilizar todos os meios necessrios
para a preservao do interesse difuso ou coletivo em causa
20
. O que
realmente importa o alcance do resultado prtico pretendido.
Nesse sentido, preciso superar as diculdades na execuo
das decises em aes civis pblicas, principalmente ligadas s polti-
cas pblicas. Como instrumentos para implementao dessas decises,
existe a coero indireta por meio das multas, previstas nos arts. 287,
461 e 461-A do Cdigo de Processo Civil, bem como no art. 11 da
LACP e art. 84, 4., do CDC. Estas devem ser xadas em padro
compatvel com a necessidade da efetividade do comando decisrio,
estabelecendo-se em valor e periodicidade adequados. Existe ainda o
comando contido no 5. do art. 461 do Cdigo de Processo Civil, que
autoriza o juiz a determinar as medidas necessrias para a efetivao
da tutela especca. Essa regra, acena, inclusive, com a possibilidade
de aplicao de multa pessoal ao gestor pblico no caso de descumpri-
mento da sentena ou acrdo, retirando o encargo do ente pblico e
fazendo incidir diretamente sobre o mau administrador. Este tambm
dever ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa ou
crime de responsabilidade, conforme o caso.
Outra possibilidade ganha fora, quando se atribui conseq-
ncia penal ao descumprimento injusticado de ordem judicial. Tra-
mita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n 1.668, apresentado
em 21.03.96, que atualmente se encontra pronto para ser submetido
apreciao do Plenrio da Cmara dos Deputados. Nos termos do art.
359, ca criado o delito de desobedincia a mandado judicial: Dei-
xar o funcionrio pblico ou o particular, para satisfazer sentimento ou
opinio pessoal, de cumprir mandado judicial de que destinatrio ou
retardar injusticadamente o seu cumprimento. Pena deteno, de 6
(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Outras medidas de coero direta devem ser tambm aplica-
das, como o bloqueio e o seqestro de verbas pblicas, caso se agurem
imprescindveis. H notcias de casos concretos em que foi determinada
tal medida contra o poder pblico. Para ilustrar, colacionamos a sen-
20
FREIRE JNIOR, Amrico Bed. Op. cit., p. 103.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
307 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tena proferida no Processo n 2004.61.11.001871-6, que tramita na
1 Vara da Justia Federal em Marlia, em que o magistrado assim se
pronunciou:
Da mesma forma que o art. 100 da Constituio Federal,
em caso de descumprimento da deciso judicial que re-
quisita o precatrio, autoriza o seqestro da quantia ne-
cessria para o pagamento do precatrio, tenho que pode
o juiz, em sede de ao civil pblica, malgradas todas as
tentativas para fazer cumprir a deciso judicial, por ana-
logia, seqestrar a quantia necessria para a efetivao
da medida.
No caso, foi determinado o seqestro de verbas orament-
rias, conta do DNIT, para a restaurao da Rodovia BR-153. Essas
e outras medidas serviro para dar efetividade s decises, moldando
a mentalidade do administrador pblico. Este deve estar mais com-
prometido com o bem comum, pois o desrespeito s decises ameaa
soobrar o ordenamento jurdico, ferindo de morte a credibilidade do
Poder Judicirio e do Ministrio Pblico. Alm disso, incentiva-se o
desrespeito aos direitos fundamentais pelo prprio poder pblico, que
se sentir livre para desvirtuar os mandados representativos outorga-
dos pelo prprio povo.
9. Consideraes nais
No incio deste trabalho, foi analisado o fenmeno da constitu-
cionalizao do direito. Buscou-se enxergar a constituio como norma
mxima, no centro do sistema jurdico, contendo regras e princpios
cogentes, devendo toda a ordem jurdica ser vista a partir da perspecti-
va constitucional. Ocupando esse papel to relevante, foram inseridos
na carta constitucional os valores mais importantes e consagrados pela
sociedade, sintetizados no princpio da dignidade da pessoa humana.
luz desse preceito, preciso garantir a realizao de polticas pblicas
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
308
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
para proporcionar a todos o mnimo de decncia, atravs da implemen-
tao dos direitos sociais.
Tambm restou assentado que compete ao Legislativo e ao
Executivo a implementao dessas polticas pblicas. Em virtude da
separao dos poderes, o Judicirio no poderia ser intrometer nesse
campo. Contudo, se os outros poderes se mostrarem relapsos e omis-
sos na efetivao de tais comandos constitucionais, o Judicirio pode
e deve ser acionado para fazer valer os preceitos constitucionais. Tal
medida no se mostra como sobreposio do Poder Judicirio aos de-
mais, mas como supremacia da Constituio, como bem frisou o Minis-
tro Celso de Mello em importantes precedentes jurisprudenciais, aqui
transcritos.
As polticas pblicas, tendentes a satisfazer o mnimo exis-
tencial, no podem car na discricionariedade do legislador e do ad-
ministrador, j que a todos, pelo simples fato de existirem, devem ser
asseguradas as condies bsicas de sobrevivncia. Portanto, no se
trata de caridade estatal, mas de direito assegurado ao indivduo pela
Carta Magna. Entretanto, viu-se que a implementao de polticas p-
blicas atravs de comandos do Judicirio esbarra em algumas dicul-
dades prticas, centradas, sobretudo, na gura da reserva do possvel.
Contudo, demonstrou-se que a limitao de recursos, embora possa ser
reconhecida pelo Judicirio como justicativa, no deve ser aceita sem
uma anlise criteriosa e sem a demonstrao cabal de sua existncia.
O Ministrio Pblico assume posio central na implementa-
o dessas polticas, em cumprimento misso constitucional que lhe
foi reservada. Nesse aspecto, deve o promotor de justia reconhecer o
poder que tem nas mos, atravs dos instrumentos assegurados insti-
tuio, deagrando o processo judicial para a consecuo de tais pol-
ticas, atravs do manejo da ao civil pblica. Tem assim o Parquet a
possibilidade de alterar a realidade, corrigindo as omisses e inecin-
cias do poder pblico. Todavia, a ao do Ministrio Pblico no surtir
os efeitos sem um Judicirio atento s necessidades do jurisdicionado. A
ao civil pblica precisa de efetividade, devendo o prprio direito ins-
trumental de ao exercido pelo Parquet ser entendido como um direito
fundamental da coletividade, compreendendo em seu contedo a neces-
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
309 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
sidade de uma tutela efetiva, adequada e tempestiva. Nesse sentido,
preciso superar as diculdades na execuo das decises decorrentes de
aes civis pblicas, principalmente ligadas s polticas pblicas.
Por m, imprescindvel uma mobilizao dos promotores de
justia, juzes, advogados e demais operadores do direito, no sentido de
que sejam efetivadas e respeitadas as decises judiciais, essencialmente
no tocante s polticas pblicas, cujo alcance diz diretamente respeito
parcela da populao mais sofrida e marginalizada. O desrespeito s
decises ameaa soobrar o ordenamento jurdico, ferindo de morte a
credibilidade do Judicirio e do Ministrio Pblico, incentivando o des-
respeito aos direitos fundamentais pelo prprio poder pblico, que se
sentir livre para desvirtuar os mandados representativos outorgados
pelo povo.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
310
Referncias bibliogrcas
BARCELLOS, Ana Paula de. A eccia jurdica dos princpios constitucio-
nais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Lus Roberto. A nova interpretao
constitucional e o papel dos princpios no direito brasileiro. In: LEITE, George
Salomo (Org). Dos princpios constitucionais. So Paulo: Malheiros, 2003.
BARROSO, Lus Roberto. Fundamentos tericos e loscos do novo direito
constitucional brasileiro. So Paulo: Saraiva, 1996.
BARROSO, Lus Roberto. O neoconstitucionalismo e a constitucionalizao
do direito (no prelo).
FREIRE JNIOR, Amrico Bed. O controle judicial das polticas pblicas.
So Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
FRISCHEISEN, Luza Cristina Fonseca. Polticas pblicas: a responsabilida-
de do administrador e o Ministrio Pblico. So Paulo: Max Limonad, 2000.
HARADA, Kiyoshi. Direito nanceiro e tributrio. So Paulo: Atlas, 2005.
MACHADO, Rafael Bicca. Cada um em seu lugar: cada um com sua funo,
apontamentos sobre o atual papel do Poder Judicirio brasileiro, em homena-
gem ao Ministro Nelson Jobim. Revista Direito e Economia. So Paulo: IOB
Thomson, 2005.
MARINONI, Luiz Guilherme. Tcnica processual e a tutela dos direitos. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
PALU, Oswaldo Luiz. Controle de atos de governo pela jurisdio. So Paulo:
RT, 2004.
SOARES, Ins Virgnia Prado. Ao civil pblica como instrumento de con-
trole da execuo oramentria. In: Ao Civil Pblica: 20 anos da Lei n
7.347/85. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.
TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 2 t.
TORRES, Ricardo Lobo. Os direitos humanos e a tributao: imunidades e
isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1995.
O CONTROLE JUDICIAL DAS POLTICAS PBLICAS
E O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO
Marcos Alexandre B. Wanderley de Queiroga
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
311
1. Introduo
fato incontestvel que a insegurana uma varivel a ser
considerada na trajetria da vida humana, seja nos primrdios, quando
o risco de ataques de animais, as lutas entre grupos e outros fatores do
meio produziam uma baixssima expectativa de vida, seja no perodo
contemporneo, quando a sociedade de risco produz novas modalidades
de insegurana. Paradoxalmente, esse quadro gera uma alta expectativa
de segurana, sendo que este bem no dado, mas algo construdo.
Com efeito, queiramos ou no, h um grau considervel de
insegurana e de incerteza na vida. Assim, uma viso realista de mundo
nos impe a resignao em aceitar este fato. Ocorre que h nveis de
insegurana aceitveis dentro do padro das modernas sociedades de
massa. Porm, existem outros que ultrapassam o limite da normalidade,
comprometendo toda a estabilidade das relaes sociais e tornando vul-
nerveis todos os demais direitos fundamentais. Desse modo, a segu-
rana se apresenta como anteparo de uma srie de outros direitos, visto
que sem segurana a vida, o patrimnio, a sade, a liberdade e muitos
outros interesses so afetados, sofrendo restries de gozo. Nesse con-
texto, questiona-se como se pode aferir efetivamente se a insegurana
de dada sociedade excedeu o limite da normalidade, comprometendo a
estabilidade de um grupo social.
2. Instrumentos de avaliao do nvel de insegurana
Para responder a questo proposta no item anterior, preciso
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA
SEGURANA PBLICA DE QUALIDADE E AO DO
PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
Promotor de Justia no Estado da Paraba
Professor da Universidade Federal de Campina Grande
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
312
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
que se faa uma diferenciao entre a insegurana real e a percepo
da insegurana. Com efeito, o crime e o medo do crime so fenmenos
distintos. Signica que a percepo da insegurana est profundamen-
te inuenciada por fatores extrapenais, como o trnsito, a poluio, o
abandono dos espaos pblicos, a incivilidade cotidiana das pessoas,
entre outros
1
. Desse modo, uma poltica ecaz de segurana pblica
no deve objetivar apenas o uso do aparelho repressivo para reduzir os
ndices reais de violncia. Deve, alm disso, agir em conjunto com ou-
tros agentes sociais, no sentido de traar um planejamento para atingir
tambm a percepo da insegurana, seja atuando em conjunto com os
municpios pela revitalizao dos espaos pblicos abandonados e pela
iluminao das ruas e avenidas, seja produzindo campanhas de cons-
cientizao no trnsito, entre outras iniciativas.
Como se observa, o nvel de insegurana pode ser medido de
maneira objetiva, atravs da consulta aos dados ociais e aos nmeros
de ocorrncias policiais. De maneira subjetiva, o problema pode ser
vericado atravs de pesquisas que revelem a percepo de insegurana
do cidado. A juno destes dois instrumentos oferece um bom mosaico
do quadro de insegurana de uma sociedade. Examinemos o caso bra-
sileiro. No tocante ao segundo instrumento, a pesquisa Listening post,
realizada no ano de 2006 pela empresa de publicidade Ogilvy, revela
que 64% dos brasileiros apontam a violncia urbana, a insegurana e a
criminalidade como o problema que mais os preocupa. Tal dado eviden-
cia um alto ndice de percepo de violncia
2
.
No que concerne ao primeiro aspecto, surge um complicador.
O sistema de dados do aparelho de segurana pblica do Estado no
uma fonte de informaes segura para espelhar a realidade. Isso ocorre,
sobretudo, em virtude do altssimo ndice de subnoticao criminal,
optando as vtimas por no procurarem a polcia. Dados fornecidos pela
Secretaria de Segurana do Estado de So Paulo, referentes ao ano de
1999 (e que no devem divergir muito dos outros Estados da Federa-
o), revelam que apenas 33,3% das vtimas de crimes comunicam as
1
DIAS NETO, Theodomito. O modelo da nova preveno. So Paulo: Fundao Getlio Vargas, 2005. p. 107.
2
POSI, Paula. Violncia o que d mais medo ao brasileiro. ltimo Segundo. So Paulo, n. 6, 06 nov. 2006.
Disponvel em: < http:// www.ultimosegundo.ig.com.br \ materias\ brasil >. Acesso em: 21 de fev. de 2007.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
313
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
ocorrncias polcia. Do total dessas comunicaes, apenas 6,4% se
transformam em inquritos e 2,2% dos envolvidos so presos
3
.
Tais nmeros j so, em si mesmos, uma boa explicao para
o alto ndice de subnoticao e uma demonstrao da m qualidade
da segurana ofertada pelo Estado. H, no entanto, uma forma bastante
eciente de se aferir, de forma objetiva, o nvel de insegurana e de vio-
lncia. Trata-se da observao do nmero de homicdios por cada cem
mil habitantes. Tal dado serve como parmetro para aferir o ndice de
criminalidade nos municpios, tendo em vista que o homicdio, dentre
todos os crimes, o que apresenta o menor ndice de subnoticao,
dadas as caractersticas e peculiaridades desse crime.
Segundo dados do IPEA
4
, a taxa de homicdios no Brasil, que
vem subindo ano aps ano, desde o incio da dcada de 90, apresen-
tou uma ligeira queda em 2004, caindo de 28,6% por cada cem mil
habitantes para 26%. No se sabe, contudo, se tal queda sinaliza uma
tendncia ou foi apenas uma curva casual no grco da violncia. De
todo modo, observa-se que, no plano ftico, o ndice de insegurana
no Brasil alto. A populao no tem acesso a uma segurana pblica
de qualidade, visto que por mais de uma dcada as taxas de homicdio
tm crescido ano a ano. Em conseqncia, grande parte da populao
aponta o medo da violncia como o seu maior problema.
3. Dficit de eficcia do direito difuso a uma segurana pblica de qualidade
No plano normativo, a questo da segurana pblica destaca-
se no texto constitucional brasileiro, gurando ora como direito funda-
mental do indivduo, no caput do art. 5, ora como direito difuso da co-
letividade, no caput do art. 144. Neste ltimo, os objetivos da segurana
pblica so denidos como sendo a preservao da ordem pblica e da
incolumidade das pessoas e do patrimnio, elencando-se, em seguida,
3
ALMEIDA, Geivan de. O crime nosso de cada dia, Rio de Janeiro: Impetus, 2004.
4
IPEA - Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada. Radar social 2006. Braslia, 2006. Disponvel em:
<www.ipea.gov.br> Acesso em: 22 de ago. de 2006.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
314
as instituies pblicas responsveis pela efetivao de tais objetivos.
Ademais, o caput do art. 37 da CF estabelece a ecincia como
princpio basilar da Administrao Pblica. mister, portanto, no ape-
nas que o Estado preste servios de segurana, mas tambm que estes
sejam prestados com qualidade. Para tanto, preciso aliar a eccia da
preveno e da persecuo, para que se possa combater a impunidade, ga-
rantindo, assim, a preservao dos direitos fundamentais dos cidados.
Alis, como sustenta Norberto Bobbio
5
, a discusso losca
travada no plano terico acerca dos fundamentos dos direitos do ho-
mem est superada. Hoje, a questo que se impe a da efetividade de
tais direitos. Mas esse problema se acentua, na medida em que o rol dos
direitos fundamentais se amplia e os recursos do Estado, ao contrrio
das expectativas sociais, encontram limitaes. Com isto, as normas se
apresentam apenas como projetos de uma realidade possvel, os quais
podem ou no se concretizar. Essa efetivao vai sempre depender da
presso social, que a alavanca das aes polticas no regime democr-
tico. A sociedade deve exigir a superao dos problemas multifatoriais
que impedem uma segurana pblica de qualidade.
Dentre esses fatores impeditivos, muitos tm sido discutidos de
forma reiterada e aprofundada. J foram apresentadas diversas propos-
tas de enfrentamento do problema, entre as quais a reforma da legisla-
o, a execuo de polticas pblicas de incluso social e de gerao de
renda, o reaparelhamento e o treinamento das polcias, a sua unicao,
entre outros. H, porm, um fator impeditivo para a construo de uma
segurana pblica de qualidade pouco explorado no pensamento jurdi-
co: trata-se da ao do poder invisvel dentro do aparelho de segurana
pblica do Estado, desestabilizando o seu funcionamento e fomentando
aes que se desviam da nalidade pblica.
4. O poder invisvel e o sistema penal subterrneo
A compreenso do fenmeno do poder invisvel s possvel
5
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 8. ed. So Paulo: Paz e terra, 2000.
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
315
aps a adoo de uma concepo pluralista de poder, conforme a pro-
posta foucaultiana. Tal fenmeno concebido no apenas como um
elemento concentrado e monopolizado pelo aparelho estatal (poder de
soberania), mas tambm como algo disperso, difuso no tecido social e
nos sujeitos. Oscila, como prtica social que , de modo a ser titulariza-
do por um dado sujeito em determinada circunstncia, dispersando-se,
em seguida, de forma voltil. Sob esta tica, a perspectiva de exerccio
do poder desviada do Estado e das instituies para o sujeito e para as
prticas sociais
6
. Tal perspectiva est bem delineada em uma conhecida
passagem do primeiro volume de A histria da sexualidade, no qual
Foucault
7
resume sua perspectiva acerca do fenmeno do poder:
Parece-me que se deve compreender o poder, primei-
ro, como a multiplicidade de correlaes de foras
imanentes ao domnio onde se exercem e constituti-
vas de sua organizao; o jogo que, atravs de lutas e
afrontamentos incessantes as transforma, refora, in-
verte; os apoios que tais correlaes de fora encon-
tram umas nas outras, formando cadeias ou, sistemas
ou, ao contrrio, as defasagens e contradies que as
isolam entre si; enfim, as estratgias em que se origi-
nam e cujo esboo geral ou cristalizao institucional
toma corpo nos aparelhos estatais, na formulao da
lei, nas hegemonias sociais.
Dentro desse cenrio, o poder invisvel se apresenta como um
conjunto de prticas de dominao e de imposio de interesses que
se exercem de forma imperceptvel, retirando sua fora precisamente
desse anonimato. Segundo Norberto Bobbio
8
, a eliminao do poder in-
visvel como instncia decisria foi mais uma das promessas no cum-
pridas da democracia moderna. Deste modo, corporaes que atuam
nas sombras, a exemplo das mas e dos servios secretos, continuam
6
CAVALCANTE, Lcio Mendes. Do patbulo ao calabouo: o olhar de Focault sobre a evoluo das
penas no ocidente. Joo Pessoa. Trabalho no publicado.
7
FOUCAULT, Michel. Histria da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1993.
8
BOBBIO, Norberto. Ibidem.
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
316
a servir como instncias decisrias, deliberando sobre assuntos que afe-
tam a vida da coletividade sem qualquer publicidade e sem nenhuma
legitimidade, mitigando o princpio da soberania popular. Assim, sob
a sigla de poder invisvel, aglomeram-se tanto entidades que tm por
m a preservao do Estado, como outras que competem com este, pro-
curando se armar como poder paralelo, a exemplo do que ocorre nas
aes do crime organizado no Brasil.
Uma parcela desse poder invisvel tambm atua dentro do pr-
prio Estado. Porm, no visam preservao deste, como ocorre com
os servios secretos, nem ao seu enfrentamento, a exemplo do que pre-
tende o crime organizado. Seu objetivo atingir nalidades corporati-
vas de grupos, em geral de cunho econmico e poltico, as quais no
se coadunam com a nalidade estatal nem com os preceitos insertos
na Constituio. Com isto, os valores e princpios constitucionais so
sabotados. Assim, o direito a uma segurana pblica de qualidade, que
alie ecincia repressiva e preventiva, ca comprometido pela ao do
poder invisvel. Ele age dentro da prpria estrutura estatal e segundo
uma lgica prpria, divorciada do sistema constitucional.
Um bom exemplo dessa parcela de poder invisvel o que se
convencionou chamar de banda podre da polcia. Esses grupos pos-
suem uma fachada de legalidade, apresentando-se como autoridades
constitudas do Estado. Mas, na verdade, possuem uma face obscura,
atuando em contato direito com o mundo do crime, celebrando neg-
cios escusos, trocando favores ilcitos e, por vezes, atuando diretamente
em conjunto com a criminalidade mais violenta.
Tais grupos conseguem espaos preciosos na cpula da segu-
rana pblica, seja atravs da utilizao, em proveito prprio, de infor-
maes privilegiadas obtidas no exerccio de sua atividade, seja atravs
do recebimento e da oferta de favores. Tambm celebram acordos t-
citos com as Secretarias de Segurana, as quais aturam a sua perma-
nncia em troca da garantia de uma gesto tranqila, sem sobressaltos
e sem exploso dos ndices de criminalidade, por vezes habilmente es-
timulada ou provocada por tais segmentos. Em geral, esses grupos so
compostos por policiais operacionais, os quais, sem demora e atravs
do uso de tcnicas pouco humanitrias ou valendo-se de suas conexes
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
317
com o mundo do crime, conseguem facilmente desvendar a autoria dos
delitos ou conter a violncia. Por essa razo, sempre so chamados nos
momentos mais crticos da gesto de segurana, garantindo, com isto,
seu espao na cpula.
A hiptese de trabalho aqui discutida que estes grupos, do-
tados de grande fora e poder dentro das corporaes policiais, traba-
lham fortemente para que no seja prestada uma segurana pblica de
qualidade. Ao contrrio, querem que seja mantido o quadro catico,
burocratizado e inecaz do aparelho de segurana pblica estatal, visto
que este quadro facilita as suas aes e garante o seu poder.
Com efeito, como asseveram Luiz Eduardo Soares
9
et al,
quanto mais organizada a instituio, mais varejista a corrupo;
quanto menos organizada a instituio, mais centralizada e organizada a
corrupo. Desse modo, o real poder invisvel se assenhora melhor das
corporaes policiais pouco organizadas. Em conseqncia, qualquer
tentativa de otimizao e de implementao de melhorias na gesto
organizacional da segurana pblica rapidamente sabotada por tais
setores, que agem s escondidas. Buscam, com isso, preservar os seus
espaos de poder e sua autonomia, visto que sua sobrevivncia depende
da desorganizao administrativa e do corporativismo.
Para atingir seus objetivos, o poder invisvel, incorporado s
agncias executivas de criminalizao, serve-se do vasto instrumental
de ilegalidades que compem o chamado sistema penal subterrneo.
Tal fenmeno j comea a atrair a ateno dos penalistas, conforme
demonstram essas consideraes:
Todas as agncias executivas exercem algum poder puni-
tivo margem de qualquer legalidade ou atravs de mar-
cos legais bem questionveis, mas sempre fora do poder
jurdico. Isto suscita o paradoxo de que o poder punitivo
se comporte fomentando atuaes ilcitas. Eis o paradoxo
do discurso jurdico, no dos dados das cincias polticas
ou sociais, para os quais, claro, qualquer agncia com
poder discricionrio acaba abusando dele. Este o siste-
9
SOARES, Luiz Eduardo et al. Elite da tropa. Rio de Janeiro: objetiva, 2006. p. 282.
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
318
ma penal subterrneo, que institucionaliza a pena de mor-
te (execues em processo), desaparecimentos, torturas,
seqestros, roubos, saques, trco de drogas, explorao
do jogo, da prostituio, etc.
10
Um bom exemplo deste modus operandi se observa na prtica
de determinados setores da polcia que vendem armas para tracantes.
Posteriormente, invadem as favelas para apreender as mesmas armas,
com o devido acompanhamento da imprensa, devolvendo em seguida
as armas aos tracantes mediante a cobrana de uma taxa
11
. Em tais
circunstncias, o poder invisvel encena um espetculo de ecincia
repressiva para a populao, mas sua ao tem motivao diversa da
que ostenta publicamente.
Do mesmo modo, h desvio de nalidade na ao policial
quando o poder invisvel se alia ao trco. Nessa aliana, recebe per-
centuais do lucro ilcito para, em troca, liderar operaes objetivando li-
quidar faces e quadrilhas rivais. Por vezes, se valem da simulao de
crises em reas dominadas por tais faces, a m de justicar as incur-
ses e a eliminao da concorrncia. O poder invisvel opera tambm
quando o aparato estatal utilizado, atravs de aes de inteligncia e
contra-inteligncia, para produzir dossis contra destacadas autoridades
do poder pblico, a m de preservar os espaos de poder dentro da c-
pula da segurana.
Assim, com o espao de poder garantido, tais grupos tm liber-
dade para instituir um sistema de rateio de unidades policiais, incumbin-
do os benecirios de produzirem um percentual de lucro ilcito a m
de ser rateado. Tal lucro constitudo, sobretudo, de propinas de casas
de massagem e de prostituio, clnicas clandestinas de aborto e outros
estabelecimentos ilegais. resultado tambm do transporte clandestino,
da segurana privada ilegal, do grampo telefnico ilegal das maquininhas
de vdeo-pquer, do jogo do bicho e das transaes com os tracantes
12
.
Como se observa, a inrcia do aparelho de segurana pblica ante o crime
10
ZAFFARONI, Eugnio Ral et al. Direito penal brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 1 v.
11
SOARES, Luiz Eduardo et al. Op. cit., p. 25.
12
SOARES, Luiz Eduardo et al. Op. cit., p. 117.
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
319
e a ilegalidade nem sempre fruto do comodismo e da resignao.
Paradoxalmente, quanto mais a sociedade se revolta com o cli-
ma de insegurana e cobra aes mais duras do Estado, tecendo crticas
severas contra os defensores dos direitos humanos, mais o poder invi-
svel se fortalece dentro das polcias. Da mesma forma, quanto mais
duro, violento e perigoso for o policial, maior o seu valor na oferta da
propina. Por essa razo, muitos procuram construir essa imagem, a m
de receber o devido retorno nanceiro. Tal quadro assim explicitado:
O universo dos confrontos policiais nas favelas um
mercado clandestino, regulado pelo custo do desvio de
conduta. Explico: os preos da vida e da liberdade so
inacionados quando ca menos arriscado, para o poli-
cial, matar e negociar a liberdade, isto quando caem os
custos do chamado desvio de conduta(...). H , anal,
uma ironia em tudo isso: os duros (os americanos con-
sagram uma expresso: tough on crime) tendem a susten-
tar intervenes violentas, cujo efeito a liberalizao
de atos policiais arbitrrios, visando derrocada mais r-
pida e completa dos bandidos. Contudo, o efeito perver-
so acaba sendo a inverso das expectativas, pois, como
vimos, a inao dos preos da vida e da liberdade dos
criminosos, decorrente da reduo do custo do desvio
de conduta policial, funciona como forte atrativo que
termina por induzir muitos policiais a negociar com ban-
didos, aumentando a taxa da corrupo, cumplicidade e
impunidade
13
.
No mesmo sentido, lecionam Zaffaroni
14
et al: medida
que o discurso jurdico legitima o poder punitivo discricionrio e, por
conseguinte, nega-se a realizar qualquer esforo em limit-lo, ele est
ampliando o espao para o exerccio de poder punitivo pelos sistemas
penais subterrneos. Como todo e qualquer poder, tambm o poder in-
visvel necessita de mecanismos de conteno e de controle. Esses me-
13
SOARES, Luiz Eduardo et al. Op. cit., p. 34.
14
ZAFFARONI et al. Op. cit., p. 70.
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
320
canismos, mesmo que no consigam debelar esse poder por completo,
ao menos conseguem limitar seu espao de ao. Conseguem reduzir
sua fora dentro do aparelho de segurana pblica do Estado, atravs de
estratgias de controle e da punio efetiva dos desvios de conduta.
Portanto, fundamental a adoo de uma poltica de segurana
pblica proativa, que substitua o improviso e a burocracia por um mo-
delo gerencial de administrao. necessrio que se trace um conjunto
de metas, buscando denir o planejamento adequado ao seu alcance.
Entre tais metas, devem-se incluir a democratizao e a transparncia
da atividade policial, bem como a insero de uma cultura de respeito
aos direitos humanos e aos valores democrticos no organismo policial.
Como lembra Luiz Eduardo Soares
15
, a melhor forma de combater a
desonestidade no mudando o esprito dos prossionais, tarefa irrea-
lizvel, mas alterando os procedimentos e mecanismos do seu trabalho
cotidiano.
5. Consideraes nais
Como se procurou demonstrar neste trabalho, o direito difuso
a uma segurana pblica de qualidade j est maturado no plano nor-
mativo, sendo elevado ao status constitucional no ordenamento jurdico
brasileiro. Entretanto, no plano ftico, tal direito sofre um dcit de
eccia, haja vista a alta percepo de insegurana da sociedade e o
elevado ndice de violncia.
Dentre os diversos fatores que convergem para a fragilidade da
segurana pblica ofertada pelo Estado brasileiro, no se pode deixar de
considerar a ao do poder invisvel. Trata-se de uma instncia decis-
ria oculta, que age para manter o quadro burocratizado e ineciente dos
aparelhos de segurana. Seu principal objetivo alcanar privilgios
econmicos e polticos, mediante o sacrifcio dos valores e princpios
constitucionais. Como resultado, a sociedade brasileira recebe a pres-
15
SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general: quinhentos dias no front da segurana pblica do Rio
de Janeiro. So Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 375.
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
321
tao de um servio de segurana que sacrica diuturnamente os mais
elementares direitos fundamentais do cidado sem que, contudo, consi-
ga dar eccia ao direito difuso a uma segurana pblica de qualidade.
A eliminao da chamada banda podre da polcia, como pro-
messa no cumprida da democracia brasileira, s ser possvel atravs
do fortalecimento dos mecanismos de controle dos organismos poli-
ciais, seja no mbito interno, com o aparelhamento e a adequada estru-
turao e composio das corregedorias, seja no mbito externo, com o
fortalecimento de tais atividades no mbito do Ministrio Pblico e das
ouvidorias de polcia. Ademais, preciso que o Estado adote estratgias
gerenciais, no sentido de organizar e dar mais transparncia ao trabalho
policial, mudando radicalmente as rotinas administrativas e os procedi-
mentos operacionais das delegacias e dos batalhes.
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Referncias bibliogrcas
ALMEIDA, Geivan de. O crime nosso de cada dia. Rio de Janeiro:
Impetus, 2004.
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 8. ed. So Paulo: Paz e
terra, 2000.
_________________. A era dos direitos. 2. ed. Rio de Janeiro: Cam-
pus, 2004.
CAVALCANTE, Lcio Mendes. Do patbulo ao calabouo: o olhar de
Focault sobre a evoluo das penas no ocidente. Joo Pessoa: Traba-
lho no publicado.
DIAS NETO, Theodomito. O modelo da nova preveno. So Paulo:
Fundao Getlio Vargas, 2005.
FOUCAULT, Michel. Histria da sexualidade I: a vontade de saber.
Rio de Janeiro: Graal, 1993.
322
O DFICIT DE EFICCIA DO DIREITO DIFUSO A UMA SEGURANA
PBLICA DE QUALIDADE E AO DO PODER INVISVEL NO BRASIL
Lcio Mendes Cavalcante
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
IPEA Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada. Radar social 2006.
Braslia, 2006. Disponvel em: < www.ipea.gov.br> Acesso em: 22 de
ago. 2006.
LEMGRUBER, Julita et. al. Quem vigia os vigias? Um estudo sobre o
controle externo das polcias no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2003.
POSI, Paula. Violncia o que d mais medo ao brasileiro. ltimo Se-
gundo. So Paulo, n. 6, 06 nov. 2006. Disponvel em: < http:// www.
ultimosegundo.ig.com.br \ materias\ brasil >. Acesso em: 21 fev. 2007.
SOARES, Luiz Eduardo. Meu casaco de general: quinhentos dias no
front da segurana pblica do Rio de Janeiro. So Paulo: Companhia
das Letras, 2000.
SOARES, Luiz Eduardo et al. Elite da tropa. Rio de Janeiro: Objetiva,
2006.
ZAFFARONI, Eugnio Ral et al. Direito penal brasileiro. 2. ed. Rio
de Janeiro: Revan, 2003. 1 v.
323 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
A questo em torno da eccia dos direitos sociais fundamentais
do homem, sem dvida, constitui-se em um dos temas mais intrigantes
do direito constitucional. Muito j se escreveu sobre a natureza jurdica
de tais direitos. Porm, pelo que se percebe da doutrina e da jurisprudn-
cia, o seu campo de abrangncia aparenta ser inesgotvel. Apesar disso,
possvel a anlise do desenvolvimento da aplicabilidade dos direitos
sociais, principalmente no campo prtico. Com efeito, tais direitos se ca-
racterizam como prestaes positivas proporcionadas pelo Estado, direta
ou indiretamente, possibilitando aos administrados melhores condies
de vida, destinando-se a equiparar situaes socialmente desiguais. Situ-
am-se como requisitos da fruio dos direitos individuais, criando condi-
es materiais prprias concretizao da real isonomia entre os homens.
Conceituando os direitos sociais, Uadi Lammgo Bulos
1
ressalta:
So aqueles que sobrelevam a esfera do particular, para
alcanar o todo, numa viso de generalidade e conjunto.
A sua compreenso deui com pujana e intensidade
sempre que for confrontado um interesse individual
com um metaindividual, e vice-versa. Por isso, funcio-
nam como ldimas liberdades ou prestaes positivas,
vertidas em normas de cunho constitucional.
Apesar da evoluo dos estudos a respeito da eccia dos
direitos sociais, h setores do constitucionalismo, inspirados na dou-
1
BULOS, Uadi Lammgo. Constituio Federal anotada. So Paulo: Saraiva, 2005. p. 419-420.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
Advogado
324
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
trina norte-americana, que recusam a idia de sua fundamentalidade.
Ou, quando a admitem, qualicam esses direitos como programticos,
sendo mera declarao de intenes para o futuro. inegvel que os
direitos fundamentais do homem abarcam os direitos sociais. Portanto,
revestem-se de estatura constitucional, qualicados pelo valor trans-
cendental da dignidade da pessoa humana. Sob essa tica, salutar a
produo doutrinria que exalte a eccia dos direitos sociais, como
forma de combate s ideologias mais recalcitrantes.
2. Crtica programaticidade dos direitos sociais
Como j referido, existem aqueles que reputam as normas
constitucionais consagradoras dos direitos sociais como programticas,
simples documentos de intenes do Estado. Ora, no Estado Democr-
tico de Direito, as garantias aprovadas pelo constituinte no podem ser
relegadas a uma conceituao puramente projetista, como promessas
para o futuro, a serem regulamentadas pelo legislador infraconstitucio-
nal. Muito pelo contrrio, os direitos prestacionais impem uma ver-
dadeira vinculao direta dos poderes institudos, incluindo, por certo,
o Judicirio que, diante dos casos prticos, deve valoriz-los. Nesse
sentido, enfatiza Andr Ramos Tavares
2
:
H uma tomada de conscincia no sentido de que as
normas programticas no so implementadas por fora
de decises essencialmente polticas. Se certo que se
reconhece o direito discricionariedade administrativa,
bem como convenincia e oportunidade de praticar de-
terminados atos, no se pode tolerar o abuso de direito
que se tem instalado na atividade desempenhada pelos
responsveis por implementar as chamadas normas pro-
gramticas. Aps diversos anos de vigncia da Constitui-
o, ca-se estarrecido com o desprezo com que foram
premiados determinados comandos constitucionais, com
2
TAVARES, Andr Ramos. Curso de direito constitucional. So Paulo: Saraiva, 2002. p. 84-85.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
325 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
toda uma doutrina formalista a servio da desconsidera-
o de sua normatividade plena. Cegamente repetitivos
de teorias formuladas de h muito, em contexto comple-
tamente diverso do atual, os responsveis pela imple-
mentao concreta da Constituio tm-lhe podado as
vontades reais sob o argumento, j desbotado pelo uso
recorrente, da mera programaticidade
Ainda que os direitos sociais estejam situados no universo
das denominadas normas programticas, o Estado no pode, sob pena
de desrespeito Lei Maior, apoiar-se na ultrapassada justicativa da
discricionariedade administrativa. Em muitos casos, trata-se de me-
dida demonstradora de explcita abusividade governamental, para
deixar de efetivar polticas pblicas voltadas sade, moradia,
assistncia social, educao e ao lazer. Essa omisso ocorre essen-
cialmente quando se tem em linha de considerao que os direitos so-
ciais so inequivocamente autnticos direitos fundamentais, imediata-
mente aplicveis, nos termos do art. 5, 1, da Constituio Federal
de 1988. Desse modo, as garantias em tela, ainda que se reconhea,
em algum instante, a sua baixa densidade normativa ao nvel da Carta
Magna, sempre estaro aptas a gerar um mnimo de efeitos jurdicos.
So, de algum modo, aplicveis, porquanto inexiste norma constitu-
cional destituda de eccia jurdica.
Nesse sentido, emblemtica a deciso da 1 Turma do Su-
perior Tribunal de Justia, quando do julgamento do Recurso Espe-
cial n 684646/RS, reconhecendo pessoa portadora do vrus HIV
o direito sade. O acrdo estabelece explicitamente o dever do
Estado quanto tomada de providncias voltadas proteo da dig-
nidade da pessoa humana:
O Sistema nico de Sade - SUS visa integralidade
da assistncia sade, seja individual ou coletiva, de-
vendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau
de complexidade, de modo que, restando comprovado o
acometimento do indivduo ou de um grupo por deter-
minada molstia, necessitando de determinado medica-
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
326
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
mento para debel-la, este deve ser fornecido, de modo a
atender ao princpio maior, que a garantia vida digna.
Congurada a necessidade do recorrente de ver atendida
a sua pretenso, posto legtima e constitucionalmente ga-
rantida, uma vez assegurado o direito sade e, em lti-
ma instncia, vida. A sade, como de sabena, direito
de todos e dever do Estado. Precedentes desta Corte, en-
tre eles, mutadis mutandis, o agravo regimental na sus-
penso de tutela antecipada n 83MG, Relator Ministro
dson Vidigal, Corte Especial, DJ de 06.12.2004:
1. Consoante expressa determinao constitucional,
dever do Estado garantir, mediante a implantao de po-
lticas sociais e econmicas, o acesso universal e igualit-
rio sade, bem como os servios e medidas necessrios
sua promoo, proteo e recuperao (CF88, art. 196).
2. O no preenchimento de mera formalidade no caso,
incluso de medicamento em lista prvia no pode, por
si s, obstaculizar o fornecimento gratuito de medica-
o a portador de molstia gravssima, se comprovada
a respectiva necessidade e receitada, aquela, por mdico
para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3.Con-
cedida tutela antecipada no sentido de, considerando a
gravidade da doena enfocada, impor, ao Estado, apenas
o cumprimento de obrigao que a prpria Constituio
Federal lhe reserva, no se evidencia plausvel a alegao
de que o cumprimento da deciso poderia inviabilizar a
execuo dos servios pblicos.
Ademais, o STF sedimentou esse entendimento: Pacien-
te com HIVAIDS. Pessoa destituda de recursos nan-
ceiros. Direito vida e sade. Fornecimento gratuito
de medicamentos. Dever constitucional do poder pblico
(CF, arts. 5, caput, e 196). Precedentes (STF). Recurso
de agravo improvido. O direito sade representa conse-
qncia constitucional indissocivel do direito vida. O
direito pblico subjetivo sade representa prerrogativa
jurdica indisponvel assegurada generalidade das pes-
soas pela prpria Constituio da Repblica (art. 196).
Traduz bem jurdico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsvel, o
poder pblico, a quem incumbe formular - e implementar
- polticas sociais e econmicas idneas que visem a ga-
rantir aos cidados, inclusive queles portadores do vrus
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
327 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
HIV, o acesso universal e igualitrio assistncia farma-
cutica e mdico-hospitalar. O direito sade - alm de
qualicar-se como direito fundamental que assiste a to-
das as pessoas - representa conseqncia constitucional
indissocivel do direito vida. O poder pblico, qualquer
que seja a esfera institucional de sua atuao no plano
da organizao federativa brasileira, no pode mostrar-se
indiferente ao problema da sade da populao, sob pena
de incidir, ainda que por censurvel omisso, em grave
comportamento inconstitucional. A interpretao da nor-
ma programtica no pode transform-la em promessa
constitucional inconseqente.
O carter programtico da regra inscrita no art. 196 da
Carta Poltica - que tem por destinatrios todos os entes
polticos que compem, no plano institucional, a orga-
nizao federativa do Estado brasileiro - no pode con-
verter-se em promessa constitucional inconseqente, sob
pena de o poder pblico, fraudando justas expectativas
nele depositadas pela coletividade, substituir, de manei-
ra ilegtima, o cumprimento de seu impostergvel dever,
por um gesto irresponsvel de indelidade governamen-
tal ao que determina a prpria Lei Fundamental do Esta-
do. Distribuio gratuita de medicamentos a pessoas ca-
rentes. O reconhecimento judicial da validade jurdica
de programas de distribuio gratuita de medicamentos
a pessoas carentes, inclusive quelas portadoras do v-
rus HIVAIDS, d efetividade a preceitos fundamentais
da Constituio da Repblica (arts. 5, caput, e 196) e
representa, na concreo do seu alcance, um gesto reve-
rente e solidrio de apreo vida e sade das pessoas,
especialmente daquelas que nada tm e nada possuem,
a no ser a conscincia de sua prpria humanidade e
de sua essencial dignidade. Precedentes do STF (RE
271286 AgRRS, relator Min. Celso de Mello, 2 Tur-
ma, DJ de 24.11.2000). Recursos especiais desprovi-
dos. (Relator: Ministro Luiz Fux, publicado no DJU em
30/05/2005, p. 247).
Os tribunais brasileiros operaram uma verdadeira guinada no
trato da matria, impingindo uma maior efetividade aos direitos sociais.
Sobre a matria, o STJ decidiu:
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
328
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Constitucional. Administativo. Mandado de segurana.
Direito lquido e certo. Inexistncia. Direito lquido e
certo, para efeito de concesso de segurana, aquele
reconhecvel de plano e decorrente de lei expressa ou
de preceito constitucional, que atribua ao impetrante um
direito subjetivo prprio. Normas constitucionais mera-
mente programticas ad exemplum, o direito sade
protegem um interesse geral. Todavia, no conferem
aos benecirios desse interesse o poder de exigir sua
satisfao pela via do mandamus eis que no deli-
mitado o seu objeto, nem xada a sua extenso, antes
que o legislador exera o mnus de complet-las atravs
da legislao integrativa. Essas normas (arts. 195, 196,
204 e 227 da CF) so de eccia limitada, ou, em outras
palavras, no tm fora suciente para desenvolver-se
integralmente, ou no dispem de eccia plena, posto
que dependem, para ter incidncia sobre os interesses tu-
telados, de legislao complementar.
Na regra jurdico-constitucional que dispe todos tm
direito e o Estado o dever dever de sade - como aan-
am os constitucionalistas, na realidade no tm direi-
to, porque a relao jurdica entre o cidado e o Estado
devedor no se fundamenta em vinculum juris gerador
de obrigaes, pelo que falta ao cidado o direito sub-
jetivo pblico, oponvel ao Estado, de exigir em juzo,
as prestaes prometidas a que o Estado se obriga por
proposio inecaz dos constituintes. No sistema jur-
dico ptrio, a nenhum rgo ou autoridade permitido
realizar despesas sem a devida previso oramentria,
sob pena de incorrer no desvio de verbas. Recurso a que
se nega provimento. Deciso indiscrepante. Por unanimi-
dade, negar provimento ao recurso (Recurso ordinrio
em mandado de segurana n 6564/RS, 1 Turma, Rela-
tor: Ministro Demcrito Reinaldo, DJU de 17/06/1996,
p. 21448).
Diante da evoluo da jurisprudncia ptria, a formulao vaga
e a natureza aberta de algumas normas constitucionais proclamadoras
de direitos sociais no possuem o condo de, por si s, obstar a sua ime-
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
329 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
diata e plena eccia. Assim, constitui tarefa dos tribunais e juzes a de-
terminao do contedo dos preceitos normativos, por ocasio de suas
aplicaes s situaes concretas. Mesmo diante da aparente impreci-
so dos comandos consagradores dos direitos sociais, possvel o re-
conhecimento de um signicado central e incontroverso, de um ncleo
tradutor da inteno do constituinte, autorizando a incidncia da norma,
mesmo sem a interposio legislativa ordinria. Do contrrio, estar-se-
ia dando maior nfase lei do que ao prprio Estatuto Supremo.
Atente-se, ademais, que o magistrado, cnscio de seu papel so-
cial transformador, no deve hesitar frente imediata e direta aplicao
da regra denidora de um direito social. Uma deciso bem fundamenta-
da, proferida por um rgo independente e compromissado com a justi-
a e a democracia, no leito processual adequado, com a observncia do
devido processo legal, nos limites da competncia traada pela prpria
Constituio da Repblica, sem dvida, innitamente mais genuna
do que as interpretaes descuidadas, efetuadas ao sabor das conveni-
ncias de momento.
Nesse aspecto, o julgador o criador da lei para o caso con-
creto, ante uma norma constitucional instituidora de um direito social.
Esta, para a doutrina emergente, possui eccia, contrariando os pensa-
mentos mais arcaicos. Deve, assim, o julgador encontrar mecanismos
para tornar essa norma exeqvel, no se negando a cumprir os precei-
tos constitucionais sob o plido argumento da inexistncia de legislao
integradora dispondo sobre a matria. Alm disso, no contexto acima
referido, torna-se perfeitamente adaptvel o art. 126 do Cdigo de Pro-
cesso Civil, c/c o art. 4 da Lei de Introduo ao Cdigo Civil.
A verdade que os direitos sociais, de base constitucional, a
exemplo da sade e da assistncia social, devem ser assegurados. So
direitos profundamente vinculados dignidade da pessoa humana, que
um dos fundamentos da Repblica Federativa do Brasil (art. 1, in-
ciso III, da Carta Magna). Tal postulado impe-se como ncleo bsico
e informador do ordenamento jurdico brasileiro, como parmetro de
valorao a orientar a interpretao e compreenso do sistema consti-
tucional instaurado em 1988. A dignidade humana e os direitos funda-
mentais vm a constituir os princpios constitucionais que incorporam
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
330
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
as exigncias de justia e dos valores ticos, conferindo suporte axiol-
gico a todo o sistema de leis.
3. A problemtica da chamada reserva do possvel na efetivao
dos direitos sociais
Quando se tem em mente a efetivao dos direitos sociais, e
por serem tais direitos objeto de prestaes positivas a cargo do Estado
em favor dos administrados, aponta-se para a sua dimenso economica-
mente relevante. Nessa direo, leciona Ingo Sarlet
3
:
O custo com os direitos sociais assume especial relevn-
cia no mbito de sua eccia e efetivao, signicando,
pelo menos para signicativa parcela da doutrina, que a
efetiva realizao das prestaes reclamadas no pos-
svel sem que se despenda algum recurso, dependendo,
em ltima anlise, da conjuntura econmica, j que aqui
est em causa a possibilidade de os rgos jurisdicionais
imporem ao poder pblico a satisfao das prestaes re-
clamadas.
O poder pblico em geral, quando convocado em juzo, por
meio de demanda cujo objeto circunde em torno da implementao de
algum direito social, habitualmente justica a sua letargia com apoio na
chamada reserva do possvel. Assim, o Estado sempre procura, em
vrios casos, vincular a corporicao das polticas pblicas com as
dotaes oramentrias, acarretando, no plano prtico, um verdadeiro
desrespeito Carta Federal. O desacato Lex Legum pode ocorrer me-
diante ao estatal ou por meio da inrcia governamental. Se o Estado
deixa de adotar medidas necessrias realizao dos comandos cons-
titucionais, de modo a torn-los efetivos, operantes e exeqveis, abs-
tendo-se, em conseqncia, de cumprir o dever de prestao, incide em
3
SARLET, Ingo Wolfgang. A eccia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2005. p. 287-288.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
331 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
violao negativa do Texto Maior. Veja-se, a respeito, o entendimento
do Ministro Celso de Mello:
A omisso do Estado que deixa de cumprir, em maior ou
em menor extenso, a imposio ditada pelo texto cons-
titucional qualica-se como comportamento revestido
da maior gravidade poltico-jurdica, eis que, mediante
inrcia, o poder pblico tambm desrespeita a Constitui-
o, tambm ofende direitos que nela se fundam e tam-
bm impede, por ausncia de medidas concretizadoras, a
prpria aplicabilidade dos postulados e princpios da Lei
Fundamental (RTJ 185/794-796).
E assim, por meio de deciso monocrtica na argio de des-
cumprimento de preceito fundamental n 45/DF, com a habitual sabedo-
ria que lhe peculiar, o Ministro ncou bases slidas para a vericao
da legitimidade da tese da reserva do possvel, freqentemente suscita-
da pelos diversos setores do poder pblico. Acentua o nobre julgador:
Cumpre advertir, desse modo, que a clusula da reser-
va do possvel ressalvada a ocorrncia de justo moti-
vo objetivamente afervel no pode ser invocada pelo
Estado, com nalidade de exonerar-se do cumprimento
de suas obrigaes constitucionais, notadamente quan-
do, dessa conduta governamental negativa, puder resul-
tar nulicao ou, at mesmo, aniquilao dos direitos
constitucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade (...). A limitao de recursos existe e
uma contingncia que no se pode ignorar. O intrprete
dever lev-la em conta ao armar que algum bem pode
ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao
determinar o seu fornecimento pelo Estado. Por outro
lado, no se pode esquecer que a nalidade do Estado ao
obter recursos, para, em seguida, gast-los sob a forma de
obras, prestao de servios, ou qualquer outra poltica
pblica, exatamente realizar os objetivos fundamentais
da Constituio.
A meta central das constituies modernas, e da Carta
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
332
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
de 1988 em particular, pode ser resumida, como j ex-
posto, na promoo do bem-estar do homem, cujo ponto
de partida est em assegurar as condies de sua prpria
dignidade, que inclui, alm da proteo dos direitos indi-
viduais, condies materiais mnimas de existncia. Ao
apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o m-
nimo existencial), estar-se-o estabelecendo exatamente
os alvos prioritrios dos gastos pblicos. Apenas depois
de atingi-los que se poder discutir, relativamente aos
recursos remanescentes, em que outros projetos se deve-
r investir. O mnimo existencial, como se v, associado
ao estabelecimento de prioridades oramentrias, capaz
de conviver produtivamente com a reserva do possvel
(DJU de 04/05/2004, p. 00012).
Prosseguindo em sua brilhante fundamentao, o Ministro
estabelece uma frmula para a anlise da pretenso deduzida em ju-
zo diante da disponibilidade oramentria estatal: razoabilidade da
pretenso individual/social proposta em face do poder pblico + exis-
tncia de disponibilidade nanceira do Estado para tornar efetivas as
prestaes positivas dele reclamadas. Acrescenta que os elementos
componentes do mencionado binmio (razoabilidade + disponibili-
dade nanceira do Estado) devem congurar-se de modo armativo
e em situao de cumulativa ocorrncia. Ausente qualquer um deles,
descaracterizar-se- a possibilidade estatal de realizao prtica de
tais direitos.
Demais disso, ainda que o planejamento e a execuo das po-
lticas pblicas dependam de aes polticas a cargo dos agentes eleitos
pelo povo, foroso o reconhecimento de que no se mostra absoluta e
intocvel, nesse domnio, a liberdade de conformao do Legislativo e
do Executivo. Por certo, se os sobreditos poderes estatais se comporta-
rem de modo irrazovel e desproporcional ou procederem de maneira a
neutralizar a eccia dos direitos sociais prestacionais, afetando nega-
tivamente o ncleo consubstanciador da dignidade da pessoa humana
(nvel vital mnimo), a, ento, justicar-se- a plena interveno do
Judicirio, viabilizando a todos o acesso aos bens cuja fruio lhes haja
sido injustamente recusada pelo Estado.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
333 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Em princpio, o Poder Judicirio no deve intrometer-se em
mbito reservado a outra esfera de poder para substitu-lo em juzos de
convenincia e oportunidade, no objetivo de controlar as opes legis-
lativas e administrativas de organizao e prestao. Mas sua atuao
pode ocorrer, excepcionalmente, quando haja uma violao evidente e
arbitrria da incumbncia constitucional.
No ngulo versado, preciso superar a viso arcaica do direi-
to e a conseqente efetivao dos direitos fundamentais, assegurados
no Estado Democrtico, ligados necessariamente ao fortalecimento
do Poder Judicirio. Assim, mostra-se cada vez mais conveniente a re-
viso do vetusto dogma da separao dos poderes em relao ao con-
trole dos gastos pblicos e da disponibilizao dos servios bsicos. O
Legislativo e o Executivo, no Brasil, mostraram-se impossibilitados
de assegurar uma observncia racional dos preceitos constitucionais
estabelecedores do patrimnio mnimo do cidado, legtimo destina-
trio dos direitos prestacionais. Essa impossibilidade analisada por
Celso Antnio B. de Mello
4
:
Para ter-se como liso o ato, no basta que o agente alegue
que operou no exerccio da discrio, isto , dentro do campo
de alternativas que a lei lhe abria. O juiz poder, a instncias
da parte e em face da argumentao por ela desenvolvida,
vericar, em exame de razoabilidade, se o comportamento
administrativamente adotado, inobstante contido dentro das
possibilidades em abstrato abertas pela lei, revelou-se, in
concreto, respeitoso das circunstncias do caso e deferente
para com a nalidade da norma aplicada. Em conseqncia
desta avaliao, o Judicirio poder concluir, em despeito
de estar em pauta providncia tomada com apoio em regra
outorgadora de discrio, que, naquele caso especco sub-
metido a seu crivo, toda evidncia a providncia tomada
era incabvel, dadas as circunstncias presentes e a nalida-
de que animava a lei invocada.
necessrio ter em mente que um direito social sob reserva
4
MELLO, Celso Antnio Bandeira de. Curso de direito administrativo. So Paulo: Malheiros, 2005. p.
887.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
334
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
dos cofres cheios equivale, na prtica, a nenhuma vinculao jurdica. As
garantias sociais consagradas em normas da Constituio dispem de vin-
culatividade normativo-constitucional. Portanto, os seus comandos devem
servir de parmetro de controle judicial quando esteja em causa a aprecia-
o da constitucionalidade de medidas legais ou regulamentares restritivas
desses direitos. As regras de legislar acopladas consagrao de direitos
sociais so autnticas imposies legiferantes, cujo no cumprimento po-
der justicar, como j referido, a inconstitucionalidade por omisso. As
tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretizao dos
direitos em foco devem traduzir-se na edio de providncias concretas
e determinadas e no em promessas vagas e abstratas. De mais a mais,
o princpio da proporcionalidade, na vertente do interesse preponderante,
emerge como ferramenta propcia para abrandar os efeitos da clusula da
reserva do possvel, conforme se observa no seguinte julgado:
Ao civil pblica. Administrativo e constitucional. Di-
reito sade. Portadores da doena de Gaucher. Medi-
camento importado. Tratamento de responsabilidade do
Estado. interrupo. Princpios da reserva do possvel e
da dignidade da pessoa humana. Conito. Ponderao de
interesses e razoabilidade. Poder Judicirio e controle de
legitimidade dos atos administrativos.
I O Hemorio o hospital de referncia no Estado do
Rio de Janeiro para os portadores do mal de Gaucher,
fornecendo aos pacientes cadastrados o tratamento da
doena, cujo nico medicamento ecaz Cerezyme de
custo elevado, produzido exclusivamente por um fabri-
cante dos EUA e importado pela Secretaria de Estado de
Sade.
II No tendo a Administrao adquirido o medicamen-
to em tempo hbil a dar continuidade ao tratamento dos
pacientes, atuou de forma ilegtima, violando o direito
sade daqueles pacientes, o que autoriza a ingerncia do
Poder Judicirio. Inexistncia de afronta independncia
de poderes.
III Os atos da Administrao Pblica que importem em
gastos esto sujeitos reserva do possvel, consoante pre-
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
335 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
viso legal oramentria. Por outro lado, a interrupo do
tratamento de sade aos portadores do mal de Gaucher
importa em violao da prpria dignidade da pessoa hu-
mana. Princpios em conito cuja soluo dada luz da
ponderao de interesses, permeada pelo princpio da ra-
zoabilidade, no sentido de determinar que a Administra-
o mantenha sempre em estoque quantidade do medica-
mento suciente para garantir dois meses de tratamento
aos que dele necessitem.
IV Recurso e remessa ocial desprovidos. (TRF 2
Regio, AC n 302546, Processo: 199851010289605/RJ,
4 Turma, DJU de 04/11/2003, Relator: Juiz Valmir Pe-
anha).
4. O Ministrio Pblico e a proteo de interesses individuais
indisponveis
Julgando o caso envolvendo o ajuizamento de ao civil pbli-
ca pelo Ministrio Pblico para obrigar o Estado do Rio Grande do Sul
a fornecer o medicamento Riboavina 100 mg, a uma criana carente,
a 2 Turma do STJ rmou o seguinte entendimento:
A Constituio Federal dispe que incumbe ao Minist-
rio Pblico a defesa dos interesses sociais e individuais
indisponveis, e que tem como funes institucionais
promover a ao civil pblica, para a proteo de interes-
ses difusos e coletivos (artigos 127 e 129, II). Por outro
lado, o artigo 25 da Lei n 8.62593 determina que cabe
ao Ministrio Pblico promover a ao civil pblica para
a proteo, preveno e reparao dos danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de va-
lor artstico, esttico, histrico, turstico e paisagstico, e
a outros interesses difusos, coletivos e individuais indis-
ponveis e homogneos. In casu, contudo, mostra-se ina-
fastvel a ilegitimidade do Ministrio Pblico Estadual
para propor a ao civil pblica, uma vez que no se trata
de defesa de interesses coletivos ou difusos, transindivi-
duais e indivisveis, tampouco de direitos individuais in-
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
336
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
disponveis e homogneos, mas sim de direito individual
de menor ao recebimento de medicamento.
Destacou o Ministro Franciulli Netto, relator do Recurso Es-
pecial n 718393/RS, julgado em 18/08/2005, que o interesse de menor
carente devia ser postulado pela Defensoria Pblica, a quem foi outor-
gada a competncia funcional para a defesa dos necessitados. Contu-
do, recentemente, no julgamento do Recurso Especial n 856194/RS, a
mesma 2 Turma do STJ evoluiu em seu posicionamento, ao decidir:
Administrativo e processual civil. Ao civil pblica.
Internao compulsria para tratamento mdico e aten-
dimento de urgncia. Menor gestante. Ameaa de abor-
to. Risco vida. Direito sade: individual e indispon-
vel. Legitimao extraordinria do Parquet. Art. 127 da
CF88. Precedentes.
1. O tema objeto do presente recurso j foi enfrentado
pelas Turmas de Direito Pblico deste Tribunal. O en-
tendimento esposado de que o Ministrio Pblico tem
legitimidade para defesa dos direitos individuais indispo-
nveis, mesmo quando a ao vise tutela de pessoa indi-
vidualmente considerada (art. 127, CF88). Precedentes.
2. Nessa esteira de entendimento, na hiptese dos autos,
em que a ao visa a garantir o tratamento, em carter de
urgncia, menor gestante, h de ser mantido o acrdo a
quo que reconheceu a legitimao do Ministrio Pblico,
a m de garantir a tutela dos direitos individuais indis-
ponveis sade e vida. Recurso especial improvido
(julgado em 12/09/2006).
A 1 Turma, por seu turno, assim decidiu:
Processual civil e constitucional. Ao civil pblica. Le-
gitimidade ativa do Ministrio Pblico. Fornecimento de
medicamento pelo Estado pessoa idosa hipossuciente,
portadora de doena grave. Obrigatoriedade. Afastamen-
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
337 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
to das delimitaes. Proteo a direitos fundamentais.
Direito vida e sade. Dever constitucional. Arts. 5,
caput, 6, 196 e 227 da CF1988. Precedentes desta Corte
Superior e do colendo STF.
1. Recurso especial contra acrdo que extinguiu o pro-
cesso, sem julgamento do mrito, em face da ilegitimida-
de ativa do Ministrio Pblico do Estado do Rio Grande
do Sul, o qual ajuizou ao civil pblica objetivando a
proteo de interesses individuais indisponveis (direito
vida e sade de pessoa idosa hipossuciente), com
pedido liminar para fornecimento de medicamentos por
parte do Estado.
2. Os arts. 196 e 227 da CF88 inibem a omisso do ente
pblico (Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios)
em garantir o efetivo tratamento mdico a pessoa neces-
sitada, inclusive com o fornecimento, se necessrio, de
medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja
medida, no caso dos autos, impe-se de modo imediato,
em face da urgncia e conseqncias que possam acarre-
tar a no-realizao.
3. Constitui funo institucional e nobre do Ministrio
Pblico buscar a entrega da prestao jurisdicional para
obrigar o Estado a fornecer medicamento essencial
sade de pessoa carente, especialmente quando sofre de
doena grave que se no for tratada poder causar, pre-
maturamente, a sua morte.
4. O Estado, ao se negar a proteo perseguida nas cir-
cunstncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito
fundamental sade, humilha a cidadania, descumpre
o seu dever constitucional e ostenta prtica violenta de
atentado dignidade humana e vida. totalitrio e in-
sensvel.
5. Pela peculiaridade do caso e, em face da sua urgncia,
h que se afastarem delimitaes na efetivao da medi-
da scio-protetiva pleiteada, no padecendo de qualquer
ilegalidade a deciso que ordena que a Administrao
Pblica d continuidade a tratamento mdico.
6. Legitimidade ativa do Ministrio Pblico para pro-
por ao civil pblica em defesa de direito indisponvel,
como o direito sade, em benefcio de pessoa pobre.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
338
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
7. Precedentes desta Corte Superior e do colendo STF.
8. Recurso especial provido para, reconhecendo a legitimidade
do Ministrio Pblico para a presente ao, determinar o re-
envio dos autos ao Tribunal a quo, a m de que se pronuncie
quanto ao mrito (STJ, Recurso Especial 837591/RS, relator:
Ministro Jos Delgado, 1 Turma, julgado em 17/08/2006).
Prevalece no STJ, destarte, a tese de que o Ministrio Pblico,
conquanto busque tutelar um interesse individual, possui legitimidade
para intentar ao civil pblica tendente a garantir ao hipossuciente
o fornecimento de medicao, protegendo o direito social sade. O
art. 127 da Norma Maior atribui ao Parquet a defesa da ordem jurdica,
do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais indispo-
nveis. Expressa o dispositivo constitucional notvel avano histrico,
consolidando o Ministrio Pblico como rgo de defesa e garantia dos
interesses maiores, na busca da justia e da paz social, por meio da efe-
tivao da ordem jurdica lcita.
Nessa hiptese de substituio processual (defesa, em juzo,
de interesses individuais, mas que tm natureza indisponvel), excep-
ciona-se a regra do art. 6 do CPC. Aqui o MP atua no sentido de pre-
servar um interesse pessoal e particular, mas cuja defesa necessria
preservao da ordem jurdica justa e equilibrada. H um interesse
privado que se agura como relevante manuteno dos princpios de
igualdade perante a Constituio Federal de 1988. Portanto, andou bem
a Corte Superior de Justia quando passou a aceitar a legitimidade ativa
ad causam do Ministrio Pblico para a promoo de ao civil pblica
tendente a assegurar aos necessitados a fruio de bens aptos con-
cretizao do direito sade e vida. Ensejou, com isso, uma maior
eccia dos direitos sociais prestacionais, especialmente pelo fato de
a Constituio da Repblica no ter excepcionado, em seu art. 127, os
interesses individuais no-homogneos.
Nesse passo, deve ser garantida a utilizao dos instrumentos
processuais, a exemplo da ao civil pblica promovida pelo MP. Bus-
ca-se, desse modo, aumentar o leque de opes de remdios jurdicos
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
339 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
voltados proteo das liberdades individuais e coletivas, objetivando
coibir abusos e violaes aos direitos inerentes dignidade e existncia
humana (art. 1, III, da CF). Negar legitimidade ao Parquet, alm de
aniquilar o prprio direito constitucional, negar o direito processual
vigente a servio da pessoa humana, esta sim real destinatria dos be-
nefcios dispostos na Carta Mxima.
5. Consideraes nais
vista de todo o exposto, e diante da prpria evoluo juris-
prudencial e doutrinria a respeito da efetividade dos direitos sociais
prestacionais, percebe-se a sua ntima correlao com o princpio da
dignidade da pessoa humana (mnimo existencial). Assim, deve-se exi-
gir do Estado um comportamento ativo na promoo de polticas pbli-
cas destinadas, por exemplo, ao direito sade, educao, moradia
etc. Emerge como imprescindvel uma releitura da reserva do possvel
como fator impeditivo implementao de condies razoveis de vi-
vncia.
atribuio do Poder Judicirio a scalizao da veracidade
e equilbrio das justicativas apresentadas pelo Estado para se eximir
de seu dever constitucional. Com base, em essncia, na promoo do
bem comum e no bem-estar de todos, recai sobre o Ministrio Pblico
a prerrogativa de manejar o instrumento da ao civil pblica para a
proteo e garantia do uso e gozo dos interesses individuais indispon-
veis. Esse conceito, sem dvida nenhuma, situa-se na rbita dos direitos
sociais, no importando se homogneos ou no, mormente diante da
inteligncia do art. 127 da Lei Maior e da evoluo da jurisprudncia
do Superior Tribunal de Justia em torno da matria.
imperioso o afastamento, em nosso ordenamento jurdico,
do fascnio exacerbado pelos trmites legais e burocrticos, a ponto de
se adaptar a Constituio, verdadeira religio do Estado, s regras
inferiores. Em face da supremacia constitucional, os aplicadores do di-
reito no podem continuar a enxergar o novo com os olhos do velho.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
340
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
6. Referncias bibliogrcas
BULOS, Uadi Lammgo. Constituio Federal anotada. So Paulo:
Saraiva, 2005.
FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurdico do patrimnio mnimo. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006.
MACHADO, Carlos Augusto Alcntara. Direito constitucional. So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
MELLO, Celso Antnio Bandeira de. Curso de direito administrativo.
So Paulo: Malheiros, 2005.
MORAES, Alexandre de. Constituio do Brasil interpretada e legisla-
o constitucional. So Paulo: Atlas, 2002.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eccia dos direitos fundamentais. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
SILVA, Jos Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. So
Paulo: Malheiros, 2001.
TAVARES, Andr Ramos. Curso de direito constitucional. So Paulo:
Saraiva, 2002.
O AMADURECIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS
PRESTACIONAIS NO CENRIO JURDICO BRASILEIRO
Luciano Flix de Medeiros Gomes
341 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
No ordenamento jurdico ptrio, tanto a estrutura quanto a tc-
nica utilizadas na aplicao dos princpios gerais aos diversos ramos do
direito substancial, sobretudo no mbito contratual, tm sido orienta-
das pelas inclinaes das atuais legislaes ocidentais. Nesse aspecto,
o contedo trazido pelos arts. 421 a 424 do novo Cdigo Civil, onde
restam estipuladas disposies gerais relativas ao direito contratual,
tem suscitado grandes discusses. Trata-se de normas cujo teor encer-
ra notvel limitao ao preceito da autonomia da vontade, em face do
predomnio do interesse social e dos princpios gerais da probidade,
da boa-f e da funo social do contrato. Por outro lado, essas normas
trazem expressiva considerao acerca da desigualdade entre as partes
e suas conseqncias, num contexto de confrontao entre a liberdade
de contratar e a validade jurdica do acordo.
A bem da verdade, essas clusulas representam uma tnue, po-
rm notria, transformao da mxima pacta sunt servanda. Isso por-
que, muito embora a obrigatoriedade do contrato continue sendo um
imperativo de ordem social e econmica, tem-se procurado expurgar
dos pactos as obrigaes que dicultem, ou mesmo impossibilitem, a
sua efetividade, bem como aquelas que promovam o enriquecimento
de uma das partes em detrimento da outra. Ora, o direito civil, assim
como qualquer outro ramo do direito, se delineia por meio de valores
de cunho social, jurdico e econmico, o que no o torna hostil aos
preceitos da res publica. Alis, as prescries de ordem pblica, dado o
seu carter social evolucionista, representam verdadeiros instrumentos
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A
RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL: PERSPECTIVAS
DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico da Nbrega Coutinho
Juiz de Direito no Rio Grande do Norte
Professor da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte
(ESMARN) e da UnP
342
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
transguradores dos conceitos de direito privado.
Demais disso, o novo Diploma Civil introduziu no ordena-
mento ptrio um sistema aberto de normas, de forma a fazer predominar
o exame do caso concreto na rea contratual. Numa tcnica moderna,
esse estatuto prev clusulas gerais para os contratos, no art. 420, e,
mais especicamente, no art. 421, onde faz referncia ao princpio ba-
silar da boa-f objetiva. Na realidade, a rotulao dada a essas clusulas
no expressa a perfeita idia do contedo. Como se sabe, o que caracte-
riza primordialmente esse tipo de norma no a sua generalidade (alis,
a maior parte das normas assim o ), mas o emprego de expresses ou
termos vagos, cujo contedo dirigido ao julgador, para que este tenha
apenas um norte no trabalho da interpretao. Seria, portanto, mais uma
regra genrica de hermenutica apontando para a exegese.
Outrossim, muito embora se trate de um cdigo que no pre-
tende esgotar todos os tipos de relaes civis, procurou-se manter uma
concepo lgico-sistemtica, a qual permite mais mobilidade e aber-
tura s vicissitudes da vida em coletividade. Sob essa tica que ser
analisado o princpio da boa-f contratual, o qual, distintamente do ve-
ricado no mbito dos direitos reais, assumir carter eminentemente
objetivo.
2. Algumas consideraes sobre as origens da boa-f
Para que se tenha um melhor juzo das funes e signicados
da clusula da boa-f objetiva, mister que seja realizada uma cadeia
histrica acerca da sua origem em ordenamentos jurdicos diversos.
Adotada, inicialmente, pelos romanos, na Lei das Doze Tbuas, por
meio da expresso des, a boa-f ganhou, dentro desse ordenamento,
conotaes diversas, variveis segundo o campo do direito em que era
analisada. Por exemplo, nas relaes de clientela, a des estabelecia o
dever de obedincia ao cliens, e o de proteo ao patrcio. O primeiro
vinculava-se ao segundo em funo do compromisso da palavra dada.
Formalizava-se, porquanto, o negcio jurdico por meio do instituto da
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
343 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
promessa.
Analogamente, no mbito dos contratos internacionais, a des
introduziu o instituto da garantia. Assim que Roma e Cartago, ao r-
marem o seu primeiro acordo de livre comrcio, prometeram recproca
assistncia na proteo aos interesses do mercado. Ocorre que, como no
direito romano a difuso dos negcios jurdicos se mostrava desprendi-
da de formalidades direitos e deveres eram livremente estabelecidos
segundo os valores de cada contratante , e no com base em textos
normativos, acrescentou-se ao substantivo des o adjetivo bona. A me-
dida foi tomada como forma de melhor representar a reciprocidade de
compromisso existente entre os pactuantes na denio e cumprimento
dos negcios.
Ulteriormente, quando da emergncia do direito pretoriano,
passou-se a denominar a referida clusula de bona des iudicia. Na-
quela poca, toda e qualquer ao era delimitada por uma frmula t-
pica criada pelos jurisconsultos. Eram os pretores que apreciavam os
conitos de interesses surgidos na sociedade romana, incumbindo aos
magistrados apenas a funo de condenar ou absolver, ou seja, impor
o direito j acertado pelo pretor s partes. Conseqentemente, a bona
des iudicia, em sendo um princpio geral do direito romano, eviden-
ciou-se como um meio supletivo de resoluo das questes colidentes.
S era utilizado, quando os pretores no encontravam a frmula procu-
rada na lex.
Porm, no perodo do Imprio, no se conferiu des bona
toda a amplitude da poca clssica. Por inuncia da losoa estica e
tambm por fatores de ordem social, a conotao dada ao vocbulo foi
completamente transmudada. Perdeu-se toda a congurao tcnica e
objetiva do direito pretoriano. Em conseqncia, essa clusula passou
a ser aplicada no campo dos direitos reais, sobretudo na congurao
do instituto da usucapio, com o signicado de inteno ou estado de
inocncia.
Tempos depois, a boa-f, no prprio campo dos direitos obri-
gacionais, passou a ter sua abrangncia diluda dentro da compilao
justiniania. A partir de ento, tal instituto ganhou consagrao na cul-
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
344
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tura germnica, cuja concepo, consignada pela frmula Treud (leal-
dade) und Glauben (crena), denotou sentido diverso do pontuado no
direito romano. Naquele tempo, as noes de lealdade e crena passa-
ram a reetir uma tradio nobre e cavalheiresca, traduzida num com-
portamento de polidez e bons modos na forma de tratar com outrem. A
esse respeito, esclarece Judith Martins Costa
1
:
Assim sendo, ao atribuir boa-f no direito obrigacio-
nal o contedo do cumprimento exato dos deveres assu-
midos, ao qual corresponderia um de considerao para
com os interesses da contraparte visto que se trata (a
relao de obrigao) de uma atividade desenvolvida
vista de interesses alheios o antigo direito germnico
utilizou estrutura que, posteriormente, seria tambm re-
petida no direito das obrigaes.
Da em diante, os valores atribudos boa-f germnica,
no perodo da Idade Mdia, se estenderam at a codificao da
legislao alem e, ainda, de modo indiscriminado a outras legis-
laes romansticas. oportuno lembrar que, na seara do direito
cannico, a boa-f legitimada como sendo a ausncia de pecado.
A obrigao que se institui nessa poca, notadamente no campo da
tutela da usucapio e dos contratos, decorre do simples acordo. O
formalismo considerado suprfluo. No existia uma abordagem
tcnica. A boa-f buscava, to-somente, observar a conscincia de
que se est dizendo a verdade, agindo corretamente, sem lesar o
direito do outro.
Posteriormente, a boa-f, que at ento fora tratada de modo
bipartido, resumiu-se a um sentido nico e, assim, estabeleceu-se
como princpio geral de direito. Por fora do Estado absolutista e in-
uncia da losoa humanista, seus dogmas passaram a constituir um
sistema homogneo, que, mais tarde, seria aperfeioado pelo jus-ra-
cionalismo.
1
MARTINS COSTA, Judith. A boa-f no direito privado. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
345 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
3. O sistema aberto e a boa-f objetiva: as novas perspectivas do
ordenamento jurdico brasileiro
No incio do sc. XIX, toda a construo legislativa encontra-
va-se informada pela teoria liberalista, segundo a qual a vontade repre-
sentava o centro de todos as avenas. O contrato, tido nessa poca como
o mais importante dos negcios jurdicos celebrados entre sujeitos, fun-
dava-se, quase de maneira absoluta, na autonomia privada. No Cdigo
francs (Code Napolon), o princpio do pacta sunt servada (obriga-
toriedade dos pactos) foi erigido s suas mximas conseqncias, de
forma que a liberdade de contratar s esbarrava nos preceitos de ordem
pblica. Nesse contexto, o que importava era vericar se o consenti-
mento se apresentava livre, sem vcios, sendo mnima a interferncia do
Estado na relao contratual privada.
Com o m da Primeira Guerra Mundial, a situao sociopol-
tica e econmica das comunidades europias, at ento estvel, sofreu
considervel declnio. Com isso, tornou-se imprescindvel uma atuao
estatal mais consistente no mbito das relaes privadas, como forma
de restabelecer a estabilidade e a paz social frente sociedade do ps-
guerra. Surgiu, assim, o fenmeno do dirigismo contratual, como ree-
xo da prpria revoluo industrial. Por meio dele, o Estado procurou
mitigar a autonomia privada, de modo a melhor adequ-la aos preceitos
de ordem pblica e interesse social.
Frente a esse novo contexto, o conceito de contrato no se
extinguiu; apenas deixou o instituto de ser compreendido como ins-
trumento de livre exerccio dos direitos subjetivos. O contrato, atual-
mente, inspirado por princpios de tica e disciplinado conforme os
interesses da sociedade na manuteno da justia social, na distribuio
mais justa das riquezas e na promoo do progresso econmico
2
. Os
contratos sofreram uma espcie de socializao, em que o interesse p-
blico deve ser predominante nas relaes jurdicas. Como bem acentua
2
MELO, Adriana Mandin Theodoro de. A funo social do contrato e o princpio da boa-f no novo Cdigo
Civil brasileiro. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
346
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Maria Celina Bodin de Moraes
3
, diante de um Estado intervencionista
e regulador, que dita as regras do jogo, o direito civil viu modicadas
as suas funes e no pode mais ser estimado segundo os moldes do
direito individualista dos sculos anteriores.
No cenrio dessa realidade trazida pela massicao das rela-
es sociais, foi promulgado o Cdigo de Defesa do Consumidor, tu-
telando os valores advindos da nova ordem social, impondo restries
ao abuso do poder econmico e introduzindo, de forma enftica, a boa-
f objetiva no ordenamento jurdico brasileiro. Entretanto, consoante
ressalta Moreira Alves, esse princpio j estava previsto no Projeto de
Cdigo Civil desde 1975. Analisando esse princpio, enfatiza Nelson
Nery Junior
4
:
No sistema brasileiro das relaes de consumo, houve
opo explcita do legislador pelo primado da boa-f.
Com a meno expressa do art. 4, III, do CDC boa-f
e equilbrio nas relaes entre consumidores e fornece-
dores, como princpio bsico das relaes de consumo
alm da proibio das clusulas que sejam incompa-
tveis com a boa-f, que deve reger toda e qualquer es-
pcie de relao de consumo, seja pela forma de ato de
consumo, de negcio jurdico de consumo, de contrato
de consumo etc.
No que respeita ao aspecto contratual das relaes de
consumo [...], verica-se que a boa-f na concluso do
contrato de consumo requisito que se exige do forne-
cedor e do consumidor (art. 4, CDC), de modo a fazer
com que haja transparncia e harmonia nas relaes de
consumo (art. 4, caput, CDC), mantido o equilbrio en-
tre os contratantes.
O Cdigo Civil de 2002 seguiu a linha proposta pelo Diploma
Civil alemo de 1900 (Brgeliches Gesestzbuch) que, em seu art. 242, j
3
Apud NOVAIS, Alinne Arquette Leite. O princpio da boa-f e a execuo contratual. So Paulo: Revista
dos Tribunais, 2001.
4
Apud GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Cdigo Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos
autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2001. p. 438.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
347 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tratava da boa-f objetiva como uma clusula geral. E assim, introduziu
no ordenamento ptrio uma nova teoria geral no mbito dos contratos
particulares. Isso representou um verdadeiro trespasse do modelo cls-
sico, individualista e patrimonializante, para um prottipo moderno de
produo coletiva dos interesses contratados com primazia dos valores
da sociabilidade (funo social do contrato), eticidade (boa-f objetiva)
e operabilidade.
O art. 422 do novo Estatuto Civil passou a tutelar, em especial, a
clusula geral da boa-f objetiva, dando-lhe uma conotao de regra tica
de conduta a ser observada pelos contratantes antes, durante e depois da
concluso do contrato. Ensina Paulo Luiz Netto Lobo
5
que a boa-f ob-
jetiva no princpio dedutivo, no argumentao dialtica; medida e
diretiva para a pesquisa da norma de deciso, da regra a aplicar no caso
concreto, sem hiptese normativa preconstituda, mas que ser preenchi-
da com a mediao concretizadora do intrprete julgador.
Trata-se de princpio diferente da boa-f subjetiva, na qual
aquele que manifesta sua vontade cr na prudncia da conduta prati-
cada, tendo em vista o grau de conhecimento que possui acerca daque-
le determinado negcio (h um estado de conscincia ou aspecto psi-
colgico que deve ser considerado). A boa-f objetiva tem um carter
normativo e remete o aplicador do direito para a observncia, no caso
concreto, de um padro de conduta comum do homem mdio, dentro
dos aspectos sociais, histricos e econmicos envolvidos.
Destarte, a extenso e o contedo da relao obrigacional no
se medem mais unicamente pela inteno dos pactuantes. Medem-se
tambm pelas circunstncias ou fatos que norteiam as fases de forma-
o e cumprimento do contrato, permitindo-se construir um regramento
objetivo do negcio jurdico. Assim, no exame da boa-f dos contratan-
tes, devem ser observadas, alm do elemento vontade, as condies
em que o contrato foi rmado, o nvel sociocultural das partes, bem
como os aspectos histrico e econmico. Nesse aspecto, o prprio art.
113 do novo Cdigo Civil dispe: Os negcios jurdicos devem ser
5
LOBO, Paulo Luiz Netto. Princpios sociais dos contratos no CDC e no novo Cdigo Civil. Disponvel
em: <www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2796>.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
348
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
interpretados conforme a boa-f e os usos do lugar de sua celebrao.
Eis a funo primordial da clusula geral da boa-f objetiva, qual seja,
a interpretativa.
Contudo, no se deve olvidar que, sob o prisma do novo C-
digo Civil, a boa-f objetiva assume duas outras funes. A primeira
a funo de controle dos limites do exerccio de um direito. O art. 186
do novo Estatuto Civil, ao disciplinar o abuso de direito, estabelece:
Tambm comete ato ilcito o titular de um direito que, ao exerc-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu m econmico ou
social, pela boa-f ou pelos bons costumes. A segunda a funo de
integrao do negcio jurdico ou de criao de deveres anexos (secun-
drios). De acordo com o art. 421 do Cdigo Civil de 2002, a autono-
mia da vontade dos contratantes deve ser relativizada pelos preceitos de
ordem pblica que garantam a funo social do pacto. Dessa forma, a
observncia das regras de conduta impostas pela boa-f objetiva, alm
de diminuir as desigualdades das partes contratantes e expurgar o dese-
quilbrio excessivo da prestao de uma das partes em relao a outra,
assegura os princpios da eticidade, operabilidade e sociabilidade dos
contratos.
Dentro desses contornos, o princpio da boa-f objetiva se so-
bressai, conforme as perspectivas do novo Diploma Civil, como fonte
autnoma de deveres contratuais secundrios. So os cognominados
deveres anexos ou laterais de lealdade, lisura, honradez, cooperao,
informao e segurana, bem assim os mecanismos de fortalecimento
de um sistema jurdico caracteristicamente aberto.
Com efeito, para o acompanhamento das mudanas scio-eco-
nmicas e a vericao de uma maior segurana jurdica, faz-se im-
periosa a implementao de um sistema jurdico malevel composto
por clusulas gerais. Assim que, mesmo diante de normas material-
mente inalteradas, ter-se- um ordenamento, na essncia, em constan-
te processo de mutao, capaz de transformar-se na srie da evoluo
comportamental do homem. E nessa linha diretiva que o direito deve
propiciar um equilbrio entre a tica, a economia, a funo social dos
negcios, a justia e a segurana, sem, contudo, deixar-se exceder por
uma copiosa relatividade. Nesse aspecto, no se pode perder de vista a
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
349 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
funo do contrato, que se perfaz na satisfao primeira de interesses
polticos e sociais e, secundariamente, na dos contratantes. Assim, todo
procedimento que, embora no seja previsto em lei ou no acordo, deve
ser amparado pela clusula geral da boa-f, a qual, objetivamente con-
siderada, subentende-se estar contida em todo e qualquer pacto. A esse
respeito, assinala Judith Martins Costa
6
:
Por essas caractersticas, constitui a boa-f objetiva uma
norma proteifrmica, que convive com um sistema ne-
cessariamente aberto, isto , o que enseja a sua prpria
permanente construo e controle.
E, por sistema aberto, entende-se todo aquele que se transfor-
ma e se amolda, caso a caso, mediante as variaes comportamentais
e sociais que surgem cotidianamente, de modo a dar mais mobilidade
e exibilidade, sem, no entanto, permitir que o direito se converta em
incerteza. Surge, assim, uma nova idia de abuso e de responsabilidade,
em que o contrato, para alm do carter de autolimitao, tido como
uma universalidade de direitos e deveres que devem estar submetidos
aos princpios da igualdade, lealdade e interesse social. Tudo porque,
no raro, a lei e a vontade sero insucientes para resguardar a justia
recproca da relao.
4. A boa-f e a responsabilidade pr-negocial
De incio, insta observar que a responsabilidade pr-negocial
aqui tratada no se confunde com a obrigao advinda do inadimple-
mento de um contrato preliminar ou pr-contrato. Esta ltima hipte-
se de responsabilidade contratual est expressamente prevista nos arts.
462 a 466 do Cdigo Civil. J a primeira se refere fase de tratativas,
na qual ainda no existe contrato, mas apenas negociaes ou negcios
jurdicos unilaterais de carter receptcio, como a proposta ou oferta e
6
MARTINS COSTA, Judith. Op. cit., p. 413.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
350
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
a aceitao. Com efeito, com a bilateralizao ou solidicao desses
negcios que se verica a formao do vnculo contratual.
Ocorre que, nem sempre, a proposta e a aceitao se instru-
mentalizam no mesmo momento. Portanto, a formao do pacto pode
ser antecedida por uma fase que a doutrina convencionou denominar
de formativa. E justamente nesse momento de troca de minutas
ou acordos parciais pelas partes, de emisso de consentimentos ain-
da no denitivos, de cartas meramente intencionais, de propostas sem
aceitao, que se deve averiguar at que ponto esses atos de eccia
nitidamente obrigacionais so sucientes para a perfectibilizao do
contrato, ou mesmo, para a induo da responsabilidade pr-negocial
extracontratual.
O perodo que antecede a celebrao dos contratos, por vezes,
marcado pela ocorrncia de conitos entre a autonomia de vontade das
partes e as expectativas criadas pelos contraentes. E isso acaba gerando
uma ruptura imotivada das negociaes, caracterizada, sobretudo, pela
desleal quebra da legtima conana de que o pacto seria validamente
concludo. Diante disso, pode-se aduzir que a responsabilidade pr-ne-
gocial tem como pressupostos, alm da comprovao do dano e do nexo
de causalidade entre este e a conduta, comissiva ou omissiva, de um
dos sujeitos da relao pr-contratual, a transgresso aos princpios da
lealdade e boa-f.
Nessa espcie de responsabilidade, no h propriamente uma
infrao aos deveres principais do contrato perfeito e acabado. O que h,
na verdade, uma desobedincia s obrigaes acessrias decorrentes
da boa-f objetiva, quais sejam: o dever de cooperao, de informao
adequada, de no-contradio, de lisura, de honestidade, de probidade,
de lealdade, de conana, de correo efetiva, de sigilo, entre outros.
No direito italiano, a responsabilidade pr-negocial vem ex-
pressamente disciplinada nos arts. 1.337 e 1.338 do seu Cdigo Civil.
Nesse caso se impe o dever de declarao dos motivos causadores da
invalidade do contrato quele que assim o romper. Dessa forma, no
restando demonstrada a boa-f, subsiste a obrigao de indenizar. J
o Cdigo Civil portugus de 1966 trouxe o princpio da boa-f na se-
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
351 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ara pr-contratual, ao dispor, em seu art. 227, que quem negocia deve
proceder consoante as regras da boa-f, tanto na concluso como nas
preliminares do pacto. O Cdigo Civil argentino adota o mesmo posi-
cionamento, conforme se depreende da exegese do seu art. 1.198, se-
gundo a qual a clusula geral da boa-f se traduz de modo imediato s
relaes pr-contratuais. Por m, no Cdigo Civil alemo, no obstante
seja patente a inexistncia de especicao no texto da lei, a doutrina
consensual na compreenso de que toda relao pr-contratual introduz
uma relao de lealdade e conana.
Por conseguinte, vislumbra-se que muitas normas do direi-
to comparado do sustentculo materializao da responsabilidade
pr-negocial, muito embora a soluo do problema tenha demandado
laboriosa reexo e longo processo evolutivo. O pioneiro foi Rudolf
Von Jhering, do qual resultaram algumas proposies tericas viveis,
intensicadas a partir da dcada de 80 do sculo passado, como desta-
ca Judith Martins Costa
7
. Sucede que, no ordenamento jurdico ptrio,
ainda se questiona at que ponto essa fase que antecede a celebrao do
contrato dotada de eccia. Indaga-se sobre a legitimidade ou no da
ruptura das negociaes preliminares, sob a tica da lealdade imposta
s partes, bem como sobre as conseqncias jurdicas dela advindas no
mbito da responsabilidade civil.
Sobrepem-se nessa inquirio dois plos de valores: o am-
paro autonomia da vontade, em que se tutela a ampla liberdade das
partes na constituio ou no do contrato; a proteo do dever de se
conduzir com boa-f, ante a criao de expectativas entre os contra-
entes. A propsito dessa contraposio entre a liberdade de contratar
e o dever de boa-f, formulou-se a teoria da culpa in contrahendo. De
seu desenvolvimento resultou a indicao da responsabilidade pr-con-
tratual como corolrio do rompimento injusticado e intempestivo das
negociaes preambulares.
Contemporaneamente, a referida teoria vem passando por um
processo de reviso e disseminao, a partir da matriz formulada por
Jhering, que, em seus estudos, buscou dar uma melhor compreenso do
7
Ibidem, p. 492-493.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
352
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
carter da responsabilidade sob comento. Na realidade, o exame por ele
proposto encerrou o posicionamento de que a ruptura da relao pr-
contratual daria ao prejudicado o direito de propor uma terceira ao,
que no a actio doli, visto que nem sempre o dolo era manifesto; tam-
pouco a actio legis aquiliae, ante a ausncia dos seus pressupostos.
Jhering situava a culpa in contrahendo como espcie do gne-
ro responsabilidade contratual. Segundo ele, contrariamente culpa
aquiliana, a culpa contratual originava uma responsabilidade objetiva,
fundada independentemente da anlise da culpa ou dolo do agente le-
sionador. Nesse caso, tratava-se da quebra de um dever especco re-
ferente s condies estabelecidas apenas entre as duas partes, e no
da transgresso do dever genrico de no causar prejuzo ou dano a
outrem. Nesse sentido, transcreve-se o posicionamento de Judith Mar-
tins Costa
8
:
O fato que, da construo operada por Jhering, resta
denitivamente introduzida, no mundo do pensamento
jurdico, a idia da congurao de um especco dever
de diligncia colocado na fase antecedente da execuo
do contrato. Em face da proximidade existente, na escala
do contato social, entre os negociadores de um contrato,
seria possvel concluir que este dever motiva-se na con-
ana que deve presidir o trfego jurdico para que as
relaes econmico-sociais possam se desenvolver com
normalidade. Em outras palavras, est a suposto e
considerado o fato de o contato social (ainda que
no exitosamente concludo) determinar uma maior pos-
sibilidade de aproximao (e, portanto, de dano) entre os
interesses e bens das partes, o que determina, conseqen-
temente, uma mais acentuada responsabilidade dos que
participam do trfego negocial.
No Brasil, no campo das relaes de consumo, o Cdigo de
Defesa do Consumidor, ao regulamentar o instituto da oferta, discipli-
nou, ainda que no expressamente, a responsabilidade pr-negocial.
8
Ibidem, p. 492.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
353 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Remontando poca anterior promulgao do Diploma Consume-
rista, observa-se que a oferta era tida como um ato cuja concretizao
necessitava de conrmao ulterior. Ou seja, podia o fornecedor ofe-
recer produtos ou servios e, em seguida, desistir de efetivar esse ato.
Como bem salienta Hlio Zaghetto Gama
9
, nossos tribunais cansaram
de negar cumprimento s ofertas, ora dizendo que os atos de liberalida-
de no constituam obrigaes formais, ou em outra hora dizendo que
o adquirente s estava contemplando com uma expectativa de direito.
Dessa forma, a mera expectativa gerada pela oferta no garantia que o
negcio seria implementado, restando ao consumidor apenas a opo
de conformar-se com o abuso.
O direito decorrente das relaes contratuais s seria concreto
para os negcios j concludos. A veiculao publicitria no obrigava
o fornecedor. O Judicirio no albergava qualquer direito proveniente
da simples expectativa gerada pela oferta. Porm, a relevncia e disse-
minao conferidas a alguns contratos de adeso, dentre eles os de se-
guro, tornaram mais maleveis determinados preceitos solidicados no
tempo. Como lembra Judith Martins Costa
10
, Na dcada de 60, o nosso
Supremo Tribunal Federal proclamou que as publicidades, a respeito
dos graus de cobertura dos seguros, por si, conduziam os anunciantes a
cumprir os negcios propostos.
Nessa poca, houve uma expanso da conscincia de que a
oferta difundida pelo fornecedor era suciente para obrig-lo a imple-
mentar o pacto. Paulatinamente, o consumidor foi conquistando a pro-
teo aos seus interesses, at que, em 11 de setembro de 1990, efetivou-
se a promulgao do seu Cdigo de Defesa, como forma de oportuni-
zar-lhe maior segurana e proteo, diante das muitas transformaes
trazidas pela ascenso dos contratos em massa.
Desde ento, como notoriamente se infere do art. 30 do esta-
tuto em comento
11
, toda oferta passou a ser obrigatoriamente vlida e
9
GAMA, Hlio Zaghetto. Curso de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 71.
10
Ibidem, p. 71.
11
Toda informao ou publicidade, sucientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicao com relao a produtos e servios oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a zer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
354
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
vinculativa, de modo que o fornecedor a ela estaria atrelado, no poden-
do desfazer-se da responsabilidade assumida. Por conseguinte, a oferta
passou a integrar o contrato ulteriormente rmado. A nalidade dessa
inovao foi exatamente assegurar a veracidade e seriedade das mani-
festaes de marketing, publicidade e promoes de vendas, mormente
em face do princpio da transparncia. A esse respeito, Cludia Lima
Marques
12
preleciona:
Temos o novo dever de informar o consumidor, seja atra-
vs da oferta, clara e correta (leia-se aqui publicidade ou
qualquer outra informao suciente, art. 30) sobre as
qualidades do produto e as condies do contrato, sob
pena de o fornecedor responder pela falha da informao
(art. 20), ou ser forado a cumprir a oferta nos termos em
que foi feita (art. 35); seja atravs do prprio texto do
contrato, pois, pelo art. 46, o contrato deve ser redigido
de maneira clara, em especial os contratos pr-elabora-
dos unilateralmente (art. 54, 3), devendo o fornecedor
dar oportunidade ao consumidor de conhecer o con-
tedo das obrigaes que assume, sob pena do contrato
por deciso judicial no obrigar o consumidor, mesmo se
devidamente formalizado.
Em verdade, isso se efetiva porque, ante a sociedade de con-
sumo, a noo tradicional de oferta identicada com o instituto ci-
vilista da proposta tornou-se obsoleta, sendo posta em prova a sua
operacionalidade. Com o advento das novas prticas comerciais, para
preservar a incolumidade fsica e a integridade moral do consumidor,
bem como em observncia aos princpios da boa-f (cumprimento da-
quilo que foi oferecido) e da transparncia (dever de informao clara,
12
Sobre o assunto, Cludia Lima Marques acentua: De um lado, o ideal da transparncia no mercado
acaba por inverter os papis tradicionais, aquele que se encontrava na posio ativa e menos confortvel
de perguntar (caveat emptor), conseguir conhecimentos tcnicos ou informaes sucientes para realizar
um bom negcio, o consumidor, passou para a confortvel posio de detentor de um direito subjetivo de
informao (art. 6, III), enquanto aquele que encontrava-se na segura posio passiva, o fornecedor, pas-
sou a ser sujeito de um novo dever de informao (caveat vendictor). (MARQUES, Cludia Lima. Con-
tratos no Cdigo de Defesa do Consumidor. 2 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 207-208.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
355 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
precisa e ostensiva acerca do produto ou servio e do contrato a rmar-
se), fez-se necessria a formulao de um novo conceito de oferta, bem
mais abrangente que o ento consolidado.
O primordial trao distintivo entre a oferta tradicional (propos-
ta) e a oferta introduzida pelo microssistema do consumidor diz respei-
to exigncia de seus requisitos. que, na viso tradicionalista, por se
tratar de via de realizao do contrato, a proposta, para poder criar uma
obrigao para o policitante, deve ser sria e precisa, direcionada, na
maior parte das vezes, a pessoa determinada (apesar de predominar na
doutrina civilista a possibilidade de congurao de proposta coletiva),
contendo as linhas estruturais do negcio em vista
13
.
Por outro lado, nas relaes de consumo, esses requisitos encon-
tram-se aplacados. No se faz mais imprescindvel que o policitante (no
caso, o fornecedor) elabore proposta em termos precisos e a enderece a
pessoa determinada. Para que ocorra a divulgao, basta a veiculao de
publicidade ou qualquer espcie de informao sucientemente precisa,
delineando os elementos essenciais do negcio (na compra e venda, v.g.,
objeto e preo). Destarte, o fornecedor que zer veicular ou se utilizar
de toda informao ou publicidade, satisfatoriamente clara, propagada
por qualquer forma ou meio de comunicao com relao a produtos e
servios oferecidos ou apresentados, torna-se responsvel e obriga-se por
ela, passando a integrar o contrato que vier a ser celebrado.
Ainda de acordo com o Diploma Consumerista, em caso de re-
cusa do fornecedor no cumprimento da oferta, o consumidor poder, ao
seu alvedrio, desde que alternativamente: a) exigir o adimplemento for-
ado da obrigao, nos termos da oferta, apresentao ou publicidade; b)
aceitar outro produto ou prestao de servio equivalente; c) resolver o
contrato, com direito restituio de quantia eventualmente antecipada,
monetariamente atualizada, e a perdas e danos (CDC, art. 35, I, II, III).
Exige o referido Cdigo que a oferta e a apresentao de pro-
dutos ou servios assegurem informaes corretas, claras, precisas, os-
13
Neste sentido, cf. GOMES, Orlando. Contratos. 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 1-24; PEREIRA,
Caio Mrio da Silva. Instituies de direito civil: fontes das obrigaes. 10. ed., Rio de Janeiro: Forense,
2000. p. 1-31. 3 v.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
356
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tensivas e em lngua portuguesa sobre suas caractersticas, qualidades,
quantidade, composio, preo, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam sade e
segurana dos consumidores (CDC, art. 31).O fornecedor , pois, por-
tador do dever informativo, consectrio lgico do princpio da transpa-
rncia, um dos pilares do CDC.
Ressalte-se, tambm, que as informaes devem ser prestadas
tanto na ocasio anterior aquisio do bem de consumo pelo consu-
midor fase pr-contratual quanto no momento em que o produto
ou servio adquirido etapa contratual (informaes contidas nas
embalagens e rtulos, por exemplo). Em ambas, deve restar patente o
intuito de tornar o adquirente hbil a praticar o ato de consumo, com
plena cincia das caractersticas do bem a ser consumido.
O novo Cdigo Civil, a exemplo do Cdigo de Defesa do Con-
sumidor, traz, no art. 422, disciplinamento indireto sobre o tema da res-
ponsabilidade pr-negocial, ao instituir o princpio da boa-f objetiva
como fonte de deveres acessrios. Judith Martins-Costa
14
os denomina
de instrumentais, denindo-os como deveres de cooperao, de no-
contradio, de lealdade, de sigilo, de correo, de informao e escla-
recimento em suma, deveres que decorrem da boa-f objetiva como
mandamento de ateno legtima conana despertada no futuro con-
tratante e de tutela aos seus interesses.
Na seara das relaes civis, a responsabilidade pr-contratual
situa-se numa zona de transio entre a responsabilidade contratual e
a extracontratual. Constitui o que boa parte da doutrina denomina de
terceiro gnero ou dano de conana, ou, ainda, interesse negati-
vo. No se trata de uma responsabilidade contratual porque emana
de um pacto projetado, mas no efetivado. Noutro quadrante, para
a congurao da responsabilidade pr-negocial, faz-se necessria a
vericao do dano, da conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou
culposa e do nexo de causalidade entre esta e aquele (requisitos da
responsabilidade aquiliana). Exige-se tambm a comprovao cabal
da ruptura injusticada das tratativas preliminares, e, ainda, a que-
14
Ibidem, p. 487.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
357 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
bra da conana legtima criada entre os pr-contratantes (fundada na
boa-f objetiva)
15
. Nesse sentido, acentua Silvio Rodrigues
16
:
Em rigor, se as partes se encontram ainda na fase de
negociaes preliminares, por denio mesmo no
contrataram, no se havendo estabelecido, entre elas,
desse modo, qualquer lao convencional. Pois, se lan-
aram mo de tais discusses vestibulares, foi justa-
mente para decidir se lhes convinha, ou no, contratar.
De maneira que, se no curso do debate uma delas apu-
ra o inconveniente do negcio, justo que dele de-
serte, recusando-se a prestar sua anuncia denitiva.
Nenhuma responsabilidade lhe pode da advir, pois as
negociaes preliminares ordinariamente no obrigam
os contratantes.
Todavia, o abandono das negociaes preliminares no
pode ser arbitrrio e injusticado, estribado no mero ca-
pricho de uma das partes. O incio da fase de puntuao
revela o propsito de contratar e cria, naturalmente, no
esprito dos futuros contratantes, uma expectativa leg-
tima de vir a concluir um negcio. Tal expectativa pode-
r conduzir, e no mais das vezes conduz, uma das partes
a realizar despesas, a abrir mo de outros negcios, a
alterar os planos de sua atividade imediata. Ora, tal ex-
pectativa no pode ser frustrada pelo mero capricho de
um dos contratantes, sem que incorra ele no dever de
reparar os prejuzos porventura resultantes.
15
Judith Martins Costa esclarece que se entende por ruptura injusticada aquela que destituda de causa legtima, a
que arbitrria, a que compe o quadro do comportamento desleal de um ponto de vista objetivamente averiguvel:
O problema da legitimidade da ruptura no se reconduz, com efeito, indagao sobre se o seu motivo determinante
ou no justicado do ponto de vista da parte que a efetuou, mas, antes, importa averiguar se, independentemente dessa
valorao pessoal, ele pode assumir uma relevncia objectiva e de per si prevalente sobre a parte contrria.
J por conana legtima se quer expressar a expectativa de que a negociao seja conduzida segundo
parmetros da probidade, da seriedade de propsitos. Para que se produza a conana, evidentemente ne-
cessrio que as negociaes existam, que esteja em desenvolvimento uma atividade comum das partes, des-
tinada concretizao do negcio. manifesto que nenhuma obrigao de indenizao surge se uma pessoa
toma a iniciativa de proceder sozinha a estudos e despesas na elaborao de um projeto de contrato com a
nalidade de submet-la a outra que se recusa in limine, ainda que sem motivo, a entrar em negociaes. A
conana, para poder ser qualicada como legtima, deve, pois, fundar-se em dados concretos, inequvocos,
avaliveis segundo critrios objetivos e racionais MARTINS COSTA, Judith. Op. cit., p. 487.
16
RODRIGUES, Slvio. Direito civil: dos contratos e das declaraes unilaterais da vontade. So Paulo:
Saraiva, 2002. p. 67. 3 v.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
358
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Frise-se, todavia, que para a imposio do dever de indenizar
quele que estava em condies de contratar e, sem motivo plausvel, no
o fez, pouco importa saber se se trata de responsabilidade contratual ou
extracontratual, haja vista decorrer sempre da exorbitncia de um direito.
Corroborando esse entendimento, Slvio de Salvo Venosa
17
arma:
Nessa situao, na recusa de contratar, a questo coloca-
se primeiramente em mbito sociolgico. Em sociedade,
cada um exerce uma atividade para suprir necessidades
dos outros, que no podem satisfaz-las. Destarte, o
vendedor de determinada mercadoria, ou o prestador de
servios, validamente estabelecidos, desempenham uma
funo social relevante. Fornecem bens e servios so-
ciedade e esto obrigados a faz-lo, se foi essa a ativi-
dade escolhida para seu mister. A recusa injusticada na
venda ou prestao de servio constitui ato que se insere
no campo do abuso de direito. O comerciante no est
obrigado a vender, mas se disps a vender, no pode re-
cusar-se a faz-lo a quem pretende adquirir o objeto da
mercancia. Esta conduta extravasa os limites do direito,
prtica abusiva, pois existe um desvio de nalidade.
Ora, o art. 187 do Diploma Civil claro ao determinar que,
quando o titular de uma prerrogativa jurdica (de um direito legitima-
mente assegurado), ao exerc-la, atua de modo contrrio boa-f,
moral, aos bons costumes ou aos ns econmicos ou sociais impos-
tos pela norma que a confere, incorre na prtica de um ato ilcito, em
decorrncia do abuso de direito cometido. Em verdade, a responsabi-
lidade pr-negocial harmoniza-se com a responsabilidade civil aquilia-
na subjetiva (com vericao da culpa lato sensu) prevista no art. 927
do novo Cdigo Civil. Todavia, possui dois outros requisitos prprios
rompimento injusticado do pacto e infrao conana legtima
(baseada nos deveres acessrios de lisura, lealdade, sinceridade, probi-
dade, cooperao, entre outros, impostos pela boa-f objetiva). Seu no
cumprimento, alm de violar a garantia da autonomia da vontade, afasta
17
VENOSA, Slvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigaes e teoria geral dos contratos. 3 ed. So
Paulo: Atlas, 2003. p. 479-489. 1 v.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
359 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o dever de indenizar.
Desta maneira, a averiguao da responsabilidade pr-contratual
no pode ser generalizada, impondo-se a anlise individualizada de cada
caso concreto. Constada a existncia de uma justicativa plausvel para
o rompimento das relaes preliminares (como inidoneidade nanceira
ou moral do contraente, modicao substancial do objeto do pacto, im-
possibilidade material absoluta do cumprimento da prestao avenada,
falta de matria-prima essencial para fabricao do bem etc.), ou ainda, a
no formao de expectativas de concluso do pacto pelos pr-acordantes
(com inocorrncia de frustrao), deve-se afastar, incontinenti, o dever de
indenizar. Sobre a matria, arma Judith Martins Costa
18
:
Somente da anlise do caso, de suas concretas circuns-
tncias e vista dos particulares elementos, objetivos e
subjetivos, que o compem que se poder determinar
se caso, ou no, de responsabilidade. Alm do mais,
para saber se esta j propriamente contratual ou ainda
pr-contratual, o esforo doutrinrio inclina-se per-
cepo de suas fases, as quais so detectveis aten-
dendo ao alcance ou contedo dos atos que o integram
e, conseqentemente, ao diverso signicado de que se
revestem na ponderao dos interesses h pouco equa-
cionados, o que equivale a dizer que os atos em exa-
me devem ser equiparados a atos dotados de eccia
negocial tpica, ou de eccia obrigacional, ou, ainda,
dissociados de toda a eccia jurdica, em funo da
conana que criam na contraparte e do correspondente
grau de autonomia da vontade que se justica reconhe-
cer aos seus autores.
Noutro passo, mencione-se que o valor a ser ressarcido ao
proponente lesionado nem sempre corresponde ao montante integral
do objeto do contrato no concludo. A indenizao, em regra, cin-
ge-se s perdas e danos cabalmente demonstrados, conquanto, even-
tualmente, tambm possa abranger os prejuzos morais advindos da
18
Ibidem, p. 484.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
360
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
quebra da conana ou da frustrao da no contratao.
19
Assim sendo, o aceitante que, diante do rompimento injusti-
cado das negociaes preliminares, deixa de celebrar contrato de com-
pra e venda esperado, e, conseqentemente, perde a aquisio de um
imvel, tem direito a intentar uma ao de indenizao em desfavor do
policitante, com fulcro na responsabilidade pr-contratual. Busca gran-
jear o ressarcimento referente, por exemplo, diferena do preo que
pagou para a obteno de um bem similar, bem assim as eventuais des-
pesas com viagens e hospedagens realizadas durante a fase dos ajustes
preambulares, ou ainda, o valor do aluguel que teve de pagar para abri-
gar-se durante o perodo anterior concretizao do segundo negcio
jurdico, muito embora no faa jus ao valor integral do imvel objeto
do ajuste prvio descumprido.
Demais disso, urge considerar que, no mbito das relaes ci-
vis, a responsabilidade pr-contratual no traz nsito o direito do pro-
ponente lesionado de exigir que o contrato seja concludo pela parte
adversa. Esta sofrer, to-somente, uma reduo patrimonial razovel
e necessria para restabelecer o status quo ante. Mas o mesmo no se
verica na seara consumerista, onde a simples oferta de produtos e ser-
vios bastante para vincular o ofertante.
Portanto, de acordo com as prescries insertas no novo C-
digo Civil, a clusula geral da boa-f objetiva presta-se sobremaneira
para tutelar as justas expectativas das partes com relao ao adimple-
mento das tratativas negociais, impondo a ambos os sujeitos o dever
19
Indenizao. Ato ilcito. Interrupo imotivada da contratao de emprstimo para aquisio de casa
prpria. Responsabilidade pr-contratual. Ofensa boa-f objetiva. Ilicitude do estorno do valor antecipa-
do. Danos materiais caracterizados. Danos morais aferidos por presuno hominis. Fixao. A responsabili-
dade pr-contratual se caracteriza quando h manifesta violao da boa-f objetiva, como no caso concreto,
pela interrupo imotivada e abrupta da celebrao aps j ter sido antecipado, disponibilizado e utilizado
pelo apelado parte do valor do crdito que seria concedido para pagamento dos procedimentos necessrios
aquisio do imvel. Danos materiais correspondentes ao valor do crdito antecipadamente concedido,
sobrevindo, posterior sua utilizao, a frustrao imotivada da contratao, ante o que no teria feito uso
do mesmo, sendo tambm indevido o estorno realizado pelo banco apelante. Danos morais aferidos a partir
dos fatos lesivos distintos, causados por cada um dos apelantes, inferindo-se a ofensa integridade moral.
Fixao da indenizao dos danos morais pelo prudente arbtrio do julgador, pautada pela considerao
da intensidade da leso, da capacidade econmica das partes e da sua repercusso (In. AC 13.477-1/02
(25.040) da 1 C.Cv. do TJ/BA, rel Des Slvia Zarif, j. 25.09.2002).
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
361 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
de cooperao e de absteno da prtica de atos lesivos aos legtimos
interesses do alter. Protege-se, enm, a conana entre os negociantes,
que devem contar com um comportamento correto, probo e honrado
de seu companheiro durante todo o iter obrigacional, inclusive na fase
pr-contratual, sob pena de congurao do dever legal de indenizar os
prejuzos causados pela abusiva e arbitrria (imotivada) interrupo do
trato negocial.
5. Consideraes nais
A partir das consideraes e anlises feitas neste trabalho,
pode-se chegar s seguintes concluses:
1. A Lei n 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (novo Cdigo
Civil) introduziu em nosso ordenamento um sistema aberto de normas
(exvel s mutaes sociais) com prevalncia de clusulas gerais.
Deixou, portanto, para o aplicador do direito a tarefa de interpretar os
conceitos indeterminados nela insertos de acordo com as peculiarida-
des scio-poltico-econmicas inerentes ao caso concreto posto sua
apreciao. Na seara dos negcios jurdicos bilaterais, o novel Diploma
Civil, por meio das clusulas gerais da funo social do contrato e da
boa-f agora com conotao objetiva (arts. 421 e 422), mitigou o
preceito da autonomia da vontade, como forma de garantir o equilbrio
entre as partes contraentes.
2. A boa-f objetiva, diferentemente da subjetiva em que bas-
ta a crena interior dos contratantes de que esto agindo com prudncia
na formao do pacto - impe a ambas as partes um padro de conduta
baseado nas aes do homem mdio. Dessa forma, busca-se garantir a
observncia de deveres como o de lisura, honradez, probidade, conan-
a, transparncia, segurana e prudncia durante todas as fases contra-
tuais, seja a de formao (pr-negocial), a de execuo ou de concluso
(ps-contratual) do ajuste.
3. Em se tratando de uma clusula geral, no mbito das relaes
negociais, a boa-f objetiva exerce trs funes: a) auxiliar a interpreta-
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
362
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o dos negcios jurdicos, tendo como linhas primeiras o cumprimento
do pacto e as expectativas que este gera nas partes; b) xar deveres
laterais ou anexos, cujo objetivo principal justamente salvaguardar
a higidez patrimonial e pessoal dos sujeitos contra atos culposos um
do outro; c) limitar o exerccio de direitos subjetivos, como forma de
permitir que o contrato alcance os ns colimados, quando de sua cele-
brao. Como fonte criadora de obrigaes secundrias probidade,
sinceridade, lisura, honradez, presteza, lealdade, segurana, conana,
prudncia, entre outras - a boa-f objetiva constitui princpio apto a
justicar a imputao de responsabilidade civil s hipteses de ruptura
arbitrria e injusticada da relao pr-contratual, especialmente, em
face da quebra das expectativas criadas pelo trato preliminar.
4. Em linhas gerais, a responsabilidade pr-contratual constitui
uma modalidade especial de responsabilidade civil aquiliana. Apesar de
escapar do mbito do dano contratual, por emanar de um pacto apenas
projetado, exige, para sua congurao, alm dos requisitos peculiares
quela (conduta culposa ou dolosa, prejuzo e liame causal), dois outros
pressupostos: rompimento imotivado do ajuste e quebra das expectati-
vas criadas pela conana legtima de concluso do contrato. No entan-
to, preciso destacar que nem sempre o negcio jurdico no realizado
(ou frustrado) servir de base para a xao do quantum indenizatrio.
No mbito da responsabilidade pr-negocial, deve ele restringir-se ao
ressarcimento das perdas e danos efetivamente comprovados e eventu-
ais prejuzos de ordem moral vericados.
5. Por m, observe-se que, ao contrrio do que se vislumbra na
tica das relaes de consumo (disciplinadas pelo Cdigo de Defesa do
Consumidor), a responsabilidade pr-contratual advinda de uma relao
de natureza eminentemente civil no confere ao seu titular o direito de
exigir da parte contrria a execuo e concluso do contrato. Nesta sea-
ra, a proposta no integra o pacto, da mesma forma que a simples oferta
de um determinado bem ou servio no possui poder vinculativo.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
363 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Referncias bibliogrcas
FONSECA, Joo Bosco Leopoldino da. Clusulas abusivas nos con-
tratos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Cdigo Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitria, 2001.
GAMA, Hlio Zaghetto. Curso de direito do consumidor. Rio de Janei-
ro: Forense, 2002.
GOMES, Orlando. Obrigaes. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
LOBO, Paulo Luiz Neto. Princpios sociais dos contratos no CDC e no
novo Cdigo Civil. Disponvel em: <www1.jus.com.br/doutrina/texto.
asp?id=2796>.
MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consu-
midor. 2. ed. So Paulo: RT, 1995.
MARTINS COSTA, Judith. A boa-f no direito privado. 1. ed. So Pau-
lo: RT, 1999.
MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. A funo social do contrato
e o princpio da boa-f no novo Cdigo Civil brasileiro. Revista dos
Tribunais, So Paulo, v. 801, jul. 2002.
NOVAIS, Alinne Arquette Leite. O princpio da boa-f e a execuo
contratual. Revista dos Tribunais, So Paulo, v. 794, dez. 2001.
PEREIRA, Caio Mrio da Silva. Instituies de direito civil: contratos,
declarao unilateral de vontade e responsabilidade civil. 5 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1981. 3 v.
RODRIGUES, Slvio. Direito civil: dos contratos e das declaraes
unilaterais da vontade. So Paulo: Saraiva, 2002. 3 v.
O PRINCPIO DA BOA-F OBJETIVA E A RESPONSABILIDADE PR-NEGOCIAL:
PERSPECTIVAS DIANTE DO SISTEMA ADOTADO PELO NOVO CDIGO CIVIL
Francisco Serphico
da N. Coutinho
364
SILVA, Lus Renato Ferreira da. Reviso dos contratos: do Cdigo Civil
ao Cdigo de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
VENOSA, Slvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 2. ed. So Paulo:
Atlas, 2002. 1 v.
_____________________. Direito civil: teoria geral das obrigaes e
teoria geral dos contratos. 3. ed. So Paulo: Atlas, 2003. 2 v.
WALD, Arnoldo. O contrato: passado, presente e futuro. Revista da As-
sociao dos Magistrados Brasileiros. Rio de Janeiro, ano 4, n. 8, 2000.
Semestral.
365
366
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
Muito se discute acerca do que pode ser visto como um mau
antecedente na vida de uma pessoa. Conforme ser visto ao longo des-
te trabalho, na prpria doutrina, especializada, no existe um consenso
para denir o que se entende por antecedentes do ru, sejam eles bons ou
maus. Essa celeuma encontra campo frtil quando posto na balana o
princpio da presuno de inocncia. em ateno a tal preceito que mui-
tos doutrinadores terminam por restringir a noo de maus antecedentes
apenas a condenaes irrecorrveis que no caracterizem a reincidncia
(art. 63 do Cdigo Penal). No entanto, a questo no assim to simples,
principalmente tomando como exemplo uma pessoa que tenha contra si
mais de vinte inquritos ou processos instaurados, mas ainda no conclu-
dos ou que tenha sido absolvida por falta de provas em muitos casos.
Ademais, muito importante saber exatamente o que consi-
derar como maus antecedentes, posto que se trata de causa impeditiva
do oferecimento da proposta de transao penal nos Juizados Especiais
Criminais (art. 76, 2, III, da Lei n 9.099/95). Diante desse cenrio,
que se vem avaliaes superciais e errneas de certides de antece-
dentes criminais feitas por muitos representantes do Ministrio Pblico,
titulares da proposta de transao na rea penal.
O presente trabalho visa a abrir mais um caminho, no sentido de
uniformizar a avaliao e a conceituao de maus antecedentes para a ofer-
ta de proposio transacional. Sua abordagem parte da diculdade que se
tem na prtica da atuao ministerial, que, por vezes, prejudica o cuidado
que deve ser tomado em tais ocasies. O estudo consiste em demonstrar
que possvel exibilizar o conceito de maus antecedentes, de acordo com
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO
NA PROPOSTA DE TRANSAO PENAL
PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira de Carvalho
Promotora de Justia no Estado da Paraba
367 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o caso que se tem em mos. H, portanto, neste estudo, espao para a argu-
mentao dos defensores de cada uma das teses proferidas sobre o tema.
2. Conceito de antecedentes
Antecedentes podem ser conceituados como tudo aquilo que
aconteceu na vida de uma pessoa. Entretanto, depois da reforma sofrida
pelo Cdigo Penal, em 1984, ao ser includa tambm a conduta social
do ru dentre as circunstncias judiciais (art. 59 do Cdigo Penal), os
antecedentes caram adstritos folha penal do agente. A esse respeito,
arma Alberto Silva Franco
1
: O conceito de antecedentes veio a ter
um relativo esvaziamento, destinando-se agora a no mais expressar
um quadro referencial abrangente (comportamento social, inclinao
ao trabalho, relacionamento familiar etc), mas apenas um quadro me-
nor referente existncia ou no, no momento da consumao do fato
delituoso, de precedentes judiciais. Porm, os autores da reforma de-
fendiam posicionamento diverso, armando que se deve entender a
forma de vida em uma viso abrangente, examinando-se o seu meio de
sustento, a sua dedicao a tarefas honestas, a assuno de responsabi-
lidades familiares
2
.
A celeuma encontra-se atualmente em saber exatamente o que
pode ser reputado como maus antecedentes. H duas posies predo-
minantes: a primeira defendida por Damsio de Jesus
3
, Paulo Jos
da Costa Jnior, Luiz Vicente Cernicchiaro
4
, entre outros. Para eles,
1
FRANCO, Alberto Silva. Cdigo penal e sua interpretao jurisprudencial. So Paulo: RT, 1995. p. 672.
2
PITOMBO, Srgio Marcos de Moraes et al. Penas e medidas de segurana no novo cdigo. Rio de Janei-
ro: Forense, 1987. p. 161.
3
Esse autor chega mesmo a exagerar dizendo que antecedentes so os fatos da vida pregressa do agente, sejam
bons ou maus, como, p. ex.: condenaes penais anteriores, absolvies penais anteriores, inquritos arquivados,
inquritos ou aes penais trancadas por causas extintivas da punibilidade, aes penais em andamento, passa-
gens pelo Juizado de Menores, suspenso ou perda do ptrio poder, tutela ou curatela, falncia, condenao em
separao judicial etc. (JESUS, Damsio E. de, Direito penal. So Paulo: Saraiva, 1998. p. 546).
4
O julgador, porque fato, no pode deixar de conhecer e considerar outros processos ndos ou em curso,
como antecedentes, parte da histria do ru. (CERNICCHIARO, Luiz Vicente; COSTA JNIOR, Paulo
Jos da. Direito penal na constituio. So Paulo: RT, 1995. p. 116).
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
368
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
antecedentes dizem respeito a tudo aquilo que consta da certido de
antecedentes criminais, ainda que sejam processos paralisados por su-
perveniente extino da punibilidade, inquritos arquivados, condena-
es no transitadas em julgado, processos em curso, absolvies por
falta de prova
5
. Essa tese tambm acolhida pelas cortes de justia do
pas
6
.
J a segunda corrente considera como relevantes to-somente
as condenaes penais transitadas em julgado. Em defesa dessa tese,
destacam-se Julio Fabbrini Mirabete
7
, Srgio Salomo Shecaira e Alceu
Corra Jnior
8
, entre outros
9
. Para Hlios Alejandro Nogus Moyano
10
,
Os motivos no so apenas de ordem constitucional (art. 5, LVII, da
CF). So tambm de ordem prtica. que casos em andamento podem
resultar, at, em verdadeiros atestados de idoneidade, dependendo, evi-
dentemente, do teor do requerimento e/ou deciso de arquivamento,
tratando-se de inqurito ou da fundamentao da sentena absolutria,
na hiptese de ao penal.
Essa a tendncia atual da jurisprudncia, inclusive do Pre-
trio Excelso. Acolhendo o voto do Ministro Gilmar Mendes, o STF
decidiu que a mera existncia de inquritos ou aes penais em anda-
mento no pode caracterizar maus antecedentes, sob pena de violar o
princpio constitucional da no-culpabilidade (CF, art. 5, LVII)
11
. H
quem defenda tambm que maus antecedentes so condenaes que
no importam em reincidncia, tais como: a) condenao anterior por
contraveno; b) condenao com trnsito em julgado aps a segunda
conduta; c) condenao anterior por crimes militares prprios e por cri-
5
COSTA JNIOR, Paulo Jos da. Direito penal: curso completo. So Paulo: Saraiva, 1991. p. 162. 1 v.
6
TJSP, HC 144.125-3/2, 2 Cmara, Rel. Renato Talli, j. 28.06.1993; STF, 73.394/SP, 1 Turma, Rel. Mim.
Moreira Alves, j. 19.03.1996 e HC 72.130/RJ, 2 Turma, Rel. Min. Marco Aurlio, j. 22.04.1996.
7
MIRABETE, Julio Fabbrini. Cdigo penal interpretado. So Paulo: Atlas, 1999. p. 328.
8
CORREA JNIOR, Alceu; CHECAIRA, Srgio. Teoria da pena: nalidades, direito positivo, jurispru-
dncia e outros estudos de cincia criminal. So Paulo: RT, 2002. p. 352.
9
Responder a um processo no pode ser tido como probabilidade de condenao. PODVAL, Maria
Fernanda de Toledo Rodovalho. Maus antecedentes - em busca de um contedo: comentrio de jurispru-
dncia. Boletim IBCCRIM. Jurisprudncia. So Paulo, v. 2, n. 17, p. 53, jun. 1994.
10
MOYANO, Hlios Alejandro Nogus. Um critrio objetivo em antecedentes criminais. Boletim IBC-
CRIM. So Paulo, n.8, p. 7, set. 1993.
11 Informativo n. 390 do STF, HC 84.088/MS, j. 31.05.05.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
369 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
mes polticos; d) condenao com pena cumprida ou extinta h mais de
cinco anos
12
.
Diferente viso tem Guilherme de Souza Nucci
13
, que faz uma
combinao dos dois entendimentos j mencionados. Arma ele que a
corrente mais branda deve ser considerada para efeitos de xao da
pena, quando da anlise das circunstncias judiciais (art. 59 do Cdigo
Penal). Em contrapartida, a posio mais severa deve ter lugar no m-
bito do processo penal, mormente no que tange s prises cautelares.
Ressalta o autor que o fato de o agente estar envolvido reiteradas vezes
em crimes semelhantes, mesmo que no tenha havido condenao ain-
da, deve ser sopesado em seu desfavor.
importante ressaltar que bons antecedentes no se confun-
dem com primariedade. Tem bons antecedentes, seguindo-se o posi-
cionamento majoritrio, aquele que nunca foi condenado penalmente
em denitivo. primrio no s aquele que nunca sofreu reprimenda
criminal, como tambm aquele que, passados cinco anos aps a extin-
o ou o cumprimento da pena decorrente de condenao anterior, no
comete novo crime
14
. Para a corrente mais dura, pode at ser primrio,
mas no tem bons antecedentes quem, vrias vezes, esteve envolvido
em ocorrncias, inquritos e processos criminais, sob a suspeita ou a
acusao de prtica de diferentes crimes
15
.
Por outro lado, maus antecedentes no devem ser confundidos
com reincidncia, instituto previsto no art. 63 do Cdigo Penal. Esta se
verica quando o agente comete novo crime, depois de transitar em
julgado a sentena que, no pas ou no estrangeiro, o tenha condenado
por crime anterior. Os maus antecedentes, por seu turno, abrangem a
reincidncia, uma vez que, para efeito de reincidncia, no prevalece
a condenao anterior, se entre a data do cumprimento ou extino da
pena e a infrao posterior tiver decorrido perodo de tempo superior
a 5 (cinco) anos, computado o perodo de prova da suspenso ou do li-
vramento condicional, se no ocorrer revogao (art. 64, I, do Cdigo
12
PODVAL, Maria Fernanda de Toledo Rodovalho. Op. cit.
13
NUCCI, Guilherme de Souza. Cdigo penal comentado. So Paulo: RT, 2005. p. 334.
14
NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 334.
15
STF, HC 55085/MG, julgado em 25/04/1977, rel. Min. Moreira Alves.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
370
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Penal). Portanto, a reincidncia tem tempo certo de vigncia, adotado
que foi o princpio da temporariedade, diferentemente dos maus antece-
dentes, que persistem no tempo.
Seguindo esse raciocnio, decorrido o prazo de cinco anos
previsto em lei, sem que haja nova condenao, o agente passa a ser
primrio novamente, mas mantm os maus antecedentes
16
. Nesse caso,
usualmente denomina-se de pessoa tecnicamente primria. Tal ex-
presso , no entanto, rechaada pela doutrina, por no encontrar am-
paro legal
17
. Contudo, h opinies em contrrio
18
, no sentido de que a
interpretao sistemtica das leis penais e da Lei de Execuo Penal
vem demonstrar que o objetivo do ordenamento reinserir o acusado na
sociedade. Uma vez que a sano pelo ilcito j foi cumprida ou extinta
h mais de cinco anos, o indivduo deve ser visto como cidado comum
e no eternamente diferenciado e marginalizado
19
.
3. Maus antecedentes e o princpio da presuno da inocncia
Dispe a Constituio Federal, em seu artigo 5, inciso LVII,
que ningum ser considerado culpado at o trnsito em julgado de
sentena penal condenatria. Esse preceito recebeu a denominao
doutrinria de presuno da inocncia do ru ou de sua no-culpabilida-
de. Baseia-se, segundo Alberto Gallardo Rueda
20
, na prpria dignidade
da pessoa humana.
Aqueles que so contra tal princpio alegam que o fato de
16
O decurso do perodo temporal previsto no pargrafo nico do art. 46 (64, I, vigente) do CP elimina os
efeitos da reincidncia como tal, mas no obsta seja a condenao considerada para os ns do art. 42 (art.
59 vigente) do diploma penal. (TACRSP, JTACRIM 55/406). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM
54/338, 56/313, 67/41 e 91/304.
17
NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 350 e MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. cit., p. 364.
18
Volvidos cinco anos, a condenao anterior j no opera o efeito da reincidncia: esta desaparece, e com
ela os maus antecedentes. Conceituao de maus antecedentes. Boletim IBCCRIM. So Paulo, n. 7, p. 7,
ago. 1993.
19
PODVAL, Maria Fernanda de Toledo Rodovalho. Op. cit.
20
GALLARDO RUEDA, Alberto. El derecho a la presuncion de inocncia. Cuadernos de poltica criminal.
Madrid. n. 38. p. 313. 1989.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
371 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o acusado no poder ser considerado culpado antes de deciso penal
condenatria passada em julgado no autoriza que ele seja presumido
inocente. Permanece, ento, a situao do acusado eqidistante tanto
da inocncia quanto da culpabilidade. A presuno de inocncia seria
reexo de inconseqentes excessos dos iluministas
21
. No entanto, trata-
se de posicionamento ultrapassado, posto que atualmente no processo
penal brasileiro reina a tese da no-culpabilidade, na forma de uma pre-
suno legal relativa (juris tantum), de que o acusado e at o condenado
que esteja recorrendo tratado legalmente como pessoa inocente
22
.
Dessa forma, a presuno de inocncia hoje verdadeiro di-
reito fundamental constitucionalmente garantido. Incumbe, assim, ao
Estado, atravs da persecuo penal, desconstituir tal presuno, to-
somente, atravs do trnsito em julgado de uma condenao devida-
mente proferida sob a gide do devido processo legal. Esse preceito
reconhecido internacionalmente em documentos como a Declarao
Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Polticos, o Pacto de San Jos da Costa Rica, entre outros.
importante, todavia, diferenciar o princpio em tela do prin-
cpio do in dubio pro reo. Ambos so manifestaes do preceito mais
abrangente que o favor rei
23
, o qual procura favorecer o acusado ao
longo de seu processamento contra abusos eventualmente praticados.
Porm, o princpio do in dubio pro reo utilizado quando h dvidas
em relao infrao penal, sua autoria ou materialidade. Nessas hip-
teses, os dados devem ser interpretados em favor do ru. Diferentemen-
te o princpio da presuno de inocncia, que permanece at que haja
julgamento transitado em julgado de sentena penal condenatria, mas
21
DELMANTO JNIOR, Roberto. Desconsiderao prvia de culpabilidade e presuno de inocncia.
Boletim IBCCRIM. So Paulo, n. 70, p. 18-19, set. 1998.
22
Inquestionavelmente a presuno de inocncia, como expresso do princpio favor libertatis no proces-
so penal, tem dimenses, hoje, ainda muito maiores do que a j enorme e signicativa evoluo ocorrida
quando se baniram as ordlias e o sistema da prova legal. Atualmente, ela afeta no s o mrito acerca da
culpabilidade do acusado, mas, sobretudo, o modo pelo qual ele tratado durante o processo, como devem
ser tuteladas a sua liberdade, integridade fsica e psquica, honra e imagem, vedando-se abusos, humilha-
es desnecessrias, constrangimentos gratuitos e incompatveis com o seu status, mesmo que presumido,
de inocente (DELMANTO JNIOR, Roberto. Op. cit.).
23
Nesse sentido, conferir RODRGUEZ RAIMNDEZ, Antonio. Notas sobre presuncin de inocencia.
Revista Poder Judicial. Madrid, n. 39, p. 288.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
372
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
no interfere na avaliao das provas pelo magistrado.
O nus da prova, anteriormente, cabia ao acusado. Cumpria-
lhe provar sua inocncia, o que nem sempre era possvel. Porm, aps
a Revoluo Francesa, que procurou limitar o jus puniendi do Estado,
foram institudos mecanismos para evitar maiores excessos. Surgiu da
a presuno de no-culpabilidade, substituindo-se o in dubio pro so-
cietate, pelo in dubio pro reo. Em um processo penal orientado pela
presuno de inocncia, se o acusado tido por inocente at que se
prove o contrrio em denitivo, ca claro que o encargo de demonstrar
sua culpabilidade da acusao, sendo a dvida favorvel ao acusado
24
.
Com efeito, ao prolatar uma sentena condenatria, seguindo o aspecto
trifsico idealizado por Nelson Hungria
25
, o juiz, a priori, deve levar em
considerao, para a xao da pena-base, as circunstncias judiciais
elencadas no art. 59 do Cdigo Penal, dentre as quais se encontram os
antecedentes do ru.
Antes da promulgao da Constituio Federal de 1988, o en-
tendimento comum nos pretrios nacionais era o de que no tem bons
antecedentes quem vrias vezes esteve envolvido em ocorrncias, in-
quritos e processos criminais, sob suspeita ou acusao de prtica de
diferentes delitos
26
. Contudo, aps a vigncia do princpio da presun-
o de inocncia, a esfera dos maus antecedentes esvaziou-se, a ponto
de englobar apenas as sentenas condenatrias transitadas em julgado.
Como foi dito, esse o posicionamento majoritrio hodierno na dou-
trina nacional, adotado por Mirabete
27
, Shecaira, Alceu Corra Jnior e
Bitencourt, que repercute no entendimento jurisprudencial at da Su-
prema Corte
28
.
24
GOMES FILHO, Antonio Magalhes. A presuno de inocncia e o nus da prova em processo penal.
Boletim IBCCRIM. So Paulo, n. 23. p. 3.
25
Para maiores informaes acerca do critrio criado por Nelson Hungria, cf. JESUS, Damsio E. de. Di-
reito penal. So Paulo: Saraiva, 1998. p. 576.
26
Voto do Min. Moreira Alves no julgamento do RHC n 55.085-MG, em 15-3-77, no STF.
27
O envolvimento em vrios inquritos e aes penais, antes tido como maus antecedentes, no mais
reconhecido como tais em decorrncia do princpio de presuno de no culpabilidade, mxime quando
arquivados os procedimentos inquisitivos ou absolvidos os rus (art. 5, LVII, CF). Condenaes anterio-
res, a habitualidade no crime e mesmo outros fatos desabonadores comprovados, porm, indicam maus
antecedentes. MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. cit., p. 328).
28
STF. HC 80.719, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 28/09/01.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
373 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Considerar como maus antecedentes inquritos instaurados,
processos criminais em andamento, absolvies por insucincia de
provas e prescries abstratas, retroativas e intercorrentes entendi-
mento respeitvel, mas incompatvel com os ditames da Carta Mag-
na. Esse tambm o entendimento de Czar Roberto Bitencourt
29
, que
aponta em sua obra as razes da mudana em sua opinio, antes liada
corrente mais severa quanto aos maus antecedentes.
Tambm a jurisprudncia tem seguido a vertente que limita
o gravame dos antecedentes, ao entender que a simples instaurao
de processo criminal ou de inqurito policial insuciente, imprprio
mesmo, para recrudescer a pena. Um e outro so hipteses de trabalho,
cuja concluso poder demonstrar a inexistncia do fato, negativa de
autoria ou de excludente de ilicitude. Afronta, sem dvida, o princpio
da presuno de inocncia (Constituio, art. 5, LVII)
30
.
Contudo, a restrio do alcance da noo de maus antecedentes
a condenaes irrecorrveis no o ideal. No h como olhar indistin-
tamente o comportamento do portador de uma cha criminal imaculada
e o daquele que possui inmeros inquritos instaurados, processos em
andamento e absolvies por falta de provas. Tal viso encontra guarida
nas cortes brasileiras, a exemplo do Tribunal de Justia do Estado de
So Paulo, ao proclamar que homem de bem, realmente, no marcaria
com tal freqncia presena no campo das investigaes da polcia e da
justia penal
31
.
No Supremo Tribunal Federal, o Ministro Moreira Alves sus-
tentou esse entendimento, mesmo aps a promulgao da nova Carta
Constitucional
32
. Seu argumento foi seguido, muitas vezes, pelo Minis-
tro Maurcio Corra que argumentou, certa feita, que 60 inquritos ins-
taurados e 20 aes penais (8 em grau de recurso pela defesa) so maus
antecedentes, inclusive para aumentar a pena
33
. Idntico entendimento
29
BITENCOURT, Csar Roberto. Tratado de direito penal. So Paulo: Saraiva, 2003. p. 554-5. 1 v.
30
RHC n. 1.772-SP. 6 Turma do STJ, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 8-3-93. No mesmo sentido,
RHC 10.907-SC, ED/Resp n. 123.995-SP, RHC n. 7.262-RJ, entre outros julgados da mesma Corte.
31
HC 149.906-3/3, 5 Cmara, rel. Dirceu de Mello, j. 19.08.1993.
32
HC 73.878-SP, 1 Turma, j. 18-6-96, HC 73.394-SP, 1 Turma, j. 19-3-96, HC 74.967-SP, 1 Turma, j. 8-4-97.
33
HC 73.297-SP, 2 Turma, j. 6-2-96.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
374
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
foi esposado tambm pelo Ministro Marco Aurlio
34
.
4. Instituto da transao penal
Prescreve o art. 76 da Lei n 9.099/95: Havendo represen-
tao ou tratando-se de crime de ao penal pblica incondicionada,
no sendo caso de arquivamento, o Ministrio Pblico poder propor a
aplicao imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser espe-
cicada na proposta. A transao penal, como cou conhecida a gura
criada pela Lei dos Juizados Especiais como adiantamento da repri-
menda no-privativa de liberdade, sem anlise de culpabilidade, de
proposio privativa do Ministrio Pblico, que o dominus litis (art.
129 da Constituio Federal). Como tal, tem a faculdade de, at por
economia processual, poupar tempo e desgaste da justia e do prprio
autor do fato, deixando de propor a ao penal, desde que cumpridas as
condies estabelecidas em lei.
O instituto em anlise , portanto, uma discricionariedade re-
gulada, estabelecendo-se, assim, uma exceo ao princpio da obriga-
toriedade, que permeia as aes penais pblicas
35
. Tal preceito estabe-
lece que, se o representante ministerial se convencer da existncia de
indcios sucientes da autoria e da materialidade de determinado crime,
estar ele obrigado a oferecer denncia contra o autor da infrao, a
m de que se instaure a devida ao penal. Porm, para os crimes de
menor potencial ofensivo, o princpio da obrigatoriedade foi substitu-
do pelo da discricionariedade. Mas, a discricionariedade em questo
regrada, posto que se trata de poder-dever do representante do Mi-
nistrio Pblico.
A exemplo do plea bargaining norte-americano e do patteg-
giamento italiano, a transao penal estabelece a pena por acordo das
34
HC 72.130-RJ, 2 Turma, j. 22-4-96.
35
Doravante temos que aprender a conviver tambm com o princpio da discricionariedade (regrada) na
ao penal pblica. Abre-se no campo penal um certo espao para o consenso. Ao lado do clssico princ-
pio da verdade material, agora temos que admitir a verdade consensuada (GRINOVER, Ada Pellegrini.
Juizados Especiais Criminais. So Paulo: RT, 1996. p. 18).
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
375 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
partes, homologado pelo juiz
36
. Todavia, no se confunde ela com o
plea bargaining em que vigora inteiramente o princpio da oportuni-
dade da ao penal pblica quanto a qualquer infrao penal, nem com
o guilty plea (ou plea guilty), em que o ru concorda com a acusao,
admitindo a imputao, com julgamento imediato sem a instruo cri-
minal.
37
.
A transao penal uma das guras presentes no procedimen-
to sumarssimo caracterstico dos Juizados Especiais e formalizado no
Brasil pela Lei n 9.099/95. Ao fazer a proposta, o representante minis-
terial no emite juzo denitivo de culpabilidade, posto que no foram
produzidas todas as provas de que depende tal concluso. O suposto
autor do fato, naquele momento, nem culpado, nem inocente. Ele
passvel to-somente, de um juzo de probabilidade da culpabilidade,
em que se aplica antecipadamente uma pena no-privativa de liberdade,
de acordo com os elementos apresentados no termo circunstanciado de
ocorrncia.
Analisando essa matria, Geraldo Prado
38
posiciona-se no sen-
tido de que houve erro do legislador ao permitir a aplicao de pena
fundada em juzo provisrio de culpabilidade, havendo, como corol-
rio, desrespeito ao princpio do devido processo legal. Contudo, outra
parte da doutrina
39
discorda dessa tese. Para Julio Fabbrini Mirabete
40
,
por exemplo, ainda que se trate de pena no-privativa de liberdade apli-
cada sem instaurao de processo-crime, no h qualquer violao aos
princpios do devido processo legal ou da presuno de inocncia.
O momento para o oferecimento da proposta a audincia pre-
36
ROCHA MONTEIRO, Marcelo. Ausncia de proposta do Ministrio Pblico na transao penal: uma
reexo luz do sistema acusatrio. (Boletim IBCCRIM. So Paulo, n. 69, p. 18-19, ago. 1998).
37
MIRABETE, Julio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais. So Paulo: Atlas, 2002. p. 130.
38
O devido processo legal da transao investigado. Conclui-se que em realidade ele no existe e que a
transao penal consiste exatamente em o imputado abrir mo do devido processo legal (PRADO, Geral-
do. Elementos para uma anlise crtica da transao penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 91).
39
O procedimento, mesmo que breve, para a imposio da pena acordada, j o devido processo previsto
constitucionalmente e em lei infraconstitucional, um procedimento consensual e clere, em que se visa
no propositura de um processo mais gravoso ao autor do fato, desde que este aceite cumprir certas condi-
es estabelecidas na lei (LIMA, Marcellus Polastri. Juizados especiais criminais. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005. p. 92).
40
MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. cit., p. 128.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
376
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
liminar, logo aps a tentativa de composio dos danos civis, se isso for
possvel. No entanto, se em tal oportunidade no puder ser oferecida a
transao (porque o suposto autor no foi intimado para a audincia, por
exemplo), uma nova tentativa de conciliao pode ser feita antes que se
inicie a instruo do feito, ainda que nos autos j haja denncia. Para
tanto, h autorizao expressa dada pelo art. 79 da Lei n 9.099/95.
Tal dispositivo legal traz mais uma inovao, no que tange aos
princpios regentes da ao penal pblica. Trata-se do princpio da in-
disponibilidade, que preconiza ser impossvel ao ente ministerial de-
sistir de processo-crime por ele iniciado. In casu, no entanto, embora a
pea vestibular acusatria j tenha sido ofertada, somente aps frustra-
da a nova tentativa de conciliao e realizada a defesa preliminar oral,
ser a denncia recebida, instaurando-se, assim, a ao penal. Como
corolrio, no h, exatamente, uma infringncia ao princpio da indis-
ponibilidade.
Outro ponto importante a legitimidade para o oferecimento
da proposta. Nas aes penais pblicas, o juiz no pode propor a transa-
o no lugar do membro do Parquet, uma vez que se trata de prerrogati-
va exclusiva deste rgo. Esse , inclusive, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal
41
e do Superior Tribunal de Justia
42
. Nesse caso, o
juiz estaria tomando parte no processo penal, o que no lhe permitido.
Conforme lembra Geraldo Prado
43
, caber aos juzes aplicar a pena
aos autores das infraes penais, porm somente depois dessa condio
41
Recurso extraordinrio. 2. Transao criminal proposta e raticada em audincia a que no compareceu
o Ministrio Pblico, embora previamente houvesse pedido transferncia do ato, o que foi indeferido. 3.
Ofensa ao art. 129, I, da CF/88. 4. Parecer da PGR pelo provimento do recurso. 5. O MP o titular da ao
penal pblica incondicionada. A lei reserva ao MP a iniciativa de propor a transao com a aplicao ime-
diata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especicada na proposta. Se aceita pelo autor da infrao e
seu defensor, ser submetida apreciao do Juiz, a teor do art. 76 e seu 3 da Lei n. 9.099/95. Acolhendo
a proposta do MP, aceita pelo autor da infrao, o Juiz aplicar a pena restritiva de direitos ou multa, con-
soante o 4 do mesmo art. 76. 6. Recurso extraordinrio conhecido e provido para anular a audincia em
que foi proposta e raticada pelo Juiz a transao, sem participao do MP, bem como o processo, a partir
desse ato, sem prejuzo de sua renovao, se ainda no extinta a punibilidade, o que ser vericado no juzo
de origem (STF, RE 296.185-RS, rel. Min. Nri da Silveira, 2 Turma, DJ 22-02-2002 P. 55).
42
STJ: RHC 14088/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5 Turma, DJ 23.06.2003 p. 393; HC 30693/SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
5 Turma, DJ 17.05.2004 p. 251; REsp 538795/SP, 5 Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 15.12.2003, p. 382.
43
PRADO, Geraldo. Op. cit., p. 159.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
377 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ter sido reconhecida em processo pautado pela inrcia da jurisdio,
imparcialidade do magistrado, garantia s partes de paridade de tra-
tamento e igualdade de armas. Veja-se, por exemplo, este julgado do
STJ: Havendo divergncia entre o Juiz e o Promotor de Justia acerca
da proposta de transao, os autos devem ser encaminhados ao Procura-
dor-Geral de Justia, por analogia ao disposto no art. 28 do CPP
44
. Tal
soluo apoiada pela doutrina. Entretanto, Julio Fabbrini Mirabete
45
entende que a proposta de transao poder discricionrio do membro
do Ministrio Pblico. Assim, caso deixe de oferec-la, deve apenas co-
municar o fato ao Procurador-Geral de Justia para os ns de direito.
Pazzaglini Filho
46
entende ser caso de remessa Procuradoria-
Geral de Justia apenas quando o magistrado no concordar com o mrito
da proposta. Segundo ele, se o problema for de legalidade, a transao
no deve ser homologada, cabendo de tal deciso recurso de apelao. J
Marcelo Rocha Monteiro
47
sustenta que seria o caso de o juiz rejeitar a
denncia por falta de interesse de agir, para garantir ao indivduo o direito
de no ser privado de sua liberdade sem o devido processo legal.
Convm lembrar que a vtima no pode interferir na proposta
da transao penal. Anal, deve ser esta realizada entre as partes. Como
se sabe, na ao penal pblica, o ofendido no parte, posto que se trata
de questo a ser resolvida entre o Estado, atravs do Ministrio Pblico,
e o ru. Substitui-se o interesse de vingana privada e de controle auto-
ritrio, por meio do processo penal, pelo interesse pblico na apurao
das infraes penais e punio adequada de seus responsveis. Com
escrupuloso respeito s garantias que integram o patrimnio do Estado
de Direito, o sistema penal da modernidade tentou afastar qualquer res-
qucio de domnio do interesse privado sobre a punio dos agentes
48
.
44
STJ, RESP 660118/SP, 5 Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 18.10.2004, p. 334. No mesmo sentido,
existem julgados recentes emitidos pela mesma Corte: RHC 16029/SP, 5 Turma, Rel. Ministro Jos Arnal-
do da Fonseca, DJ 06.09.2004, p. 271 e RESP 613833/SP, 6 Turma, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido,
DJ 06.12.2004, p. 378.
45
MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. cit., p. 80-84.
46
PAZZAGLINI FILHO, Marino et al. Juizado Especial Criminal: aspectos prticos da Lei n 9.099/95.
So Paulo: Atlas, 1999. p. 55.
47
ROCHA MONTEIRO, Marcelo. Op. cit., p. 56.
48
ROCHA MONTEIRO, Marcelo. Op. cit., p. 168.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
378
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Tanto assim que o prprio art. 76 da Lei dos Juizados Especiais, em
seu caput e nos 3 e 4, s menciona a participao e a manifestao
da vontade do autor do fato e do representante do Parquet.
No entanto, no que tange s aes penais privadas, no h con-
senso, nem na doutrina, nem na jurisprudncia, quanto possibilidade
de se propor a transao penal. Trata-se de questo delicada, conside-
rando que se contrape ao texto legal, o qual no faz qualquer meno
ao querelante e restringe as propostas de transao penal s aes pe-
nais pblicas, sejam elas condicionadas ou incondicionadas. Marcellus
Polastri Lima
49
, Julio Fabbrini Mirabete
50
e Pazzaglini Filho
51
, entre
outros, defendem posio contrria possibilidade de se transacionar
em aes privadas. J Ada Pellegrini Grinover
52
, com fundamentos
analgicos, entende ser possvel tal possibilidade. Por seu turno, a ju-
risprudncia est praticamente sedimentada, no sentido de autorizar a
proposta, mediante a aplicao da analogia in bonam partem, prevista
no art. 3 do Cdigo de Processo Penal
53
.
5. Anlise dos antecedentes na proposta de transao penal pelo
Ministrio Pblico
A transao penal direito que detm o autor do fato, podendo o
mesmo aceit-la ou no. Porm, para que a proposta seja feita pelo promotor
de justia, devem ser observados os comandos trazidos pelo 2 do art. 76 da
49
LIMA, Marcellus Polastri, Marcelo. Op. cit., p. 90.
50
MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. cit., p. 84.
51
(...) vigora o princpio da oportunidade na ao penal privada, sendo discricionria do ofendido. Da, pode
ocorrer a qualquer tempo o perdo do ofendido, a desistncia da ao, o abandono, tornando perempta a ao
e, portanto, incompatvel com o presente instituto (PAZZAGLINI FILHO, Marino et al. Op. cit., p. 61).
52
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Op. cit., p. 122-123.
53
STJ, HC 31527/SP, rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 28.03.2005, p. 315. No mesmo sentido,
tambm do Superior Tribunal de Justia: HC 17601 / SP, rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ
19.12.2002 p. 433 e HC 34085/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 02.08.2004 p. 457. Alm de
julgados do Tribunal de Justia de Santa Catarina (HC n. 02.006449-7, rel. Des. Srgio Roberto Baasch
Luz, j. 17/05/2002) e da Corte Gacha (Recurso em sentido estrito n 70009006321, Oitava Cmara Crimi-
nal, rel. Marco Antnio Ribeiro de Oliveira, julgado em 18/08/2004).
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
379 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Lei dos Juizados Especiais, que vedam sua proposio nos seguintes casos:
I ter sido o autor da infrao condenado, pela prtica de cri-
me, pena privativa de liberdade, por sentena denitiva;
II ter sido o agente beneciado anteriormente, no prazo
de 5 (cinco) anos, pela aplicao de pena restritiva ou
multa, nos termos desse artigo;
III no indicarem os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstncias, ser necessria e suciente a adoo da
medida.
Os impedimentos enumerados podem ser classicados em objeti-
vos, quando decorrentes de fatores externos ao agente (incisos I e II), ou sub-
jetivos, se ligados situao pessoal do autor do fato (inciso III). Neste traba-
lho, importa apenas a anlise do inciso III que, por sinal, repete parcialmente
o texto do caput do art. 59 do Cdigo Penal, j mencionado. Se o membro do
Parquet deixar de oferecer a proposta de transao penal, deve fundamentar
tal posicionamento. Nesse sentido, o art. 43, III, da Lei Orgnica Nacional
do Ministrio Pblico (Lei n 8.625/93) prescreve que dever do represen-
tante ministerial indicar os fundamentos jurdicos de seus pronunciamentos
processuais. Evita-se, dessa forma, que o representante ministerial deixe de
oferecer a proposta, sem razo justicada.
Alguns autores entendem que, uma vez atendidos os requisi-
tos legais, deve a transao penal ser proposta, por se tratar de direito
subjetivo do autor do fato, na forma de lei penal mais benca a este
54
.
Em sentido contrrio, Pazzaglini Filho
55
e Geraldo Prado
56
no aceitam
54
LIMA, Marcellus Polastri. Ministrio Pblico e persecuo criminal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
p. 153. JESUS, Damsio E. de. Lei dos Juizados Especiais Criminais anotada. So Paulo: Saraiva, 1995.
p. 66.
55
Inadmissvel o entendimento de que a transao consubstanciaria direito subjetivo do autor do fato, des-
de que presentes os requisitos legais. Se sequer o rgo julgador pode impor s partes a transao, uma das
partes jamais poderia impor outra qualquer espcie de acordo, caso contrrio, deixaria imediatamente de
ser considerada uma transao. Seria verdadeira contradio nos prprios termos. (PAZZAGLINI FILHO,
Marino, Op. cit., p. 57).
56
PRADO, Geraldo. Op. cit., p. 161.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
380
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
a existncia de direito subjetivo do suposto autor do fato. Segundo en-
tendem, naquele momento, ele ainda est sob o manto da presuno de
inocncia. Assim, como a transao penal no deixa de ser uma pena
aplicada antecipadamente, no se pode dizer que algum tem o direito
subjetivo a sofrer uma sano penal. A respeito da matria, arma Mar-
celo Rocha Monteiro
57
:
Parece-nos que bem mais correto do que proclamar que
todo homem tem o direito de ser punido (?) seria reco-
nhecer que o direito do indivduo consiste em, caso venha
a ser acusado e, aps o devido processo legal, condenado,
no ser punido alm dos limites estabelecidos na lei. No
caso especco do Juizado Especial, no seria mais acer-
tado concluir que o autor do fato tem o direito subjeti-
vo de no ser processado criminalmente pelo Ministrio
Pblico se este no tentar antes o acordo? Em outras pa-
lavras, se o promotor tem o dever de no denunciar, sem
antes propor a aplicao imediata de pena no privativa
de liberdade, o autor do fato tem direito subjetivo de
no ser denunciado, sem que o Ministrio Pblico tenha
feito a proposta. Este o procedimento legal devido no
mbito dos Juizados Especiais.
Impe-se, aqui, diferenciar os maus antecedentes, menciona-
dos no inciso III, da condenao irrecorrvel pena privativa de liber-
dade, de que trata o inciso I do art. 76 da Lei dos Juizados Especiais.
Pelo que foi exposto, deduz-se que os maus antecedentes englobam a
condenao mencionada. So at mais abrangentes, posto que alcan-
am tambm reprimendas no-privativas de liberdade e condenaes
no mais submetidas reincidncia. Mais uma vez, ento, recai-se no
problema de saber exatamente o que seriam os maus antecedentes do
autor do fato, para que estes possam ser sopesados pelo ente minis-
terial na ocasio do oferecimento da transao penal. No o ideal
restringir os maus antecedentes s condenaes que no conguram
reincidncia, mas no h como agir de modo diverso, sob pena de se
57
ROCHA MONTEIRO, Marcelo. Op. cit., p. 92.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
381 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
ofender o princpio da presuno de inocncia insculpido na Lei M-
xima do pas.
De outro modo, adentrar-se-ia a esfera do que hoje denomi-
nado pela doutrina como direito penal do inimigo
58
. Seria um direito pe-
nal de terceira velocidade
59
que aplica sanes de forma a adiantar fatos
que deveriam ser averiguados sob a gide do devido processo legal. O
agente visto pelo prisma de sua periculosidade e no de sua culpabi-
lidade. o exagero da preveno. Nesse aspecto, cumpre transcrever a
lio de Zaffaroni
60
:
O conceito de culpabilidade como qualquer outro pode
adulterar-se, e, inclusive, converter-se em um engendro
perigosssimo para as garantias individuais. Uma das adul-
teraes mais comuns consiste em olvidar que a culpabi-
lidade uma reprovao do ato e no da personalidade
do sujeito, reprovao do que o homem fez, no do que o
homem , tentao na qual, com freqncia, se cai.
No se pode cair em hipteses de prejulgamento. Todavia, as
anlises devem ser feitas caso a caso, pois a constatao de diversos
processos em andamento e inquritos instaurados contra o sujeito por
um mesmo tipo de delito no pode ser simplesmente desconsiderada
sob o argumento da primariedade. Mesmo o STF admite excepcional-
mente a restrio ao princpio da presuno de inocncia, considerando
os fortes indcios em sentido contrrio para permitir o distanciamento
do mnimo na xao da pena-base, em face dos maus antecedentes
como circunstncias judiciais que desfavorecem o agente. Sobre o as-
sunto, leciona Wellington Cabral Saraiva
61
:
58
GOMES, Luiz Flvio. Direito penal do inimigo. In: Revista Jurdica ltima Instncia. Disponvel em:
<http://www.ultimainstancia.com.br/colunas/ler_noticia.php?idNoticia=5232>.
59
Vale ressaltar que o direito penal de primeira velocidade aquele aplicado atravs do procedimento ordi-
nrio, enquanto o de segunda velocidade fruto do rito sumrio e o de terceira, do sumarssimo.
60
Apud CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicao da pena e garantismo. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 44-45.
61
SARAIVA, Wellington Cabral. Antecedentes do ru e direito suspenso condicional do processo penal.
Boletim IBCCRIM. So Paulo, v. 7, n. 79, p. 5-6, jun. 1999.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
382
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
verdade que a existncia de inquritos policiais ou pro-
cessos criminais em andamento no representa demons-
trao de culpa formalmente reconhecida pelo aparato
estatal. Todavia, inquritos e processos em curso podem
funcionar como indcio, mais ou menos veemente, de re-
provabilidade da conduta social do agente e, at, de sua
periculosidade. Tanto assim que a existncia desses
registros costumeiramente tomada pelos rgos juris-
dicionais como elemento relevante para a decretao da
priso preventiva, por exemplo. Servem, igualmente, na
avaliao das chamadas circunstncias judiciais, a que
alude o art. 59 do Cdigo Penal, determinantes da xa-
o da pena.
A existncia de antecedentes, portanto, impe o exame do caso
concreto por parte do Ministrio Pblico, no devendo servir como im-
pedimento absoluto para a proposta de transao penal. Por outro lado,
no deve ser desprezada sob o plio amplo do princpio da presuno
de inocncia. At porque, ao aceitar a transao, o suposto autor do fato
no ser considerado nem culpado, nem inocente; apenas perder o di-
reito ao mesmo benefcio no decurso de cinco anos.
Alm do mais, cumpridas as condies transacionadas, ex-
tinta a punibilidade do autor do fato, sem que haja processo. A nica im-
plicao para tanto que o agente no pode gozar do mesmo benefcio
dentro de cinco anos, nos termos do inciso II do 2 do art. 76 da Lei
dos Juizados Especiais. No deve tal informao constar da sua certi-
do de antecedentes. S pode estar presente em dados requeridos pelo
Juzo ou pelo Ministrio Pblico, para o estrito m de possibilitar o
oferecimento de nova transao dentro do prazo previsto em lei. Porm,
algumas vezes, so emitidas certides imprecisas, com informaes de-
sencontradas, incompletas e incorretas, incluindo-se, at, os processos
onde foi efetivada uma transao penal.
Usualmente, o que acontece, no momento de oferecer a tran-
sao penal, a anlise fria e isolada da certido de antecedentes crimi-
nais fornecida pelo Poder Judicirio. Esta, dependendo do caso, pode
favorecer ou prejudicar o agente. beneciado, por exemplo, o autor
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
383 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
do fato que, advindo de outro Estado, nunca se envolveu em querelas
judiciais na localidade, mas tem extensa cha em seu Estado de origem,
com condenaes, inclusive. Prejudicado ser aquele que primrio,
possuindo alguns processos em andamento no seu Estado natal. Por
isso, deve-se ter cuidado no exame da certido de antecedentes, anali-
sando-se individualmente seu contedo.
6. Consideraes nais
At agora, no se chegou a um consenso quanto ao alcance dos
maus antecedentes. Discute-se ainda se eles envolvem tudo aquilo que
constar da cha criminal do agente, incluindo inquritos arquivados,
condenaes no transitadas em julgado, processos em curso e absolvi-
es por falta de prova. Questiona-se, tambm, se podem ser cogitadas
apenas as condenaes irrecorrveis ou se devem ser consideradas to-
somente as condenaes que no importam em reincidncia. Tanto a
doutrina, quanto a jurisprudncia encontram-se divididas.
O debate torna-se ainda mais acalorado, quando os maus an-
tecedentes so vistos sob o prisma do princpio da presuno de ino-
cncia. Tal princpio rege o processo penal ptrio, sendo um verdadeiro
direito fundamental constitucionalmente garantido (art. 5, LVII). O
citado preceito tem dois alcances: a regra processual de que o acusado
no est obrigado a fornecer provas de sua inocncia, pois esta presu-
mida; a garantia de que o cidado no ser afetado por qualquer medida
restritiva, antes que seja denitivamente condenado. Incumbe, assim,
ao Estado, atravs da persecuo penal, desconstituir a presuno em
tela, atravs do trnsito em julgado de uma condenao devidamente
proferida sob a gide do devido processo legal.
Por conseguinte, considerar como maus antecedentes inquri-
tos instaurados, processos criminais em andamento, absolvies por in-
sucincia de provas e prescries abstratas, retroativas e intercorrentes
entendimento respeitvel, mas incompatvel com os ditames da Carta
Magna. Contudo, a restrio do alcance da noo de maus antecedentes
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
384
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
a condenaes irrecorrveis no o ideal. Anal, no h como olhar
indistintamente o comportamento do portador de uma cha criminal
imaculada e o daquele que possui inmeros inquritos instaurados, pro-
cessos em andamento e absolvies por falta de provas.
A problemtica dos maus antecedentes alcana diversos insti-
tutos do direito penal e processual brasileiro. Destaca-se, nesse aspecto,
a gura da transao penal, criada pela Lei n 9.099/95, onde os ante-
cedentes so causa impeditiva da proposta, conforme preconizado no
art. 76, 2, III, da lei referida. A transao penal um adiantamento
de reprimenda no-privativa de liberdade, sem anlise de culpabilida-
de. Ressalte-se que, mesmo sem haver processo, no se pode falar em
supresso do direito ao contraditrio ou ampla defesa. Como se sabe,
trata-se de instituto que possibilita que o suposto autor do fato no se
envolva em um processo-crime oneroso e desgastante. um acordo, e
por isso, o agente no tem a obrigao de aceitar. Pode escolher entre
livrar-se do processo imediatamente ou tentar provar sua inocncia com
a instruo do feito.
Como se trata de um acordo, o ente ministerial, que tambm
parte processual, no est obrigado a oferecer a proposta transacio-
nal. Discute-se, como demonstrado ao longo do trabalho, se se trata de
direito subjetivo do agente ou no. Convm lembrar que o 2 do art.
76 da Lei dos Juizados Especiais traz elementos objetivos: ter sido o
autor da infrao condenado, pela prtica de crime, pena privativa
de liberdade, por sentena denitiva (inciso I); j ter sido o agente
beneciado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, por outra tran-
sao (inciso II). Traz tambm elementos subjetivos, nos quais esto
includos os antecedentes do agente (inciso III). Deve-se, portanto, es-
tabelecer um limite discricionariedade do representante do Ministrio
Pblico ao examinar os impedimentos subjetivos referentes proposta
de transao penal. Essa medida importante, sob pena de se perpetu-
arem os abusos cometidos por falta de conhecimento sobre o tema ou
por simples m vontade. Nesse aspecto, a anlise do que vem a ser
maus antecedentes, dentre os requisitos subjetivos, que causa as maio-
res dvidas.
Com o presente trabalho, buscou-se esclarecer que a existncia
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
385 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
de antecedentes impe o exame do caso concreto por parte do Parquet.
Portanto, no deve servir como impedimento absoluto para a proposta
de transao penal. Por outro lado, no deve a transao ser apressada-
mente descartada em ateno ao princpio da presuno de inocncia.
At porque, ao aceitar a transao, o suposto autor do fato no ser
considerado nem culpado, nem inocente; apenas perder o direito ao
mesmo benefcio dentro de cinco anos. Conclui-se, portanto, que as
anlises devem ser feitas de maneira casustica, pois a constatao de
diversos processos em andamento e inquritos instaurados contra o
sujeito por um mesmo tipo de delito no pode ser simplesmente des-
considerada, sob o argumento da primariedade. Porm, todo cuidado
pouco para evitar ofensas insustentveis ao princpio da presuno de
no-culpabilidade.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
Referncias bibliogrcas
BRTOLI, Mrcio O. Antecedentes criminais e presuno de inocn-
cia. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo: v. 4, n. 15,
jul./set. 1996.
BIASOTTI, Carlos. Conceituao de maus antecedentes. Boletim IBC-
CRIM. So Paulo, n. 7, ago. 1993.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Algumas questes controvertidas sobre
o Juizado Especial Criminal. Revista Brasileira de Cincias Criminais.
So Paulo. v. 5, n. 20. out./dez. 1993.
_ _________________________. Tratado de direito penal. So Paulo:
Saraiva, 2003. 1 v.
CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo de. Aplicao da
pena e garantismo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
CERNICCHIARO, Luiz Vicente; COSTA JNIOR, Paulo Jos da. Di-
reito penal na constituio. So Paulo: RT, 1995.
386
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
CORRA JNIOR, Alceu; SHECAIRA, Srgio Salomo. Teoria da
pena: nalidades, direito positivo, jurisprudncia e outros estudos de
cincia criminal. So Paulo: RT, 2002.
COSTA JNIOR, Paulo Jos da. Direi-
to penal: curso completo. So Paulo: Saraiva, 1991. 1 v.
DELMANTO, Celso. Cdigo Penal comentado. Rio de Janeiro: Reno-
var, 2000.
DELMANTO JNIOR, Roberto. Desconsiderao prvia de culpabi-
lidade e presuno de inocncia. Boletim IBCCRIM. So Paulo, n. 70,
set. 1998.
DIAS TEIXEIRA, Francisco. Indiciamento e presuno de inocncia.
Boletim IBCCRIM. So Paulo, n. 71, out. 1998.
FALCONI, Romeu. Reabilitao criminal. So Paulo: cone, 1995.
FRANCO, Alberto Silva. Cdigo Penal e sua interpretao jurispru-
dencial. So Paulo: RT, 1995.
GALLARDO RUEDA, Alberto. El derecho a la presuncin de inocen-
cia. Cuadernos de Poltica Criminal, Madrid, n. 38. 1989.
GOMES, L. F. Direito penal do inimigo. In: Revista Jurdica ltima
Instncia, Disponvel em: <http://www.ultimainstancia.com.br/colu-
nas/ler_noticia.php?idNoticia=5232>.
_____________. Crticas ao Direito penal do inimigo. In: Revista Ju-
rdica ltima Instncia, Disponvel em: <http://www.ultimainstancia.
com.br/colunas/ler_noticia.php?idNoticia=5504>.
GOMES FILHO, Antnio Magalhes. A presuno de inocncia e o
nus da prova em processo penal. Boletim IBCCRIM, So Paulo, n. 23,
nov. 1994.
GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Juizados Especiais Criminais. So
Paulo: RT, 1996.
JESUS, Damsio E. de. Direito penal. So Paulo: Saraiva, 1998.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
387 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
_______________. Lei dos Juizados Especiais Criminais anotada. So
Paulo: Saraiva, 1995.
LIMA, Marcellus Polastri. Juizados Especiais criminais. Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2005.
____________________. Ministrio Pblico e persecuo criminal.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais. So Paulo:
Atlas, 2002.
______________________. Cdigo penal interpretado. So Paulo:
Atlas, 1999.
MOYANO, Hlios Alejandro Nogus. Um critrio objetivo em antece-
dentes criminais. Boletim IBCCRIM, So Paulo, n. 8, set. 1993.
NUCCI, Guilherme de Souza. Cdigo penal comentado. So Paulo: RT,
2005.
PALAZZOLO, Massimo. Da violao do princpio da reserva legal: im-
posio de cestas bsicas, suspenso do processo. Boletim IBCCRIM,
So Paulo, v. 11, n. 131, out. 2003.
PAZZAGLINI FILHO, Marino et al. Juizado Especial Criminal: As-
pectos prticos da Lei n 9.099/95. So Paulo: Atlas, 1999.
PITOMBO, Srgio Marcos de Moraes et al. Penas e medidas de segu-
rana no novo Cdigo. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
PODVAL, Maria Fernanda de Toledo Rodovalho. Maus antecedentes -
em busca de um contedo: comentrio de jurisprudncia. Boletim IBC-
CRIM, Jurisprudncia, So Paulo, v. 2, n. 17, jun. 1994.
PRADO, Geraldo. Elementos para uma anlise crtica da transao
penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
ROCHA MONTEIRO, Marcelo. Ausncia de proposta do Ministrio
Pblico na transao penal: uma reexo luz do sistema acusatrio.
Boletim IBCCRIM, So Paulo, n. 69, ago. 1998.
388
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
RODRGUEZ RAIMNDEZ, Antonio. Notas sobre presuncin de
inocencia. Revista Poder Judicial, Madrid, n. 39, sept. 1995.
SARAIVA, Wellington Cabral. Antecedentes do ru e direito suspen-
so condicional do processo penal. Boletim IBCCRIM, So Paulo, v. 7,
n. 79, jun. 1999.
MAUS ANTECEDENTES E SUA REPERCUSSO NA PROPOSTA
DE TRANSAO PENAL PELO MINISTRIO PBLICO
Liana Espnola Pereira
de Carvalho
389 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
1. Introduo
Quando lanamos o livro Responsabilidade do prossional li-
beral nas relaes de consumo, pela Editora Juru, em 2002, o atual
Cdigo Civil brasileiro era uma lei apenas promulgada, s tendo entra-
do em vigor, em janeiro de 2003. Naquela oportunidade, analisamos o
assunto muito mais sob a tica do CDC do que sob o enfoque da legis-
lao civil. Agora, passados mais de quatro anos da vigncia do Cdigo
Civil de 2002, fazia-se necessria uma atualizao do tema. As relaes
contratuais e as implicaes sobre o dano decorrente das relaes ex-
tracontratuais evoluem com rapidez impressionante, forando juristas e
operadores do direito a uma rpida atualizao, sob pena de amargarem
conseqncias muito srias. Por outro lado, as relaes de consumo,
aliadas massicao dos contratos e impessoalidade das relaes
negociais, impulsionam o estudo permanente da responsabilidade civil,
sob os vrios ngulos e teorias necessrias sua correta aplicao.
O prossional liberal moderno um prestador de servios.
Contrata, fornece, benecia e pratica danos. Sua responsabilidade evo-
lui a cada momento, decorrente, principalmente, da evoluo tecnol-
gica que a todos impressiona. O mercado no qual esto inseridos os
prossionais liberais aperfeioa-se a cada dia, necessitando de estudos
scio-econmicos e jurdicos para situar, com a devida correo, os be-
nefcios e malefcios decorrentes dessas relaes. Assim, com as inser-
es e atualizaes que o estudo requer, revimos conceitos, teorias, ve-
ricamos as leis e edies citadas e as atualizamos. Atravs do presente
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL NO
CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
Fernando Antnio de Vasconcelos
Promotor de Justia aposentado
Professor da Universidade Federal da Paraba
Professor do Centro Universitrio de Joo Pessoa - UNIP
390
artigo, esperamos que os leitores possam ter uma anlise mais realista
da atividade prossional, vericada sob a tica da responsabilidade ci-
vil dos seus titulares, num verdadeiro dilogo de normas inseridas no
Cdigo Civil e no Cdigo de Defesa do Consumidor.
No nal do sculo passado, com o desenvolvimento e a conso-
lidao dos Cdigos de Defesa do Consumidor em vrios pases, houve
uma verdadeira revoluo no sistema contratual do Ocidente. No raro,
estabeleceu-se um declarado conito entre a viso contratual dos anti-
gos Cdigos Civis (a maioria ainda estruturada pelo Direito Romano)
e a viso moderna da legislao protetiva das relaes de consumo.
Diante dessas inovaes e da rapidez com que passaram a realizar-se as
relaes contratuais, novos institutos surgiram, novas formas e espcies
contratuais apareceram. E assim o consumidor, parte considerada mais
fraca na relao do contrato, passou a contar com instrumentos valiosos
de proteo e de defesa.
O instituto da responsabilidade civil ganhou novos contornos,
seja pelo aprofundamento dos estudos sobre a aplicabilidade das teorias
que embasavam o assunto, seja pelos novos ventos interpretativos que
passaram a evidenciar temas como a culpa, o dano, a responsabilidade
presumida e a inverso do nus da prova. No Brasil, o surgimento do
Cdigo de Defesa do Consumidor, em 1990, balanou as estruturas do
direito contratual tradicional, introduzindo princpios que vieram dar
nova conotao ao entendimento da responsabilidade civil. Tais mu-
danas ocorreram principalmente com relao liberdade contratual,
liberdade da forma, relatividade dos efeitos do contrato, ao con-
sensualismo, funo social do direito contratual, massicao das
relaes de contrato, ao dirigismo estatal e interpretao mais consen-
tnea com os direitos do consumidor, considerado sempre como parte
hipossuciente na relao contratual.
Foi pensando nesses novos temas, que resolvemos desenvol-
ver o estudo sobre a responsabilidade do prossional liberal nas rela-
es de consumo, buscando o aprofundamento e a interpretao do 4
do art. 14 do CDC, em toda a sua extenso e em confronto com todo o
sistema protetivo inserido na referida lei. Com o Cdigo Civil de 2002,
ao invs de melhor tratamento do tema, laborou-se em mais confuso.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
391
Por exemplo, o art. 951, inserido em meio responsabilidade civil de-
corrente de crimes, remete, com exclusividade, para o prossional da
sade, ou seja, aquele que lida com pacientes. Nesse aspecto, procu-
raremos avanar um pouco mais, na tentativa de denir o prossional
liberal e sua respectiva responsabilidade, em sintonia com as evolues
e modicaes do sculo que passou e do milnio que se inicia.
2. Natureza da profisso liberal: evoluo, importncia e
concepo atual
Uma pesquisa de carter histrico-jurdico sobre a origem e evo-
luo das atividades prossionais, hoje chamadas de liberais, exorbita
as pretenses do presente trabalho. Sabe-se, entretanto, das diferenas
substanciais que se tm observado entre as prosses de outrora e as da
atualidade, principalmente devido s mudanas culturais, econmicas,
tcnicas e sociais que se processaram no decorrer dos tempos.
Prosso geralmente entendida como a atividade ou ocupa-
o especializada, da qual se podem tirar os meios de subsistncia. Pro-
sso liberal aquela que se caracteriza pela inexistncia, em geral, de
qualquer vinculao hierrquica e pelo exerccio predominantemente
tcnico e intelectual de conhecimentos especializados, concernentes a
bens fundamentais do homem, como a vida, a sade, a honra, a liber-
dade, etc. Vez por outra, o legislador, nacional ou aliengena, confunde
prosso com arte, entendendo esta ltima como atividade artesanal.
Essa confuso aumenta quando se mencionam servio, prestao, fun-
o, atribuio. Do latim professio, originou-se o substantivo pros-
so. Depois surgiu o adjetivo prossional (no espanhol, professional;
no italiano, professionale; no francs, professionnel e no ingls, profes-
sional). Aparecendo a princpio como adjetivo, o termo, posteriormen-
te, substantivou-se em todas essas lnguas.
Tratando-se de prosso liberal, no se pode raciocinar com
base no conceito clssico, ainda impregnado da concepo romntica
acerca da onerosidade do trabalho manual e da gratuidade do trabalho
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
392
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
intelectual. Os romanos consideravam o trabalho manual, imposto aos
escravos e aos libertos, de forma desprezvel, j que era remunerado.
Por outro lado, o trabalho intelectual era atributo do homem livre, exer-
cido com benemerncia ou complacncia, constituindo munus e no
ministerium.
Na Idade Mdia, valorizou-se muito o trabalho de engenhei-
ros e arquitetos; o Renascimento, por sua vez, forneceu uma enorme
quantidade de mestres e estudiosos do direito. As escolas prossionais
alcanaram nveis espantosos de autonomia e poder, podendo expe-
dir licenas de doutoramento e de exerccio prossional, alm de es-
taturem normas para o exerccio prossional. Entre os sculos XVI
e XVIII, os prossionais liberais eram distribudos segundo critrios
muito parecidos com os de hoje. Geralmente, eram divididos em dois
grupos: no primeiro, estavam inseridos os tcnicos (arquitetos, mdi-
cos, fsicos, cirurgies, especialistas); no segundo, incluam-se todos os
outros (mestres, embaixadores, lsofos, tabelies, procuradores, dou-
tores da lei civil, jurisconsultos, telogos).
Observa-se, nesse retrospecto histrico, que o trabalho inte-
lectual, para os romanos, estava intimamente ligado dignidade do ho-
mem, acarretando para o benecirio o dever de reconhecimento ou
gratido. Esta podia converter-se em pecnia, que no tinha o sentido
de pagamento pelos servios prestados. Tratava-se de uma gratia ou
graticatio, espcie de compensao honorca que deixava as partes
devidamente compensadas.
Dos estudos realizados acerca da prosso liberal nos primr-
dios da civilizao jurdica, pode-se concluir, com certa facilidade, que,
no Direito Romano, os servios prestados por prossionais liberais
(studia liberalia, artes liberales) no eram objeto de estipulao con-
tratual. Constituam uma categoria seleta de pessoas com boa formao
intelectual e cultural e que no se vinculavam aos contratos individuais
de trabalho, nos moldes como hoje so realizados. Esses servios pres-
tados por prossionais liberais eram retribudos por meio de uma d-
diva (munera) e que, por fora do costume, constitua um dever social,
no ostentando carter obrigatrio do ponto de vista jurdico.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
393
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
No comeo do sculo XIX, a situao do operrio perante o
empregador era quase servil, sem qualquer nesga de dignidade. , por-
tanto, utpico e at inverossmil falar-se, quela poca, em liberdade ou
autonomia de vontade. Os tericos do liberalismo, quando comentam o
chamado liberalismo econmico, ao invs de apontarem as propaladas
igualdade e liberdade decorrentes da Revoluo Francesa, referem-se a
um estado de miserabilidade do trabalhador, sem autonomia ou liberda-
de de contratar no campo trabalhista.
O fato de o trabalhador manter, simultaneamente, vrias rela-
es de emprego no o liberta inteiramente do vnculo de subordinao.
Sem dvida, deixa-o numa situao diferenciada, mas no o desvin-
cula completamente. A atividade prossional de um trabalhador com
caractersticas marcadamente intelectuais ou acadmicas, da denomi-
nada classe dos prossionistas, pode, realmente, ser objeto de vrios
contratos da mesma natureza, pois que, normalmente, os servios que
presta no absorvem todo o tempo de que pode dispor e no lhe ofus-
cam a responsabilidade. Compreendem-se na categoria de prossionis-
tas, com essa caracterstica de intelectualidade, notadamente mdicos,
odontlogos, advogados, engenheiros, contadores, artistas e outras pro-
sses que recebem uma regulamentao ocial e esto organizadas em
corporaes ou sindicatos
1
.
O conceito que se faz hoje de prosso liberal diferente do
que entendiam antes os estudiosos, que a consideravam uma atividade
no somente de carter manual. Prosso liberal, que originariamente
signicava o trabalho de um homem livre, hoje designa a atividade do
indivduo cujo trabalho no depende seno das capacidades tcnicas e
intelectuais dele mesmo, embora possa ser, em determinadas situaes,
um assalariado. Podemos entender, assim, o prossional liberal como
algum que adquiriu certa preparao cultural, normalmente atravs de
cursos ou estgios e que, em decorrncia da prosso que abraou, pas-
sa a prestar um servio de natureza especca, na maioria das vezes,
regulado em lei.
Exerce uma prosso liberal, no conceito da maioria dos juris-
1
GOMES, O.; GOTTSCHALK E. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 98.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
394
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tas, toda pessoa que, em total independncia tcnica e livre de qualquer
elo de subordinao, coloca seus conhecimentos e seus dons a servi-
o de outrem, num esforo para exercer uma atividade ou prestar um
servio, habilitado ou qualicado pela lei ou pelas regras inseridas no
mercado de trabalho. Nesse conceito, podem se enquadrar as prosses
regulamentadas ou no por lei, as que exigem formao universitria ou
habilitao tcnica equivalente e ainda aquelas reconhecidas no merca-
do de trabalho e nas relaes sociais.
Oscar Ivan Prux
2
, autor da era ps-Cdigo de Defesa do Con-
sumidor, ainda confunde os conceitos. Conclui ser prossional liberal
uma categoria de pessoas que, no exerccio de suas atividades laborais,
perfeitamente diferenciada pelos conhecimentos tcnicos reconheci-
dos em diploma de nvel superior, no se confundindo com a gura
do autnomo. Pe, nesse rol, mdicos, farmacuticos, veterinrios,
advogados, professores, engenheiros, arquitetos, sioterapeutas, fono-
audilogos, psiclogos, enfermeiros com formao superior, dentistas,
economistas, contabilistas, administradores (de empresas, hospitalares,
pblicos, de comrcio exterior), jornalistas, matemticos e muitos ou-
tros, sempre que atuem de forma independente, como prestadores de
servios a seus clientes.
3. Atividade do prossional liberal
Analisando as caractersticas especcas da prosso liberal e,
principalmente, a natureza do servio desenvolvido pelos prossionais
liberais, Jean Savatier
3
apontava, em 1947, trs caracteres especcos
da atividade liberal: intelectualidade, em oposio ao trabalho manual;
independncia, em oposio s prosses assalariadas; desinteresse,
em oposio s prosses ditas comerciais. Todavia, adianta o prprio
autor francs que as qualidades intelectuais e morais esto longe de ser
caractersticas sucientes ou mesmo essenciais s prosses liberais.
2
PRUX, Oscar Ivan. Responsabilidade civil do prossional liberal no CDC. Belo Horizonte: Del Rey,
1998. p. 107.
3
SAVATIER, Jean. La profession librale: tude juridique et pratique. Paris: [s. n.], 1947. p. 35.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
395 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Essas qualidades estariam tambm presentes em outras prosses que
no so catalogadas como liberais.
O prossional liberal da era moderna no guarda muita seme-
lhana com seu congnere do sculo anterior, que era clnico geral,
atuava sozinho e possua clientela cativa com traos de familiaridade.
Imperava mais que tudo a conana mtua, onde havia relaes jurdi-
cas estabilizadas, mais por fora da calmaria que reinava nas relaes
prossionais. Hoje, procuram-se escritrios e clnicas; direciona-se em
busca de competncia, de especializao; exige-se seja o prossional
conhecedor da cincia de sua prosso, para dar maior segurana e cre-
dibilidade ao seu cliente.
Nos sculos anteriores, o mdico e o advogado, por exemplo,
eram clnicos gerais, atendiam a todos indistintamente: o primeiro
fazia cirurgias e cuidava de detalhes clnicos; o segundo defendia crimi-
nosos ou atuava na rea tributria. O prossional liberal moderno tem
de se especializar, atender a uma clientela seleta, participar de escrit-
rios ou clnicas, pois as relaes entre ele e os seus clientes adquiriram
tanta complexidade que impossvel ser clnico geral na chamada
era ps-industrial.
Tanto no fornecimento de produtos (incluindo-se a o projeto,
o fabrico, o manejo, a mercancia) como na prestao de servios, segu-
ramente as regras at ento vigorantes resultaram insucientes para as
novas demandas. Leis e regulamentos do sculo passado tiveram de ser
revistos e readaptados com certa urgncia, sob pena de haver um colap-
so nas relaes resultantes dos contratos modernos de consumo.
O prossional liberal da era moderna tem de cercar-se de cui-
dados e diligncias para que o fornecimento de um servio prossional
no redunde em gordas indenizaes que tenha de pagar aos beneci-
rios desses servios. O dever de informao um dos principais requisi-
tos para o sucesso da prestao eciente do servio. O prossional deve
esclarecer o consumidor sobre o seu problema, os cuidados durante a
prestao do servio, os riscos que possam ocorrer, as precaues e
o custo da relao contratual. Deve o prossional liberal moderno ser
tambm um conselheiro, atendendo a quem lhe solicita um servio, pois
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
396
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
o consumidor, muitas vezes, no tem idia dos percalos e empecilhos
que encontrar pelo caminho.
Naqueles casos onde est em jogo uma obrigao de resultado,
como veremos adiante, o cuidado do prossional liberal deve ser redo-
brado, porque est prometendo ao benecirio exatamente aquilo que
ele busca, ou seja, o sucesso da proposio. No se admitem falhas. No
h meio-termo. Deve o consumidor ser esclarecido sobre todos os pas-
sos do contrato, os riscos, as tcnicas, as conseqncias e possibilidades
de contratempo durante o cumprimento da avena. Caso o prossional
considere a empreitada de difcil consecuo, deve rejeit-la, em nome
do bom senso e da tica prossional.
A natureza jurdica da responsabilidade do prossional liberal
est calcada em duas correntes: a do nexo convencional e a da cul-
pa aquiliana. Pela primeira, vislumbra-se seu complexo envolvendo o
mandato, a locao de servios e o inadimplemento contratual, todos
direcionados para a culpa por descumprimento do contrato. Na segun-
da, observa-se a conduta irregular do agente, que dependeria mais das
suas aptides tcnicas e cientcas do que de estipulaes contratuais.
Mesmo considerando-se a natureza contratual da responsabilidade pro-
ssional, essa relao sui generis, pela prpria complexidade e espe-
cicidade das prosses.
A responsabilidade dos prossionais liberais, no Brasil, at o
advento do CDC, era regulada somente pelo Cdigo Civil de 1916, em
dois ttulos: Das Obrigaes por Atos Ilcitos e Da Liquidao das
Obrigaes. A doutrina tradicional discutia o carter contratual dessa
responsabilidade, procurando afast-la da responsabilidade aquiliana.
Podemos observar que inexiste diferena ontolgica entre as duas mo-
dalidades de responsabilidade: a contratual e a extracontratual.
Aqui merecem destaque dois tipos de responsabilidade pros-
sional: a decorrente de fato prprio e aquela relacionada atividade do
prossional liberal como empregado ou preposto de pessoa jurdica, a
exemplo de hospitais, clnicas e escritrios de advocacia. Mas essa apa-
rente diferena entre responsabilidade contratual e aquiliana superada
pela legislao protetiva do consumidor. No entendimento de Antnio
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
397 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Hermann Vasconcellos Benjamin
4
, a responsabilidade se materializa
em funo de um outro tipo de vnculo: a relao de consumo, con-
tratual ou no. Caracterizando-se a relao de consumo, muitos outros
aspectos devero constar do somatrio que envolve a responsabilidade,
a exemplo da presuno de culpa, inverso do onus probandi etc.
A responsabilidade dos prossionais liberais tem ensejado a
preocupao das legislaes de vrios pases, com predominncia para
o Cdigo Civil na maioria deles. Porm, os postulados atinentes s re-
laes de consumo, tanto na Europa quanto nas Amricas, envereda-
ram pelo caminho mais simples da responsabilidade subjetiva. Adiante,
quando tratarmos da responsabilidade no CDC, traaremos mais de-
talhadamente as linhas histricas e evolutivas dessa responsabilidade
prossional, culminando com a vigncia do Cdigo de Defesa do Con-
sumidor no Brasil.
Nos Juizados de Relaes de Consumo, PROCONs e Curado-
rias do Consumidor, tm sido registradas reclamaes de consumidores
que se sentiram prejudicados por prossionais que no prestaram o ser-
vio de forma condizente. O nmero ainda diminuto, se comparado
com as reclamaes dos consumidores na rea de produtos e servios
outros, que no os prestados por prossionais liberais.
4. Responsabilidade do prossional liberal no Cdigo Civil
Os Cdigos Civis francs (1804) e brasileiro (1916) preocu-
param-se mais com a teoria da culpa. O chamado Cdigo de Napoleo
inuenciou, sobremaneira, no s o direito brasileiro, mas tambm v-
rios cdigos da modernidade, no que toca construo de um modelo
de responsabilidade civil. A esse respeito, Jos de Aguiar Dias
5
salienta
que, no Cdigo Civil francs, tem a legislao moderna o seu modelo
e inspirao. Antes, porm, que surgisse esse monumento jurdico, o
direito francs j exercia sensvel inuncia nos ordenamentos jurdi-
4
BENJAMIN, Antnio H. V. Comentrios ao Cdigo de Defesa do Consumidor. So Paulo: Saraiva, 1991.
p. 44.
5
DIAS, Jos Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 27-28.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
398
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
cos de outros povos. Recorda o civilista que o Cdigo Civil francs foi
aperfeioando, a pouco e pouco, as idias romnicas, at estabelecer
nitidamente um princpio geral de responsabilidade civil, abandonando
o critrio de enumerar os casos de composio obrigatria.
A responsabilidade civil consiste, consoante entendimento de
Caio Mrio da Silva Pereira
6
, na efetivao da reparabilidade abstrata
do dano em relao a um sujeito passivo da relao jurdica que se for-
ma. Assim, tanto a reparao quanto o sujeito passivo compem o bin-
mio da responsabilidade civil. Esta, ento, se enuncia como o princpio
que subordina a reparao sua incidncia na pessoa do causador do
dano. Para a maioria dos nossos doutrinadores, hoje j libertos daquela
xao inicial no cerne de uma das correntes tericas mais festejadas,
no importa se o fundamento a culpa ou se independe desta. Importa,
sim, a constatao da existncia de um fato danoso e a subordinao de
um sujeito passivo ao dever de ressarcir. A, sim, estar consolidada a
responsabilidade civil.
Mas, no direito positivo brasileiro, os novos ventos encontra-
ram forte resistncia. O revogado Cdigo Civil, timidamente, inseriu,
em alguns artigos, disposies cuja exegese apontava para uma aproxi-
mao com a doutrina do risco. Os arts. 1.519, 1.520, pargrafo nico,
1.528 e 1.529 denotavam forte tendncia objetiva. Na legislao espe-
cial, at chegarmos ao CDC, surgiram vrias disposies consagradoras
da responsabilidade objetiva. S a ttulo de referncia, pode-se citar a
legislao que trata de acidentes do trabalho, das aeronaves, dos auto-
mveis, das minas e das estradas de ferro, alm da que trata de aciden-
tes causados por eletricidade.
Alvino Lima
7
ressalta, quanto s vrias frmulas tentadas na
busca de solues para os problemas atinentes responsabilidade civil,
que vrios foram os processos tcnicos postos em jogo para atender
praticabilidade da responsabilidade. Dentre eles, cita os seguintes: a
admisso da existncia da culpa pela aplicao da teoria do abuso do
direito e da culpa negativa; o reconhecimento de presuno de culpa; a
6
PEREIRA, Caio Mrio da S. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 16.
7
LIMA, Alvino. Culpa e risco. So Paulo: RT, 1998. p. 71.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
399 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
aceitao da teoria do risco; a transformao da responsabilidade aqui-
liana em contratual. Ressalta o citado autor que o homem moderno,
mais diligente e consciente das suas responsabilidades, no pode aceitar
a culpa em sua largueza demasiada ou somente ela como fundamento
da responsabilidade.
O que se observa, ao longo do tempo e pelas bases doutrinrias
e legislativas trazidas at ns, que o abalo na teoria da culpa propor-
cionou verdadeira revoluo nos conceitos jurdicos de responsabiliza-
o civil. Houve, ento, o surgimento e aceitao gradual da teoria do
risco, para desaguar na teoria objetiva, hoje considerada a mais prtica,
a mais equnime e a mais adequada ao advento do terceiro milnio. A
esse respeito, observa Jos de Aguiar Dias
8
, citando o francs Marton:
Os precursores da doutrina do risco foram alguns partidrios da escola
do direito natural no sculo XVIII, em particular Thomasius e Heinec-
cius, que sustentavam a opinio de que o autor de um dano deve ser res-
ponsabilizado independentemente da existncia de culpa de sua parte.
Mas, para a maioria dos doutrinadores, entre eles Slvio Lus
Ferreira da Rocha
9
, foram os franceses que sistematizaram a teoria ob-
jetiva, destacando-se ali as idias de Saleilles e Josserand. Deu-se, a
princpio, a interpretao objetiva da palavra faute (Cdigo Civil fran-
cs, art. 1382), para, em seguida, entender-se que a responsabilidade
decorre de nossos prprios atos, desde que se congure a existncia de
um dano injusto. Como j salientado, o Cdigo Civil brasileiro anterior
adotou, em quase sua totalidade, a teoria subjetiva, especialmente em
seus arts. 159 e 1.545. Com isso, incumbia vtima provar o dolo ou a
culpa stricto sensu do agente, a m de postular e obter a reparao do
dano. No Cdigo atual, esses dispositivos foram substitudos pelos arts.
186, 927, caput, e 951, dos quais nos ocuparemos em seguida.
Para Silvio Rodrigues
10
, quando emitimos conceitos sobre res-
ponsabilidade objetiva e subjetiva, no podemos vislumbrar espcies
diferentes de responsabilidade, mas sim maneiras diferentes de encarar
8
DIAS, Jos Aguiar. Op. cit., p. 51.
9
ROCHA, Slvio Lus F. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto no direito brasileiro.
So Paulo: RT, p. 17.
10
RODRIGUES, Slvio. Direito civil. So Paulo: Saraiva, 1999. p. 9-10. 4 v.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
400
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
a obrigao de reparar o dano. A fere-se, de todos os estudos sobre o
tema, que subjetiva a responsabilidade inspirada na idia de culpa;
objetiva, quando esteada na teoria do risco.
A teoria subjetiva, mesmo com toda a evoluo das teorias da
responsabilidade, ainda predomina no sistema civil brasileiro. Assim,
mesmo com as inovaes do Cdigo de Defesa do Consumidor, ainda
persistem, no atual Cdigo Civil, vrios dispositivos considerados ultra-
passados. O Cdigo de 2002 direcionou-se para a responsabilizao ob-
jetiva. Inspirado nos Cdigos alemo e suo, declara reparvel o dano
decorrente da violao da lei, assim como o resultante de procedimentos
contrrios aos bons costumes e s relaes sociais. O excesso no exerc-
cio de direitos que implique causao de danos, atingindo os interesses
protegidos ou aviltando o princpio da boa-f, enseja reparao.
Assim, j no pargrafo nico do art. 927, com a expresso in-
dependentemente da existncia de culpa, passou o Cdigo Civil tambm
a dotar o sistema de responsabilidade objetiva. Se, no art. 186, ainda pre-
valeceu o subjetivismo, com o pargrafo nico acima citado, fundou-se
o legislador na teoria do risco, objetivando essa responsabilidade. No art.
951 (que substituiu o antigo art. 1.545), trata da responsabilidade dos pro-
ssionais ligados sade (mdicos, cirurgies, farmacuticos, dentistas,
enfermeiros) que possam causar danos a pacientes, a exemplo de morte,
leso ou defeito fsico. O atual Cdigo deixou de nominar os prossio-
nais, como zera o Cdigo revogado, mas a mudana foi salutar, dada a
amplitude do campo prossional ligado sade.
O art. 618, caput, do Cdigo Civil (que trata do construtor)
cria presuno de culpa absoluta para vcios de solidez e segurana. So-
bre a aplicao desse dispositivo, entende Carlos Roberto Gonalves
11
que, tratando-se de empreiteiro prossional liberal, dever haver prova
de culpa para a responsabilizao. Entretanto, o juiz, presentes os pres-
supostos, poder inverter o nus da prova, cabendo ento ao fornecedor
prossional liberal provar que no obrou com culpa, para exonerar-se
da responsabilidade.
11
GONALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. So Paulo: Saraiva, 2005. p. 434.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
401 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A responsabilidade do advogado no foi disciplinada, de forma
clara, no Cdigo Civil, exceto no que concerne ao mandato (art.667) e,
mais precisamente, s obrigaes do mandatrio. Assim, ao aceitar um
mandato, o advogado assume com seu cliente (o mandante) obrigao
de natureza contratual. Esse contrato , sem sombra de dvidas, bilate-
ral, oneroso e comutativo. Difere do direito francs, onde a atuao do
advogado constitui-se num mnus pblico. Com relao a terceiros, o
advogado assume responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Entre-
tanto, se o causdico tornou-se defensor do terceiro, ainda que contra a
vontade deste, a responsabilidade prossional emerge da conduta e no
do contrato.
Na atividade advocatcia, a exemplo de outros campos de atu-
ao dos prossionais liberais, pode haver nitidamente um contrato,
ainda que tcito. Apesar de grandes juristas ptrios entenderem que a
responsabilidade do advogado de natureza estritamente contratual,
este ponto de vista est hoje superado pela incidncia tambm da res-
ponsabilidade extracontratual, como veremos adiante.
Aceitando a causa (para a qual no est obrigado), deve o cau-
sdico portar-se de acordo com a tica da prosso. Como esta de na-
tureza liberal, tem ele uma srie de prerrogativas, direitos e obrigaes,
que o iro conduzir ao longo do trabalho. O instrumento procuratrio
ir denir seu grau de atuao, obrigaes e poderes. A partir da acei-
tao, ter o mandatrio determinados deveres, como: acompanhar o
processo, observar prazos, comparecer aos atos judiciais, orientar e ser
orientado pelo mandante, coletar provas, recorrer, acordar. A responsa-
bilidade do advogado como mandatrio, estabelecida no Cdigo Civil,
diz respeito a honorrios, prestao de contas e substabelecimento (com
ou sem autorizao).
O Cdigo Civil Brasileiro, colocando a responsabilidade de
vrios prossionais liberais dentro dos atos ilcitos, nos estreitos limites
dos dispositivos citados, demonstra a sua desatualizao com os novos
tempos. A doutrina tradicional sempre discutiu o carter contratual des-
sa responsabilidade, procurando afast-la da responsabilidade aquilia-
na. Mas, modernamente, entende-se que inexiste diferena ontolgica
entre os dois tipos de responsabilidade: a contratual e a extracontratual.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
402
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Em qualquer situao, ocorrendo culpa, presume-se o dever de indeni-
zar. Em toda responsabilidade prossional, ainda que exista contrato,
haver sempre um campo de conduta prossional a ser examinado e
inerente prosso, independentemente da existncia do instrumento
contratual.
5. Responsabilidade do prossional liberal no CDC
O Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n 8.078, de 1990),
que entrou em vigor no incio de 1991, de uma enorme abrangncia.
Teve tanta repercusso no sistema contratual brasileiro, que demorar
alguns anos para ser devidamente estudado e para ter delineada sua cor-
reta aplicao, principalmente pelos rgos julgadores.
Segundo Carlos Roberto Gonalves
12
, importante papel cabe-
r, nesse particular, jurisprudncia, tendo em vista que muitos disposi-
tivos do CDC so polmicos e no podero ter uma interpretao literal,
sob pena de conduzirem a situaes absurdas e inaceitveis. Conclui
que uma interpretao lgica, sistemtica e razovel de nossos juzes e
tribunais poder transformar os novos dispositivos que regem as rela-
es de consumo num instrumento de efetiva proteo aos consumido-
res, sem dicultar ou impedir o nosso desenvolvimento econmico.
Na lio de Genival Veloso de Frana
13
, a linguagem utilizada
pelo Cdigo de Defesa do Consumidor nos leva a ver o paciente como o
consumidor, para quem se presta um servio; o mdico como o fornece-
dor que desenvolve atividades de prestao de servios e o ato mdico
como uma atividade mediante remunerao a pessoas fsicas ou jurdi-
cas sem vnculo empregatcio. O referido autor aponta como a maior
inovao do CDC a que est no art. 6., VIII: a facilitao da defesa de
seus direitos, inclusive com a inverso do nus da prova, a seu favor,
no processo civil, quando, a critrio do juiz, for verossmil a alegao
ou quando for ele hipossuciente, segundo as regras ordinrias da expe-
12
GONALVES, Carlos Roberto. Op. cit., p. 399
13
FRANA, Genival Veloso de. Direito mdico. So Paulo: Fundao Editorial BYK, 1994. p.109.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
403 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
rincia. Assim, se um paciente alega erro mdico, a responsabilidade
da prova para defender-se do prossional, por considerar-se difcil o
usurio pr-constituir prova sobre seus direitos. At porque, no momen-
to da relao, ele est em sua boa-f.
O sistema de responsabilidade civil objetiva que cuida dos da-
nos causados aos consumidores, na conformidade do que foi adotado
pelo legislador brasileiro, seguiu os passos de modernas legislaes de
consumo, a exemplo do que se verica nos Estados Unidos, na Ingla-
terra, na ustria, na Itlia, na Alemanha e em Portugal. Entre ns, a res-
ponsabilidade prossional ainda tem como referncia a anlise da culpa
individual, com o nus da prova a cargo do ofendido. Entretanto, vrios
casos onde se pode presumir a culpa desses prossionais j apontam
para uma nova jurisprudncia, na qual h inverso desse entendimento.
o exemplo das cirurgias plsticas estticas cosmetolgicas ou de
embelezamento tratamentos odontolgicos, exames de laboratrios,
check-up etc.
Presume-se, tambm, a culpa de hospitais e clnicas, quanto
aos atos de seus prepostos. A anestesia, que nem era especialidade au-
tnoma, assume hoje contornos especcos, dada a especializao que
se exige do prossional. Portanto, o anestesista deve responder objeti-
vamente, caso no seja alcanado o resultado esperado da aplicao do
anestsico. Nos bancos de sangue e de smen, j se estabeleceu com
segurana que a culpa objetiva. Isso decorre da especializao do ser-
vio e da grande possibilidade de risco que correm as pessoas que dele
se utilizam.
O Cdigo de Defesa do Consumidor no seguiu corrente di-
versa do Cdigo Civil de 1916, estabelecendo, no 4 do art. 14, que
a responsabilidade pessoal dos prossionais liberais ser apurada me-
diante a vericao de culpa. Porm, ao explicitar, no art. 6, os di-
reitos bsicos do consumidor, demonstra justicvel preocupao com
os seguintes aspectos: a proteo da vida, sade e segurana contra os
riscos provocados por prticas no fornecimento de produtos e servios
considerados perigosos ou nocivos; a informao adequada e clara so-
bre os diferentes produtos e servios; a proteo contra a publicidade
enganosa e abusiva; a modicao das clusulas contratuais que estabe-
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
404
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
leam prestaes desproporcionais; a efetiva preveno e reparao de
danos patrimoniais e morais e o acesso aos rgos judicirios e admi-
nistrativos para proteo e reparao desses danos; a inverso do nus
da prova em favor do consumidor e a adequada e ecaz proteo dos
servios pblicos em geral, entre outros aspectos.
Alm da previso constitucional para a indenizao, a prpria
lei estabeleceu a reparabilidade de danos morais decorrentes do sofri-
mento, da dor, das perturbaes emocionais e psquicas, do constrangi-
mento, da angstia, do desconforto espiritual, provocados por servio
fornecido de forma defeituosa ou inadequada. O art. 8 do CDC dis-
pe que os produtos e servios colocados no mercado de consumo no
acarretaro riscos sade ou segurana dos consumidores, exceto os
considerados normais e previsveis em decorrncia de sua natureza e
fruio. A inverso do nus da prova, no que concerne presuno de
culpa, est prevista nos arts. 6, VIII, 14, 38 e 55 do CDC, nos quais se
pressupe a presena da materialidade do dano.
No caput do art. 14, o CDC determina que o fornecedor de
servios responde, independentemente da existncia de culpa, pela re-
parao dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos
prestao dos servios, bem como por informaes insucientes ou
inadequadas sobre sua fruio e riscos. Como se v, acolheu, de forma
bem clara, os postulados da responsabilidade objetiva, relativamente
aos fornecedores. Tal evoluo passou a permitir s vtimas o ressarci-
mento pelos danos provocados, sem que, para tal, fossem obrigadas a
provar a culpa do responsvel, o que, na maioria das vezes, obstava a
obteno do ressarcimento.
O Cdigo de Defesa do Consumidor, quando trata do pros-
sional liberal (art. 14, 4), determina a apurao da responsabilidade
baseada na culpa. No entanto, se considerarmos a atuao de cada pro-
ssional como uma prestao ou fornecimento de servio, vericare-
mos que a Lei de Consumo est recheada de disposies que situam
devidamente os atos ou omisses do prossional em condies que pos-
sam ensejar responsabilidade e conseqente reparao de danos.
O cliente ou paciente assume a posio de consumidor, nos
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
405 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
termos do art. 2 da Lei n 8.078/90. O prossional liberal, ou a pessoa
jurdica que desempenha essas funes, coloca-se como fornecedor de
servios, de acordo com o art. 3. O 2 do mesmo artigo no dei-
xa dvidas a respeito, pois apenas os servios decorrentes de relao
trabalhista estaro fora do CDC. Servio denido como qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo mediante remunerao. E
o fornecedor, conceituado no caput do dispositivo, gnero do qual o
prossional espcie.
Quando trata dos direitos bsicos do consumidor, o CDC
prev informao adequada e clara sobre os servios oferecidos, in-
clusive quanto aos riscos que possam apresentar. Destaque-se, alm
disso, a inovao importantssima da inverso do nus da prova no pro-
cesso civil, no caso do consumidor hipossuciente. A rigor, no h co-
gitao de culpa, pois, presentes os pressupostos da responsabilidade (o
defeito, o dano e o nexo causal), dicilmente o responsvel se eximir
da reparao, com base na prova de ausncia de culpa.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de servios, como
veremos adiante, exsurge cristalina do enunciado do art. 14, seja por
defeito na prestao de servios, seja por informaes insucientes ou
inadequadas sobre sua fruio e riscos. No art. 20, essa responsabilidade
complementada pela incidncia dos vcios de qualidade decorrentes
da disparidade com as indicaes constantes da oferta ou mensagem.
Fornecedor no pode alegar ignorncia sobre vcios do servio, nem
pode inserir clusula contratual que o impossibilite ou o exonere da
obrigao de indenizar.
Quando trata da oferta, o CDC exigente sobre toda e qualquer
informao ou publicidade que o prestador de servios faa veicular para
atrair consumidores dessa prestao. Se o advogado, p. ex., no prestar
informaes claras e precisas sobre o servio que estar fornecendo a seu
cliente e, em decorrncia disso, causar dano, ser passvel de responsabi-
lizao. Na estipulao de honorrios e acerto sobre pagamentos, dever
haver oramento prvio com informaes detalhadas. Se houver neces-
sidade de cobrana, no pode o advogado expor o cliente/consumidor ao
ridculo, nem submet-lo a qualquer tipo de constrangimento ou ameaa.
Isso decorre da inteligncia dos arts. 40 e 42 do CDC.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
406
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Outros dispositivos tocam de leve no assunto, principalmente
envolvendo a prestao de servios e aplicam-se, sem qualquer opo-
sio, atuao do prossional liberal. Mas, tratando das infraes
penais, o CDC taxativo: fazer armao falsa ou enganosa, omitir
informao relevante; fazer ou promover publicidade que sabe ou
deveria saber prejudicial sua segurana; utilizar, na cobrana de
dvidas, de ameaa, coao, constrangimento fsico ou moral(...) contra
o consumidor. Em qualquer dessas hipteses, ser-lhe- aplicada pena
de deteno, que varia de trs meses a um ano. Ora, se h responsabili-
dade criminal para esse tipo de prestao de servios, com mais razo
requerer-se- a reparao civil.
atravs da inverso do nus da prova, em determinadas si-
tuaes, que se pode presumir o comportamento culposo do agente
causador do dano. Cabe-lhe, portanto, demonstrar, para eximir-se de
responsabilidade, sua ausncia no evento culposo. Assim, atravs da
teoria objetiva, ou teoria do risco, que a adotada pelo CDC, ao invs
de se exigir que o ato seja resultante dos elementos tradicionais (culpa,
dano e vnculo causal), a responsabilidade est jungida aos pressupos-
tos dano e autoria, bastando a comprovao de um determinado
evento e seu conseqente prejuzo.
Outra matria que gera certa polmica diz respeito ocorrn-
cia de evento danoso, quando o prossional liberal est vinculado a
estabelecimento prestador de servios prossionais. Em princpio, a
entidade jurdica responsvel, restando-lhe a ao regressiva contra o
prossional. O fornecedor de servios s responder efetivamente pelo
dano se cometer acidente de consumo. Para o Cdigo de Defesa do
Consumidor, trata-se de elemento gerador da responsabilidade civil e
tem origem num defeito ou vcio no produto ou no servio. No que
concerne ao fato do servio, pode-se armar, com a maioria dos estu-
diosos, que a responsabilidade da decorrente est inserida num sistema
nico de defesa do consumidor e que as normas jurdicas a insculpidas
no apresentam diferenas essenciais entre o fato do produto e o fato
do servio.
Como j dissemos, o art. 14 do CDC a norma orientadora
desse sistema de responsabilidade do fornecedor de servios, objeti-
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
407 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
vamente integrado com os diversos dispositivos do Cdigo que tratam
da matria. Para Tereza Ancona Lopez
14
, os fundamentos do art. 14 do
CDC so: a desconformidade com uma expectativa legtima; o servio
defeituoso isto a no-observncia do binmio qualidade/seguran-
a, o que provoca, inevitavelmente, acidentes. Para a citada autora, o
defeito existe no modo de agir ou no resultado. Alm disso, porque
ultrapassou os riscos razoavelmente esperados (mnimo admitido) da
realizao desse servio. Em razo de tais evidncias, o servio no
oferece segurana.
Tereza Ancona Lopez
15
, nos seus lcidos comentrios sobre a
responsabilidade prossional, levanta questionamentos acerca de qual
teoria informa a responsabilidade do fornecedor pelo vcio do servio.
Arma que a doutrina no pacca sobre a matria, mas, seguindo a
orientao de diversos civilistas, entende que a responsabilidade por
vcio do produto ou do servio sem culpa. Adianta que, embora a
expresso sem culpa no conste expressamente dos arts. 18 a 25 do
CDC, a responsabilidade por vcio do produto ou do servio somente
admissvel em face da responsabilidade independentemente de culpa. E
conclui que os arts. 23 e 25, em sua essncia, procuram evitar que haja
qualquer atenuao ao rigor da responsabilidade prevista no CDC.
Um prossional liberal no age somente nos estreitos limites
de sua atuao prossional. H determinadas situaes nas quais pode
ele ser tambm orientador, conselheiro, assessor, consultor, parecerista.
Como tcnico, tem o prossional o direito de sustentar a tese que en-
tenda cabvel, ainda que contrria maioria dos especialistas na rea
ou s decises dos seus pares. Porm, em toda prosso, h um campo
que exige tirocnio, bom senso, cautela. a onde o prossional deve
se portar com toda a diligncia e cuidado, para prestar ou fornecer um
servio seguro e eciente.
H uma gama variada de servios que o prossional liberal
pode prestar ao pblico consumidor. Nesses casos, caracterizada a pres-
14
LOPEZ, Teresa Ancona. Responsabilidade civil: defesa do consumidor e servios mdicos. In: Documen-
tos Bsicos do Congresso Internacional de Responsabilidade Civil. Blumenau: [s. n.], 1995. p. 220.
15
LOPEZ, Teresa Ancona.. Op. cit., p. 221.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
408
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
tao do servio, a responsabilidade do fornecedor com seus clientes
deve ser apurada de forma objetiva, at presumindo-se a culpa, na con-
formidade do art. 6, VIII, do CDC. Pode-se elencar uma srie de casos
nos quais o prossional pode revelar incompetncia, despreparo para a
funo e ocasionar danos a seus clientes: perda de prazo; parecer alheio
doutrina e jurisprudncia; no utilizao de tcnicas recomend-
veis, quando essenciais para a garantia e preservao desses servios;
recusa em ouvir as ponderaes do cliente/consumidor, quando o caso
apresenta-se de difcil soluo; ausncia de informaes adequadas na
realizao do servio; atuao contrria s instrues do seu cliente.
Comentando os efeitos do 4 do art. 14 do CDC, Cludia
Marques
16
salienta que as falhas de adequao dos servios dos pros-
sionais continuam reguladas pelo art. 20 do mesmo Cdigo. Assim, a
interpretao no sentido de que, se h solidariedade e responsabilidade
contratual, a apurao da falha do servio prossional deve ser apurada
sob o foco da responsabilidade objetiva, portanto, sem a prova da culpa.
O art.14 do CDC, como j foi reiterado, dispe sobre a responsabilidade
por danos causados aos consumidores, consagrando a responsabilidade
objetiva do fornecedor de servios. Este responde, independentemente
da existncia de culpa, pela reparao dos danos causados em decorrn-
cia de servios prestados de forma defeituosa.
Em seu 4, o aludido artigo prev a responsabilidade dos pro-
ssionais liberais, tendo como pressuposto a vericao da culpa. Nossos
doutrinadores, em sua maioria, ainda contaminados pelos resqucios do
sistema tradicional de responsabilidade civil, assinalam que prossionais
liberais, a exemplo de mdicos e advogados, somente sero responsabi-
lizados por danos quando car demonstrada a ocorrncia da culpa sub-
jetiva, em quaisquer de suas modalidades: negligncia, imprudncia ou
impercia. Acrescentam que a prova dessa culpabilidade deveria ser feita
pelo prejudicado. Quanto aos servios prossionais prestados por pesso-
as jurdicas, seja sociedade civil, seja associao prossional, h unani-
midade na doutrina: a responsabilidade objetiva.
16
MARQUES, Cludia et al. Comentrios ao Cdigo de Defesa do Consumidor. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. p. 249.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
409 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
A natureza da responsabilidade do prossional liberal j est
rmada na doutrina e na jurisprudncia como sendo de carter contra-
tual. Juristas do incio do sculo passado entendiam no ser contratual
essa responsabilidade. Entretanto, hoje, como foi visto no captulo III,
j se dissiparam as possveis dvidas que permeavam essa discusso,
sobressaindo a responsabilidade contratual do prossional liberal.
Mesmo que o prossional liberal, por sua atuao fora da esfe-
ra contratual, cause danos a outrem, ser responsabilizado como todos
aqueles que cometem atos ilcitos, na esteira do que preceitua o Cdigo
Civil brasileiro. A obrigao de reparar o dano, seja em decorrncia
de contrato, ou fora dele, no nos parece que ostente muita diferena,
quando o fator primordial for a reparao do prejuzo quele que so-
freu o dano. A prova da culpa (ato ilcito) ou a responsabilizao in-
dependentemente da avaliao da culpa (objetiva) tm o objetivo de
satisfazer o prejudicado. A simples diferena que, no ltimo caso, ao
consumidor prejudicado sobressairiam a presuno de culpa, a inverso
do nus da prova e tantos outros benefcios que advieram com a Lei de
Consumo.
O prossional liberal que presta servios de natureza prossio-
nal ter sua responsabilidade examinada sob a tica das disposies do
CDC, seja quanto inverso do nus da prova, seja quanto presuno
de culpa. Basta ao indivduo atingido pelo fato danoso produzir a prova
do defeito, o dano e o nexo de causalidade. Se plausveis as alegaes
do prejudicado, poder o julgador do processo determinar a inverso do
nus probatrio em favor do mais desprotegido, que o consumidor.
Sobre o assunto, Paulo Lobo
17
arma que a tendncia mundial
da legislao protetiva do consumidor a responsabilizao extrane-
gocial do fornecedor e, ademais, no culposa. Lamenta que o nosso
Cdigo de Defesa do Consumidor tenha inserido essa exceo em favor
dos prossionais liberais, exigindo a vericao da culpa. Entende, to-
davia, que a interpretao da regra deve ser feita de tal maneira que se
d inteiro cumprimento ao inc. V do art. 170 da CF, no que concerne ao
17
Artigo publicado na Revista AJURIS, Porto Alegre, p. 541-550, 1998, sob o ttulo Responsabilidade civil
dos prossionais liberais e o nus da prova.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
410
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
princpio constitucional da proteo ao consumidor. Assim, deve-se dar
interpretao mais favorvel ao consumidor, principalmente quando se
tratar da natureza da culpa e do nus da prova da culpa.
A propsito da aplicao do CDC, os estudos sobre o conjunto
de regras que protegem o consumidor, no tocante aos casos de respon-
sabilidade civil, inclinam-se para a concluso de que os prossionais
liberais, beneciados com a teoria da culpa simples, esto submeti-
dos s demais regras do CDC, pois so partcipes de uma relao de
consumo. Isto signica que lhes sero imputados os princpios fun-
damentais e os direitos bsicos do consumidor, bem assim todas as re-
gras referentes proteo contratual, publicidade, cobrana de dvidas,
sanes etc.
Todas as regras estabelecidas no sistema protetivo do consu-
midor e direcionadas para o fornecedor de servios podem e devem ser
aplicadas ao prossional liberal, por est inserido tambm nessa rea de
prestao de servios. Ainda segundo o citado autor, para se produzir
uma interpretao inteligente do 4 do art. 14 do Cdigo de Defesa do
Consumidor, no se pode excluir o prossional liberal do sistema legal
de proteo ao consumidor, porque assim o prprio Cdigo o teria ex-
cludo. E como no o fez, nem o colocou sob a gide do regime comum
do Cdigo Civil, sujeito responsabilidade subjetiva e culposa, dever
enquadrar-se nas disposies do CDC j mencionadas.
Quando o CDC fala em vericao de culpa, no se deve
exigir tal providncia do consumidor, s porque est a alegar defeito do
servio. Essa interpretao se chocaria com o princpio da inverso do
nus da prova e com todo o sistema de proteo desenhado pelo Cdi-
go. A jurisprudncia ptria, a princpio tmida, j deu sinais robustos de
que seguir essa linha de facilitao da defesa do consumidor, como j
mencionamos e ainda veremos no decorrer deste trabalho.
Enm, na avaliao da responsabilidade dos prossionais libe-
rais, deve prevalecer o entendimento de que os desvios de conduta e as
falhas na prestao de servios devem ser punidos com rigor, tanto no
plano tico como no jurdico. O objetivo fazer com que sejam desesti-
muladas novas prticas lesivas e o aparecimento de maus prossionais.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
411 2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
Quando se tratar de responsabilizao de natureza civil, a xao das
indenizaes deve atender extenso total dos danos patrimoniais e
morais sofridos pelas vtimas, impondo-se um ressarcimento justo e um
sancionamento correto. No art. 951, como foi j dito, cuida a legislao
civil da responsabilidade dos prossionais ligados sade, podendo o
farmacutico ser responsabilizado por ato prprio, ao lado dos mdicos,
cirurgies e dentistas. Nesse caso, essa responsabilidade de natureza
contratual e somente se caracterizar provando-se que o prossional
causou dano por imprudncia, negligncia ou impercia.
Ora, se j havia a pretenso de se entender a posio do legis-
lador como um avano para responsabilizar objetivamente o farmacu-
tico no caso de falta de seu preposto, como se pretender, na atualidade,
que somente estar presente essa responsabilidade em caso de compro-
vao de culpa? O farmacutico no est, no caso, prestando ou forne-
cendo um servio? No h, caso esse servio seja defeituoso ou eivado
de vcio, responsabilidade objetiva com presuno de culpa?
Quanto aos prossionais da odontologia, em muito assemelha-
dos aos mdicos em matria de responsabilidade, na maioria das vezes,
suas obrigaes so de resultado. Na patologia das infeces dentrias,
observa-se etiologia especca e seus processos so mais regulares e
restritos, sem prejuzo das relaes que podem advir de desordens pa-
tolgicas gerais. Conseqentemente, a sintomatologia, a diagnose e a
teraputica so muito mais denidas, e mais fcil para o prossional
comprometer-se a curar. Arnaldo Rizzardo
18
, analisando a responsabi-
lidade dos cirurgies-dentistas, conclui que acentuadamente objeti-
va. Enfatiza que a prosso do odontlogo no est ligada a situaes
to insondveis e aleatrias como a do mdico, revelando-se, pois, a
obrigao pela essncia do resultado.
Entendemos que a obrigao de resultado com relao ao den-
tista torna-se mais evidente quando se trata de colocao de ponte xa,
piv, branqueamento dos dentes, implantao e feitura de canais. Nes-
sas hipteses, alm da preocupao esttica com os primeiros casos, h
um compromisso do prossional da odontologia de curar o paciente.
18
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 339.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
412
No pode haver, na odontologia, processos aleatrios, dependncias da
sorte ou atitudes tais que impliquem instabilidade ou insegurana do
odontlogo.
Se a enfermeira ou o auxiliar do dentista esquecem corpo es-
tranho na boca do paciente, causa-lhe ferimento ou provoca a perda de
um dente, claro est que sero devidamente responsabilizados, mesmo
extracontratualmente. A nossa jurisprudncia, nos casos de responsabi-
lidade civil por danos decorrentes de cirurgias ortodnticas, extraes
e prteses, tem se pautado por consider-las obrigaes de resultado,
a exemplo do uso inadequado de tcnicas cirrgicas, da impercia na
aplicao medicamentosa, do dano esttico e do dano decorrente da
aplicao de anestsico.
A responsabilidade do advogado, que em princpio discipli-
nar, pode tambm ser civil e at penal, dependendo da gravidade do
fato. Alm das sanes estabelecidas no Estatuto da OAB e no Cdigo
de tica Prossional, o advogado pode receber punies previstas no
Cdigo de Defesa do Consumidor, j que ele caracterizado como um
prestador ou fornecedor de servios.
Por m, embora o CDC ressalve a responsabilidade subjetiva
dos prossionais liberais, devem ser empregados os demais princpios
protetivos da legislao de consumo, objetivando-se essa responsabili-
dade. A tarefa dos aplicadores do direito ser de suma importncia para
essa denio, levando-se em conta que os casos de responsabilidade
prossional ainda no aparecem com freqncia nos nossos tribunais,
seja pela diculdade que tm os clientes de enfrent-los judicialmente,
seja por desinformao ou inaplicabilidade dos postulados da Lei n
8.078/90.
Acolhendo a lio de Roberto Senise Lisboa
19
, conclumos que,
em se tratando de dano puramente patrimonial ou econmico, qualquer
que seja o prossional liberal ou a natureza de sua atividade, a sua res-
ponsabilidade , segundo a lei de proteo ao consumidor, objetiva.
Assim, ca dispensada a prova da culpa.
19
LISBOA Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relaes de consumo. So Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2006. p. 289.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
413
6. Consideraes nais
No estudo aqui apresentado, ousamos destacar algumas an-
lises que, se no primam pela originalidade, tm, pelo menos, a inten-
o de oferecer modesta contribuio ao aprofundamento das teorias da
responsabilidade civil. A evoluo tecnolgica proporcionou aos inte-
grantes das inmeras prosses liberais novos conhecimentos, possibi-
lidades de excelente atualizao e notria especializao. Impulsionou,
assim, um novo entendimento de que essa prestao de servios possa
gerar obrigaes de resultado e no de meio, como outrora se propala-
va. Os prossionais da atualidade dispem de melhores condies tc-
nicas para informar o consumidor e aquilatar as reais possibilidades de
sucesso na empreitada.
O conceito arcaico de que prossional liberal exigia formao
universitria sofreu alguns reveses. Atualmente, em qualquer situao,
prossionais que agem de forma autnoma, sem vinculao a patro ou
empresa, com habilitao tcnica e regulados por lei, tenham ou no
curso superior, esto prestando ou fornecendo um servio e, portanto,
inseridos na conceituao moderna de prosso liberal.
A apurao da responsabilidade do prossional liberal pode
ser analisada sob vrios ngulos: civil, penal, disciplinar e tico. No
campo civil, aps as inovaes trazidas pelo Cdigo Civil de 2002, trs
dimenses podem ser vislumbradas: contratual, extracontratual ou mis-
ta. Mas o que importa a constatao de que deve o prossional liberal
portar-se com zelo e observncia das regras ticas, tcnicas e jurdicas
que orientam sua prosso, para evitar o surgimento de danos e sua
conseqente reparao.
A princpio, eram admitidas apenas as responsabilidades con-
tratual e extracontratual na reparao civil. Depois, percebeu-se, com o
advento do Cdigo de Defesa do Consumidor, que a adoo da respon-
sabilidade objetiva eliminava a obrigao da vtima de provar a culpa
do causador do dano. Porm, ainda restaram aspectos da responsabili-
dade subjetiva, a exemplo da exigncia para os prossionais liberais,
inserida no art. 14, 4, do CDC.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
414
Na avaliao da responsabilidade prossional, sabe-se que no
fcil provar a culpa de um prossional liberal quando causou dano na
prestao de um servio, notadamente em algumas reas, como a medi-
cina, o direito e a engenharia. patente a fora das injunes corporati-
vas, das diculdades de ordem tcnica e das presses que o prejudicado
ter de enfrentar para conseguir a reparao do dano. Mas, na nova
sistemtica das relaes prossionais de consumo, mesmo com a exis-
tncia do 4 do art. 14 do CDC, h outras maneiras de se objetivar
essa responsabilidade do prossional liberal.
Enm, seja por fora de contrato, seja no cometimento de ato
ilcito, est o prossional liberal sujeito a um leque amplo de apurao
da responsabilidade, longe das amarras da subjetivao. Est integrado
num sistema que vai da inverso do nus da prova responsabilidade
presumida. Entretanto, no seria justo isolar-se o prossional liberal
do regramento que permite a exonerao da responsabilidade, prevista
que est no prprio art. 14 do CDC e em alguns dispositivos do Cdigo
Civil, aplicveis subsidiariamente e com as devidas cautelas.
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
7. Referncias bibliogrcas
BENJAMIN, Antnio H. Vasconcelos et al. Comentrios ao Cdigo de
Proteo ao Consumidor. So Paulo: Saraiva, 1991.
DIAS, Jos de Aguiar. Da responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1994.
FRANA, Genival Veloso de. Direito mdico. 6. ed. So Paulo: Funda-
o Editorial BYK , 1994.
GOMES, O., GOTTSCHALK, E. Curso de direito do trabalho. Rio:
Forense, 1990. 1 v e 2 v.
GONALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. So Pau-
lo: Saraiva, 2005.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
415
RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL
NO CDIGO CIVIL E NO CDIGO DE DEFESA
Fernando Antnio de Vasconcelos
LIMA, Alvino. Culpa e risco. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
LOPEZ, Teresa Ancona. Responsabilidade civil: defesa do consumidor
e servios mdicos. In: Documentos Bsicos do Congresso Internacio-
nal de Responsabilidade Civil. Blumenau: 1995.
LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relaes de con-
sumo. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
LOBO, Paulo Luiz Neto. Comentrios ao Estatuto da Advocacia e da
OAB. 4. ed. So Paulo: Saraiva, 2007.
_ ___________________. Responsabilidade civil dos prossionais li-
berais e o nus da prova. In: Revista AJURIS. Porto Alegre, v. 2, p. 541-
550, 1998. Edio especial.
___________. Responsabilidade por vcio do produto e do servio.
Braslia: Braslia Jurdica, 1996.
MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consu-
midor. 4. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
MARQUES, Cludia et al. Comentrios ao Cdigo de Defesa do Con-
sumidor. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
PEREIRA, Caio Mrio da S. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Ja-
neiro: Forense, 1999.
PRUX, Oscar Ivan. Responsabilidade civil do prossional liberal no
Cdigo de Defesa do Consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.
RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense,
2005.
RODRIGUES, Slvio. Direito civil: responsabilidade civil. 17. ed. So
Paulo: Saraiva, 1999. 4 v.
ROCHA, Silvio Lus. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do
produto no direito brasileiro. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
SAVATIER, Jean. La profession librale: tude juridique et pratique.
Paris: Librairie Gnrale de Droit et Jurisprudence, 1947.
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
416
1. Introduo
Quando se fala em violncia contra a mulher, logo vm men-
te os histricos conitos entre o homem e o sexo denominado frgil,
provocados pelo machismo arraigado na sociedade e que traz reexos
at os dias atuais. preciso considerar tambm a dinamizao e evo-
luo do mercado de trabalho, com a incluso das mulheres a duras
penas. Por m, surgiu a revoluo social protagonizada pela mulher
atual como resposta ao preconceito que ainda insiste em minar o seu
espao. A violncia contra a mulher possui razes histricas. Em tempos
no muito distantes, era considerada normal dentro de uma sociedade
patriarcalista. Nesse contexto, os costumes e a educao preservavam o
esteretipo de que o homem era agressivo e dominador por sua prpria
natureza, enquanto a mulher era frgil e submissa.
guisa de ilustrao, Rosseau, um dos lsofos da Revoluo
Francesa, considerava a famlia a mais antiga organizao social. Nessa
organizao, os idosos teriam precedncia sobre os jovens e os homens
teriam naturalmente autoridade sobre as mulheres. Estava, assim, legi-
timada a discriminao contra as mulheres, bem como todas as formas
de dominao, inclusive, a violncia nas suas mais variadas formas. O
pater familias, na Roma antiga, tinha o poder de vida e de morte sobre
todos os membros de sua famlia, cabendo-lhe decidir o tempo de vida
e a hora da morte das mulheres submetidas sua chea.
Entretanto, hodiernamente, a temtica assume uma feio di-
versa e impostergvel. Na retaguarda dessa problemtica est a busca
incansvel pela defesa dos direitos fundamentais garantidos pela Car-
ta Magna, indistintamente, a homens e mulheres. Assim, no mais se
aceita a cultura milenar da dominao pela fora, em que a mulher se
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
Promotora de Justia no Estado da Paraba
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
417
resignava e se mantinha sempre submissa ao poder masculino, sem vez
e sem voz.
A violncia domstica uma realidade reconhecida pela Cons-
tituio Federal, ao estabelecer no 8 do art. 226: O Estado assegurar
a assistncia famlia na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violncia no mbito de suas relaes. A Lei
n 11.340, de 28 de maro de 2006, vigente desde 22 de setembro do
mesmo ano, enquadra-se na poltica pblica de proteo a esse segmen-
to social. Apesar das conquistas inegveis, a mulher ainda se apresenta
deveras hipossuciente no cenrio social. A busca da decantada iso-
nomia material apregoada pelo movimento feminista, que nos ltimos
anos vem desenvolvendo aes armativas, a partir de alteraes no
ordenamento jurdico vigente, no passa de um ideal.
Com efeito, o novo Cdigo Civil, em vigncia desde janeiro de
2003, substituiu a palavra homem por pessoa, termo que abrange
o homem e a mulher, ambos sujeitos de direitos e deveres na ordem
civil. Homens e mulheres passaram a ter direitos iguais na sociedade
conjugal, no se atribuindo mais a chea da famlia ao marido; o poder
familiar cabe igualmente ao homem e mulher; a perda da virgindade
pela mulher antes de contrair npcias no mais considerada causa de
anulao do casamento. Por oportuno, ambos tm o direito de acrescen-
tar ao seu nome o patronmico do cnjuge, como tambm o direito de
requerer reciprocamente penso alimentcia.
Nesse contexto de aes armativas, o assdio sexual foi re-
conhecido como crime pela legislao brasileira, por fora da Lei n
10.224, de 15 de maio de 2001. Essa lei acrescentou ao Cdigo Penal
Brasileiro o artigo 216-A, estabelecendo a ilicitude do comportamen-
to de quem constrange algum para obter vantagem ou favor sexual,
aproveitando-se de sua condio de superior hierrquico ou ascendn-
cia. Tambm de relevante importncia no processo de erradicao
violncia domstica contra a mulher a Lei n 10.886, de 17 de junho
de 2004. Essa lei acrescentou ao art. 129 do Cdigo Penal os 9 e
10. A lei prev um tipo penal especco para a leso praticada contra
ascendente, descendente, irmo, cnjuge ou companheiro, ou quem
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relaes
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
418
domsticas de coabitao.
De igual forma, merece registro a Lei n 11.106/05, que ins-
tituiu a mini-reforma do Cdigo Penal, alterando a redao de vrios
tipos penais. O objetivo foi eliminar regras arcaicas que motivaram o
Cdigo Penal de 1940, mormente no que concerne violncia sexual,
ao expurgar a expresso mulher honesta dos arts. 215 e 216. Com
isso, retirou-se a conotao de que a mulher s podia ser vtima em
tais casos se obedecesse a um padro sexual de conduta aceito pelos
homens. Revogou o crime de seduo, desconsiderando-se, com isso, a
virgindade da mulher como status sexual legal.
A citada lei revogou, alm disso, os incisos VII e VIII do art.
107 do Cdigo Penal, os quais previam causas extintivas de punibilida-
de, nos crimes contra os costumes, quando da ocorrncia de casamen-
to do agente com a vtima ou o casamento da vtima com terceiro, se
cometidos sem violncia real ou grave ameaa e desde que a ofendida
no requeresse o prosseguimento da ao penal em 60 (sessenta) dias.
Todos esses dispositivos eram baseados exclusivamente na honra da
famlia patriarcal, e no no princpio da igualdade e respeito dignida-
de da mulher como pessoa. Essas regras signicavam um empecilho
reparao do dano fsico, psquico e moral sofrido pela vtima real.
A Conveno Inter-Americana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violncia contra a Mulher, conhecida como a Conveno de
Belm do Par, aprovada na Assemblia Geral da Organizao dos
Estados Americanos - OEA, dene a violncia contra a mulher como
qualquer ao ou conduta, baseada no gnero, que cause morte, dano
ou sofrimento fsico, sexual ou psicolgico mulher, tanto no mbito
pblico como no privado. Com base nos ditames da citada Conveno
e no comando constitucional, por fora do art. 5, 3, da Carta Mag-
na, surgiu, no ordenamento jurdico ptrio, a Lei n 11.340/06, com o
objetivo de eliminar a violncia fsica, psicolgica, sexual, patrimonial
e moral. Porm, a lei restringe-se ao mbito da unidade familiar e a
qualquer relao ntima de afeto presente ou nda. Essa relao pre-
vista no art. 5, como o espao de convvio permanente de parentes ou
no e de pessoas esporadicamente agregadas, a comunidade formada
por indivduos unidos por laos naturais, por anidade ou por vontade
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
419
expressa, e a situao em que o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida.
Como se v, o novo diploma legal tem seu enfoque voltado ao
binmio violncia/espao privado da mulher. Isto porque, dentre todos
os tipos de violncia contra a mulher, a praticada no ambiente familiar
a mais comum e condenvel. Alm de atingir o ambiente que se pre-
sume acolhedor e seguro, constitui-se num ambiente propcio a perigo
contnuo envolto por relaes pessoais, fazendo com que a vtima se
sinta inibida a denunciar ou a se libertar do seu algoz.
Dessa forma, a Lei n 11.340/06 veio preencher uma lacuna
em nossa legislao, regulamentando a preveno, a punio e a erradi-
cao da violncia domstica contra a mulher. Com a promulgao da
Lei n 9.099/95, a quase totalidade das agresses praticadas contra as
mulheres estava sob a competncia do Juizado Especial Criminal e a in-
cidncia de institutos bencos. Esses institutos em nada serviam para
alijar a violncia contra a mulher vitimada, mas apenas para satisfazer
os ideais de maior acesso justia pelos cidados, a despenalizao de
condutas tidas de menor potencial ofensivo e a celeridade processual,
caractersticas da moderna tendncia da poltica criminal.
Como se sabe, ao ser proposta a multa em sede de transao
penal no Juizado Especial Criminal, sequer ouvido o relato das partes,
em nome da agilidade processual. Assim, no raro, acaba acontecendo
que o agressor aceita a multa proposta, sem entender bem o signicado
daquele mecanismo. Ento, sai da audincia convicto de que a violn-
cia contra a mulher institucionalizada, pois basta pagar a multa. Tal
tratamento parecia motivar o Juizado Especial a se livrar do problema
trazido, e no a resolver o conito. O mais grave que o conito tendia
a se repetir, tendo em vista que vtima e agressor dividiam o mesmo
espao fsico.
Nesse sistema dos Juizados Especiais, abolido a partir do novo
disciplinamento legal em anlise, a vtima, que deveria ser amparada,
aps exercitar seu direito, saa frustrada com a forma banal com que era
tratado o seu drama. Dava-se a falsa idia de que no se fez justia
e que a sina da vtima era aceitar a violncia passivamente, pela falta
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
420
da resposta estatal esperada. Foi nesse contexto que surgiram as ino-
vaes trazidas pela Lei n 11.340/06. Ela reete um marco histrico
no enfrentamento violncia domstica contra a mulher, nas suas mais
variadas formas.
2. Competncia material
A partir da vigncia da Lei n 11.340/06, em setembro de 2006,
passou a competir Justia Comum Estadual processar e julgar os cri-
mes praticados com violncia domstica contra a mulher. Futuramente,
essa competncia passar aos Juizados de Violncia Domstica e Fami-
liar contra a Mulher, a serem criados pelos Estados ou pela Unio. Di-
ferentemente dos Juizados Especiais Criminais, os novos Juizados no
tero a sua competncia xada com base no quantum da pena (infraes
com pena abstrata at dois anos).
A teor do disposto nos arts. 14 e 33 do referido diploma legal, a
competncia desses Juizados, quando forem estruturados, vai abranger
as causas criminais e cveis decorrentes da prtica de violncia domsti-
ca e familiar contra a mulher. Entende-se essa violncia como qualquer
ao ou omisso baseada no gnero que lhe cause morte, leso, sofri-
mento fsico, sexual ou psicolgico e dano moral ou patrimonial, no
mbito domstico, familiar ou do relacionamento ntimo. Nesse caso,
pode o agressor conviver no presente ou ter convivido com a ofendi-
da. Excluem-se, logicamente, as competncias especiais denidas na
Constituio Federal, como o caso dos crimes ocorridos em lugares
sujeitos administrao militar, de competncia exclusiva da Justia
Militar, assim como os crimes dolosos contra a vida, de competncia
exclusiva do Tribunal do Jri, em que ambas as fases (sumrio de culpa
e judicium causae) seguem o seu rito prprio.
Dessa forma, a competncia xada no em razo da pena
cominada ou do tipo penal, mas tendo em vista dois critrios peculiares:
o sujeito passivo (vtima), que deve ser a mulher, e o mbito em que a
violncia se consuma, que deve ser domstico, familiar ou resultante
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
421
do vnculo afetivo com o agressor. Ressalte-se que esse mbito no se
confunde com o local em que se d o evento delituoso (ambiente pri-
vado ou pblico). A ttulo de exemplo, o marido que aplica uma surra
na esposa, seja em casa ou na rua, est praticando violncia domstica
e ser processado sob a gide da Lei n 11.340/06. De igual forma,
acontece com o ex-companheiro que, ao m da unio estvel, ameaa
a ex-mulher; com o patro que estupra a empregada domstica; com a
amiga que agride a vtima com quem coabita, etc. Cumpre frisar que, ao
se reportar mulher indistintamente como vtima passvel da proteo
legal, pela primeira vez, a legislao ptria reconheceu a unio homos-
sexual como realidade no atual cenrio social. Deu, assim, um aceno de
legitimidade a esse tipo de relao, que est longe de ser legitimada em
nosso ordenamento jurdico.
Com efeito, o art. 2 prescreve que toda mulher, independen-
temente de classe, raa, etnia, orientao sexual, renda, cultura, nvel
educacional, idade e religio, goza dos direitos fundamentais inerentes
pessoa humana. Essa regra raticada em seu art. 5, pargrafo nico,
quando estabelece que as relaes pessoais independem de orientao
sexual. Deixa, assim, uma brecha que certamente causar calorosos
debates, ao reconhecer a relao homossexual como uma unidade do-
mstica capaz de produzir toda sorte de efeitos jurdicos. Discorrendo
sobre o assunto, a Desembargadora Maria Berenice Dias, do Tribunal
de Justia do Rio Grande do Sul, vai mais alm, quando atribui lei o
impulso que faltava para que a unio homo-afetiva fosse considerada
entidade familiar pelo nosso ordenamento jurdico:
O avano muito signicativo, pondo um ponto nal dis-
cusso que entretm a doutrina e divide os tribunais. Sequer
de sociedade de fato cabe continuar falando, subterfgio
que tem conotao nitidamente preconceituosa, pois nega
o componente de natureza sexual e afetiva dos vnculos ho-
mossexuais (...).
No momento em que as unies de pessoas do mesmo sexo es-
to sob a tutela da lei que visa a combater a violncia domsti-
ca, isso signica, inquestionavelmente, que so reconhecidas
como uma famlia, estando sob a gide do Direito de Famlia.
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
422
No mais podem ser reconhecidas como sociedades de fato,
sob pena de se estar negando vigncia lei federal.
3. Inaplicabilidade da Lei n 9.099/95 aos crimes de violncia
domstica contra a mulher
sabido que os Juizados Especiais Criminais, institudos
pela Lei n 9.099/95, surgiram a partir da idia moderna de desburo-
cratizao e simplicao da justia penal (direito penal mnimo). Tal
idia buscava a implantao de um processo criminal com mecanismos
econmicos e despenalizadores como sada para desafogar o sistema
carcerrio e reduzir a morosidade no processamento de ilcitos penais
considerados de menor potencial ofensivo. Acontece que os princpios
norteadores dessa lei se distanciavam da sua nalidade prtica quando
se tratava de violncia domstica contra a mulher, considerada sob a
forma de infraes penais de menor potencial ofensivo. A vtima, que
deveria ter a sua paz individual e os seus bens jurdicos resguarda-
dos, no encontrava respaldo nesse modelo. Ao no se levar em conta
a complexidade do ilcito e a sua repercusso, acaba-se por estimular
uma violncia cclica.
De outra banda, no h dvida de que a Constituio Fede-
ral atribuiu aos Juizados Especiais competncia para processar e julgar
os delitos de menor potencial ofensivo. Portanto, no h que se falar
em inconstitucionalidade da Lei n 11.340/06, tendo em vista que cabe
legislao infraconstitucional denir os crimes assim considerados.
Isso foi feito inicialmente pela Lei n 9.099/95, alterada pela Lei n
10.259/01, e agora pela referida Lei n 11.340/06, que excluiu deste rol
os delitos de violncia domstica praticados contra a mulher. Dispe o
art. 41 da citada lei que aos crimes praticados com violncia domstica
e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, no se
aplica a Lei n 9.099, de 26 de setembro de 1995.
Com isso, no pode mais se adotar o rito especial e clere pre-
visto na Lei n 9.099/95 a qualquer dos crimes praticados com violncia
mulher (ainda que a pena mxima seja igual ou inferior a dois anos).
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
423
Por outro lado, no h mais espao para os institutos despenalizadores
previstos na citada lei, quais sejam: a transao penal, a composio civil
dos danos nas hipteses de ao penal privada ou pblica condicionada,
a exigncia de representao nas leses corporais leves ou culposas e a
suspenso condicional do processo. Alguns juristas admitem que houve
abandono do sistema consensual de justia, sob o argumento de que neste
sistema no se prima, em primeira instncia, pela preservao do vnculo
familiar, ressuscitando o sistema penal retributivo de outrora, que descar-
ta o dilogo como recurso imediato para remediar os conitos.
Ora, se o dilogo no acontece ou no surte efeito dentro de
casa, ser que a composio civil dos danos ir eliminar a dramtica
situao em que est imersa a mulher vitimada? Ser que a transao
penal, feita apenas entre o autor do fato e o Ministrio Pblico, sem
qualquer participao da vtima, rende ensejo ao consenso do casal?
Ser que satisfaz os anseios da vtima em ver punido exemplarmente o
seu agressor e faz cessar a violncia contumaz? O que dizer diante do
arquivamento de 80% dos processos envolvendo violncia domstica
devido exigncia de representao da vtima nos crimes de leses
corporais leves e culposas? Se h a possibilidade de reestruturao da
unidade familiar, decerto que no ser atravs dessas benesses legais.
A meu ver, nesse aspecto, a lei mais uma vez merece ser aplaudi-
da. uma hipocrisia se pensar que, porque houve a composio civil dos
danos, a renncia ao direito de representao, a transao penal ou a sus-
penso condicional do processo, o conito foi resolvido. Alm do vis pre-
ventivo e retributivo inerente a toda forma de sano penal, esta se encontra
associada a medidas protetivas de urgncia que procuram amparar antes de
tudo a integridade fsica, mental e moral da mulher vitimada, titular imedia-
ta dos bens jurdicos violados. Ademais, os Juizados de Violncia Doms-
tica e Familiar contra a Mulher contaro com uma equipe multidisciplinar
que tambm atuar mediando o dilogo entre agressor e vtima.
A exigncia de representao da vtima na leso corporal leve
e culposa vem insculpida no art. 88 da Lei n 9.099/95. Assim, a ao
penal em tais crimes, quando a vtima mulher, nas condies constan-
tes da Lei n 11.340/06, passou a ser pblica incondicionada, ou seja, no
demanda mais a representao da vtima. A contrario sensu, o dispositivo
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
424
citado se aplica to-somente quando o ofendido for homem ou, em sendo
mulher, o fato se d fora do ambiente domstico, nos termos da lei.
Certa est a lei ao derrogar esse dispositivo legal, eis que no
passava de um grande nus para a vtima de violncia domstica a deciso
de representar ou no contra o seu agressor. No se pode olvidar que este
geralmente o pai dos seus lhos, a pessoa que a domina, a pessoa a
quem ama ou a quem uma dia amou, a pessoa que prov materialmente
a famlia. Tudo isso vem aliado a fatores outros, como a vergonha e o
medo. Dessa forma, a alterao se justica, haja vista que, em se tratando
de violncia domstica, o interesse privado intimidade da vtima no se
sobrepuja ao interesse pblico, a justicar a necessidade de manifestao
volitiva da vtima como condio para a persecuo criminal.
No h mais que se falar em termo circunstanciado de ocorrn-
cia. Diante de um caso concreto de violncia domstica contra a mulher,
abre-se o inqurito policial independentemente da pena prevista para o
crime perpetrado, seguindo-se a ao penal e o devido processo legal.
De outro lado, no est mais vedada a priso em agrante do agressor,
devendo a autoridade policial lavrar o respectivo auto. Em outras pala-
vras, ocorrendo o agrante de violncia domstica contra a mulher, as
investigaes no podero ser paralisadas. Portanto, o agressor deve ser
processado e punido, mesmo contra a vontade da vtima.
Outra particularidade trazida pela Lei n 11.340/06, em seu art.
16, no sentido de que, nos crimes sujeitos ao penal pblica con-
dicionada representao (ameaa, estupro, etc.), a vtima de violncia
domstica somente poder renunciar representao perante o juiz e
mediante manifestao ministerial, em audincia designada para tanto.
4. Outras alteraes
Enquanto no forem criados os Juizados Especializados, as va-
ras criminais devero dar prioridade tramitao das aes cveis e cri-
minais que envolvam violncia domstica ou familiar contra a mulher
(pargrafo nico do art. 33). Esse direito de preferncia dever ser obser-
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
425
vado paralelamente a outros previstos em lei, como o caso dos idosos
(Lei n 10.741/03). Com o advento da lei em anlise, resta impossibili-
tada a aplicao de pena alternativa, na forma de prestao pecuniria.
Dessa regra, infere-se que vedada a aplicao, nos casos de violncia
domstica e familiar contra a mulher, de penas de fornecimento de cesta
bsica ou outras de prestao pecuniria, bem como substituio da pena
que implique o pagamento isolado de multa (art. 17).
Convm salientar que no est de todo alijada a possibilidade
de substituio da pena privativa de liberdade por pena alternativa. Mas
isso s possvel, desde que esta se consubstancie nas outras modalida-
des enumeradas no art. 43 do Cdigo Penal e desde que o crime no seja
cometido mediante violncia fsica ou grave ameaa (nos crimes contra
a honra, p.ex., que so praticados mediante violncia moral).
A Lei n 11.340/06 modicou, tambm, a pena dos crimes de
violncia domstica, alterando o 9 do art. 129 do Cdigo Penal. A
pena mxima para o crime de leso, em caso de violncia domstica,
passou de 1 (um) ano para 3 (trs) anos de deteno. Dessa maneira no
mais considerado crime de menor potencial ofensivo. Nesse aspecto,
foi perspicaz o legislador. Muitos pensam que o aumento da pena de-
nota to-somente a rigidez da nova disciplina jurdica e a proclamada
intolerncia com a violncia domstica. O aumento da pena mxima
para tal delito tem por objetivo primordial obstar a impunidade e a pres-
crio, como forma de compensar a tramitao mais lenta de feitos in-
distintamente sujeitos ao rito ordinrio.
O art. 42 da Lei n 11.340/06 acrescentou ao art. 313 do Cdi-
go de Processo Penal outra hiptese de priso preventiva, cabvel nos
casos de violncia domstica contra a mulher. Trata-se, muitas vezes, de
medida assecuratria da execuo das medidas protetivas de urgncia
previstas no art. 18 e ss. Tais medidas podero ser decretadas de ofcio
e liminarmente pelo juiz, a requerimento do Ministrio Pblico ou a pe-
dido da ofendida, no prazo de 48 horas. Dentre as medidas de proteo
mulher vitimada, destaca-se a sua incluso no cadastro de programas
assistenciais do governo federal, estadual ou municipal. Isso, de certa
forma, evita que a ofendida, dependente economicamente do seu agres-
sor, que desassistida materialmente.
VIOLNCIA DOMSTICA CONTRA A MULHER:
O NOVO PERFIL JURDICO-PUNITIVO DA LEI N 11.340/06
Ana Caroline Almeida Moreira
2007 Revista Jurdica do Ministrio Pblico
426
Paralelamente, podero ser aplicadas medidas contra o agres-
sor, tais como: afastamento do lar, proibio de freqentar certos locais,
suspenso do porte de arma, suspenso de visitas aos dependentes me-
nores, prestao de alimentos provisrios, restituio de bens subtrados
indevidamente, dentre outras. Os procedimentos que culminaro com a
aplicao das medidas protetivas de urgncia devero ser autuados em
apartado e tramitaro nas Varas Criminais, enquanto no forem criados
os Juizados. Essa providncia adotada, mesmo que algumas delas te-
nham base no direito de famlia, uma vez que acumulam competncia
criminal e cvel nos casos de violncia domstica contra a mulher.
5. Consideraes nais
A Lei n 11.340/06, promulgada em 7 de agosto de 2006 e com
vigncia a partir de 22 de setembro do mesmo ano, criou mecanismos
para prevenir e coibir a violncia domstica e familiar contra a mulher.
Tal violncia tida como aquela praticada no mbito domstico ou fa-
miliar, ou quando h vnculo de intimidade com o agente.
A citada lei retira dos Juizados Especiais Criminais a com-
petncia para julgar os crimes de violncia domstica e familiar, esta-
belecendo a criao de Juizados Especiais de Violncia Domstica e
Familiar contra a Mulher, com competncia cvel e criminal, a ser exer-
cida pelas Varas Criminais enquanto no forem institudos nos Estados.
Probe a incidncia da Lei n 9.099/95 e, por conseguinte, a aplicao
dos institutos despenalizadores da transao penal, da composio civil
dos danos e da suspenso condicional do processo, tornando os crimes
de leso corporal leve sujeitos ao penal pblica incondicionada.
Enm, a nova dinmica em torno da violncia contra a mulher
revestiu a causa de interesse pblico, engendrando uma nova concepo
do sistema jurdico brasileiro. Este passa a reconhecer a violncia do-
mstica contra as mulheres como crime de caractersticas prprias, cujos
mecanismos jurdicos e institucionais especcos se apresentam mais
consentneos com o to sonhado respeito e igualdade entre os sexos.
Anda mungkin juga menyukai
- Os 40 Piores Fundos de Previdencia Do BrasilDokumen8 halamanOs 40 Piores Fundos de Previdencia Do BrasilRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Apostila PDFDokumen156 halamanApostila PDFWilliam Carvalho AlemidaBelum ada peringkat
- Ebook Motivação Diária para ConcurseirosDokumen32 halamanEbook Motivação Diária para ConcurseirosRafael CamilaBelum ada peringkat
- Notas de rodapé e citaçõesDokumen48 halamanNotas de rodapé e citaçõesRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- E-Paranajudiciario n.5-6 PDFDokumen115 halamanE-Paranajudiciario n.5-6 PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Medicina LegalDokumen52 halamanMedicina LegalRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Manual de instalação do módulo MD-01Dokumen2 halamanManual de instalação do módulo MD-01Rafael Andrade Linke100% (1)
- CE ART CIENT Estrutura e OrganizacaoDokumen117 halamanCE ART CIENT Estrutura e OrganizacaoRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Como Elaborar Um Projeto de Monografia 06 Maio 2011Dokumen22 halamanComo Elaborar Um Projeto de Monografia 06 Maio 2011thiagoadvBelum ada peringkat
- Percurso Da MonografiaDokumen1 halamanPercurso Da MonografiaRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Notas de rodapé e citaçõesDokumen48 halamanNotas de rodapé e citaçõesRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Prisão CivilDokumen9 halamanPrisão CivilRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Caráter Social e Histórico Da Noção de PessoaDokumen4 halamanCaráter Social e Histórico Da Noção de PessoaRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Medicina Legal Alunos Fevereiro de 2014Dokumen52 halamanMedicina Legal Alunos Fevereiro de 2014Rafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- E-Paranajudiciario n.5-6 PDFDokumen115 halamanE-Paranajudiciario n.5-6 PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Lei Do Trabalho Temporário PDFDokumen3 halamanLei Do Trabalho Temporário PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Revista MPF GO PDFDokumen16 halamanRevista MPF GO PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Sub Categori A 15143Dokumen67 halamanSub Categori A 15143Dani WerlangBelum ada peringkat
- Lei Doméstico PDFDokumen2 halamanLei Doméstico PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Trabalho 1º BimestreDokumen3 halamanTrabalho 1º BimestreRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Racismo À BrasileiraDokumen6 halamanRacismo À BrasileiraRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Trabalho OITDokumen53 halamanTrabalho OITRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Violência DomésticaDokumen1 halamanViolência DomésticaRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Lei Do Vendedor Viajante 3207-57 PDFDokumen2 halamanLei Do Vendedor Viajante 3207-57 PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- O Poder Invetigatorio Do Ministerio Publico Na Visao Do STF PDFDokumen96 halamanO Poder Invetigatorio Do Ministerio Publico Na Visao Do STF PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Estágio e AprendizagemDokumen5 halamanEstágio e AprendizagemRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Condições Da Ação e Pressupostos Processuais No Processo Do Trabalho e Processo CivilDokumen17 halamanCondições Da Ação e Pressupostos Processuais No Processo Do Trabalho e Processo CivilRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- 2011.12.20 - Prisão Provisória e Lei de Drogas - Um Estudo Sobre Os Flagrantes de Tráfico de Drogas Na Cidade de São Paulo PDFDokumen158 halaman2011.12.20 - Prisão Provisória e Lei de Drogas - Um Estudo Sobre Os Flagrantes de Tráfico de Drogas Na Cidade de São Paulo PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Lei Do Trabalhador Rural PDFDokumen5 halamanLei Do Trabalhador Rural PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Revista MPF GO PDFDokumen16 halamanRevista MPF GO PDFRafael Andrade LinkeBelum ada peringkat
- Prescrição - Rogério SanchesDokumen3 halamanPrescrição - Rogério SanchesAntonio Eduardo SilvaBelum ada peringkat
- Dou1 2011 04 18 PDFDokumen32 halamanDou1 2011 04 18 PDFRicardo Bonetti TadenBelum ada peringkat
- Modelo de Petição Liberdade ProvisóriaDokumen10 halamanModelo de Petição Liberdade ProvisóriaassuncaofilhoBelum ada peringkat
- Crimes hediondos no Código Penal e Lei dos Crimes HediondosDokumen51 halamanCrimes hediondos no Código Penal e Lei dos Crimes HediondosEdson KaioBelum ada peringkat
- Resumo LitisconsorcioDokumen14 halamanResumo LitisconsorcioNatália Alves100% (1)
- ITCD Do Pará LEI 5529-89Dokumen7 halamanITCD Do Pará LEI 5529-89TelexFree Ji-ParanáBelum ada peringkat
- 1 - Exercício de Direito Processual Penal IIIDokumen1 halaman1 - Exercício de Direito Processual Penal IIICarlos Mendes FiorionoBelum ada peringkat
- Infrações ambientais: sanções e processos administrativosDokumen52 halamanInfrações ambientais: sanções e processos administrativosajduailibemarao81Belum ada peringkat
- Súmula Vinculante Comentada Dizer o Direito Sv-41Dokumen4 halamanSúmula Vinculante Comentada Dizer o Direito Sv-41Chantelle AlexanderBelum ada peringkat
- Impugnação de contestação em ação de indenização por acidente de trabalhoDokumen5 halamanImpugnação de contestação em ação de indenização por acidente de trabalhoMagno1Belum ada peringkat
- Ónus da prova e contraprovaDokumen36 halamanÓnus da prova e contraprovaFillipe Cardoso PassosBelum ada peringkat
- Termos Jurídicos Parte 1Dokumen2 halamanTermos Jurídicos Parte 1juceboBelum ada peringkat
- Modelo de acordo extrajudicial de divórcio e divisão de bensDokumen4 halamanModelo de acordo extrajudicial de divórcio e divisão de bensTassio AdrianoBelum ada peringkat
- LINDB - Resumo PDFDokumen7 halamanLINDB - Resumo PDFArlingtonMarlonBelum ada peringkat
- Conferencia Colocação Mpu PG 21Dokumen109 halamanConferencia Colocação Mpu PG 21Welder Nojosa BarrosoBelum ada peringkat
- Responsabilidade Civil do Estado e Teorias HistóricasDokumen37 halamanResponsabilidade Civil do Estado e Teorias HistóricasWellington BatistaBelum ada peringkat
- Portaria Do Comando Geral #100, de 05082017.Dokumen4 halamanPortaria Do Comando Geral #100, de 05082017.Edilson JoaquimBelum ada peringkat
- A Decisão Homologatória de Acordo É Desconstituída Por Meio Da Ação Anulatória Ou RescisóriaDokumen4 halamanA Decisão Homologatória de Acordo É Desconstituída Por Meio Da Ação Anulatória Ou RescisóriajorgeBelum ada peringkat
- APONTAMENTOS - Dto. Processual Civil PDFDokumen97 halamanAPONTAMENTOS - Dto. Processual Civil PDFTatiana RodriguesBelum ada peringkat
- Modelos de Documentos - Petição - Civil e Processo Civil - Pedido de Restituição de ArrasDokumen2 halamanModelos de Documentos - Petição - Civil e Processo Civil - Pedido de Restituição de ArrasMarco AurélioBelum ada peringkat
- Decreto Lei 2848 - 1940 PDFDokumen88 halamanDecreto Lei 2848 - 1940 PDFzkattackBelum ada peringkat
- STJ julga procedente repetição de indébito com encargos do bancoDokumen5 halamanSTJ julga procedente repetição de indébito com encargos do bancoLídia VidalBelum ada peringkat
- II CTEP Doutrina Op Antibombas Décio Leão Parte 1Dokumen27 halamanII CTEP Doutrina Op Antibombas Décio Leão Parte 1Daniel Belmiro Pereira100% (3)
- Direito Penal IIIDokumen265 halamanDireito Penal IIIedertavares400Belum ada peringkat
- Contrato de Arrendamento UrbanoDokumen3 halamanContrato de Arrendamento UrbanoJosé Manuel Vaz100% (2)
- Contestação IlmarDokumen3 halamanContestação IlmarilmarbeiruthBelum ada peringkat
- Requisitos e efeitos da sentença arbitralDokumen9 halamanRequisitos e efeitos da sentença arbitralcarvalhorafhaBelum ada peringkat
- Relatorios AudienciasDokumen5 halamanRelatorios AudienciasLeticia VardieroBelum ada peringkat
- Direito Penal I - PrincípiosDokumen26 halamanDireito Penal I - PrincípiosADAUTO TEODOROBelum ada peringkat
- Relação Do Direito Penal Com A CriminologiaDokumen2 halamanRelação Do Direito Penal Com A CriminologiaHellenCBelum ada peringkat