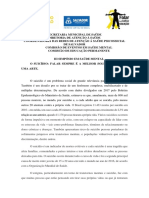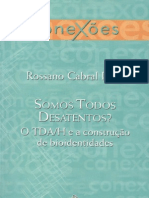Tabu Da Morte
Diunggah oleh
Avimar JuniorHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Tabu Da Morte
Diunggah oleh
Avimar JuniorHak Cipta:
Format Tersedia
Tabu da morte
José Carlos Rodrigues
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
RODRIGUES, JC. Tabu da morte [online]. 2nd ed. rev. Rio de Janeiro:
Editora FIOCRUZ, 2006. Antropologia e saúde collection. ISBN 978-85-
7541-372-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Tabu da morte
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Presidente
Paulo Gadelha
Vice-Presidente de Ensino, Informação e Comunicação
Nísia Trindade Lima
EDITORA FIOCRUZ
Diretora
Nísia Trindade Lima
Editor Executivo
João Carlos Canossa Mendes
Editores Científicos
Gilberto Hochman e Ricardo Ventura Santos
Conselho Editorial
Ana Lúcia Teles Rabello
Armando de Oliveira Schubach
Carlos E. A. Coimbra Jr.
Gerson Oliveira Penna
Joseli Lannes Vieira
Ligia Vieira da Silva
Maria Cecília de Souza Minayo
COLEÇÃO ANTROPOLOGIA E SAÚDE
Editores Responsáveis: Carlos E. A. Coimbra Jr.
Maria Cecília de Souza Minayo
Tabu da Morte
José Carlos Rodrigues
2a edição revista | 1º reimpressão
Copyright © 2006 do autor
Todos os direitos desta edição reservados à
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ / EDITORA
ISBN: 978-85-7541-372-2
1ª edição: 1983, pela Editora Achiamé, Rio de Janeiro.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
2ª edição revista: 2006 | 1ª reimpressão: 2011
Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica:
Angélica Mello e Daniel Pose Vazquez
Capa:
Danowski Design
Ilustração da Capa:
A partir do relevo de Hans Arp, Fruit of a hand, 1927-8.
Digitação de originais:
Gislene Monteiro C. Guimarães
Revisão e Supervisão Editorial
M. Cecilia G. B. Moreira
Catalogação na fonte
Centro de Informação Científica e Tecnológica
Biblioteca da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
R696t
Rodrigues, José Carlos
Tabu da Morte [livro eletrônico]. 2.ed., rev. / José Carlos
Rodrigues. – Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006
347 Kb ; ePUB (Coleção Antropologia e Saúde)
1. Morte. 2. Atitude frente a morte. I. Título.
CDD 20.ed. – 301.2
2011
EDITORA FIOCRUZ
Av. Brasil, 4036 – 1º andar – sala 112 – Manguinhos
21040-361 – Rio de Janeiro – RJ
Tels: (21) 3882-9039 e 3882-9007/ Telefax: (21) 3882-9006
e-mail: editora@fiocruz.br – www.fiocruz.br
Para Monique
Nós ignoramos tudo sobre a vida;
que podemos então saber sobre a morte?
Confúcio
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Apresentação
Uma das características da ciência antropológica é o fato de ela se interessar
pelo que está morto ou esteja em vias de morrer: cultura popular, índios,
camponeses, relações comunitárias... e, agora, morte. É bastante provável que
uma sociologia da ciência demonstre a existência de um vínculo estreito
ligando estas mortes e o próprio procedimento antropológico de
transformação dos outros em objetos e, entre esses, em objetos de
conhecimentos. Um liame seguro deverá existir entre as mortes reais de seus
objetos e a morte produzida pelo sistema de pensamento que objetiva,
abraçando apenas uma parte pequena do real, de um real que o próprio
sistema de pensamento define, feito de conceitos abstratos, esvaziados de
seus conteúdos, com a finalidade de virem a ser manipulados formal como
instrumentos de laboratório. As noções mais importantes da vida escapam
inteiramente à ciência: beleza, felicidade, prazer, dor... A propósito delas, as
teorias científicas nada podem falar o que nos autoriza a pergunta: é possível
falar cientificamente sobre a morte?
Falar cientificamente da morte é considerá-la como objeto e, logo, pô-la à
distância. Mas a morte não é objeto, não se confunde com a sua mise-enscène
segundo as diferentes culturas. Não pode ser apreendida. Diante disso, será
que se pode considerar a morte como objeto de ciência e submetê-la à regra
de ouro de nosso catecismo metodológico, considerando-a como coisa? Não
obstante, a morte se transformou em objeto de saber e até mesmo em
fenômeno de moda intelectual. Em tudo isso, é claro, existe uma tentativa de
fechar a angústia de morte dentro de um discurso e de localizar o pensamento
sobre a morte em um lugar seguro dentro da sociedade (e fora de nós).
Este é o problema fundamental, ao qual nós fugimos dizendo que uma
sociologia da morte só pode ser uma sociologia dos vivos e que nosso
trabalho não é sobre a morte, mas sobre as representações sociais da morte;
dizendo que em toda sociedade a imagem dominante da morte determina as
concepções de saúde, reflete a interdependência dos membros da sociedade...
Tudo isso é verdade e válido em seu nível próprio: o princípio metodológico
de objetivar, o princípio sociológico de entender os vivos através de suas
relações com os mortos, a fuga que tudo isso representa. Mas é também
verdade que estas três coisas se contradizem e formam um paradoxo: não se
pode falar sobre a morte senão de uma maneira exterior, generalizada,
necessariamente limitada, reificada. Ela não se deixa apreender, ela escapa.
Quando a consciência a apreende, é porque a morte não existe; quando ela
******ebook converter DEMO Watermarks*******
existe, a consciência não pode apreendêla: nada mais avesso ao método de
observação participante dos antropólogos.
Mas, coerentemente, se em nossa sociedade os homens sempre se
interessaram em estudar o que está distante (os milagres tecnológicos do
futuro, os astros, os processos microfísicos, o mundo químico...), é
compreensível que, no momento em que se quer banir a morte e afastá-la, ela
se transforme em objeto de estudo científico.
Este livro reflete todas estas contradições e evidentemente não resolve
nenhuma delas. De qualquer maneira, ele é um esforço de compreender, de
retomar e de reelaborar alguns trabalhos sobre o tema geral da morte que nos
foram oferecidos por cientistas sociais. Representa uma tentativa de
compreender nossas representações da morte, a partir de uma estratégia
definida.
Tal estratégia comporta em primeiro lugar um exame amplo que poderíamos
chamar de antropológico em sentido lato (com todas as vantagens e
desvantagens que este ponto de vista implica) das práticas e crenças
funerárias que nos são oferecidas por outras culturas, a partir de onde
pretendemos colocar em relevo a associação entre concepções, ritos e
processos sociais definidos: reprodução social, poder, circulação de bens e
mensagens, consciência...
Em segundo lugar, ela comporta um estudo dos processos históricos de
formação da nossa visão de morte, das transformações ideológicas que,
acompanhando as modificações ocorrentes em nível de organização
econômica, produziram o sistema de pensamentos, sentimentos e
comportamentos que configuram nossa sociedade tal como ela é: o
surgimento da noção de biografia individual, o processo de acentuação do
indivíduo e do individualismo, a separação entre corpo e alma com a
transformação do corpo em objeto, a emergência das idéias científicas, das
idéias higiênicas e do conceito de morte natural, o despontar do sonho de
imortalidade-sobre-a-terra...
Finalmente, a terceira parte do livro é uma tentativa de reunir essas primeiras
vias na direção de esclarecer o sentido social e político do silêncio com que a
sociedade industrial envolve a morte em seu território, tentando articular este
silêncio com outras dimensões de morte nessa sociedade ecocídio, etnocídio,
genocídio mostrando-o como um aspecto inabstraível da natureza do poder
exercido nessa sociedade e como caminho para a formação da morte
verdadeira, da Morte.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Em cada uma dessas partes, contraí profundas dívidas intelectuais que ficarão
evidentes para o leitor. Não obstante, gostaria aqui de ressaltar a contribuição
das idéias de Louis-Vincent Thomas, Philippe Ariès, Jean-Didier Urbain,
Robert Jaulin e Jean Baudrillard, algumas contidas em seus livros e artigos,
outras apreendidas em seus cursos e seminários sem as quais esta trabalho
não teria sido possível. Mas, ao utilizar estas idéias, eu as modifiquei e
freqüentemente as dispus de maneira diferente. Conseqüentemente, é
provável que algumas vezes estes autores tenham dificuldade em se
reconhecer nessas idéias e raciocínios: sou, pois, o único responsável pelo
que escrevi.
Agradeço aos senhores Pierre Chartier, Norbert Kalfon e Marie Speeckartz,
que me ajudaram a dar forma inteligível à versão inicial do texto que segue
(apresentado em outubro de 1981 à Université Paris 7, como tese de
doutorado em Antropologia); a Monique Mahaut que me ajudou a proceder à
pesquisa, cuidando de meus arquivos e datilografando os originais. Agradeço
ainda a meus amigos Hortência Alves, Ana Maria de Almeida Lima, Maria
Cândida Abreu, Pedro Paulo e Lúcia Nobre; aos professores Armando
Mendes, Hélio Barros, Darcy Closs e Eduardo Diatahy; aos colegas Miguel
Pereira, Laura Calcagno, João Vicente Abreu, Denise Jabour, Eliane
Consídera eAlmir El-Kareh, que me ajudaram em momentos importantes; a
todos que discutiram comigo o tema do trabalho e a todos que, mais uma vez,
me provaram, em difíceis instantes, que eu não estava só e que o trabalho
intelectual é obra coletiva.
Expresso ainda meu reconhecimento aos professores J. T. Desanti, J. Bertaux
e H. Essomé, membros da banca que examinou e aprovou este trabalho; ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pelo apoio que me
ofereceram.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Parte I - Da natureza à cultura
1 Morte e consciência: pensar o impensável
No conjunto das transformações que a humanidade tem sofrido no correr de
sua história, duas ao menos permaneceram constantes, opostas, constituintes
e complementares: os homens nascem, os homens morrem. Esta afirmação
aparentemente óbvia, não o é, contudo. As filosofias, as mitologias, as
práticas, os rituais se colocaram sempre, como questão urgente e
fundamental, a minuciosa discussão dessa obviedade aparente, fornecendo,
não obstante semelhanças de fundo, soluções extraordinariamente diversas.
Na escala das existências individuais, posto que pode ocorrer antes do
nascimento, a morte é a única certeza absoluta no domínio da vida: evento
derradeiro, cujo peso de acontecimento não pode ser negado, mesmo que se
lhe negue o valor de aniquilamento.
Uma coisa é encarar a morte como algo inscrito necessariamente no destino
dos homens em geral, enquanto membros da classe dos seres vivos. Outra
coisa é pensar a realidade de cada morte individual. Entre os mortos e a
morte, ou seja, entre determinado acontecimento biográfico e determinada
condição ontológica – ou melhor, escatológica – os liames não são simples.
Através de que meios, poderia um ser pensante pensar a condição de não-
pensamento, sua condição de não-pensante? A que tipo de lógica recorreria
um existente para pensar a não-existência, se o próprio ato de pensar o
aniquilamento, o nada, se o conceito de 'nada' é já, em si mesmo, alguma
coisa? Aniquilamento, nada, não-existência são, na ordem das idéias,
conceitos neutralizados, conceitos sem significação: cogito ergo sum.
Para um ser pensante, não é a morte, categoria geral e indefinida, que coloca
um problema, mas o fato de que ele, sujeito pensante, morre – o fato de que
'eu' morro. No dizer de Jankélévitch (1954: 55-6), "morrer não é tornar-se
outro, mas vir a ser nada ou, o que quer dizer o mesmo, transformar-se em
absolutamente outro, porque, se o relativamente outro é o contraditório do
mesmo, se comporta em relação a este como o não-ser em relação ao ser".
Ora, como poderia um sujeito imaginar-se inteiramente outro, absolutamente
outro, sem que o resultado dessa especulação fosse, para o sujeito,
permanecer radicalmente ele mesmo?
Não obstante – e talvez mesmo por causa da impossibilidade de sua inserção,
absorção e submissão ao(s) sistema(s) da lógica – o fantasma do
aniquilamento ronda, envolve, fustiga, desafia todos os sistemas humanos de
explicação do homem e do mundo. De fato, apesar de alguns animais, como o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
opossum, vários insetos em estado larvar ou adulto, aranhas etc.
manifestarem um simulacro de morte (Huxley, 1971); apesar de eles reagirem
a um algo de morte contido no perigo, na agressão, no inimigo; apesar de
serem munidos de todo um aparato de defesa e de ataque, em última instância
produtor de morte e/ou protetor de vida (garras, venenos, asas, presas,
espinhos, rapidez, mimetismo...), pode-se dizer que o homem é o único a ter
verdadeiramente consciência da morte, o único a 'saber ' que sua estada sobre
a Terra é precária, efêmera.
O animal tem, é verdade, uma certa percepção da morte: ele a sente como um
perigo que o ameaça e reconhece seus predadores, reagindo por instinto de
conservação; ele tem alguma sensibilidade à aproximação de seu fim, o que
lhe permite procurar um lugar para se esconder e morrer. Mas reconheceria a
morte a mãe chimpanzé, que passeia com o cadáver decomposto de seu
filhote? Poderia o animal transmitir a seus próximos sua experiência de
morte? Entre os animais, o advento da morte não envolve comportamento
algum convencional. Suas respostas ao advento da morte são ditadas pelas
leis da espécie a que pertencem; são a imposição, sobre um indivíduo
particular, dos ditames gerais, universais da espécie.
Edgar Morin (1970: 69-70) se refere a observações segundo as quais macacos
se teriam comportado em relação a cadáveres de ratos, gatos, pássaros, como
se eles fossem vivos, e machos se teriam introduzido em suas fêmeas mortas
e procedido sexualmente em relação a elas e aos outros machos, rivais em
potencial, como se elas estivessem vivas. E conclui: "os macacos e os
antropóides não reconhecem a morte, porque eles reagem a seus
companheiros mortos como se eles fossem vivos mas passivos". O animal,
enfim, não se sabe mortal: ele não pode se representar a morte, não pode
conceptualizá-la, mesmo que de alguma forma possa captá-la no plano da
sensibilidade. Os casos de animais domésticos, capazes, como alguns cães, de
se recusar a abandonar as proximidades do túmulo do dono, dispostos
algumas vezes a acompanhá-lo – e que demonstrariam desse modo alguma
consciência da morte – são absolutamente excepcionais: são exceções que
confirmam a regra, pois, como quer Morin, a consciência da morte está ligada
à domesticação, à vida em sociedade humanamente organizada.
Tal incapacidade animal de se saber mortal está associada à impossibilidade
de o animal se ver como indivíduo. Embora esta individualidade exista, ele
não pode reconhecê-la e, portanto, não pode avaliar sua perda: a morte. "Os
instintos de conservação individual são específicos já que idênticos entre
******ebook converter DEMO Watermarks*******
todos os membros de uma mesma espécie; eles têm uma significação tanto
mais totalmente específica quanto mais se integrem em um vasto sistema de
proteção de toda a espécie" (Morin, 1970: 68-9). É com a consciência de si
que aparece um enrijecimento da individualidade, capaz de enfrentar a tirania
da espécie. E ao movimento de dissolução do indivíduo na espécie, o
indivíduo, agora consciente de si, chamará morte: a perda de sua
individualidade.
A consciência da morte é uma marca da humanidade. Nós sabemos que as
primeiras materializações que nos permitem acompanhar o processo de
hominização são instrumentos de sílex bruto e marcas de presença humana
em um território. Entretanto, outras provas desse processo se adicionaram
logo a estas primeiras, de uma maneira cada vez menos contestável: as
sepulturas. Determinar as circunstâncias dentro das quais o homem começou
a inscrever sua marca sobre o cadáver é uma empresa improfícua. Neste
domínio, como em outros, as origens estão provavelmente perdidas. Mas o
'homem' de Neanderthal não somente enterra seus mortos: também os reúne
às vezes, como na Gruta das Crianças perto de Menton. Os homens das
cavernas de Carmel (40.000 anos), da Chapelle-aux-Saints (45.000 a 35.000
anos), do Monte Circeo (35.000 anos) cavaram sepulturas e nelas
depositaram seus mortos adultos, sentados, tornozelos e punhos atados, como
fetos prometidos a uma segunda vida (Morin, 1970; Ziegler, 1975). As mais
antigas sepulturas conhecidas (cavernas de Qafaz, em Israel) datam de cerca
de 40.000 anos; as do homem de Neanderthal, entre 80.000 e 30.000 anos
(Maertens, 1979). Um interesse religioso ligado aos despojos humanos parece
provável, embora as provas arqueológicas sejam ainda escassas (crânio de
Mas d'Azil, com seus olhos postiços). A consciência da própria morte é sem
dúvida uma das conquistas maiores constitutivas do homem: "não se trata
mais de uma questão de instinto, mas já da aurora do pensamento humano,
que se traduz por uma espécie de revolta contra a morte" (Morin, 1970: 31).
Desde então, os homens produziram e continuam a produzir uma imensa
variedade de representações em torno de sua morte e da dos outros. A
consciência da morte abre uma passagem pela qual vão transitar forças
notáveis que transformarão a maneira humana de ver a vida, a morte, o
mundo. Como disse Jean Ziegler (1975: 22-3), "a sepultura traduz
incontestavelmente um progresso do conhecimento objetivo". Mas este
conhecimento nada tem a ver, ou quase nada, com supostas razões, refletidas
ou intuitivas, culturais ou instintivas, de caráter higiênico ou instrumental.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Trata-se já de uma obrigação moral e da necessidade de exprimir alguma
coisa. Trata-se de se reconhecer no corpo o seu valor expressivo, porque o
corpo humano morto não pode ser considerado como um cadáver qualquer.
Não se poderiam explicar as práticas funerárias, o enterro, por exemplo, por
motivos puramente utilitários ou higiênicos (afastar a sociedade de uma
virtual fonte de elementos patogênicos), porque se isto fosse verdade, não se
entenderia por que certas sociedades enterram seus membros antes mesmo
que estes morram, nem poderíamos explicar por que certos povos convivem
longamente com o processo de putrefação, como em Zanaga, ainda hoje,
onde os grandes dignitários tegé – apesar de que "os inconvenientes e perigos
de infecção que representa um tal costume não escapem a ninguém"
(Alihanga, 1979: 277) – são conservados até seis meses, improvisando-se sob
o leito mortuário um canal que recolhe os líquidos cadavéricos e os conduz
aos lugares exteriores.
Ademais, a efervescência ritual provocada por uma morte varia de acordo
com a importância social do defunto. Como Robert Hertz (1970) observou, a
morte não se limita a pôr fim à existência corporal. Ela destrói ao mesmo
tempo o ser social investido sobre a individualidade física, ao qual a
consciência coletiva atribuía uma maior ou menor dignidade. A morte de uma
pessoa adulta significa normalmente dor e solidão para as pessoas que
sobrevivem a ela: verdadeira chaga que põe em perigo a vida social. É
diferente, e mais branda em geral, a reação que a morte de crianças produz na
consciência coletiva. Na realidade, a comunidade investiu nelas pouco mais
que esperança. Não chegou a lhes imprimir sua marca. Não se reconhece
nelas e por isso sente-se pouco atingida. Tudo se passa como se tratasse de
uma morte menor, de um fenômeno "infra-social", para conservar a expressão
de Hertz (1970: 80).
Portanto, a morte, sob o ângulo humano, não é apenas a destruição de um
estado físico e biológico. Ela é também a de um ser em relação, de um ser
que interage. O vazio da morte é sentido primeiro como um vazio
interacional. Não atinge somente os próximos, mas a globalidade do social
em seu princípio mesmo, a imagem da sociedade impressa sobre uma
corporeidade cuja ação – dançar, andar, rir, chorar, falar... – não faz mais que
tornar expressa.
Nada há de surpreendente, pois, em que os membros em que a sociedade se
encarna e que ela perde venham a ser objeto de uma atenção especial, de
cuidados e preocupações mortuárias, em uma palavra, de rituais. Os ritos da
******ebook converter DEMO Watermarks*******
morte comunicam, assimilam e expulsam o impacto que provoca o fantasma
do aniquilamento. Os funerais são ao mesmo tempo, em todas as sociedades
– vê-lo-emos adiante – uma crise, um drama e sua solução: em geral, uma
transição do desespero e da angústia ao consolo e à esperança.
Estudar estes ritos é sociologicamente importante. A morte de um indivíduo é
a ocasião em que o grupo, no mais amplo sentido do tempo, produz a sua
reprodução, tanto nos planos cultural, simbólico e ideológico, como no plano
das estruturas socioeconômicas.
A existência da cultura, quer dizer, de um patrimônio coletivo de
saberes, savoir-faire, normas, regras organizacionais, etc., só tem
sentido porque as antigas gerações morrem e porque é necessário
transmiti-la continuamente às novas gerações. Ela só tem sentido como
reprodução, e este termo só adquire seu pleno significado em função da
morte. (Morin, 1970: 12-3)
Uma sociedade se estrutura não apenas 'apesar' da morte e 'contra' a morte,
mas ela 'contém' a morte em si, "só existe como organização pela, com e na
morte" (idem). Georges Balandier (1970: 9) concebe uma civilização como
sendo um modo de responder ao problema colocado pela vida e pela morte,
como a imposição ao homem e à sociedade de defrontar a evidência da
entropia e de "se pensar na finitude".
Também as civilizações são mortais e isto não deixará de marcar
essencialmente suas representações da morte. Em princípio, todas se
pretenderão eternas e imortais e, por isso, o tratamento da morte que uma
sociedade elabora não é o tratamento de sua morte mas "o das fronteiras do
universo que ela constitui" (Jaulin, 1977: 11). Tais fronteiras incluem as
relações de uma civilização com outras culturas, com os indivíduos que ela
deliberadamente coloca às suas margens (condenados, feiticeiros, doentes,
desviantes...) e com a morte dos indivíduos que a compõem. Morte do
indivíduo, morte da sociedade: eis, no plano da consciência, as duas faces de
uma mesma moeda. Evidenciam-se na morte, nos ritos e práticas funerários,
ao mesmo tempo o seu caráter de extrema individualidade e sua constituição
social: ela traça um confim último entre a subjetividade do eu e o outro.
Outro domínio em que germina a consciência da morte é o do psiquismo
infantil. Os trabalhos de Piaget no-lo confirmam: é a partir do momento em
que a criança toma consciência de si mesma como indivíduo que ela se sente
afetada pela morte.
Até a idade de três ou quatro anos, a criança, na nossa cultura, não tem idéia
******ebook converter DEMO Watermarks*******
alguma do significado da morte. A contraposição vivo-morto é ignorada.
Mesmo que estes termos façam parte do seu vocabulário, ela nada sabe sobre
a necessidade do morrer, ainda que as palavras concernentes à morte sejam
talvez percebidas como algo de negativo, ligado a 'separação' e 'destruição'.
A partir desse ponto, o vocabulário infantil concernente à morte infla
progressivamente de conteúdos e assume um colorido emocional
crescentemente negativo. Em nenhum caso, todavia, a morte é representada
como aniquilamento definitivo: ela é afastamento dos domínios da criança;
impossibilidade de se movimentar; doença grave, porém curável; no máximo,
aniquilamento temporário e reversível. Nessa idade, não imagina a criança
que a morte ameace também o próprio eu, embora tenda já a crer na
possibilidade de que outros sejam afetados por ela. Aos cinco anos, a criança
permanece incapaz de "conceber o fato de não estar/ser mais vivo, de
ser/estar morto, ou de entender que outros tenham vivido antes dela" (Gesell
1949: 7). Às vezes, ela reconhece a terminalidade da morte, mas crê em sua
reversibilidade. Pensa que os mortos podem reviver, de modo que não
assume em relação à morte a mesma atitude emocional dos adultos.
Entretanto, começa a vacilar a certeza da reversibilidade: a idéia de
irreversibilidade principia a aparecer, ainda que apenas como fato de
realização em futuro longínquo (Fuchs, 1974). Por volta dos seis anos, a
criança toma consciência, afetiva e intelectualmente, cada vez mais nítida, do
significado da morte: teme que a mãe morra, que a abandone à sua sorte, mas
recusa a crer que ela mesma morrerá um dia. Disso, só começará a ter
consciência aos sete anos. Aos oito, ou nove anos (Choron, 1969), ela sabe
que os seres morrem quando alguém os mata, quando estão doentes ou
velhos, que todos morrerão um dia, inclusive ela mesma.
Nos anos sucessivos de sua vida, os nexos significativos se enriquecem de
conteúdos e se aproximam progressivamente da imagem de morte dos
adultos. Através de diversas formas de mediação e de orientação culturais, a
criança se apropria das 'representações convencionais' que os adultos têm da
morte. Em um primeiro instante, a palavra morte era para ela um continente
vazio, uma abstração irrealizável. Esse invólucro se preenche
progressivamente, em duas direções, de acordo com a orientação mais ou
menos dominante que prevalece no universo dos adultos: no sentido das
representações mágico-religiosas ou no dos saberes 'reais' sobre os processos
da morte e do morrer (Fuchs, 1974). A apropriação da idéia de morte é, pois,
função da interação do sujeito com os seus parceiros, com o seu próprio eu,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
com a sua cultura.
A consciência "não fará jamais a experiência de sua morte, mas viverá
durante toda sua vida com uma imagem empírica da morte, aquela que uma
dada sociedade formula a partir do desaparecimento gradual de seus
membros" (Ziegler, 1975: 21). Esta consciência de morte é especialmente
importante, na medida em que desempenha uma função no que respeita à
vida e na medida em que é uma função individual que se explica por relação
à coletividade. Desmaios, sonos profundos, acidentes graves são modos de se
aproximar da consciência de morte. Mas nenhum se iguala à experiência da
morte do próximo, à de um ser ao qual se está afetivamente ligado, com o
qual se constituiu um 'nós', com o qual se edificou uma comunidade que
parece romper-se. Uma vez que esta comunidade é, de algum modo, eu
mesmo, experimento algo de morte dentro de mim (Landsberg, 1951). Assim,
a morte do outro evocará sempre minha própria morte; ela testemunhará
minha precariedade, ela me forçará a pensar os meus limites.
Como observou Louis-Vicent Thomas (1978: 24),
é no momento em que tomo consciência de minha finitude que cada
instante de minha vida se carrega de todo o peso do meu destino. Cada
um dos meus atos se inscreve nele como uma peça nova de uma
edificação irreversível que continua por toda a duração de minha
existência, deixando-me cada vez com o gosto do inacabado.
E o próprio autor conclui: "a consciência da morte é a condição mesma da
vida da consciência" (idem).
******ebook converter DEMO Watermarks*******
2 Semantização do absurdo: entre dois mundos
As páginas que seguem constituem uma discussão da apropriação cultural da
morte. Esta discussão exige que tomemos por base o exame de uma larga
relação de formas culturais possíveis, porque somente assim seremos capazes
de distinguir os comportamentos funerários ou elementos desses que são
comuns e invariantes através das sociedades, das práticas e concepções que
são específicas a determinadas sociedades e que são função dos seus
particulares arranjos estruturais. Entretanto, nosso interesse não é o de
proceder a uma enciclopedização etnográfica dos ritos fúnebres; queremos
apenas destacar determinadas estruturas de pensamento e codificações
ideológicas, no interior das quais a morte é constituída como algo
significativo, para, em seguida, tentar descobrir suas atualizações e
realizações históricas na sociedade ocidental. Sem uma tal referência,
corremos o risco de nos encontrar demasiadamente ligados à ideologia do
sistema que queremos investigar, o que não tornará fácil o trabalho de lançar
sobre ele um olhar crítico.
Todavia, ao lançarmos mão de dados extraídos de diferentes culturas,
tomamos consciência dos limites desse procedimento e procuramos nos
resguardar da suposição de que possamos inferir a significação de cada um
deles fazendo abstração do contexto etnográfico em que esses dados
adquirem significação, isto é, da comunidade pontual em que vivem. Pelo
contrário, a exposição que segue se esforçará em mostrar também que, em
antropologia, duas coisas podem freqüentemente ser a mesma coisa, e que
uma coisa normalmente é duas ou mais coisas, segundo as variações dos
conjuntos significacionais a que pertençam. Os dados de diferentes
procedências etnográficas que entram na composição do texto seguinte
pretendem cumprir a dupla função de nos fazer sair de nós mesmos, para que
nos possamos apreciar como objeto, e de colocar intelectualmente as mesmas
coisas em novas relações, de maneira que possamos deduzir outras relações e
novos conhecimentos.
As crenças, as práticas, os ritos funerários operam dentro de um campo
semântico. Mas este campo está longe de ser o mesmo segundo as culturas,
os grupos sociais e os diferentes momentos históricos de uma sociedade. As
diferentes mortes-acontecimentos significam coisas diversas, segundo o lugar
desses campos que ocupem, de acordo com a classe particular de morte a que
pertençam. Inserir a morte em um sistema de classificação, para compreender
as mortes-eventos, dialogar com elas e atribuir-lhes sentido, parece ser um
******ebook converter DEMO Watermarks*******
trabalho que toda cultura realiza e cujos resultados exibe, seja em estado
prático, seja através de um sistema de teorias, idéias e dogmas
conscientemente formulados e ostensivamente oferecidos ao observador.
No Brasil, por exemplo, uma pessoa pode morrer de 'morte morrida', morrer
'de velhice', de 'morte matada', de 'morte violenta'... cada uma delas
provocando nos sobreviventes uma particular reação emocional. Morrer de
'morte morrida' significa que não é necessário procurar um culpado e que o
indivíduo chegou ao termo da existência biológica por razões ligadas ao
próprio funcionamento do organismo, sem que uma doença particular possa
ser responsabilizada. Nesse caso, se a causa existe, é sempre apontada:
'morreu de enfarte', de 'nó-nas-tripas', de 'fraqueza', de 'desgosto'. Morrer de
'velhice' talvez seja a mais típica ocorrência da 'morte morrida'. É a morte do
ancião, que lentamente se aproxima do fim – porque toda existência terrestre
é finita – sem envolver acidentes, agressões ou outros alteradores do processo
normal da vida. Morte 'morrida' e morte 'por velhice' confirmam talvez o que
a cultura brasileira tradicional chama de 'morte natural', conceito que não se
confunde com o que modernamente se entende por este termo nos meios
urbanos e industriais sob influência da ideologia da medicalização (da qual
falaremos nos capítulos subseqüentes). No outro extremo, encontramos a
'morte matada', categoria que inclui todos os eventos de morte para os quais
se poderia apontar um responsável: morte por acidente, assassinato,
suicídio... Nos meios mais escolarizados fala-se de 'morte súbita' e de seu
contrário, 'morte agônica'. Para um brasileiro, este sistema de classificação da
morte-evento é fundamental: diante da notícia de que alguém morreu, ele
perguntará imediatamente, sem grandes reflexões – "de quê?". Em seguida,
se se tratar de um morto não muito próximo, tecerá alguma referência
elogiosa a sua pessoa: "que pena, ele era tão bom...".
Para boa parte das culturas africanas, não existe morte natural. "Toda morte é
um assassinato", diz Ziegler. Na África ocidental, quando um bambara
morre, o acontecimento é recebido como uma agressão incompreensível. Para
eles, nada predispõe um ser consciente à morte. Os bambara têm os seus
velhos em grande consideração: pensam que eles possuem a consciência mais
rica e penetrante. Não encontram nenhuma razão para a destruição da
consciência do homem, pois essa consciência cresce com a idade. A
explicação da desagregação do corpo não lhes parece suficiente. Então, os
bambara remetem a morte "ao domínio exterior das agressões noturnas" e
"do mal que vaga pelo mundo". Em bambara, a palavra 'morte' é sinônimo de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
'contágio' (Ziegler, 1975: 273-4).
Os sistemas de classificação se esforçam por definir os limites das mortes-
acontecimentos. Quais as fronteiras, por exemplo, entre a morte e a doença?
Já fizemos referência à prática em algumas culturas de enterrar os mortos/
doentes antes mesmo que estes exalem os últimos suspiros; no Ocidente,
alguns doentes (leprosos, por exemplo) foram banidos e socialmente
considerados mortos antes de expirarem. Entre o começo da agonia e suas
conseqüências, os marcos nem sempre são visíveis ou considerados
relevantes pelos grupos sociais. Assim, no dialeto aché-guayaki do Brasil, a
mesma palavra mano, cobre as noções de 'estar acometido de uma doença
grave' e 'morrer'. Esta questão classificatória não é meramente lingüística: os
limites das categorias semânticoculturais da morte estão atrás das práticas de
abandono dos velhos, das nossas discussões sobre aborto, contracepção, cura,
tratamento, pena de morte...
Por não admitirem, como a maioria dos negro-africanos, o conceito de morte
natural (exceção feita à 'morte de Deus', quer dizer, por velhice), os
altogoveanos antes de enterrar costumam praticar a autópsia do defunto a fim
de classificar a morte-evento, determinando a causa e a origem. Assim, se as
vísceras estão pretas, conclui-se que foi ngo que matou, se o ventre está
vermelho, será mwili; a presença de pequenas feridas indica que o indivíduo
morreu por akwuna. Entre os obamba, o morto é dividido da cabeça aos pés,
em um lado 'patrilinear' e um 'matrilinear': se as referidas lesões se situam do
lado esquerdo ou direito, as testemunhas da autópsia concluirão onde se
deverá buscar a culpa, se entre os parentes maternos ou paternos (Alihanga,
1979).
A crença em uma categoria de morte natural não exclui sempre a crença na
morte por bruxaria. Pelo contrário, como entre os nuer, estas duas categorias
são complementares,
uma dando contra do que a outra não é capaz (...). A morte não é
somente um fato natural – é também um fato social (...) trata-se também
da destruição de um membro da família e rede de parentesco, de uma
comunidade e uma tribo (...). Leva à consulta de oráculos, à realização
de ritos mágicos e à vingança (...). A atribuição do infortúnio à bruxaria,
não exclui o que nós chamamos 'causas reais', mas superpõe-se a estas
(...). (EvansPritchard, 1978: 64)
Semelhantemente, os krahó atribuem uma morte a feitiço, doença, ou
acidente, esta última categoria parecendo englobar todos os eventos que nós
******ebook converter DEMO Watermarks*******
consideraríamos como mortes repentinas (Cunha, 1978). Em contraste, os
guajiro assumem um grande distanciamento no que respeita às mortes-
eventos, às mortes individuais. Para eles, estas não se devem à violação de
tabus, nem são o resultado de ritos ou encantamentos mágicos da parte de um
inimigo. Elas são obra de seres supra-humanos bastante abstratos e muito
indiferentes à morte de cada homem individual. Os animais contaminadores e
todos os outros causadores de doenças mortais atacam cegamente, ao acaso.
Os guajiro consideram a morte 'anônima' e 'aleatória' (Perrin, 1979: 123).
Existem também as classificações das mortes segundo o plano ético: 'morrer
em paz', 'morrer tranqüilo'. A deontologia negro-africana, como observou
Thomas (1976: 192), é denominada pela distinção boa/má morte. A primeira
é aquela que se verifica conforme as normas que a tradição prevê: condições
de lugar (morrer na aldeia); de tempo (morrer quando se está repleto de anos,
quando a missão está cumprida e quando os filhos são numerosos para chorar
o defunto e fazer os sacrifícios em sua intenção); de modo (morrer sem
sofrimento, sem acidente ou doença desonrosa, na paz, sem rancor nem
ressentimento). A boa morte, diz-se, "é bela e suave porque ela conduz ao
'pai' e aos ancestrais. Morrer é dizer a seu pai: eis-me, cantam os Pigmeus".
De um modo geral, os sistemas de classificação da morte tendem a se
estruturar diferentemente conforme se a veja como predominantemente
determinada – isto é, previsível, classificável e universal ('ninguém escapa à
morte') – ou predominantemente aleatória e cega, atuando 'quando chega o
momento'. Estes dominantes, entretanto, não se excluem: a convivência, nos
sistemas de classificação, do insólito e do comum, do acidental e do
determinado, inspira-se na própria absurdidade do drama final da existência
humana. Nossas sociedades industriais – tentaremos mostrá-lo nos próximos
capítulos – tendem a supervalorizar, em seus sistemas de representação, as
dimensões aleatórias da morte, em detrimento de seu lado determinístico e
universal. O resultado, então, é que, cada vez menos vemos a morte como
uma fatalidade e cada vez mais a encaramos como uma probabilidade que
tende a diminuir na medida em que se controlam os fatores aleatórios:
segundo essa concepção, se eu fizer ginástica, check-up rotineiro, observar as
regras de segurança etc., reduzirei minhas possibilidades de morrer.
Tentemos aprofundar essas questões de representação da morte segundo as
pistas que nos fornecem as civilizações.
O absurdo da finitude humana reside em parte no fato de que a morte física
não basta para realizar a morte nas consciências. As lembranças daquele que
******ebook converter DEMO Watermarks*******
morreu recentemente continuam sendo uma forma de sua presença no mundo.
E esta presença só arrefece aos poucos, lentamente, por meio de uma série de
dilaceramentos de que são vítimas os sobreviventes. A consciência não
consegue pensar o morto como morto e por isso não pode se furtar a lhe
atribuir uma certa vida. A morte definitiva não é determinada pela realidade
natural mais que pelas instituições sociais: o defunto conserva ainda, por
algum tempo, determinados poderes e direitos, mais ou menos duradouros
segundo as diferentes culturas. Entre os kota, por exemplo, uma viúva
permanece a esposa do marido falecido, até que o status desse venha a ser
definitivamente o status de um morto. Se, por acaso, depois da morte física
do marido, ela vier a ficar grávida, a criança será considerada filha do
falecido, com todas as conseqüências que isto implicar. O morto, então, não é
visto como alguém que esteja completamente do outro lado, mas como
alguém submetido a uma passagem, a um processo de mudança, a um estado
transitório. Esta transição pode ser tão sutil que, segundo uma idéia bastante
difundida, o defunto mesmo não percebe que não pertence mais ao mundo
dos vivos.
Por conseguinte, os mortos não estão fora da circulação das mensagens
humanas: a morte não corta os canais de comunicação com o morto, embora
imponha novos meios e novos códigos. Os diola, os dida, os bété, os baulé,
os lobi e muitos outros africanos costumam interrogar seus mortos no sentido
de saber destes quais são os responsáveis pela morte (Thomas, Rousset &
Thao, 1976). Contrariamente, entre os krahó, são os vivos que acusam os
mortos: "Se você se tivesse lembrado de nós, não teria morrido. Agora você
que voltar para pegar a gente, vá-se embora, fique por lá" (Cunha, 1978: 57).
Esta 'ultra-vida', a presença e sobrevivência do duplo, implica a continuação
da interação, ou seja, o não reconhecimento da morte. Os trobriandinos crêem
na existência de dois tipos de alma: baloma, que é a forma principal e durável
do espírito do morto, e kosi, entidade mal definida e que leva uma existência
breve e precária nos lugares freqüentados precedentemente pelo defunto. Só a
primeira vai morar de maneira permanente na 'ilha dos espíritos', enquanto a
segunda – mais íntima, digamos – ficará alguns dias que seguem o óbito
amedrontando os vivos.
No paleolítico, o esqueleto recoberto de ocre acocorado em posição fetal,
logo acompanhado dos objetos pessoais, deixa-nos supor ser antiga a idéia de
duplo e, mais particularmente, a idéia de que em sua outra vida, os mortos,
como os vivos, têm necessidades. No estado de Chiuaua, no norte do México,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
o morto é enterrado com milho, feijão, seus arcos, suas flechas e um pote de
tesvino (espécie de cerveja de milho), porque as pessoas acreditam ser melhor
atender logo às necessidades do morto que proporcionar-lhe ocasião de
retornar para satisfazê-las. Um sogro, sentado ao lado da tumba de seu genro
morto por suicídio, entretém com este uma conversa, fazendo as perguntas e
dando as respostas:
Por que você morreu? – Porque decidi morrer. – Isto não é bom. Você é
sem-vergonha. Que é que você ganhou, estando aí com estas pedras em
cima de você?... Eu te deixo este tesvino e esta comida, carne... a fim
que você se alimente e não retorne. Nós não queremos mais saber de
você. Você é um imbecil... Você não beberá mais tesvino conosco lá em
casa. Fique aqui! Não volte mais para casa, porque isto não vai lhe
adiantar nada. Nós o queimaríamos. Adeus! Vá-se embora! Nós não
queremos mais saber de você! (Soustelle, 1979: 106)
A ambigüidade da situação comunicacional do morto-ainda-vivo é muitas
vezes clara: entre os mitsogo do Gabão (Maertens, 1979: 158) um dançarino
carrega o cadáver sobre seus ombros, fazendo piruetas, ambos envolvidos em
uma vestimenta única, ao som de aclamações: "o morto anda" – enquanto
uma voz na floresta imita a do defunto, ao som de aplausos: "o morto fala!".
Sim, o morto fala. O morto fala por intermediários, através de possuídos,
'cavalos', como se diz em alguns cultos afro-brasileiros, que lhe emprestam a
boca e o corpo. O morto fala diretamente, através de manifestações mais
concretas: ele pode jogar pedras, ele pode assoviar, ele pode aparecer por
meio de silhuetas estranhas (Madagascar). Os mortos se exprimem pelo
reaparecimento de 'desencarnados', que têm a configuração visual de corpos,
mas não são corpos de carne e osso porque não obedecem à lei da gravidade.
Mas os desencarnados não são também puras espiritualidades: algumas vezes
podem mesmo ser fotografados. Diz-se que aparecem envolvidos por uma
espécie de aura luminosa e que são capazes de se deslocar pelos ares... Os
mortos se comunicam por ruídos ouvidos nos túmulos, explosões de gases,
fogos-fátuos, algumas vezes com objetivo significacional bastante definido
(por exemplo, o túmulo de Silvestre II crepitava, segundo se acreditou, cada
vez que um papa fosse morrer): existe uma linguagem dos túmulos como
existe uma linguagem da arte.
Os mortos falam por suas metáforas e por suas metonímias. Em sua extensa
obra, Frazer levantou um grande número de proibições que tinham por
objetivo proteger os vivos das sombras, ou proteger as sombras contra a ação
******ebook converter DEMO Watermarks*******
dos vivos. As crenças que exprimem temor dos mortos-sombras são da
mesma natureza daquelas que exprimem medo das sombras dos vivos, pois
nessas últimas os homens vêem freqüentemente uma dimensão de morte.
Assim, é necessário evitar que a sombra seja projetada sobre os alimentos,
proteger-se de projetar sombra sobre um morto, de encontrar sombra de
mulheres grávidas. As mulheres devem se cuidar de não serem fecundadas
por sombras... Entre os trobriandinos, kosi é comparado à sombra de um ser
humano, enquanto baloma o é a seu reflexo no espelho (Panoff, 1972). Nas
ilhas Fidji, os indígenas separam o que chamam de 'sombra escura' da
'sombra clara', o reflexo na água ou no espelho.
O além do espelho é o verdadeiro reino dos duplos, o inverso mágico da
vida... Os tabus, as superstições, os presságios do reflexo e do espelho
são da mesma natureza dos que concernem à sombra. Ainda hoje um
espelho quebrado é signo nefasto e, quando a morte sobrevém, se
cobrem de negro os espelhos, na França, Alemanha, etc. (Morin, 1970:
152)
O jogo especular se manifesta também nas concepções de morte entre os
krahó: "os mekaró chamam-nos de mekaró, eles não se chamam (a si
mesmos) de mekaró, eles têm medo de nós" (Cunha, 1978: 120). Poderíamos
ainda falar das manifestações das mortes nos sonhos, nos ecos (reflexos
auditivos) etc.
A estas manifestações de vida dos mortos é necessário às sociedades
responder. No candomblé da Bahia a função da casa dos mortos-que-voltam,
no terreiro de egun, é garantir uma comunicação ininterrupta entre os vivos e
os mortos, mas de um modo regrado a fim de possibilitar o "livre fluxo do
saber social dos ancestrais (...) na direção desses ignorantes da vida que são
os vivos" (Ziegler, 1975: 203). Diálogo difícil, entretanto. O ar, o vento que o
egun levanta ao dançar é benéfico e capaz de curar doenças; mas quem quer
que toque as vestimentas do egun morre instantaneamente. Um verdadeiro
pânico se abate sobre o grupo cada vez que o egun avança, dançando na
direção do espaço reservado aos vivos. À noite, só os homens mais corajosos
ousam passear, assim mesmo munidos de longas varas, a fim de se
protegerem de tocar um egun vagando pela noite. Os eguns não só separam
os mortos dos vivos, como levam morte aos vivos.
Um equívoco profundo governa assim a casa dos mortos. Massacrantes
e mediadores, protetores dos vivos e matadores, os eguns simbolizam
em uma figura única as características terrificantes e contraditórias de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
uma morte que, mesmo o admirável sistema nagô não consegue dominar
totalmente. (Ziegler, 1975: 212)
Na Nova Guiné, segundo nos informa Thomas (1976), os viúvos só saem
munidos de porretes, para se protegerem da sombra de suas mulheres
falecidas. Numerosos esqueletos antigos foram descobertos com indícios de
terem sido amarrados. Em Queensland, quebravam-se os ossos do morto,
prendiamse os joelhos perto do queixo e enchia-se o estômago de pedras. O
mesmo sentimento, provavelmente, levou a colocar grandes blocos de pedra
sobre o peito dos defuntos, a fechar hermeticamente as sepulturas, a fechar
com pregos as urnas e os caixões. Por toda parte, é necessário disciplinar a
ingerência dos mortos na vida dos vivos: no Laos se amarram os dedos do pé
do cadáver; em Uganda, os polegares são amarrados aos artelhos; os kayapó
do Brasil amarram os tornozelos e ligam as mãos aos joelhos; no Tigre, na
Etiópia, se amarram os polegares ao pênis; em algumas regiões do Quebec
não se calça o cadáver, a fim de impedi-lo de caminhar sobre a neve e o gelo
(Maertens, 1979). Em muitas culturas, roga-se ao defunto que esqueça os
seus, que deixe os vivos em paz: "A partir de hoje, você não tem mais
parentes, não tem mais mulher, nem tem mais filhos, você não é mais da
aldeia" (Thomas, 1976: 512), dizem os edo, da Nigéria, quebrando as pernas
e perfurando os olhos do morto, se por acaso se persuadirem de que se trata
de um 'mau morto'.
Outras vezes os vivos se dirigem aos mortos em uma linguagem menos direta
e mais sutil. Assim, no noroeste da Espanha, onde as pessoas crêem que a
alma do morto siga a família quando esta retorna do cemitério, costumava-se
acender fogo diante da casa e queimar o colchão do defunto no cruzamento
de duas estradas; na Trácia, uma atenção particular é dirigida ao lugar onde
repousa o morto, especialmente onde esteve sua cabeça: coloca-se aí um
recipiente com água e vinho e um pouco de farinha. Mas quando se acredita
que a doença permaneceu no lugar onde estava o morto, coloca-se uma pedra
pesada, um machado, quebra-se um recipiente feito de terra, enfiam-se pregos
no local, espalha-se carvão ardente no lugar onde ficavam as pernas do
morto, para "queimar a morte" (Ribeyrol, 1979: 51), isto é, pensando que
assim procedendo podem cortar ou espantar a morte.
Entre os camponeses europeus, é comum que se lave e se purifique a câmara
mortuária e que se cubram os espelhos, na intenção de exorcizar a presença
do morto. Tal intenção pode encontrar uma multidão de práticas. Os nayar,
da Índia, que transportam um defunto, vestem-se de mulher para que este não
******ebook converter DEMO Watermarks*******
os reconheça. Em muitas zonas camponesas da Europa, o defunto é tirado de
casa através do teto, com os pés para frente, a fim de que não retorne. Entre
os zulu, os que transportam um morto vêm encontrá-lo andando de costas, a
fim de que seus rastros estejam voltados para o exterior. Na França, em
Beauguesne, os sobreviventes rodam em torno do túmulo andando em
marcha à ré, antes de o deixar. Os tsimithey de Madagascar jogam terra nas
tumbas de costas para estas. Na Galícia, o carro funerário vem três vezes
seguidas diante da porta, para que se esteja certo de que o espírito embarcou
nele: além disso, abrem-se as portas, as janelas, as gavetas, para não deixar
nenhuma chance ao espírito de ficar agarrado em algum desses lugares. Os
cheremi, os lodugan, os hmong, entre outros, fazem uma abertura na parede
só para a circunstância de uma morte, para, por ela, retirar o cadáver. Os
pigmeus deixam um fogo em volta da casa durante quatro dias. Os panan de
Bornéu amarram ao contrário a barca que transportou um cadáver para o
outro lado do rio, com a intenção de tapear o defunto. Na Bretanha, o cortejo
funerário fica ziguezagueando pela aldeia e pega os caminhos menos
conhecidos e freqüentados para ir ao cemitério. Os iban de Bornéu, os
malacitas das Ilhas Salomão, os luba do Kasai, voltam do cemitério por um
caminho diferente daquele que foi tomado para ir. Os samoiedos e os
esquimós abaixam a parede da tenda imediatamente após a saída do defunto.
Os tunguses fazem a mesma coisa e mudam de lugar a tenda do morto...
(Maertens, 1979). Eis alguns exemplos de um interminável diálogo a que nós,
ocidentais, estamos cada vez mais surdos e cujos idiomas estamos
crescentemente despreparados para entender.
A humanidade, já dissemos, é a única espécie consciente da mortalidade de
seus membros. Esta consciência faz parte da adaptação autocrítica dos
homens ao mundo, que é a cultura, e está em relação com a significação do
indivíduo no corpo social. Assim, a morte se situa no ponto de
entrecruzamento das correntes bio-antropológicas fundamentais. É pela
consciência dela que o homem se distingue mais nitidamente dos outros seres
vivos e sua vida adquire o que ela tem de mais fundamental. Os bororo, por
exemplo, colocam a consciência da morte e as práticas que dela decorrem no
mesmo nível das interdições de incesto e das regras de sociabilidade: conta-se
que antes do advento de suas instituições os bororo eram como os bichos e os
outros índios, guerreando entre si, "deixando seus mortos apodrecerem na
mata", "sem vergonha" nas suas atividades sexuais e "copulando até com suas
próprias irmãs" (Crocker, 1977: 108). Em todas as culturas os indivíduos,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
para conseguirem construir intelectual e afetivamente suas (auto-)identidades,
têm necessidade de um mito do fim, como de um mito da origem. E estes
mitos não lhes faltam: purificação do pecado, punição da inveja do vizinho,
vingança de um afim, mau-olhado... Poder-se-ia até dizer que cada cultura
representa um estilo particular de morrer.
Sobre a morte sistemas lógicos a brangentes e coer entes foram construídos,
demonstrando uma extraordinária acuidade e qualidade de reflexão. Trata-se
de inestimáveis saberes de conjugar o tudo e o nada, a angústia e o alívio, a
tristeza e a alegria, a falta e a substituição, o inteligível e o incompreensível,
o aqui e o além, a vida e a morte. Tais sistemas lógicos foram construídos
para logicizar o absurdo que ameaça fazer da lógica um absurdo. Não podem
encontrar outra solução que a rejeição da morte – exatamente fonte de
absurdo, sem o qual a lógica não seria possível: interminável dialética de
rejeição da morte, que consiste ao mesmo tempo em viver a vida e matar a
morte, em viver a morte e matar a vida.
Por isso, o morto não cessa de existir, ele apenas se libera do aspecto terrestre
de sua existência para continuá-la em outro lugar. Os vivos poderão ser
representados como já estando mortos e os mortos como retransformados em
vivos. A recusa da morte pela crença na sobrevivência do duplo em um outro
lugar é talvez tão velha quanto o homem: perto do esqueleto do homem de
Neanderthal, na Chapelle-aux-Saints, descobriu-se uma perna de bizonte
quase intacta – o que nos permite levantar a hipótese de que os companheiros
do falecido tivessem querido prover as suas necessidades de alimento em um
outro mundo. Depois, os exemplos abundam: na Idade do Bronze os mortos
são enterrados com alimentos e utensílios de cozinha; no Egito antigo,
algumas moedas de ouro são-lhes introduzidas na boca para que possam
pagar suas estadias no além...
Despedir-se de um indivíduo morto é um gesto de exclusão. Mas esta
exclusão deverá ser compensada, invertida de certo modo, em um movimento
contrário de re-inserção do indivíduo, de iniciação, de renascimento para uma
nova vida, em um novo mundo, em uma nova sociedade. A sociedade do
outro mundo é ainda uma sociedade cujas relações com a dos vivos são quase
sempre bastante definidas. Assim, em muitas sociedades da América do
Norte, a vida no outro mundo é concebida como uma réplica da vida terrestre,
mas uma vida na qual tristeza, fome e aborrecimento não encontram lugar e
onde os mortos são felizes, embora possam às vezes sentir saudades de seus
companheiros, de suas antigas vidas e sejam tentados a reaparecer. Entre os
******ebook converter DEMO Watermarks*******
dayak, a sociedade dos mortos também se assemelha à dos vivos: a aldeia do
além é vista como qualquer aldeia terrestre com suas divisões, indo o morto
para um setor 'elegante' ou 'miserável' de acordo com o número de sacrifícios
oferecidos pelos sobreviventes. Os cocopa, da Califórnia, imaginam
igualmente a mesma vida terrestre, embora sobre uma terra mais fértil. Os
tubetube, da Nova Guiné, imaginam uma sociedade do mesmo tamanho, onde
continuam os casamentos e nascimentos, mas de onde desaparecem as
distinções entre bem e mal (Maertens, 1979).
Entre os krahó, o mundo dos mortos é oposto e complementar ao dos vivos:
"a lua é o sol dos mekaró". Os mekaró gostam da escuridão do mato e não da
chapada e do limpo, que é a paisagem que os krahó consideram desejável;
comprazem-se de lugares obscuros, de dias de inverno e de chuvas, e temem
o sol quente; ficam em sua aldeia de dia, mas vagam pela mata de noite
(Cunha, 1978: 116). Os bella-coola, da Colúmbia canadense, pensam que os
mortos passam para o outro lado da Terra, onde os defuntos vivem uma vida
inversa à dos vivos: o inverno deles corresponde ao verão dos vivos; seus
dias às noites; os rios correm na direção da nascente; as comidas amargas têm
gosto saboroso e se, por acaso, um vivo neste mundo aparecer, é ele que
exalará odor nauseabundo (Maertens, 1979). No Camboja, em alguns contos
populares, o mundo dos mortos é descrito como sendo de proporções
invertidas com relação às do mundo dos vivos: o que é grande aqui é
minúsculo lá e viceversa (Thierry, 1979: 234). Entre os brou, ainda no
Camboja, o mundo da morte é o de uma 'vida invertida', onde o defunto se
serve da mão esquerda, utiliza marmitas perfuradas, ferramentas sem cabo e
sem corte etc. Uma vida invertida mas também vida menor, segundo informa
Trubetzkoy (1979: 230-1): "a casa do defunto é uma casa em miniatura, ele
se contenta com migalhas de alimentos". No fundo, a morte é como a sombra
da vida: sombra projetada, menos densa que as coisas mesmas".
Freqüentemente as relações entre mundos dos vivos e sociedades dos mortos
são concebidas de modo complexo e indireto. Para o budismo, por exemplo,
morte e nascimento estão no mesmo plano: os dois episódios se determinam
reciprocamente e se inscrevem na engrenagem interminável das
transmigrações, o samsara, porque tudo o que nasce, envelhece, morre e
renasce. A lei fundamental do budismo quer que se saia desta engrenagem,
que se neguem tanto o nascimento como a morte e o renascimento, que se
despreze o 'querer viver', para poder escapar desse sistema de dor e
sofrimento. A morte nada mais é que o resultado da vontade de viver e das
******ebook converter DEMO Watermarks*******
imperfeições que os renascimentos produzem. Por outro lado, no pensamento
budista existe uma outra morte, libertação definitiva dessas existências
sucessivas: o nirvana. Aí se encontra a vida indeterminada, mas total, o
êxtase, quer dizer, amor e plenitude, mas também vazio e nada. O nirvana é a
extinção da engrenagem de renascimentos e mortes, é o fim da
impermanência, é a eterna felicidade. É a 'outra margem', o outro mundo. A
idéia de nirvana contém em si, confundidos, a verdadeira morte (que aparece
como a verdadeira vida) e a vida absoluta (que aparece como morte
permanente) – fusão na totalidade, descobrimento do conhecimento e da
onisciência: "nossa faculdade de pensar desaparece, mas não nossos
pensamentos; o raciocínio foge, mas o conhecimento permanece" (Buda).
O seguinte relato da morte de Buda, que Solange Thierry (1979: 72) nos
oferece, ilustra bem a visão budista da morte e do nirvana:
é provavelmente no ano de 478 antes de nossa era, uma noite de lua
cheia do mês de karttika (novembro-dezembro) ou do mês de vaisakha
(maio) do ano seguinte, que teve lugar a morte, ou melhor, a extinção de
Buda. Os discípulos choram, a terra treme, mas sobre o corpo alongado,
duas árvores gêmeas florescem fora de estação. Buda repousa em um
pequeno bosque, perto da cidade de Kusinagara, não longe de um
riacho. Ele está deitado sobre o lado direito, com a cabeça virada para o
oeste, a perna esquerda alongada sobre a direita. Ele entrou no nirvana,
a Extinção, que é para ele o mahaparinirvana, a 'grande total extinção'.
O sopro de sua existência não encontra mais lugar em uma outra
existência. Ele não renascerá mais, como renascem e renascem sem
parar as criaturas imperfeitas, votadas a uma transmigração sem fim. Ele
chegou à 'outra margem', ele se evadiu da engrenagem das mortes e das
existências encadeadas uma às outras pela força do desejo e da
ignorância (...). O nirvana é evasão da dor. Ele não é nem um lugar, nem
uma duração: somente um estado imutável. Ele é o não-movimento, o
não-recomeço, depois do turbilhão das existências. É a 'parada das
sensações'. Mas, embora se defina negativamente, não é de modo algum
o nada: o aniquilamento da dor, da morte, do renascimento, não significa
o nada. O nirvana é uma certa concepção da plenitude, da realização, da
perfeição...
O hinduísmo propõe um escalonamento complexo para o movimento dos
mortos. Acredita que aquele que viveu na fé entrará na 'vida de luz'. Quem
viveu o bem trilhará o 'caminho de fumaça' e ficará no 'mundo dos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
antepassados', aguardando renascer segundo os seus méritos – e renascerá
diversas vezes, tantos quantas sejam necessárias para que se purifique, se
aperfeiçoe e atinja o objetivo supremo. Quem praticou o mal reencarnar-se-á
em animais insignificantes (moscas, mosquitos etc.).
Para o muçulmano, a vida no além também dependerá da vida levada aqui na
Terra: ele será julgado pela sua vida e recompensado ou punido de acordo
com os seus méritos. Vive a morte como uma fatalidade, mas sobretudo
como uma porta de acesso a Deus, um passo que é necessário dar para ser
admitido na intimidade de Alá. A morte é vivida por ele todos os dias e
normalmente aceita com serenidade: nos cemitérios, não há muros altos, não
há grandes construções sobre os mortos; apenas algumas pedras assinalam a
posição do corpo, orientado na direção de Meca. O outro mundo dos
muçulmanos mais antigos, que viviam em desertos áridos, era representado
como uma paisagem de árvores frondosas e fontes de águas frescas e
límpidas. O cristianismo tradicional compreendia o outro mundo
estratificado: o céu – ou melhor os céus – o purgatório, os limbos dos
Patriarcas, os limbos dos não-batizados.
Os ba-kongo do Zaire também estabelecem graus na morte. Primeiro, a morte
terrestre, quando as almas se perdem na mata; depois, mais ou menos
rapidamente de acordo com a importância dos papéis sociais, as almas
morrem outra vez (mulheres e crianças, no fim de alguns meses; homens
comuns, ao cabo de alguns anos; os dignitários, após cinco ou dez anos; os
chefes, depois de várias décadas; os grandes chefes e os grandes bandidos
ainda mais tempo; os filhos de M'Bangala, a mulher de nove seios, ancestral
de todos os yombe, permanecem imortais). Todavia, esta morte definitiva
atinge a pessoa e não o ser, porque as almas destruídas se fundem na
substância dos gênios. No Senegal, entre os serere, a alma deixa o corpo
(morte latente); depois, ela se retira definitivamente: então, o sopro vital se
apaga, o corpo se decompõe, o defunto vai encontrar seus ancestrais (morte
física, morte social); finalmente, vem o ngel bagtan, quando já não há mais
um esqueleto, quando ninguém mais se lembra do defunto, o morto se
transfere para honolulu, no centro da Terra (morte escatológica). Os
ancestrais importantes escapam a este estado último e às vezes são
divinizados (Thomas, 1976).
No pensamento nagô, a terra da vida imperecível, o orum, é povoada de clãs,
de linhagens, de tribos e de hierarquias. O homem que deixa o corpo terrestre
para se reunir a seu ipori no orum apenas abandona seu rosto humano,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
conservando sua família, sua linhagem, seu clã e o povo no qual o orixá o
colocou no momento de sua criação. "Ninguém deixa seus ancestrais e os
ancestrais não abandonam ninguém" (Ziegler, 1975: 201). Uma vez realizada
sua individualização, o homem não retorna ao nada: vivo, ele é habitado pelo
seu orixá; quando morre, retorna ao orum, sob forma de egun, conservando,
nos dois extremos, sua individualidade própria, a mesma estrutura de
personalidade, os mesmos laços de parentesco. A pessoa humana, uma vez
nascida, é indestrutível. Quando um homem morre, "seu próprio rosto o
espera no céu, a vida terrestre é então percebida apenas como um
desdobramento. Cada homem possui sua eternidade desde antes do seu
nascimento" (Ziegler, 1975: 250).
******ebook converter DEMO Watermarks*******
3 De um mundo a outro
Diante desses sistemas lógicos de compatibilização do aqui e do além, da
vida e da morte, o observador é imediatamente surpreendido por uma
constatação equívoca: a permanência do problema e a extraordinária
diversidade de soluções que a ele são oferecidas. Contudo, não é impossível
localizar, atrás desse leque de soluções, alguns caminhos constantes que as
culturas escolhem para atingir suas particulares soluções. Sob a diversidade,
alguns pontos comuns saltam imediatamente aos olhos: em primeiro lugar,
axioma fundamental, a morte não aniquila o ser; ela abre as portas para um
além, para um outra vida: Inferno ou Céu, para os cristãos e os muçulmanos,
Campos Elísios, para os gregos antigos, reencarnação e metempsicose na
filosofia oriental, passagem para o reino dos ancestrais na África. Por toda
parte a morte é entendida como um deslocamento do princípio vital.
Em seguida, as culturas poderão escolher uma imagem maternal da morte (a
vida do aqui é como a vida de um feto, a morte é o verdadeiro nascimento);
ou uma imagem de sono (a morte é repouso, é o último sono – 'cemitério' em
sua origem grega significava 'lugar onde se dorme'); ou construir uma teoria
de metempsicose (idéia de uma vida que se estende no tempo, passando
através de vários corpos); ou uma gramática de reencarnações (que supõem
uma continuidade consciente da personalidade através de vários
renascimento); ou ainda acreditar na ressurreição (restabelecimento da
existência humana depois da morte: 're-viver'), e assim por diante.
Entretanto, todas essas representações tranqüilizantes em última instância
podem se reduzir a um repertório de categorias gerais que a humanidade
produziu no correr do tempo e cujos termos – porque são caminhos diferentes
de atingir o mesmo fim – normalmente não se excluem e freqüentemente
coexistem em uma mesma cultura: morte-passagem, morte-libertação,
convívio-eterno-como-criador, aniquilação-no-nada-que-é-tudo, ressurreição,
reencarnação, metempsicose, possessão, permanência-através-dos-
descendentes, morte fecunda... A morte, em suma, será sempre uma
transformação. Todavia, uma imagem nova da morte está aparecendo entre
nós, característica provavelmente exclusiva de nossa civilização: a morte é
um desaparecimento.
Tanto quanto concebidas, estas soluções aos problemas que a morte coloca
são vividas. Por intermédio de suas posturas, de seus movimentos, de sua
ação, de sua constituição, de suas transformações, de seus gestos, de suas
emoções, o corpo humano fala e toma parte na vida social. Que o corpo porta
******ebook converter DEMO Watermarks*******
em si a marca da vida social, expressa-o a preocupação de toda sociedade de
fazer imprimir nele, fisicamente, determinadas marcas, que ela escolhe de um
conjunto cujos limites virtuais dificilmente poderiam ser definidos. Se
considerarmos todas as modelações que sofre, constataremos que o corpo é
pouco mais que uma massa de modelagem à qual a sociedade imprime
formas segundo suas próprias disposições: formas nas quais a sociedade
projeta a fisionomia do seu próprio espírito (Rodrigues, 1979). Entregue à
ritualidade, dela o corpo sai maquiado, rasgado, mutilado, mascarado,
vestido, lavado, modelado, perfurado… Enfim, promovido a figurar como
significante no discurso social.
Ora, ei-lo transformado em cadáver e submetido a uma dinâmica estranha,
que escapa às regras sociais de estruturação do corpo e que contém em si o
poder terrível de desagregar e desestruturar a imagem do social no corpo
projetada e introjetada. Este processo comporta uma ameaça fundamental: a
morte do corpo pode ser a morte do símbolo que o corpo é, a morte do
símbolo da estrutura social. Se é verdade que para os homens o significante
precede o significado e que o símbolo é mais real que a coisa simbolizada,
então é necessário fazer algo: é necessário transformar em significantes
integrados ao código os próprios acontecimentos por meio dos quais os
significantes do código correm o risco de se desintegrar; é preciso
transformar a evidência da entropia em signo de ordem, os perigos da finitude
em exaltação da permanência.
Emergem na cena os ritos funerários. Para cada sociedade, um complexo
ritual, complexo que é um verdadeiro teste projetivo da vida coletiva. As
emoções a sentir e a expressar – tristeza, indiferença, alegria – não são
absolutamente questões de decisão individual. Ao contrário, dependem
estreitamente do tipo de morte (acidente, feitiçaria...), da condição do morto
(chefe, descendente, colateral, feiticeiro, inimigo...), da posição social do
sobrevivente e de sua relação com o desaparecido. Observados estes
condicionantes, e excetuadas as mortes de inimigos e feiticeiros (que podem
produzir alegria e contentamento), de um modo geral as atitudes dos
sobreviventes situam-se em torno de duas configurações a fetiva s funda
mentais: tristeza e choro, ou distância e indiferença. Contudo, a reforçar a
idéia de que os sentimentos são ritualizados e socialmente propostos,
observemos que tristeza, indiferença e alegria não são necessariamente
sentimentos reais, experimentados pelos indivíduos, mas, antes,
comportamentos convencionais: carpideiras profissionalmente remuneradas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
para expressar um sentimento normalmente não real; alegria protocolarmente
interditada; autocontrole, distância, indiferença estóica e mentirosamente
sustentados...
A morte é talvez o terreno por excelência daquilo que Marcel (1971)
denominou "expressão obrigatória dos sentimentos". Thomas (1976) fala-nos,
por exemplo, do costume encontrado entre os diola de, diante da morte,
demonstrar desprezo ou indiferença zombeteira: ações imitativas irônicas,
gritos cheios de alegria, estalos dos dedos, congratulações, andar saltitante
sobre um só pé, piruetas, tambores e cantos frenéticos. Os parentes próximos
do defunto permanecem imóveis, solenemente inexpressivos, enquanto as
mulheres velhas, com ar grave, protegem o cadáver das moscas. Tudo se
passa como se eles se dispusessem a aniquilar os prejuízos causados pela
morte recusando-se a levá-la a sério e fazendo de conta que não a temem
absolutamente. Mas, ao mesmo tempo, os diola desconfiam do morto, cuja
alma persiste em rondar a aldeia durante os dias que seguem imediatamente o
falecimento. Por esta razão, cuidam atenciosamente do cadáver: vestimenta,
toalete, alimentos etc. Somente as mulheres choram. As crianças olham.
Hoje ainda, no Oriente Médio, contratam-se carpideiras rituais para que elas
aumentem a intensidade dos lamentos e as dimensões da tristeza socialmente
obrigatória: elas se arrancam os cabelos, espalham cinzas, rasgam suas
roupas, laceram a si mesmas com as unhas, num ritual que talvez provoque
mais emoções do que exprima. Entre os malecitas, se houver bastante
alimento para entreter as pessoas, o choro ritual pode durar mais de uma
semana; entre os cocopa os gritos e choros duram vinte e quatro horas, mas
atingem um limite extraordinário de resistência humana. Também em meios
populares gregos, eslavos e africanos pode-se observar a prática de as
carpideiras desnudarem os seios e os lacerarem, ou de rolarem por terra, para
traduzir seu desespero. Entre os zande, por ocasião do enterro de um chefe,
usava-se colocar no túmulo oito mulheres com os membros fraturados, cujos
gritos de dor se reuniam aos das carpideiras, superando estes últimos
(Maertens, 1979).
Evidentemente, não se pode reduzir tais manifestações à expressão da tristeza
individual, por mais viva que seja esta tristeza: pelo contrário, é mais possível
que uma boa carpideira venha a sentir efetivamente os sentimentos que ela é
paga para exprimir e provocar. Nesse sentido, seria oportuno lembrar aqui as
palavras de Durkheim (1912: 571):
se os cristãos durante as festas comemorativas da Paixão, se o judeu no
******ebook converter DEMO Watermarks*******
aniversário da queda de Jerusalém, jejuam e se mortificam, não é para
dar curso a uma tristeza espontaneamente experimentada. Nestas
circunstâncias, o estado interior do crente carece de proporção com as
duras abstinências a que se submete. Se está triste, é, antes de tudo,
porque se obriga a estar triste e se obriga a isso para afirmar a sua fé. A
atitude do australiano durante o luto se explica da mesma maneira. Se
chora, se geme, não é simplesmente para expressar uma dor individual; é
para cumprir um dever que a sociedade circundante não deixa de
recordar-lhe quando chega o caso.
Com efeito, e em suma, quando choramos pela morte de uma pessoa e não
choramos pela morte de outra, estamos, no primeiro caso, cumprindo uma
obrigação que diz respeito à relação entre o nosso status e o status da pessoa
que morreu; e dispensados dessa obrigação no segundo caso.
Tais práticas funerárias – cujos traços mais antigos remontam ao menos ao
paleolítico médio (entre 10.000 e 35.000 anos antes de nossa era), quando os
homens de Neanderthal experimentavam talvez em relação a seus mortos um
sentimento muito próximo aos nossos (Thoury, 1979) – apresentam, apesar
de diferenças particulares de concretização em culturas específicas, uma certa
unidade no que diz respeito à função: conhecer as causas da morte,
restabelecer a ordem na sociedade no caso de haver um culpado, expressar
interesse e afeição dos sobreviventes pelo defunto e, principalmente,
contribuir para a sua viagem em direção ao outro mundo. No fundo, os ritos
são solidários com os sistemas míticos e com eles supõem uma crença
comum: a morte não é jamais o aniquilamento total do homem, ela é uma
passagem para outra vida. De um modo qualquer, o morto ainda vive, tanto
que se pode comunicar com ele e receber suas mensagens.
Van Gennep (1969) e Hertz (1970) demonstraram que a morte é, para a
consciência coletiva, um afastamento entre o indivíduo e a convivência
humana. Todavia, esta separação tem um caráter temporário e pretende fazer
com que o morto passe da sociedade palpável dos vivos à sociedade invisível
dos ancestrais. Como fenômeno social, a morte e os ritos a ela associados
consistem na realização do penoso trabalho de desagregar o morto de um
domínio e introduzi-lo em outro. Tal trabalho exige todo um esforço de
desestruturação e reorganização das categorias mentais e dos padrões de
relacionamento social. O enterro, bem como as outras maneiras de lidar com
o corpo morto, é um meio de a comunidade assegurar a seus membros que o
indivíduo falecido caminha na direção de seu lugar determinado,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
devidamente sob controle. Por meio de tais práticas, o grupo recebe
mensagens que evoluem da insegurança ao sentimento de ordem e
representam a maneira especial que cada grupo humano tem de resolver um
problema fundamental: é necessário que o morto parta.
Assim, entre os toradja do sul (Koubi, 1979), antes de sua inumação
definitiva o morto é objeto de um culto extremamente complexo, que às
vezes pode durar algumas dezenas de anos – porque é necessário tempo para
atingir o domínio dos mortos, para nele ser aceito, para se integrar à
sociedade do além e, finalmente, para se transformar em deus ou ancestral.
Segundo o pensamento toradja "é necessário tempo para morrer", porque a
morte biológica não é a morte verdadeira. Por essa razão, não consideram
como sendo ritos funerários os ritos que praticam por ocasião de um
falecimento. Por algumas horas pelo menos, por alguns meses, às vezes anos,
o defunto é considerado to ma saki, 'doente', e é nessa condição que ele é
lavado, vestido, enfeitado, alimentado, exposto... O morto, ou melhor, o
'doente', está inerte, porque está privado de sumanga, 'energia vital', ou de
penaa, 'sopro vital'. Mas nada impede que retorne e que o doente se levante e
fale. Portanto, é necessário tempo para que o princípio vital, que se encontra
difundido por todo o corpo, se evada deste. Isto significa, em outros termos,
que a passagem da vida à morte nunca é instantânea. Ela é um trajeto, um
percurso de provas e incertezas, que termina ao fim da celebração dos rios
funerários.
Este percurso, este trajeto, é então demarcado por gestos rituais que o
circunscrevem, distinguem, controlam e vão terminar por demonstrar que
afinal de contas os dois estados, de morto e de vivo, não são inteiramente
diversos, pois os mortos, à maneira deles, continuam a viver. Por isso, não é
por simples acidente que os ritos dos mortos são freqüentemente articulados a
outros ritos de passagem, particularmente a ritos de iniciação: é que, também
no nível dos rituais, a morte é a passagem de uma forma de vida social a uma
outra; ela não é o fim da vida, mas iniciação a uma nova.
Por conseguinte, os ritos funerários podem ser concebidos com recurso ao
esquema clássico que consiste em compreender os ritos de passagem segundo
três momentos diacrônicos: a 'separação', trabalho simbólico de desligamento
do morto dos domínios dos vivos, a 'liminaridade', estágio intermediário em
que o morto empreende sua viagem e em que nem bem deixou este mundo,
nem bem passou a pertencer ao outro e a 'reintegração', momento final em
que o morto é considerado como tendo atingido o reino dos mortos, o reino
******ebook converter DEMO Watermarks*******
dos ancestrais e como estando em seu lugar. É quando os sobreviventes
retornam à vida normal e o grupo se recobra, restabelece sua paz e se
reafirma.
Todavia, este esquema geral, cujo valor formal parece pouco contestável, não
pode mecanicamente ser aplicado às culturas particulares. É preciso
cuidadosamente verificar nos detalhes dos dados etnográficos quais são os
gestos específicos que significam separação, quais são os símbolos de
liminaridade, quais são os ritos que expressam a reintegração. Além disso, é
preciso não esquecer que os modelos abstratos consistem em separar no nível
do pensamento coisas que estão confundidas no nível da realidade. Sobretudo
quando se trata de elementos significacionais, esta defasagem é uma perigosa
armadilha à espera do observador. Ainda mais: se levarmos em consideração
o fato de que, na maioria das sociedades, os gestos simbólicos que concernem
ao problema da morte são fundamentalmente ambíguos – porque tratam de
tecer uma dialética de aceitação e de recusa, de conservação e banimento, de
desordem e ordem – concluiremos que a aplicação de modelos formais
universalizantes a culturas específicas deve ser vista com redobrada atenção.
Na cultura brou, do Camboja (Trubetzkoy, 1979), a separação começa a se
estabelecer não após a morte, mas a partir do momento em que se percebe
que uma pessoa é portadora de um mal incurável. Então, constrói-se diante da
habitação uma pequena casa para a qual o doente é transportado e onde ele
viverá os seus últimos dias. A regra quer que se evite atenciosamente que um
falecimento ocorra dentro de casa, hipótese na qual a habitação deverá ser
abandonada por seus proprietários, seus elementos deverão ser queimados e
uma nova construção deverá ser edificada em lugar diferente – todas essas
precauções motivadas pelo temor de que outras pessoas sigam o defunto na
sua viagem para o outro mundo.
Entre os mbede, coisa parecida tem lugar, já que aí também o processo de
separação tem início antes do advento da morte: quando um dignitário, ou
qualquer homem livre, está doente, consulta-se um nga, um adivinho, que
determina a causa da doença e, freqüentemente, também o processo de cura.
Se ele vê que não há mais esperança, o adivinho recusa ser pago, por
honestidade profissional: "eu não quero pagamento porque ele está morto".
Quando a agonia começa, uma mulher idosa, em geral a primeira esposa para
os polígamos, separa as pernas e coloca a cabeça do moribundo sobre seu
peito. Cessam as brincadeiras das crianças; não se dança mais; o ambiente
familiar fica pleno de gravidade, e todos os rostos marcados de tristeza. As
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mulheres e crianças rolam pela terra e choram sem ruído. A partir do
momento em que se constata que o doente expirou, sua mulher lhe fechará os
olhos e os vendará em seguida com um pano branco, cor de luto (Alihanga,
1979). Identicamente, em alguns grupos da costa noroeste da América do
Norte, quando um indivíduo sentia que ia morrer, as pessoas reuniam em
torno dele todas as suas propriedades pessoais e um primo cruzado fabricava
diante dele o seu caixão. Após a morte, punha-se o corpo sentado diante do
fogo, em roupas de cerimônia; quatro dias mais tarde era posto em seu ataúde
e levado para fora da casa. O caixão era colocado em uma cabana especial –
ou, quando se tratava de um chefe, de um xamã, em uma árvore.
A separação pode se expressar no momento de se colocar o morto na
sepultura, quando se acende a fogueira, quando para ele se viram as costas, e
assim por diante. No Nuristão, Afeganistão, no fim do século XIX, antes da
islamização, em vez de se enterrar o defunto, se o colocava dentro de um
cofre de madeira esculpida, fora da aldeia. Entre os acholi, de Uganda,
quando se reparte um animal para a refeição do terceiro dia, o defunto tem
direito somente a um pedaço pequeno, igual àqueles que se reservam aos
hóspedes: ele não é mais parente, transformou-se em estrangeiro. Também
por um código alimentar se expressam os dimasa dravidianos, quando
depositam um último pote de arroz e de cerveja sobre a sepultura – e
reforçam: "você partiu para sempre. Ouro e prata são preciosos mas se pode
encontrar mais se se perdem. Você não voltará mais, você não poderá mais
trabalhar por nós" (Maertens, 1979: 180-1).
Nas sociedades timbira, segundo nos afirma Manuela Carneiro da Cunha
(1978), a separação é o momento mais dramático dos funerais, especialmente
o instante em que o cadáver transpõe a porta da casa. Ela se refere a
verdadeiras batalhas entre coveiros e parentes, os primeiros querendo pegar o
morto para enterrá-lo, os segundos se opondo, querendo conservá-lo consigo,
impedindo sua separação e exclusão do grupo doméstico. Nesse momento em
que o cadáver está sendo levado embora, as mulheres atiram os pés para o ar,
dão saltos mortais, ferem a cabeça e as costas com brasa ou ferramentas e, no
extremo do desespero, tentam suicidar-se para não deixar consumar-se a
separação. Entre os índios do sudoeste dos Estados Unidos, o esposo
sobrevivente jejua e toma eméticos durante os quatro dias em que o espírito
de sua mulher ronda em torno dele; ao fim do quarto dia de luto, a alma da
morta é liberada e pode empreender a longa viagem que a conduzirá ao país
dos mortos: então, os membros da família se purificam e os objetos pessoais
******ebook converter DEMO Watermarks*******
do defunto são queimados ou enterrados às margens do rio.
Tais exemplos, tirados um pouco arbitrariamente de momentos diferentes de
ciclos rituais de sociedades diferentes, podem comportar todos, uma
dimensão de separação. Com isso pretendemos dizer que mesmo que uma
divisão formal do processo ritual para uma cultura determinada seja possível,
tal fato não implica necessariamente que os ritos da primeira fase só
signifiquem separação, os da segunda só liminaridade, e assim por diante.
Pelo contrário, parece que embora ênfases de diferentes intensidades se
possam observar segundo o momento, o essencial dos símbolos funerários é
que eles são eminentemente equívocos e ambíguos, contendo em si
precisamente essa dialética do lógico e do absurdo, do permanecer e do partir.
Os símbolos funerários são exatamente símbolos-fronteiras e é precisamente
esse caráter que lhes dá especificidade.
O projeto dos ritos funerários é, de qualquer modo, facilitar a viagem do
morto. O próprio simbolismo funerário no-lo diz: na Escandinávia, era
costume enterrar o morto em seu barco; as tumbas dos chefes celtas
continham carruagens, os sarcófagos egípcios da época pré-dinástica são em
forma de barcas, na Melanésia se encontram pirogas-caixões. Os toda
imaginam um percurso tão longo que, ao término da viagem, os defuntos
terão consumido a metade de suas pernas: mil bilhões de lugares, dizem os
antigos japoneses (Maertens, 1979).
A descrição de Ruth Benedict (1934: 76-8) do ritual seguinte expressa
sinteticamente tudo o que estamos tentando dizer:
[aos zuñi], o que mais interessa é que a pessoa enlutada esqueça (...).
Reúnem-se para alimentar o morto pela última vez e despedi-lo (…).
Então, expulsam-no da aldeia, levando-o para fora dela e enterram tudo
o que era seu. Voltam correndo para casa, sem olhar para trás e trancam
a porta contra o morto, gravando nela com uma faca de sílex uma cruz
para evitar que ele entre, o que corresponde ao formal rompimento com
o morto. O chefe fala às pessoas, dizendo-lhes que o esqueçam para
sempre (...). Despedem-se as pessoas e terminou o luto. Mas qualquer
que seja a tendência de um povo, a morte é um fato impiedosamente
iniludível (...) uma morte que toca muito de perto uma pessoa nem
mesmo em zuñi é coisa fácil de esquecer (...) o cônjuge que sobrevive
corre grande perigo. A sua falecida mulher pode puxá-lo para si: isto é,
na sua solidão, pode levá-lo com ela (...). Por conseqüência, ele é tratado
com todas as precauções com que foi a pessoa que morreu. Deve isolar-
******ebook converter DEMO Watermarks*******
se durante quatro dias de toda a vida corrente: não deve falar com
ninguém nem ninguém se lhe deve dirigir; toma um emético todas as
manhãs para se purificar e sai da aldeia para ofertar com a mão esquerda
milho moído, fazendo girar quatro vezes a mão em torno da cabeça e
arremessando o milho para 'arrancar de si o desgosto', como se diz. No
quarto dia, crava no chão as varas de orar pelo morto e roga-lhe, na
única prece que em zuñi se dirige a um indivíduo natural ou
sobrenatural, que o deixe em paz, que o não arraste consigo e que lhe
conceda:
Toda vossa boa sorte
Que vos guarde ao longo
De um caminho seguro.
Dentre as questões que os ritos funerários devem resolver, ligadas às
transformações que a morte provoca e à necessidade lógica de separar o
morto e transportá-lo para o outro mundo, uma é fundamental e, até prova em
contrário, universal: é preciso fazer algo com o resíduo que a morte deixou, é
preciso de algum modo se desembaraçar dele. Já fizemos referência ao
desafio contido no cadáver que apodrece e à sua qualidade de antilinguagem
agressiva, colocando em evidência o fato de que cada grupo soube, no correr
de sua história, construir um sistema coerente de crenças e práticas
específicas que o ajudam a traduzir a antiordem nos termos da ordem e a
aprisionar nas malhas da cultura as evidências da destruição do corpo no qual
ela se vê projetada. É preciso fazer algo, e este algo será necessariamente
cultural: mesmo o abandono do cadáver aos animais terá uma significação
ritual, pois tratar-se-á sempre de abandoná-lo a este ou àquele animal, desta
ou daquela maneira, neste ou naquele lugar determinado.
A exposição do cadáver (termo mais apropriado que o de 'abandono' do
cadáver) é prática relativamente comum em numerosas sociedades e constitui
um conjunto de técnicas que configuram diferentes estilos de lidar com os
mortos dentro da mesma categoria: exposição ao sol, exibição ao ar, imersão
na água, s us p ens ão em á r vor es , ofer ecimento a anima is car nívor os e a
aves de rapina. Entre os nômades do Tibé, indivíduos especializados se
ocupavam de repartir o cadáver em pedaços gramaticalmente estipulados e de
oferecê-los aos cães; no vale do Nilo, por volta de 4000 anos antes de nossa
era, algumas comunidades tinham o hábito de expor os cadáveres aos
crocodilos, aos chacais e aos abutres; entre os karamojong de Uganda, os
destinatários eram hienas e formigas; os primitivos balineses ainda não
******ebook converter DEMO Watermarks*******
queimam seus mortos, mas os expõem em um promontório ao sol e aos
vermes até a decomposição...
É claro que não podemos etnocentricamente ver nessas práticas aquilo que
para nós representa – desprezo, desrespeito, desonra e humilhação – o negar a
alguém uma sepultura. Nada disso representa um descuidado para com o
morto, salvo exceções que concernem a feiticeiros e inimigos. No vale do
Nilo, por exemplo, aqueles a quem se ofereciam os mortos eram animais
divinizados (abutre, deusa mouk; crocodilo, deus sobek etc.). No Irã, por
volta do século XVII, foram elevadas as 'torres de silêncio', destinadas à
exposição de cadáveres a serem devotados por abutres. Estas torres são
elaboradas obras de engenharia: uma construção circular, comportando três
círculos concêntricos com alvéolos retangulares escavados pouco
profundamente. Uma parte é destinada aos homens, outra às mulheres e a
terceira às crianças. O interior é inclinado para o centro, onde existe um poço,
e permite o escoamento dos líquidos que saem dos cadáveres bem como das
águas das chuvas através de pequenos canais que ligam os alvéolos uns aos
outros. Depois que os abutres comeram as carnes, o esqueleto permanece
exposto até secar completamente, Então, é lançado ao fundo do poço, onde há
cal. Os ossos, sob o efeito do sol, se transformam em poeira. O poço é
equipado de orifícios para a passagem das águas de chuva que são evacuadas
graças a quatro canais, no final dos quais são colocados areia e carvão
renováveis periodicamente. Tais canais são ligados a quatro poços
subterrâneos cujos solos são arenosos: o carvão e a areia decantam as águas
da chuva e as purificam após a passagem. Como se vê, a exposição está longe
de expressar descaso e despreocupação em relação aos mortos.
Uma estratégia diferente da exposição está contida no ocultamento do
cadáver que normalmente representam as técnicas inumatórias. Ainda aqui se
deve abrir um amplo espaço para a diversidade de formas culturais que tais
práticas comportam. Diversos tipos de sepulturas são conhecidos, em
numerosos sítios pré-históricos de uma mesma época: caixões, vasos de pedra
ou de terra, vasos de bronze, cestos conservando restos de ossos,
freqüentemente restos de ossos calcinados e cinzas.
Os mortos musterianos eram enterrados com pedras amontoadas sobre seus
despojos, recobrindo particularmente o rosto e a cabeça. Mais tarde, o morto
era acompanhado de alimentos e de armas feitas com ossos. Como
acontecimento antropológico, a importância da inumação, uma herança que
recebemos dos neandertaleses, ultrapassa em muito aquela que lhe foi
******ebook converter DEMO Watermarks*******
atribuída pelo cristianismo: seja individual, seja coletiva, praticada dentro ou
fora dos domínios da comunidade, provisória ou definitivamente, a inumação
é uma das mais difundidas técnicas funerárias – desde os índios da Terra do
Fogo, aos australianos, aos africanos, aos americanos do norte e aos
europeus.
Contudo, essa disseminação das práticas inumatórias não pode romper os
freios de nossa cautela e permitir que lhes atribuamos um valor maior do que
elas realmente comportam. Foi com imensa repugnância e horror que os
índios andinos obedeceram aos sacerdotes católicos, que queriam que os
mortos fossem inumados em cemitérios consagrados. Eles tinham o hábito de
depositar os mortos em cavernas ou em uma espécie de torre, às vezes
redonda, às vezes quadrada, nada os predispondo a aceitar o conceito de
inumação. Em conseqüência, tomados de desespero, durante a noite eles
desenterravam os cadáveres para dispô-los segundo a maneira antiga,
dizendo, quando perguntados, que o faziam "por piedade e comiseração por
nossos mortos, a fim de que eles não fiquem cansados sob o peso da terra"
(Métraux, 1962: 66).
Mesmo dentro de uma mesma cultura – e a nossa é um bom exemplo disso –
a inumação não é o destino de todos os indivíduos. Na Austrália, os walaroi
enterram as mulheres logo após o falecimento, enquanto os homens só são
enterrados depois de as carnes terem apodrecido, quando restam apenas os
ossos. Entre os astecas, eram enterrados somente aqueles cujas mortes eram
devidas aos deuses da água e da chuva – afogados, leprosos, pessoas afetadas
de gota, hidrófobos, bem como as mulheres mortas em parto. Os toda, na
Índia, enterram homens e mulheres, mas em cemitérios diferentes.
Não suponhamos também que a posição horizontal do cadáver enterrado seja
universal e automática. Outras atitudes devem ser observadas: de barriga para
baixo (como as mulheres adúlteras dos últimos séculos europeus); em pé,
como alguns militares; cabeça separada do corpo e em sentido invertido,
como no caso dos condenados à guilhotina; em posição fetal, como nas urnas
pré-colombianas (Thomas, 1976); sentados, como nos cemitérios
muçulmanos da Síria e entre alguns monges na região de Nantes no final do
século passado (Urbain, 1978); deitados de costas, com a cabeça virada na
direção de Meca, como os muçulmanos... Também são diferentes os modos
de construir as sepulturas (simples, monumentais, contato direto do corpo
com a terra, umas sobre as outras formando edifícios etc.). Para um cristão,
uma visita a um cemitério muçulmano pode ser uma excelente ocasião de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
relativizar suas estruturas de pensamento: aí os vivos e os mortos se
interpenetram, o cemitério é aberto para a natureza e os mortos são
diretamente colocados na terra, envolvidos apenas em uma mortalha. Aí as
pessoas vão passear, invocar os mortos e encontrar outras pessoas.
Os túmulos não são apenas o lugar onde se depositam os mortos, mas
freqüentemente são também o símbolo da unidade do grupo familiar, em
torno do qual vários ritos importantes são celebrados. Os betsileo, nesse
sentido, atribuem imensa importância à construção do túmulo e o consideram
como sendo a morada dos ancestrais onde se cristalizam todos os valores
familiares – para eles, 'pertencer a uma família' se exprime em termos de
direito em relação a um túmulo (Rajaonarimanana, 1979).
A valorização de um território através dos mortos que a terra contém é um
fato bastante conhecido dos antropólogos: os merina, que vivem dispersos
por territórios recentemente atingidos, tomam como ponto de referência
espacial não o território onde vivem, nem o território onde nasceram, mas
sim a aldeia ancestral onde serão enterrados (Bloch, 1971; Cunha, 1978). Os
sara, do Chade, associam fortemente a inumação (com culto pronunciado das
sepulturas) com a cultura dos campos e consideram a terra como o ponto
fundamental de aliança entre os vivos e os mortos.
Estes fatos estão evidentemente associados, por meio da consideração da
morte como sendo um outro nascimento, à fixação dos poderes mágicos da
terra natal: os portos de Xangai, por exemplo, recebiam anualmente uma
imensa quantidade de caixões, contendo corpos de chineses que, tendo
emigrado, queriam ser enterrados na terra-mãe. Com efeito, a morte de um
indivíduo fora de sua terra coloca freqüentemente problemas especiais. Nesse
sentido, alguns artifícios simbólicos são acionados, na tentativa de minorar as
dificuldades: na Sérvia, estelas funerárias são colocadas sobre túmulos que
contêm apenas as roupas do desaparecido – e eles são periodicamente
adornados com outras roupas , como se se tentasse continuamente a firmar a
presença do defunto ausente. Na Grécia, um ciclo de cantos fúnebres é
dedicado aos 'infelizes perdidos em uma região hostil' e em certas regiões a
notícia da morte de alguém no exterior assume dimensões altamente trágicas
e dá lugar a ritos funerários em ausência do corpo, colocando-se no leito um
simulacro da personalidade do defunto, sobre o qual se acomoda uma parte
de suas roupas, dirigindo-se a este simulacro as mesmas lamentações que se
endereçariam ao cadáver verdadeiro (Hutter & Sike, 1979). Em Ovessant, os
desaparecidos no mar eram simbolizados por cruzes de cera que acabavam
******ebook converter DEMO Watermarks*******
enterradas como corpos. Os tandanke, do Senegral, substituíam o defunto
pela pedra sobre a qual ele havia descansado a cabeça no momento de seu
falecimento Na Nova Guiné, os wahgi separam a mandíbula do cadáver, ou
uma parte de suas roupas, para as levar à terra ancestral onde serão enterrados
com todos os ritos de uma inumação comum. Os judeus mortos longe da terra
prometida costumam ter colocada sob sua cabeça um travesseiro contendo
um pouco dessa terra. Para os povos que praticam a inumação, de modo
geral, as relações entre cadáver e terra são de mútua implicação: o cadáver
santifica a terra, associando-a aos ancestrais; a terra (-mãe) recebe o cadáver,
para que ele possa renascer.
À desagregação lenta no solo muitas culturas opõem a combustão rápida pelo
fogo. Nossos fornos modernos reduzem o processo de extinção do corpo a
uma ou duas horas, enquanto uma cremação em fogueira de lenha ao ar livre
leva de três a dez horas. A cremação tem progredido bastante nos últimos
anos no Ocidente, mas é na Ásia que ela encontra o seu território por
excelência e é onde ela se mistura de modo complexo com as práticas de
inumação. A propósito dessa distribuição, escreveu Solange Thierry: "a carta
de repartição, na Ásia, da incineração e da inumação, se se levassem em
consideração todas as minorias, exigiria um trabalho tão minucioso quanto o
estabelecimento de mapas lingüísticos" (Musée de l'Homme, 1979: 60). Mas,
de um modo geral, são os mortos incinerados no mundo indiano e nas regiões
indianizadas do sudeste da Ásia.
Acredita-se nessas regiões que as chamas da fogueira não destruam senão de
uma maneira provisória, uma vez que o ser se reencarna de existência em
existência (porque a morte é somente uma passagem, ou melhor, um
renascimento pelo fogo). Na ilha de Bali, no conjunto indonésio, a cremação
se articula a uma complexa tessitura ritual que consiste em devolver cada
elemento humano à sua origem: o corpo deve retornar à terra e o espírito ao
mundo superior. Todavia, o enterro não é visto como um retorno à terra,
porque a decomposição por esse intermédio é lenta e porque, enquanto os
ossos não tiverem se transformado em terra, a purificação e a separação do
espírito serão impossíveis: o fogo acelera o processo de afastamento do corpo
e da alma (Charras, 1979).
De ser a cremação um procedimento de decomposição rápida não se deduza,
entretanto, que estes ritos sejam expeditivos quanto a suas dimensões
simbólicas. Na Tailândia, por exemplo, a fogueira é feita de madeira mais ou
menos preciosa e instalada entre quatro estacas. O modelo mais comum de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
armação de fogueira é constituído por quatro bambus que suportam um teto
feito de um grande corte de tecido branco, ladeado por quatro estandartes
brancos triangulares. O oficiante deita o cadáver com a cabeça voltada para
oeste em um caixão cujo fundo é removível a fim de que o defunto queime
melhor. Era uso que fosse um dignitário religioso que pusesse fogo em
primeiro lugar com uma bucha de papel e de pólvora. A chama acendia dois
fogos de artifício, que explodiam transformando em brasa todo o conjunto.
Os assistentes, cada um em sua vez, desfilavam aos pés da fogueira, jogando
nela uma pequena tocha acesa, varinhas de incenso e velas. O oficiante espera
que todos tenham passado; depois, retira três pedaços de madeira da fogueira
e diz que a 'alma' do defunto abandonou completamente o corpo e que todos
podem voltar para casa. No dia seguinte, ou três dias depois, acontecem os
ritos que consistem em recolher os ossos que permaneceram após a
incineração. Os membros da família levam oferendas de alimentos e
acompanhados dos oficiantes dão três vezes a volta ao lugar da cremação,
tomando o cuidado de ter as cinzas sempre do lado esquerdo. Enquanto isso,
bonzos, que igualmente estão presentes, recitam textos budistas. Depois de
exame minucioso das cinzas e dos ossos, estes são reunidos e lavados,
borrifados de um líquido de potência mágica. A família próxima põe alguns
deles dentro de uma pequena urna que será conservada em casa. O resto, ou
será enterrado em uma fossa cavada perto da fogueira, ou será jogado nas
águas do rio, ou ainda será guardado em um monumento relicário, o stûpa
budista (Musée de l'Homme, 1979).
A obsessão de controlar a decomposição expressa-se também nas técnicas de
embalsamamento e de mumificação que, embora menos comuns, foram
largamente praticadas no antigo Egito e no Peru pré-colombiano. Apesar de a
mumificação ser às vezes natural nas terras geladas do Alasca, nos solos
salitrosos dos navajo no Novo México, ou no natro (carbonato hidratado de
sódio natural) das areias do Egito, é claro que a mumificação, como rito
funerário, é um procedimento eminentemente cultural.
No Peru pré-colombiano, onde os corpos conservados artificialmente eram
tão numerosos como no Egito antigo, o morto era geralmente vestido de suas
roupas mais bonitas e de seus ornamentos mais ou menos preciosos segundo
a posição social; uma placa de ouro lhe era colocada na boca e a seu lado se
dispunham vários vasos de cerâmica ou de metal, suas armas, instrumentos,
alimentos e bebidas. A morte era considerada como prolongamento da vida
sob uma forma nova e superior e se estimava necessário que o defunto
******ebook converter DEMO Watermarks*******
chegasse a este novo mundo acompanhado de seus bens. Os corpos eram
colocados em posição semelhante à do feto no útero – símbolo da posição do
morto no seio da terra-mãe. Maertens (1979) nos informa de seitas japonesas
em que um ioga aperfeiçoado permite ao asceta, depois de um jejum especial
de mil, dois mil ou três mil dias, transformar-se por inanição em
automumificação: basta então inumar o cadáver em uma terra especial, na
postura de Buda, para dela o retirar em seguida e o laquear como uma estátua.
Entre as técnicas mais importantes de se desembaraçar do cadáver é preciso
considerar o canibalismo. Praticado desde a pré-história – como nos deixam
supor os restos de treze neandertaleses quebrados, dispersos, parcialmente
calcinados e associados a traços de fogueiras, descobertos em Krapina, na
Iugoslávia, e atribuídos ao paleolítico médio – o canibalismo (que existia
ainda recentemente em numerosas sociedades na África, no sudeste da Ásia,
na Malásia, na Indonésia e na Oceania) representa um modo particularmente
expressivo de se conceberem as relações entre os vivos e os mortos. É
necessário particularmente sublinhar sua dimensão ritual e simbólica porque,
contrariamente ao que com alguma freqüência se pensa, as práticas
antropofágicas muito raramente – talvez jamais – podem ser consideradas
como gestos puramente alimentares, destinados a garantir aos organismos dos
vivos um suplemento de proteínas.
Com efeito, os antropólogos sabem hoje que nenhuma alimentação humana é
apenas instrumental e que as regras da cultura nela estão continuamente
presentes. Mesmo em momentos críticos em que a vida corre perigo, o
recurso à antropofagia como solução ao problema da fome representa uma
opção entre a vida e a morte, opção que em larga escala é culturalmente
afetada. Além disso, não é a qualquer homem que a cultura concede o
atributo de poder comer, ou de ser comido. Da mesma forma não são todas as
partes do cadáver que são comidas e nem todas são igualmente apreciadas.
Tais questões dependem freqüentemente de regras complexas de repartição e
distribuição.
Para considerar um exemplo recente e não muito distante de nós, lembremos
que grande repercussão foi obtida há poucos anos pela notícia de que um
grupo de sobreviventes de um desastre aéreo nas montanhas geladas dos
Andes, na ausência de outro tipo de alimento, servira-se da carne dos
companheiros que haviam morrido. Este gesto resultou de uma opção entre
viver um pouco mais (pois eram escassíssimas as possibilidades de
salvamento) e morrer. Considerando que membros de outras culturas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
prefeririam seguramente a morte ao canibalismo, podemos sustentar que a
decisão dos personagens desse drama corresponde a uma manifestação
cultural e que a prática do canibalismo não representa uma possibilidade tão
afastada quanto imaginamos, na nossa cultura, entre as alternativas abertas à
defesa e conservação da vida. E mais: a ser confirmada a integralidade da
notícia, teríamos razões adicionais para não considerar o gesto como
puramente famínico, uma vez que, segundo consta, cada indivíduo deveria
evitar comer aqueles com quem tivesse algum laço de parentesco e deveria
preferir certas partes do organismo a outras. Mesmo à beira da agonia, a
cultura não se furta ao esforço de controlar os processos naturais.
A 'vítima' tem sempre uma qualificação especial: ou é um parente possuidor
de virtudes notáveis de que se quer partilhar, ou é um amigo que teria comido
um antepassado ou companheiro os quais agora se tenta recuperar, ou é um
morto canibalisticamente transformado em alimento a fim de evitar o horror
de uma lenta e indigna decomposição, e assim por diante. Além disso, ao
contrário do canibalismo em estado 'puro' (ingestão de carne crua de outro
homem), o que se observa é um refinado processo de culturalização, expresso
nos modos de preparação e consumo da carne humana.
Uma multiplicidade de técnicas e de receitas integra o cadáver a cada
culinária das diferentes sociedades e o inscreve em regras hierárquicas de
repartição e distribuição freqüentemente complicadas. Como no caso andino
que acabamos de ver, a proibição do incesto, que funda a cultura, se
manifesta: os guayaki proíbem a refeição antropofágica àqueles que
cometeriam incesto se se unissem ao defunto quando este estava vivo; os
dayak de Bornéu, que promovem a comunhão com os mortos misturando
com arroz os líquidos que provêm da decomposição do cadáver,
diferentemente, fazem com que os parentes próximos se alimentem desse
prato obrigatoriamente durante o período fúnebre. Os surara e os pakidaí
moem os ossos e os misturam a uma bebida festiva, cerveja ou sopa de
bananas. No Paraguai, os guayaki misturam o pó de osso a um guisado de
palmitos; os sanemayanoana, da Venezuela, misturam pó de osso com sopas.
Entre os tupinambás, as mulheres consumiam os órgãos genitais; os
adolescentes, o cérebro e a língua; os convidados, as pontas dos dedos e a
gordura do fígado. Os arunta do sul, na Austrália, abriam o cadáver e
consumiam a gordura dos rins para adquirir a força e a coragem necessária
para vingar o morto, enquanto os dieri reservavam esta gordura aos parentes
maternais Os narrinyeri comiam a carne dos mortos por acidente, mas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
enterravam as vísceras; entre os marindanim, os líquidos produzidos pelo
cadáver eram consumidos pelos indivíduos que quisessem se tornar
feiticeiros (Maertens, 1979).
Embora o aspecto funerário nem sempre seja o mais importante das práticas
canibalísticas, ele não pode ser desconsiderado, sobretudo quando os
praticantes pensam oferecer ao morto uma 'sepultura', vendo-a muitas vezes
como a mais decente, sob a forma dos organismos de seus semelhantes.
Nesse caso, os ritos antropofágicos comportam as mesmas características
básicas dos outros ritos funerários, isto é, essencialmente, a separação do
morto, sua condução ao mundo do além e a reafirmação da vida.
O canibalismo funerário talvez seja o complexo ritual que mais nitidamente
exprime as ambigüidades e equivocidades das práticas humanas que dizem
respeito à morte: reter/separar, conservar/destruir... Os fataleka, das Ilhas
Salomão, comiam os mortos cozidos com carne de porco para mediatizar o
contato com uma carne muito forte. Mas não se tratava dos seus mortos: eram
inimigos comidos em honra desses últimos que por esse meio eram
promovidos à condição de ancestral. Os tupinambás comiam os inimigos
para, através desses, absorver a força vital de seus ancestrais que os inimigos
teriam comido. Os mesmos fataleka, por ocasião da morte do chefe, visando
a assegurar sua sobrevivência eterna comiam uma vítima sacrificada. Tal
refeição era obrigatória e era vista como fundamental para a sobrevivência do
grupo: se algum dos comensais vomitasse, os outros deveriam imediatamente
ingerir o que tivesse sido rejeitado. Tal era o preço da proteção do grupo pelo
chefe morto, contra as agressões das outras almas, e da produção da
perenidade da sociedade e seus indivíduos (Maertens, 1979).
Os guayaki só matam para comer quando da morte por doença de um homem
jovem: pensada como injusta, essa morte provoca uma desordem tal que
ameaça os vivos. Mas, em geral, quando eles comem seus mortos é para que
seus corpos sejam a sepultura dos companheiros, a fim de que a alma dos
mortos não retorne para fazê-los doentes. Helène Clastres (1972: 326-30)
descreve assim esse ritual:
Constrói-se o forno, o byta, onde são grelhados todos os mortos exceto
as crianças muito jovens que são cozidas em panelas de terra (...).
Durante esse tempo, as pessoas se ocupam do cadáver. Com sua faca de
bambu, um homem – de preferência, se estiver ainda em vida, o
padrinho do morto – corta o corpo. A cabeça e os membros são
separados do tronco, braços e pernas são desarticulados, órgãos e
******ebook converter DEMO Watermarks*******
vísceras são extraídos do seu alojamento. A cabeça é cuidadosamente
raspada, barba e cabelos, se se tratar de um homem, e é em princípio a
esposa que se encarrega disso, da mesma forma que uma mãe raspará a
cabeça de seu filho. Diferentemente das partes musculosas e dos órgãos
– a carne propriamente dita – a cabeça e os intestinos são cozidos em
panelas. Nada é eliminado do corpo de um homem; do corpo de uma
mulher, se retira o pere, seu sexo, que não é consumido. Ele é enterrado.
Acontece às vezes que os intestinos não sejam comidos; não em razão
de um tabu alimentar, mas porque eles fedem muito, caso em que serão
igualmente enterrados. Todo o resto é disposto sobre o byta. Quando
está bem assado, quer dizer quando não se vê mais traço de sangue,
reparte-se a carne entre os assistentes. (...) A cabeça, como a dos
animais, é reservada aos velhos, homens e mulheres, e proibida aos
caçadores jovens (...). Quanto ao pênis – como a cabeça cozida – ele é
sempre destinado às mulheres e, entre elas, àquelas que estiverem
grávidas. Elas terão assim a certeza de dar à luz um menino. Um legume
acompanha a carne humana (...) cozido com a cabeça e as vísceras,
assado sobre a grelha com a carne. Não se trata de simples
acompanhamento. O vegetal desempenha uma função bem precisa:
neutralizar a excessiva 'dureza', a 'força' demasiadamente grande, o
myrakwa que faz da carne humana um alimento diferente de todos os
outros e perigoso para aqueles que o consumissem puro (...) Misturada
com palmito, ela perde sua 'força', pode ser comida sem temor,
transforma-se em uma carne como as outras. Quanto aos ossos, eles são
quebrados para deles ser extraída a medula. As mulheres, sobretudo as
velhas, são muito gulosas disso.
Nesse relato, podemos nitidamente perceber a ambigüidade da ritualidade
canibal, ao mesmo tempo obrigatória, necessária e perigosa. Nela se podem
ver subjacentemente uma comunicação e um jogo de trocas com os mortos.
Por um lado, o canibalismo tem uma função terapêutica e aliviante: "eu estou
muito doente, quase morto, tenho grande vontade de comer carne humana
para sarar; quando a gente come carne de aché, a gente sara logo"; "quando a
gente não come os mortos, fica angustiado. Se a gente come, fica tranqüilo, o
coração não palpita". Por outro lado, os guayaki vêem um perigo na morte do
próximo porque acreditam que ela libere uma alma que procura levar outros
corpos embora com ela, provocando assim angústia, doença e morte. É
possível ficar curado comendo os mortos porque, ao comer o corpo, separa-se
******ebook converter DEMO Watermarks*******
o cadáver da alma, dificultando-se assim a conjunção entre o corpo de um
vivo e alma de um morto: se a alma resolver invadir um corpo vivo, o que é
que ela encontrará? – seu antigo corpo despedaçado e consumido, os restos
mastigados daquilo com que ela não pode mais entrar em relação. Assim, a
aproximação de um corpo vivo com um corpo morto significa o
distanciamento entre vivos e mortos, pois, impossibilitada de retornar a este
mundo, a alma do morto decide partir para o outro.
Podemos então compreender que, para as civilizações que o adotaram como
procedimento funerário, o canibalismo – meio que consiste, como as outras
técnicas, em ao mesmo tempo separar o morto e com ele continuar em
comunicação – não é necessariamente nem grave nem traumatizante. A
expectativa de ser comido não apavora, pois é vista como meio de sobreviver
e prova de amor: entre os toré, o próprio indivíduo designa as partes de seu
corpo reservadas a tal ou tais pessoas, bem como as pessoas que terão o
privilégio de comê-lo.
Além disso, nosso pensamento ocidental, que sempre se escandalizou com as
práticas canibalísticas, é curiosamente inconsciente das manifestações
simbólico-metafóricas de canibalismo, no interior mesmo de suas fronteiras:
'papa-defunto' (croque-mort, em francês), 'sarcófago' (que come carne) são
palavras que nos deixam perceber tais manifestações inscritas em filigrana.
Poder-se-iam invocar ainda práticas tradicionais, como a de expor o morto
sobre a mesa da cozinha ou a de se fazer refeições à mesa sobre a qual esteve
exposto um cadáver... Não poucos antropólogos observaram já o estreito
paralelismo existente entre a prática cristã de comunhão – em que se ingerem
o corpo e o sangue de Cristo – e os ritos canibalísticos de muitos povos que,
como acabamos de ver, acreditam estar ingerindo, no ato de comer a carne
humana, as virtudes veneradas na comunidade, celebrando por meio desta
ingestão o estreitamento dos laços que ligam, por intermédio dessas virtudes,
os membros entre si e à coletividade.
Observemos que essas técnicas principais de se livrar do cadáver não são
excludentes entre si. Os lolo, por exemplo, inumam os seus mortos e depois
acendem uma fogueira sobre a sepultura; os thô põem no caixão uma
quantidade considerável de cinzas; os nung secam o corpo no fogo antes de
enterrá-lo (Thierry, 1979). Às vezes, encontra-se exposição do cadáver por
um tempo razoavelmente grande e, depois, inumação ou cremação; existe
canibalismo combinado com enterro ou incineração das partes não
consumidas, e assim por diante. Também não são essas técnicas principais as
******ebook converter DEMO Watermarks*******
únicas disponíveis: os nootka da Colúmbia canadense, os dayak de Bornéu,
os serere do Senegal colocam o cadáver no interior de um tronco de árvore;
certos pigmeus desviam o curso de um riacho, enterram o defunto e depois
devolvem ao riacho o seu curso original. Marinheiros muitas vezes jogaram
cadáveres na água...
Contudo, apesar da diversidade dessas técnicas, elas não deixam de
apresentar uma certa similitude, constatável em toda parte, através do mundo
e através da história. Parece que em todas as sociedades, ou quase todas, o ato
de morrer – talvez o mais íntimo da existência humana – é transformado em
uma ocasião pública. Há quase sempre uma manifestação de tristeza, mais ou
menos real, mais ou menos convencional. O cadáver é quase sempre
considerado perigoso, às vezes repugnante. Há sempre ritos que cumprem a
missão de preparar o morto para sua viagem em direção ao outro mundo.
Mallinowski (1954) observou a dupla e contraditória tendência nesses rituais,
por um lado, a preservar o corpo, deixar suas formas intactas, ou reter partes
do mesmo e, por outro, ao desejo de despachá-lo, de aniquilá-lo
completamente. Para ele, a mumificação e a cremação corresponderiam a
duas expressões extremas dessas tendências, enquanto o canibalismo
funerário – freqüentemente praticado com repugnância e asco e ao mesmo
tempo em nome da reverência, do amor e da devoção que se dedicam ao
morto – representaria o ponto intermediário onde essas tendências se
encontram, entram em conflito e se unem. Teria Mallinowski querido dizer
que o canibalismo é o meio "bom" para pensar a ambigüidade e equivocidade
da situação que a morte propõe aos homens? Ele acrescenta:
é impossível ver a mumificação ou a cremação ou qualquer forma
intermediária como determinadas pelo mero acidente de crença,
como um traço histórico de uma ou de outra cultura que tenha
ganhado sua unviersalidade pelo mecanismo da difusão e do
contato apenas. Porque nesses costumes está claramente expressa a
atitude mental fundamental dos parentes, amigos ou amantes
sobreviventes.... (Mallinowski, 1954: 49)
Em todas essas técnicas , trata-se de combater a putrefação. O
embalsamamento e a mumificação pela solidificação: numerosas sociedades
utilizam óleos e ervas para retardar a decomposição – os bateke, do Congo,
cobrem o corpo do chefe com folhas embalsamantes , os maya e os
algonquins cobrem o corpo do chefe com óleo; outros povos envolvem o
cadáver com cera, cobrem-no de perfumes etc. (Maertens, 1979). A
******ebook converter DEMO Watermarks*******
cremação, pela supressão: a cultura chama para si o trabalho de destruir o
corpo e promover o morto. A exposição, ora pelo afastamento, ora pelo
enfrentamento: separa-se o cadáver, levando para bem longe os perigos que
contém; ou, então, se os enfrenta – como certos indígenas que se untam com
os líquidos que o cadáver produz ou que encarregam alguém de acompanhar
e vigiar o processo de decomposição. A inumação, pelo ocultamento:
entrega-se ou não a decomposição a seu próprio ritmo, mas os homens não a
vêem. O canibalismo, pelo deslocamento e pela substituição: em vez de se
transformar naturalmente em podre, o corpo é culturalmente transformado em
alimento cozido. Enfrentamento, aceleração, supressão, retardamento,
preservação, substituição e deslocamento constituem, embora contraditórias,
as atitudes fundamentais diante do cadáver.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
4 Imagem da morte e imagem da sociedade
Pela natureza de suas organizações, a cultura e os intelectos humanos em que
está introjetada não podem lidar com o caos. O problema maior deles é o de
se defrontarem com o que não podem controlar, seja por meios técnicos, seja
por meios simbólicos ou teóricos. A cultura é um código de estruturação que
gera lei e ordem: a expectativa de organização que lhe é imanente é
responsável pelo medo à anarquia e à confusão dos domínios que considera
como devendo ser mantidos separados.
A possibilidade de que as categorias que constituem a cultura venham a
perder o controle que exercem ou parecem exercer sobre o mundo se insinua
como verdadeiro pânico na consciência ou no inconsciente dos indivíduos
que a ela estão submetidos. Por isso, os membros de uma sociedade
reconhecem em princípio algo de intrinsecamente bom e virtuoso na lei e na
ordem que postula. Disso decorre, em conseqüência, que qualquer estrutura
de idéias está investida de poderes que se opõem aos poderes antagônicos da
ausência de estrutura e do comportamento não estruturalmente enquadrado de
indivíduos e grupos.
Os poderes estruturais reconhecem e resguardam os limites das categorias
estabelecidas, protegendo as estruturas formais de autoridade contra as
energias emanadas do exterior do sistema social ou de áreas menos
articuladas do mesmo. Ao mesmo tempo, por esse confrontamento de
poderes intra e extra-estruturais, o sistema desenvolve o seu interminável
esforço de criar contornos e definir formas sociais.
Contudo, como os sistemas de classificação são construções intelectuais, e
uma vez que o pensamento não é idêntico à realidade que lhe é exterior, isto
é, ao mundo real, podemos supor que qualquer sistema de classificação, por
sua própria formação, dê nascimento a anomalias, quer dizer, se defronte com
elementos que não correspondem às definições por ele preestabelecidas. Isto
significa que qualquer cultura está destinada a enfrentar eventos que a
desafiam (não será essa sua natureza mais fundamental?), seja quanto a seus
limites interiores e exteriores, seja quanto a seus princípios, seja enfim quanto
às definições que estes princípios estabelecem. Tais eventos são elementos
que pertencem simultaneamente a domínios diferentes e incompatíveis, ou
são elementos que se situam exatamente sobre os limites que os sistemas de
classificação definem. Mary Douglas (1968a, 1968bb, 1970a, 1970b)
concebeu esses eventos desafiadores como pertencendo a dois conjuntos
básicos: o das coisas 'anômalas', isto é, que não preenchem determinado
******ebook converter DEMO Watermarks*******
conjunto ou série, e o das coisas 'ambíguas', ou seja, passíveis de duas
interpretações. Para ela, bem como para Leach (1968, 1967) e Turner (1970,
1974), onde o sistema reconhece posições explícitas e definidas, reconhece
também poderes controlados, conscientes e aprovados; onde o sistema se
defronta com o que é ambíguo e hesitante, poderes incontrolados
inconscientes, desaprovados e perigosos. Assim, tudo o que representa o
insólito, o estranho, o anormal, o que está à margem das normas, tudo o que é
intersticial e ambíguo, tudo o que é anômalo, tudo o que é desestruturado,
pré-estrurado e antiestruturado, tudo o que está a meio caminho entre o que é
próximo e predizível e o que é longíquo e está fora de nossas preocupações,
tudo o que está em nossa proximidade imediata e fora de nosso controle, é
germe de insegurança, inquietação e terror: converte-se imediatamente em
fonte de perigo.
Nessa perspectiva, podemos entender por que no Brasil se considera que a
madrugada (tempo que se situa entre um dia e outro) é o tempo conveniente
para a prática de certos delitos e para a vida de certas pessoas (boêmios,
prostitutas, bêbados, vagabundos...); por que as esquinas (que se situam entre
uma rua e outra) são lugares adequados para a prática de ritos mágicos, de
certo tipo de comércio (camelôs, bares...) e para a permanência de certos
tipos de pessoas (adolescentes, 'paqueradores'...); podemos entender por que
as estações ferroviárias e rodoviárias (que simbolicamente são portas e
limites das cidades), bem como as zonas de transição entre os diferentes
bairros, no Brasil, são campos onde germinam aqueles tipos de pessoas e
atividades que alguns integrantes da escola sociológica de Chicago chamaram
de 'parasitas sociais'; por que a 'meia-noite' desempenha funções importantes
nos filmes de terror; por que se celebra ritualmente a passagem do ano-novo;
por que se preservam os orifícios do corpo (que são uma espécie de
'abertura') em alguns procedimentos rituais que tratam de 'fechar' o corpo.
Compreendemos o porquê da evitação no Brasil de elementos como o sapo
(que é ao mesmo tempo vivo e frio e anda ao mesmo tempo no chão e no ar),
ou como o morcego (simultaneamente mamífero e voador, 'vidente' e 'cego'),
ou a coruja (que enxerga no escuro), ou o peixe-boi e o boto
(concomitantemente mamíferos e peixes). Explica-se o porquê de algumas
figuras que nos parecem perigosas serem representadas por meio da
conjunção de domínios díspares e incompatíveis: o lobisomem, o demônio
(pés de cabra, chifres de bode, tronco humano, rabo, feições caninas, asas de
morcego etc.), a sereia (como o conhecemos atualmente, ao mesmo tempo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mulher e peixe). Esclarecemo-nos também por que as prisões, os elevadores,
os banheiros, os velhos, as crianças, os mendigos, os estrangeiros etc., por
estarem simultaneamente em contato com a sociedade, mas em certos planos
isolados dela, requerem dos indivíduos uma atitude especial.
Aí está a razão de serem as doenças e os doentes vistos como perigosos na
nossa sociedade e em muitas outras: porque são uma categoria intermediária,
ambiguamente situada entre a condição de vida e a condição de morte. Eis, a
razão de as sociedades se cercarem de proteções simbólicas: não somente
para proteger em o doente, mas para protegerem-s e a si mesmas .
Freqüentemente proíbem os doentes de se lavarem ou se barbearem,
obrigando-os a permanecer sujos e repulsivos, numa tentativa de fazer com
que a impureza física represente para todos sua condição ritualmente
desqualificada.
Tais considerações – sobre as quais nos detivemos mais detalhadamente em
outro trabalho (Rodrigues, 1979) – ajudam-nos a compreender o lugar do
cadáver que se decompõe – diante dos sistemas de classificação: o morto é
um ser que, estando próximo, está ao mesmo tempo distante; que estando
morto, manifesta ainda violentas reações de vida (as unhas, a barba e os
cabelos crescem, transpira, exala gases, odores, vermes...); que, estando
presente, já está ausente. Por outro lado, o morto, o cadáver, é um ser que não
pertence a este mundo, pois dele já partiu, nem ao mundo do além, pois lá
ainda não chegou: vaga por algum lugar intersticial. Ele, que era a
materialização da estrutura, agora se desestrutura. Agora é antiestrutura. É
esta atividade incontrolada que sobrevém ao cadáver que a sociedade não
pode suportar.
É preciso esconder, queimar, apressar, intervir de alguma forma. Mitificar,
enterrar, comer, cremar são formas de interferência, tentativas simbólicas de
definir o irreversível processo por caminhos balizados. Nenhuma sociedade
pode suportar indiferentemente um corpo alheio ao controle cujo aprendizado
é uma das primeiras tarefas que impõe ao recém-nascido. Durante esta fase
de decomposição o grupo está sujeito à ação das forças nefastas que a morte
irradia, forças nocivas que ameaçam sua estruturação do mundo. É preciso
exorcizar o cadáver, a morte, e tudo o que diga respeito a eles.
Nesse ponto está a inspiração das práticas funerárias e de seu valor simbólico.
Com efeito, o horror que o cadáver provoca não teria nada a ver com as
transformações naturais que se operam no corpo se, do outro lado deste
processo, não existissem uma cultura e um sistema de ordenação de idéias.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Tais transformações, em si mesmas, não significam tanto: elas valem por
aquilo a que remetem os espíritos dos homens, ou seja, o caráter
antropocêntrico, arbitrário e ilusório da cultura.
Não se poderia supor na raiz dos ritos funerários qualquer conhecimento
objetivo de um possível perigo patogênico dos cadáveres. Se assim fosse,
como explicaríamos que algumas culturas enterrem seus mortos antes mesmo
que eles morram, ou que outras, a que já fizemos referência, enterrem corpos
ausentes, simulacros de corpos? Sabemos que a identificação, o
reconhecimento e a valoração das sensações são culturalmente variáveis: o
cheiro de alguns queijos altamente apreciados pelos franceses é considerado
profundamente repulsivo por membros de outras populações; o cheiro do
homem branco ocidental, a exemplo do que fazemos em relação a indivíduos
de outras procedências, é muitas vezes considerado desagradável. O odor que
produz a decomposição de cadáveres é considerado pelos dayak
particularmente agradável, sobretudo quando se trata da cabeça cortada de
um inimigo (Hertz, 1970).
Se esses 'perigos patogênicos' tivessem alguma importância sociológica,
como poderíamos compreender que algumas culturas demonstrem seu terror
à decomposição de seus membros fazendo com que, paradoxalmente, com
elas os sobreviventes convivam? Os tanal,a de Madagascar expõem o corpo
durante trinta dias em uma cabana, devendo a viúva dormir ao seu lado,
recobrindo periodicamente com poeira os líquidos que dele emanam. Os
betsileo perfuram os calcanhares do cadáver para apressar a saída das águas;
recolhem-nas em um pote e esperam que aí um verme se manifeste para
poderem proceder ao enterro. Hertz relata que, entre certos indonésios, os
parentes, e particularmente a viúva, têm a obrigação de recolher os líquidos
produzidos pela decomposição, para aplicá-los sobre o próprio corpo ou
misturá-los aos alimentos. Os hmong não negligenciam nem abandonam
jamais os despojos, por mais repugnantes e mal cheirosos que sejam. As
mulheres e, às vezes, as crianças que lhes fazem companhia limitam-se a
espantar as moscas até que todas as etapas rituais sejam completadas para o
enterro.
Não se poderia entender além disso o porquê de as regras de evitação do
cadáver se alargarem muitas vezes e passarem a incluir determinadas
categorias de vivos, ameaçando macular a todos e a tudo que tem ou teve
contato com ele: se o morto é tabu, são também tabus suas propriedades, sua
casa, seus parentes, seus amigos. Estes, segundo os casos e em graus
******ebook converter DEMO Watermarks*******
variáveis, se tratam com cuidados especiais, se evitam, se destroem ou se
purificam. Entre os maori, por exemplo, os que tocaram um morto ou
participaram de seu enterro estão altamente poluídos. Qualquer contato com
outras pessoas lhes está interditado. Estão proibidos de entrar em casa e de
tocar qualquer objeto, sob pena de os tornarem impuros também. Nem
mesmo tocam com as próprias mãos os seus alimentos. Apenas indivíduos
miseráveis e abandonados, que vivem de esmolas, podem se aproximar deles.
Ao fim desse período de isolamento, tudo o que lhes serviu durante o perigo é
sumariamente destruído e eles são purificados a fim de retornar à vida
normal.
Também na nossa sociedade a morte tem mana e atribui mana. David
Sudnow (1971) relata o estigma que recai, nos hospitais que estudou, sobre
os indivíduos que se relacionam com cadáveres. Descreve que sempre que se
constata a presença desses indivíduos desconfia-se da ocorrência de morte: de
onde quer que esses indivíduos venham e para onde quer que eles se
encaminhem, são sempre vistos e imaginados como indivíduos que recolhem
cadáveres ou que se acham envolvidos nas horripilantes tarefas de necropsia.
É fácil verificar este poder negativo nas conotações com que vemos os 'papa-
defuntos', os coveiros e os que de uma ou de outra forma se relacionam com a
morte.
Se o perigo 'objetivo' de doenças provocadas pela decomposição dos
cadáveres fosse determinante, como poderíamos compreender que todos os
corpos não provoquem o mesmo horror? A experiência etnográfica
demonstra que este horror pode variar imensamente com o tipo de morte e
com a qualidade do morto. A morte do rei, do chefe, do governante ou de
qualquer alto dignitário é normalmente seguida de intenso assombro, pois
neles se resume toda a personalidade do social. A morte do rei anuncia, como
nenhuma outra, a iminência do caos. A decadência de sua majestade se
apresenta aos homens como catastrófica, deixando-os perplexos. À iminência
do caos, muitos povos respondem com rituais de inversão da ordem,
procurando produzir, sob controle social, a desordem que poderia provir de
fontes implacáveis: nas ilhas Sandwich, muitos matam, pilham, incendeiam,
enquanto as mulheres se prostituem. Reações da mesma natureza podem ser
vistas nas ilhas Fidji. Esta licensiosidade ritual é obrigatória e não termina
muitas vezes antes que a decomposição do cadáver real se complete e não
reste senão um esqueleto imputrescível. O terror que acompanha a morte do
rei coloca-se acima das divergências políticas profanas: aponta de modo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
inequívoco para a extrema precariedade da organização social, trazendo para
a proximidade da consciência a possibilidade de uma existência anômica que
não poderia mais ser humana.
Além disso, o gênero de morte determina reações diferentes no trato com o
cadáver, o que se expressa na diversidade das fórmulas rituais. Os que sofrem
mortes violentas, as mulheres virgens, as crianças, os natimortos, os suicidas,
os indigentes, os militares, os sacerdotes merecem, cada um, um
procedimento particular. Em muitas sociedades o cadáver de um suicida
suscita um pavor especial e mais intenso e, por isso, é imediatamente
abandonado. No mundo cristão, os suicidas não podiam ser enterrados no
mesmo cemitério que os mortos regulares, nem suas sepulturas receber a
bênção sacerdotal, acreditando-se que iam para o inferno. Mas, se, por um
lado, o suicídio pode gerar entre os parentes que sobrevivem um certo
sentimento de vergonha, por outro, os sobreviventes de um suicida altruísta,
de um mártir, de alguém que se deixou morrer em defesa dos ideais
patrióticos e dos valores da moralidade coletiva, dele podem se orgulhar e sua
memória se torna objeto das mais solenes reverências.
Não poderíamos também entender, se estas práticas rituais se devessem
explicar por razões higiênicas, porque, uma vez fechadas, as sepulturas às
vezes não o permanecem para sempre. No Vietnam, existe o hábito de se
renovar a sepultura, costume que tem uma função terapêutica, pois os seus
praticantes acreditam que certas doenças podem ser enviadas por defuntos
para lembrar aos vivos que eles não se sentem muito confortáveis e que
gostariam de ver seus túmulos renovados. Em Madagascar, essa renovação de
túmulo assume as vestes de mudança de posição do cadáver e consiste em
abrir o túmulo para envolver o cadáver em uma mortalha nova. Prática
aproximadamente do mesmo gênero pode-se presenciar no Ocidente, desde a
Idade Média, quando os ossos, algum tempo após o enterro, são
desenterrados e transportados para ossuários a fim de liberar espaço para
outros sepultamentos.
São numerosas as sociedades em que se praticam os duplos funerais. Os
índios das planícies da América do Norte expunham os corpos sobre uma
plataforma, recolhiam os ossos em pequenos pacotes e os enterravam
posteriormente. Em Bali se pratica uma primeira cremação, ngaben, que
restitui o corpo à terra pelo fogo, e uma segunda cremação comemorativa,
mamuklue, purificação última que faz o espírito ter acesso ao panteão dos
deuses. Em Creta, o ritual comporta primeiramente o enterro em uma tumba,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
para uma desagregação rápida e, ao fim de três ou quatro anos, a preparação
de uma sepultura definitiva. Esta cerimônia é conduzida pelo neto do defunto,
que entra na sepultura para recolher os ossos. Estes ossos devem em seguida
ser lavados e depositados em um receptáculo de vidro. Na ilha Adaman,
depois de uma morte, os indígenas abandonam a aldeia por vários meses,
após o que retornam, quando os ossos estão secos e purificados, para realizar
a cerimônia que fecha o período fúnebre. Entre os bororo verifica-se também
a dupla inumação. Realizam um primeiro enterro rápido, quando durante
várias semanas se joga água sobre a sepultura para apressar a decomposição.
Quando esta se encontra adiantada, abrem a sepultura e lavam o esqueleto,
retirando dele todas as carnes. Pintam, então, de vermelho os ossos e os
enfeitam com plumas. Colocam-nos em um cesto e os submergem, em ato
solene, em um rio ou lago, onde moram as almas. É claro que em todas essas
práticas se está lidando com o perigo que o cadáver comporta. Contudo, não
se trata absolutamente de um perigo 'objetivo'.
Em um artigo bastante detalhado, Hertz (1970) mostrou bem claramente o
significado desses ritos de dupla sepultura. No primeiro túmulo (enterro,
exposição, cremação etc.), o cadáver, por assim dizer, é somente colocado. O
tempo que decorre entre este primeiro enterramento e a sepultura definitiva
varia, segundo as culturas, de alguns dias ou meses a alguns anos, e é o
tempo em que se supõe que se deva dar a decomposição, até o descobrimento
dos ossos. Corresponde ao tempo de passagem do defunto da sociedade dos
vivos ao reino dos mortos: é um tempo em que o morto não rompeu ainda
todos os seus laços sociais e está em uma posição intermediária entre os dois
mundos. A segunda sepultura lhe confirma a entrada no reino dos mortos: é a
ocasião em que os ossos do morto são reunidos aos de todos os outros
defuntos. Desse modo, a figura ambígua de um defunto que se decompunha é
transformada em antepassado protetor. Enquanto esse processo não terminar,
como Hertz nos mostra, a alma é instável e ansiosa, "errando pelas florestas e
freqüentando os lugares que ela habitou quando viva".
É esta cerimônia que alguns povos, como os senufo, consideram como sendo
propriamente 'funeral'. É nela que se dá geralmente o gesto essencial de
reunir os ossos, lavá-los, limpá-los, contá-los cuidadosamente e dar-lhes uma
morada definitiva. É através da segunda sepultura que os kraho 'matam' a
morte: primeiro inumado no exterior da aldeia, o morto é posteriormente
'reinumado' na proximidade desta, tanto mais próximo do centro da aldeia
quanto mais elevado for o seu status. O enterro secundário krahó retém do
******ebook converter DEMO Watermarks*******
morto o que dele não perece: seus ossos. Menos mortos e mais sociais, os
ossos podem ser aproximados da aldeia e inumados na casa materna ou no
pátio (Cunha, 1978). É nessa cerimônia que se encontra o simbolismo de
expulsão definitiva da morte do mundo dos vivos. É nela que se mata essa
outra-vida/antivida que sai do cadáver – humores, fedores, carne em
decomposição, putrefação – e que representa perigo simbólico para a
sociedade. É nela que se mata a morte.
É necessário que a sociedade se aproprie desse processo natural porque, se os
indivíduos morrem, ela, pelo contrário, sobrevive. Se ela vê no homem a sua
imagem projetada, gravada, as forças que o constituem devem ter a mesma
perenidade. A destruição do corpo turva essa imagem, sobretudo enquanto
ele se consome. Obriga a sociedade a refletir sobre si e os homens a pensar
em seus destinos. Evidencia-lhes as vulnerabilidades. Por isso, o que as
sociedades buscam nessas práticas é descobrir algo que resista à morte.
Compreende-se por que tantas são as culturas que atribuem especial valor
simbólico aos ossos – exatamente àquilo que, da morte, fica. Tais culturas
tentam trazer a certeza da vida eterna para perto de si, qualquer que seja o
modo pelo qual a concebam.
Aí está a razão da extrema difusão dos cultos de crânios, evocados já a
propósito dos sinântropos. Leroi-Gourhan (1964) informa que, por ocasião
das buscas na caverna Choukoutien, pôde-se observar que os fragmentos
cranianos se encontravam preferencialmente em determinados lugares, do
que se levantou a hipótese de terem sido os crânios assim dispostos para
responder a uma finalidade cultual. Ainda entre o sinântropos foram
encontrados crânios com orifícios occipitais alargados e comportando traços
de carbonização, o que permitiu a certos autores atribuir-lhes as primeiras
manifestações de um canibalismo ritual por extração do cérebro (Gastaud,
1974).
Igualmente, a separação de certas partes do esqueleto e sua utilização após a
desagregação da carne é inteiramente certa no paleolítico superior: na gruta
dos Três-Irmãos (Ariège) foi encontrado um pedaço de mandíbula de criança,
perfurada por um orifício de suspensão. Dentes humanos foram do mesmo
modo arranjados em pendentes: em Dolni Vestonice, na República Checa,
descobriu-se um incisivo humano, cuja raiz é perfurada de um furo de
suspensão. Uma vértebra de cervídeo colocada em uma das órbitas de um
crânio paleolítico pôde ser interpretada como simulação de olho, tentando dar
ao morto a aparência de vida. No mesolítico, numerosos casos de cabeças
******ebook converter DEMO Watermarks*******
separadas do esqueleto e enterradas isoladamente puderam ser constatados;
em Jericó, Oriente Médio, foi encontrado um crânio neolítico que possuía
uma espécie de concha, à guisa de olhos, colocada nas órbitas (Thoury,
1979).
Os registros etnográficos indicam que em nosso tempo os cultos de crânios e
relíquias continuaram em condições análogas, senão idênticas, às da
préhistória: na Melanésia e na Micronésia, o morto é exposto até o momento
em que a cabeça se separe do tronco e o crânio esteja seco: é então decorado
e conservado. Em certas regiões da antiga Iugoslávia, após a inumação,
costuma-se depositar no ossuário apenas o crânio, devolvendo-se o resto dos
ossos ao túmulo. As viúvas bena-bena, da Nova Guiné carregam no peito as
caveiras de seus parentes. Nós mesmos tomamos, como símbolo da morte, a
caveira: porque a cabeça é sede das faculdades interacionais mais importantes
– pensamento, visão, olfato, audição, linguagem... – exatamente, o que, na
morte, se quer que permaneça.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
5 Reprodução social e rotinas da morte
Toda essa preocupação social em afastar a morte supõe, evidentemente, uma
certa consciência realista do desaparecimento dos indivíduos e dos perigos
estritamente sociológicos que este desaparecimento comporta. Não basta à
sociedade produzir explicações e tabus que afastem a morte: é preciso ainda
que ela tome decisões efetivas para assegurar sua continuidade 'contra' e
'através' do desaparecimento de seus membros. É preciso que as gerações se
sucedam e que a cultura as una: a iniciação dos mortos na aldeia do além é
também iniciação dos vivos na sociedade do aqui. Neutralizar a morte é
necessário, mas ainda não suficiente: falta compensar a perda dos mortos,
reorganizar as relações sociais de sexo, parentesco, idade, propriedade,
direitos, obrigações... Os aparelhos sociais devem se armar para responder à
terrível ameaça de aniquilamento presente no vazio interacional que o
descomparecimento dos indivíduos deixa: 'buraco negro' que é ainda mais
morte que o cadáver – porque, se o cadáver é antivida (mas ainda vida), a
ausência é a mais verossímil metáfora do nada.
Por esta razão, as sociedades são obrigadas a assumir atitudes firmes diante
do desaparecimento de seus membros. Estas atitudes começam por uma
espécie de rotinização da morte, ou seja, pela inserção dela em um esquema
de expectativas. Em muitas sociedades, por exemplo, a trajetória humana é
pensada a partir de um modelo de "enriquecimento progressivo da
personalidade", segundo a expressão de Roger Bastide (1970: 12), em que o
indivíduo é promovido no correr de sua existência do estado de recém-
nascido ao de criança, do de criança ao de adolescente, ao de adulto, ao de
ancião, ao de ancestral, enfim. Neste modelo a morte é uma etapa obrigatória
da mobilidade social e o status de ancião é visto como implicando da parte de
todos as mais sérias reverências.
O respeito que se devota ao ancião encontra um fundamento sociológico
objetivo sobretudo nas sociedades de tradição oral, pois ele é contrapartida da
transmissão à comunidade dos saberes imprescindíveis de que os velhos são
depositários: saberes sobre as técnicas de bem viver neste mundo – que o
ancião conhece por nele haver longamente vivido – e saberes adquiridos em
razão de sua proximidade do mundo dos ancestrais, de que eles são os
mediadores vivos na comunidade. Entre os vivos e os mortos, a morte do
ancião normalmente não comporta ruptura das expectativas e da visão de
mundo. De um modo geral, ela pode ser facilmente enquadrada nas diferentes
cosmologias, como um acontecimento necessário à continuidade da
******ebook converter DEMO Watermarks*******
existência do grupo, pois este em sua integralidade é constituído também
pelos ancestrais.
A velhice e o envelhecimento são freqüentemente entendidos como
resultando da própria participação do indivíduo na sociedade e em prol desta:
a deterioração da vida individual é o preço da construção da vida coletiva. Os
bororo (Crocker, 1977), por exemplo, acreditam que o envelhecimento, as
mudanças físicas e a aproximação da morte se devam à perda, gradual no
tempo, de rakare, quer dizer, de força ou élan vital – uma substância que
entre os adultos tem limites definidos, que se pode escoar ou conservar, mas
que não pode ser aumentada. A copulação é responsável pela maior parte das
perdas de rakare, o que implica a possibilidade de ver a morte e o
envelhecimento como uma espécie de fusão dos indivíduos na comunidade –
esta última nascendo da morte dos primeiros do mesmo modo que o
aparecimento dos indivíduos depende da colaboração coletiva.
Entre os tenetehara, o mito de Maíra relata a derrota deste personagem frente
a seu filho, derrota que Maíra aceita com resignação. Esta resignação
expressa sua interpretação da ordem normal das coisas: a supremacia em
última instância do elemento social jovem sobre o velho, sem que isto
comporte um fator de desorganização tribal (Leopoldi, 1973). No mito, o
resultado da disputa entre pai e filho não influi no relacionamento
harmonioso que preside a convivência deles em uma comunidade ideal. Uma
tal mensagem age no sentido não só de consolar o indivíduo frente às
vicissitudes que a velhice pode progressivamente acarretar, como também no
de reforçar para o grupo indígena a idéia de que o velho e o novo não se
excluem e que, ao contrário, conjugam-se em uma complementariedade da
qual a existência e a permanência da sociedade dependem.
O status de ancião comporta seguramente uma certa ambigüidade. Por um
lado, implica extremo respeito, imensa distância, como ocorre
freqüentemente entre os pais e seus filhos. Por outro, comporta relações
tenras e jocosas, de intimidade e proximidade, entre a geração dos avós e a
dos netos. Em um primeiro nível, há uma atitude tensa entre a geração que
exerce (ou exerceu) o poder e aquela sobre a qual o poder é (ou foi) exercido.
Em um segundo nível, há uma atitude tenra na relação entre duas gerações
que se identificam na continuidade social, já que a chegada do recém-nascido
anuncia a morte do ancião e já que ambas se opõem à geração intermediária,
que efetivamente detém os meios de exercer o poder. Louis-Vincent Thomas
(1976) observou, entre os bambara e os agni da Costa do Marfim, que o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
moden-thon, ou seja, a jocosidade por ocasião da morte do avô, não existe
quando se trata da morte do bisavô: este, com relação ao seu bisneto, tem
atitude idêntica à que assume diante de seu próprio filho. Provavelmente, o
mesmo princípio fundamental opera aí: o bisavô, tendo uma relação tenra
com o seu neto, é assimilado a este e em razão disso passa a ser visto como
tendo uma relação tensa com seu bisneto (da mesma natureza daquela que
este tem com seu pai).
É difícil não perceber esta ambigüidade. Assim, se o velho detém o saber,
nem sempre detém os meios de transformá-lo em poder – entendido este
como capacidade de fazer uso da violência. Às vezes, os anciãos são dotados
de poder mágico proporcional à fraqueza física deles, como entre os aranda
australianos que acreditam que os velhos sejam capazes de punir com
doenças. No Vietnam, informa-nos Nguyen Kim-Chi (1977), o status do
ancião é muito valorizado e o respeito que se lhe deve durante a vida deve
continuar após a morte, quando ele se transformará em ancestral a ser
cultuado. Para um ancião vietnamita é uma grande felicidade poder morrer
envolvido por seus filhos e netos e ter recebido, muitos anos antes, um belo
caixão como presente do filho mais velho... É difícil não perceber a
ambigüidade.
Os buriato vestiam os velhos de uma maneira especial, levavam-nos durante
uma festa ao lugar de honra e depois os sufocavam. Os jakuti sepultavam os
velhos ainda em vida ou deixavam-nos morrer de fome. Algumas populações
tibetanas interrogavam o moribundo sobre suas intenções de voltar à vida: se
respondesse afirmativamente era estrangulado. Rivers (1911-2) observa que
os melanésios não conhecem palavra alguma correspondente ao significado
de 'morte'. O termo de que dispõem significa ao mesmo tempo 'velho',
'doente' e 'morto' e, na prática social, não é raro que os velhos sejam
enterrados vivos.
Esta ambigüidade parece estar atrás dos debates e das práticas relativas à
eutanásia, aqui e alhures: os hotentotes quando um homem decai muito em
sua força física, preparam-lhe uma refeição, conduzem-no a uma cabana
longínqua e aí o abandonam, com uma pequena quantidade de alimentos,
para morrer de fome ou ser devorado por animais. Em algumas sociedades,
os velhos são mergulhados na água gelada até morrerem e, em outras, são
untados com mel e introduzidos em formigueiros.
São muitas as maneiras de se praticar eutanásia, a maior parte delas associada
ao bem-estar da sociedade. Entre os esquimós, os velhos que não são mais
******ebook converter DEMO Watermarks*******
úteis à sobrevivência do grupo são conduzidos, muitas vezes a pedido, para
fora da aldeia onde morrem de frio, fome ou devorados por animais. Estes
esquimós não têm nome para designar a guerra e, quando há conflitos entre
seus vizinhos da zona de vegetação arborizante, retiram-se para não
presenciar derramamento de sangue. Sua ética não admite que um ser
humano seja morto, salvo nos casos de roubo e loucura porque acham que
ambos constituem um perigo para o grupo. Aquilo que se convencionou
chamar de 'morte provocada dos anciãos' é uma ritualização consciente da
sobrevivência do grupo, decorrente normalmente de uma estação de caça
ruim, que imporá um inverno sem víveres em quantidade suficiente. Após os
velhos, era a vez das crianças de pouca idade, que se deixavam morrer de
frio. E o racionamento deveria prosseguir de modo inexorável se aumentasse
a falta de víveres, de modo que os últimos sobreviventes fossem os melhores
caçadores e as esposas mais jovens, a fim de permitir a reconstituição do
grupo (Calder, 1971). Freqüentemente tais práticas se articulam a crenças em
um além paradisíaco, cujas alegrias não se quer negar aos velhos por muito
tempo ainda.
As preocupações com reprodução social estão presentes também nos
cuidados que as sociedades normalmente tomam no sentido de garantir uma
estrutura demográfica adequada. Contrariamente às opiniões românticas que
envolvem as sociedades tribais, não está comprovado que a maioria delas
disponha de meios anticoncepcionais realmente atuantes, preparados à base
de ervas. Contudo, as práticas abortivas são largamente empregadas e se pode
enumerar uma relação ampla de técnicas químicas e mecânicas apropriadas a
este fim: muitos venenos vegetais ou animais que provocam traumas
generalizados ou agem diretamente sobre o útero, passagens bruscas do frio
ao quente, massagens violentas, golpes localizados etc.
Tais técnicas, todavia, põem em perigo a vida da mulher grávida. Por esse
motivo, é possível que uma boa parte das sociedades humanas tenha feito
recurso a uma outra técnica de controle populacional: o infanticídio. O
infanticídio assume um número largo de formas, indo do abandono ao
estrangulamento, do afogamento ao estraçalhamento entre pedras, aos
acidentes provocados por falta de cuidado, à morte por falta de alimentos... A
eliminação dos recémnascidos apresenta, do ponto de vista do controle
populacional, o atributo de poder ser seletiva, pois, se o infanticídio feminino
for praticado, um resultado radical e a longo prazo poderá ser atingido. O
aborto e a eliminação dos velhos não apresentam essas 'vantagens'.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
O equilíbrio demográfico obtido através da morte de crianças torna-se
particularmente inteligível quando se considera que boa parte das sociedades
conhecidas, talvez a totalidade, não admite um indivíduo como um de seus
membros somente pelo fato de nascer. Com efeito, o simples nascimento
biológico não basta. É preciso nascer socialmente: por isso freqüentemente se
jogam os natimortos no lixo, como em alguns hospitais no Brasil.
Coerentemente, é raro que se ponha luto pela morte de um recém-nascido,
raramente se lhe prepara um enterro igual ao dos adultos, raramente se o
enterra no mesmo lugar.
Os lodugan dizem que uma vez que a criança morta volta para a mãe não são
necessários os ritos funerários. Os totonaque pensam que estes ritos não são
importantes por ocasião da morte de uma criança, pois ela deverá renascer
através de uma outra mulher que até este momento fosse estéril. No mundo
cristão, as crianças mortas antes de receberem o batismo (nascimento social)
eram tradicionalmente enterradas em cemitérios especiais e não chegavam a
obter o direito de ir para o céu. Em suma, as crianças ainda fora das malhas
culturais são, como os natimortos, logo esquecidas (quando são levadas em
consideração) e imediatamente substituídas pelo advento de outras crianças e
pelo ruído do movimento da máquina social.
Entre os bororo a morte de um bebê não comporta conseqüência social
alguma antes da cerimônia de atribuição do nome: o cadáver é enterrado em
cerimônia privada pelos pais, da mesma maneira que eles fariam com os
animais domésticos. Mas, uma vez dotada de um nome a criança é associada
às almas dos que já morreram há muito tempo, começa a possuir uma
personalidade social e passa a ser sujeito de direitos, entre eles o de merecer
rituais funerários (Crocker, 1977). Possuir um nome é pertencer a uma
comunidade – e freqüentemente a reprodução social é pensada como sendo
um revezamento de nomes.
Assim, os esquimós do pólo acreditam que um homem possua dois atributos
espirituais, seu nome e sua alma, e que após a morte o nome deixe o cadáver
e se introduza em uma mulher grávida para renascer no corpo da criança que
ela espera. Entre os guayaki a criança receberá o nome dos mortos que sua
mãe terá comido durante a gravidez (Clastres & Sebag, 1963). Os baulé do
Senegal dizem que uma mulher que coma os alimentos deixados sobre o
túmulo do avô conceberá logo uma criança, que levará o nome do ancestral.
Se uma mulher sara sonhar freqüentemente com um ancestral, é dele que ela
estará grávida e é o nome dele que será atribuído à criança. Entre os luba, é
******ebook converter DEMO Watermarks*******
comum alguns indivíduos se comprometerem com um moribundo a perpetuar
seu nome através de crianças que eles produzirão. Se por acaso uma criança
pequena adoecer, seu mal poderá ser atribuído a ancestrais que brigam para
lhe impor o nome. A mesma crença pode ser observada entre os tonga de
Zâmbia, que atribuem a doença às disputas entre dois defuntos, um do clã
paterno outro do clã materno, pelo nome da criança.
Esse revezamento de nomes faz com que o morto continue de certo modo a
viver, pois a morte verdadeira só aparece quando o morto desaparece da
memória coletiva. Se os homens vivos conhecem seu nome, o morto
continuará ainda um pouco vivo. Os nomes indefinidamente repetidos,
alternandose de avós a netos, sugerem que é a mesma pessoa que se
reencontra a cada duas gerações. Diante do desaparecimento dos atores, a
transmissão dos nomes assegura a manutenção dos personagens e a
perenidade do texto social. E o revezamento por gerações alternadas faz com
que a geração dos indivíduos ativos e produtivos esteja sempre comprimida
entre duas semelhantes uma à outra (pois os nomes são os mesmos), de modo
a sugerir que o futuro seja a reconstituição do passado e que o tempo seja
impotente diante da sociedade.
É esta imobilização do tempo, que se torna reversível porque se refaz
continuamente, que as culturas buscam nas práticas funerárias. Por isso, não é
estranho que as diferentes consciências sociais da morte reproduzam a
imagem da profunda função biológica desta: permitir o fluxo constante da
corrente de vida, pela substituição de um indivíduo por outro e deste por
outro, de modo que os desaparecimentos na escala dos indivíduos permitam a
permanência no plano da coletividade, no plano da espécie. Nesse sentido,
pode-se facilmente comp reender que os motivos fu ndament ais da s const
ruções cultu rais concernentes à morte sejam "transferências e metáforas
míticas dos processos bióticos fundamentais" e que a humanidade apreenda
sua própria lei de morte à imagem das "leis de metamorfoses que ela
reconhece em toda a natureza, onde toda morte é seguida de uma vida nova"
(Morin, 1970: 22, 146-7).
A morte vem a ser fecundidade e a fecundidade, morte. Passa a ser a grande
fecundadora e as fronteiras entre os ritos propiciatórios, de fecundação e de
iniciação, por um lado, e os funerários, por outro, tornam-se muitas vezes
indistinguíveis. Os dois mitos fundamentais de superação da morte, o do
'renascimento' e o do 'duplo', "são transmutações, projeções fantasmáticas e
noológicas das estruturas da reprodução, isto é, dos dois modos pelos quais a
******ebook converter DEMO Watermarks*******
vida sobrevive e renasce: a duplicação e a fecundação" (Morin, 1970: 21-2).
Na África, por exemplo, Pierre Erny (1972) e Louis-Vincent Thomas (1976:
438-9) observaram que entre os ritos agrários que asseguram o crescimento
dos vegetais cultivados e os ritos pelos quais a sociedade se perpetua pode-se
definir um paralelismo constante. Na expressão do segundo, "entre os ritos de
nascimento, os ritos de morte e os ritos de iniciação, as analogias de estrutura
são tão importantes que não se pode estudá-los separadamente". A festa
antiga dos hindus em que se celebravam os mortos coincidia com a festa da
colheita; as mulheres algonkin que desejassem se tornar mães deviam acorrer
à cabeceira de um moribundo, para que a alma dele se alojasse nelas. Os
tibetanos vêem na criança que nasce no momento da morte do grande Lama a
reencarnação deste. Muitas vezes, acredita-se que o último nascido seja a
reencarnação do último morto e se lhe atribui o nome deste. Entre nós
mesmos, a palavra 'inumação' remete a 'colocar em húmus', ou seja,
'fertilizar'.
O ancestral é o caminho para superar a contradição que a descontinuidade da
existência humana comporta e que a morte revela brutalmente. Por isso, o
ancestral é o senhor da vida e da morte. Em Trobriand, nenhuma criança pode
vir ao mundo sem a intervenção de um ancestral da mãe que lhe dará a força
vital: a gravidez resulta da incursão no útero da mãe de um espírito que
deixou o mundo dos mortos para recomeçar uma nova trajetória aqui em
baixo. Mas, mesmo que eles não se reencarnem, os ancestrais continuam
responsáveis pelos nascimentos, e é a eles que as mulheres estéreis devem
recorrer para poderem ser mães. No folclore de Leipzig, mostravam-se
imagens de pessoas mortas às mulheres jovens, para lhes dar fecundidade.
A morte está igualmente presente na maioria dos ritos de passagem, que
consistem em morrer para uma posição (por exemplo, 'adolescente'), e nascer
para outra ('homem adulto', no caso). A propósito, escreveu Robert Jaulin
sobre os sara (1974a: 134) que, na morte iniciática,
as mulheres sabiam que seus filhos, percebidos sob suas roupas de
folhas, não tinham ainda sido 'engolidos' pelos ancestrais, mas iriam sêlo
imediatamente. Nós partimos e elas ficaram agachadas sob a árvore,
provavelmente durante vários dias, chorando suas crianças 'mortas' na
mata – só faltavam os cadáveres para que a situação fosse a de um
verdadeiro velório – até o momento em que um moh veio anunciar a
ressurreição dos neófitos, isto é, todo o tempo que dura a lamentação
que segue necessariamente a morte de um filho. Os ressuscitados não
******ebook converter DEMO Watermarks*******
serão mais seus filhos, mas homens.
O exemplo dos sara nos mostra de modo nítido as relações entre a morte, a
preservação e a reprodução da sociedade: os ancestrais sara ingerem os
neófitos e os devolvem depois como adultos completos; a morte e o
renascimento iniciáticos ultrapassam a oposição entre a morte e a vida. A
terra onde estão os defuntos representa uma natureza culturalizada, sobre a
qual e com qual agem os vivos. Os ancestrais estão integrados à natureza: a
eles se pede que interfiram por meio da terra, de que são esposos, junto aos
animais, para que estes se dirijam na direção dos caçadores. Por sua vez, a
terra só aceita privilegiar os homens se os ancestrais intervierem a favor
deles. Assim, a terra-mulher se engravida de alimentos para os homens vivos,
do mesmo modo que a mulher-humana dá à luz crianças que são alimentos
para a sociedade e que serão, um dia, mortos comidos pelos ancestrais (no
rito de iniciação) e pela terra. Os homens, cultura naturalizada, se aliam à
terra, natureza culturalizada. E as crianças, alimentos dados aos ancestrais,
são como os alimentos dados, através da interferência dos ancestrais, pela
terra aos homens: "existe entre as crianças e os alimentos uma analogia
evidente: a perpetuação da vida" (Jaulin: 1974a: 242). Os mara, vizinhos dos
sara, acreditam que os homens inseminem a terra clânica com a colaboração
dos antepassados e que a terra seja esposa conjuntamente dos vivos e dos
mortos do clã. Pedem aos ancestrais que aceitem os grãos que plantam e que
façam com que as colheitas apareçam. Entre eles, "a terra existe em função
dos mortos, para o bem dos homens" (idem: 237).
Através desses simbolismos, as mortes individuais são transformadas em
ocasiões em que o grupo realiza a mise-en-scène de sua própria reprodução,
em que demonstra preocupação muito maior com sua proteção própria do que
com a dos indivíduos que morrem. Ao mesmo tempo, esses simbolismos
localizam a morte como fenômeno concernente ao indivíduo, não à sociedade
– e por este processo deixa insinuar-se a perpetuação da espécie. Mas nada
disso é muito novo: na arte paleolítica já é difícil distinguir os símbolos de
geração dos símbolos de morte, e os mortos pré-históricos freqüentemente já
são introduzidos na terra em posição fetal – como se já se tivesse percebido a
metáfora fundamental.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
6 Morte e comunicação
Se a sociedade é um sistema de comunicação, o desaparecimento de um
componente de sua organização põe em crise todo o sistema. A morte de um
indivíduo não é um evento isolado, mas representa tantos eventos quantas
relações o indivíduo morto mantivesse: amizades, inimizades, paternidade,
filiação, aliança, propriedade... Todas essas relações, que constituem o tecido
social, correm o risco de se romper ou se rompem efetivamente.
Por isso, o desaparecimento de um indivíduo põe em marcha uma
hiperintensificação das relações sociais. Desdobra diante dos indivíduos e
grupos um jogo de espelhos que se inter-refletem e se reduplicam, de modo a
encerrar no seio da comunidade a auto-identidade própria do grupo,
produzindo, pelo reforçamento da solidariedade dos que ficaram, a superação
do vácuo deixado pelos que partiram. Cada grupo à sua maneira impõe aos
sobreviventes o desempenho de papéis recristalizadores que consistem em
privilegiar determinadas relações e evitar outras. Cuidadosamente, exigir-se-á
das crianças e dos jovens que se envolvam no drama e que desempenhem
papéis que lhes irão revelar – através de uma linguagem adequada à
circunstância – os princípios estruturais que a vida coletiva supõe: estes
papéis têm, pois, uma função pedagógica evidente. Presencia-se, então, o
desenrolar sutil ou escandaloso de trocas e prestações, o surgimento de novos
parceiros de trocas, a imposição de que novos objetos se permutem, a
proibição do comércio dos antigos, construções novas e desconstruções
obrigatórias, sutilezas hierárquicas que se manifestam, proibições e
obrigações alimentares e lingüísticas...
Não se trata somente de esquecer o morto e de obturar a lacuna que ele
deixou. Trata-se também de mobilizar a comunidade para suas relações com
o novo parceiro – alma, espírito, ancestral etc. – que a morte criou. As
relações não cessam com o falecimento, uma vez que o morto de numerosas
maneiras vai continuar a influenciar os vivos. Esta comunicação dos mortos
com os vivos se dá nos sonhos, no aparecimento dos mortos, através de
fenômenos meteorológicos, pelas sombras, pelos recém-nascidos, pelos
sacerdotes... Como todas as outras, está submetida a um código, a um
contrato cujas cláusulas os jovens devem aprender.
Na Espanha, os mortos são tradicionalmente os intercessores dos vivos junto
a Deus; em compensação, esperam dos vivos as luzes que lhes permitirão não
se perder no caminho para o Céu, as missas e as orações para o salvamento
de suas almas. Em suma, esperam que os vivos sejam seus intercessores junto
******ebook converter DEMO Watermarks*******
a Deus para que suas almas saiam do Purgatório. O contato e o contrato com
os mortos não são meras abstrações distanciadas do cotidiano: por três padre-
nossos se pode obter das almas que acordem alguém a uma hora determinada
a fim de que não perca um trem ou um exame; o vizinho mais próximo avisa
as abelhas da morte do dono, a fim de que estas fabriquem mais cera para
confeccionar as velas que iluminarão o caminho do defunto (Fribourg, 1979).
Entre os pame (Chemin-Bässler, 1979), do México setentrional, o contrato
entre vivos e mortos supõe que estes últimos tenham no mundo das almas
necessidades idênticas às dos vivos (eles comem, bebem, fumam, usam
roupas...) e que seja obrigação dos sobreviventes prover as carências dos
mortos (acreditam que as almas estejam sempre necessitadas porque Deus
não lhes dá o bastante). Por isso, no mês de novembro, época em que os
mortos vêm visitar suas famílias, os vivos devem fazer oferendas de
alimentos, bebidas, cigarros, roupas, se possível com música, canto e dança
(os mortos os apreciam igualmente). Não cumprir estes deveres acarreta o
risco de sofrer as sanções correspondentes: os mortos passam a vir durante
todo o ano, começam a importunar os vivos, causando-lhes dificuldades
várias, doenças físicas, psicológicas e mesmo morte.
Estes contratos visam a regular relações potencial ou abertamente críticas e
antagônicas. Entre os antandroy, o clã tananatsosa rege suas relações com os
mortos a partir de uma cláusula condicional. Cozinham feijões, depositam-
nos sobre o túmulo do parente e lhe dizem: "se estes grãos não germinarem,
não volte mais" (Rabedimy, 1979: 178). Manuela Carneiro da Cunha (1978)
observou a partir de Pierre Clastres (1972) que os tupinambás, ao comerem o
inimigo aprisionado a quem haviam atribuído os objetos e paramentos do
morto tribal, cuja morte agora iriam vingar, efetuavam uma substituição, pela
qual eles não somente transformavam o inimigo em alguém como os da tribo,
ou seja, como o 'nós' tribal, mas, além disso, faziam do morto, em
homenagem ao qual matavam e comiam o prisioneiro, alguém semelhante
aos 'outros', ou seja, um inimigo. Para os tupinambás, comer o inimigo é
afastar o 'ex-vivo-amigo-agora-morto-inimigo', é uma vingança de guerra,
uma reapropriação dos ancestrais comidos pelos inimigos, uma proteção
contra perigos futuros, uma luta muito séria contra o morto e a morte. Enfim,
um jogo complexo de mensagens, dons e contra-dons.
Entre vivos e mortos se estabelece, portanto, para os tupinambás, mas
também para muitas outras sociedades sul-americanas, como os guayaqui, os
krahó, os bororo, entre outros, um sistema de comunicações ou de supressão
******ebook converter DEMO Watermarks*******
de comunicação (o que vem a ser o mesmo) que define um sistema de
oposições nós/outros, fundamental para a configuração da fisionomia dessas
sociedades. Diferentemente do que se tem observado em relação às
sociedades africanas em geral, os mortos nessas sociedades sul-americanas
são concebidos como encarnando a mais extrema alteridade, isto é, como
sendo o 'outro' absoluto, a anti-sociedade, "que nega em seus fundamentos a
sociedade dos vivos e a hostiliza, roubando-lhe os seus membros" (Cunha,
1978: 3). Contudo, exatamente como na África, mas por razões inversas, os
mortos entre esses indígenas sul-americanos estão sempre presentes na vida
dos vivos.
Entre nós mesmos e até recentemente, a morte de uma pessoa implicava toda
uma dialética comunicacional dos grupos sociais a que ela pertencesse:
fechavam-se as janelas, recebiam-se visitas, tocavam-se sinos nas igrejas, os
enterros eram pequenas procissões a tornar público o advento da morte,
afixavam-se avisos de luto, colocavam-se os mortos com os pés voltados para
o exterior das casas, celebravam-se missas, visitavam-se os túmulos,
escreviam-se epitáfios, apresentavam-se condolências aos parentes do morto
– enfim, toda uma reverberação de mensagens para mobilizar as pessoas e
solidarizar o grupo.
A saída de um corpo do circuito comunicativo implica mais comunicação. A
própria toalete do cadáver – do corpo que se recusa a responder e que,
quando fala, expressa-se por uma antilinguagem – é rica de mensagens.
Exige-se freqüentemente que sejam os vizinhos que a executem, não os
parentes. Quando se a permite aos parentes, normalmente se preferem os
colaterais aos consangüíneos. Mesmo nos casos raros em que são os
consangüíneos os que têm contato com o corpo do morto, trata-se com
freqüência de ritos de inversão por meio dos quais algo normalmente
reprimido se torna provisoriamente liberado. Em nome da máxima
circulação, procura-se impedir o incesto que é a não troca do cadáver, a não
socialização da morte, a não mobilização de pessoas, a não solidarização do
grupo.
Deste modo, nas práticas funerárias podem-se encontrar os mesmos "níveis
fundamentais de comunicação e de articulação das estruturas sociais" que
Lévi-Strauss (1967a) encontrou para a sociedade global. Entre os doadores de
mortos e recebedores de crianças a nascer, entre doadores de palavras e
recebedores de palavras, entre produtores e consumidores de bens e serviços,
os mortos estarão sempre presentes. O entrelaçamento das redes de troca que
******ebook converter DEMO Watermarks*******
unem os vivos aos mortos é hipercomunicação a silenciar o silêncio.
Tentativas de silenciar o silêncio através de palavras. Os mortos 'falam'
através dos possuídos. Os mortos 'ouvem' as preces. Os malgaches, por
exemplo, comunicam-se com os mortos por meio de diferentes preces e
recitam todos os nomes dos ancestrais até o último que acabou de morrer.
Nossos mortos ouvem: 'repousa em paz', 'volta para o lugar de onde vieste'...
Tentativas de silenciar o silêncio através do silêncio: talvez para evitar que o
morto fale por seu intermédio, aquele que lhe é próximo deve freqüentemente
calar-se: é o silêncio imposto à pessoa enlutada. Por isso, não é raro encontrar
cadáveres com a boca costurada (navajo) e sobreviventes provisoriamente
condenados ao silêncio: algumas viúvas africanas só saem em público
munidas de uma espécie de sineta para prevenir às pessoas que não lhes
dirijam a palavra. Por isso, em muitos lugares se silencia o nome do defunto:
warramunga e kaiabara na Austrália, tsimihety em Madagascar, samoyede,
tatar e tchouktche, na Sibéria, yami em Tobago, os ameríndios do Pacífico,
da Nova-Escócia (micmac, malecita) e da baía de Hudson, os tuaregues do
Sahara, os ciganos...
Na Nova Guiné modificam-se os nomes de objetos que de alguma forma se
pareçam com o nome do defunto e na Sibéria os sobreviventes trocam seus
próprios nomes. Entre os guajiro (Perrin, 1979) quando um indivíduo morre
os outros estão proibidos de pronunciar seu nome. Quem quebrar este tabu
deverá pagar: com gado, com jóias, com a própria vida. Mas hoje os guajiro
admitem que se pronuncie o nome do morto, sob a condição de o preceder do
qualificativo 'defunto', que põe o morto em seu lugar. Compreende-se: se o
nome está associado àquele que o porta, se é uma parte constitutiva da
identidade social da pessoa e se a palavra, como disse Roland Barthes (1971:
183), é o "antônimo rigoroso da morte" – pronunciar o nome de um morto é,
além de uma forma de entrar em contato com ele, um meio de torná-lo vivo,
ou ainda, o que pode ser grave, um meio de evocá-lo. No Brasil, embora o
tabu do nome formalmente não exista, em um velório, diante do cadáver, o
morto é sempre designado por 'ele'.
Tentativas de silenciar o silêncio pela troca de objetos. As relações com os
mortos implicam transformações nas relações de consumo, distribuição e
produção, tanto no eixo vivos-vivos, quanto no eixo vivos-mortos. Na China,
no Vietnam e na Coréia acreditava-se que queimar um objeto em
oferecimento lhe conferisse uma realidade diferente e o reduzisse por assim
dizer à sua natureza essencial, liberando-o de tudo o que fosse espúrio em
******ebook converter DEMO Watermarks*******
relação à sua essência. Aí está a raiz do sacrifício e das oferendas: a
destruição (ou retirada do circuito dos vivos, o que equivale a uma
destruição) faz passar um objeto de um domínio para outro, do profano para o
sagrado, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos.
Com toda relação de troca, o sacrifício e a oferenda supõem reciprocidade, ou
seja, uma ação em sentido contrário do recebedor da oferenda em fa vor do
doador. E sta belecem, conseqüentement e, u ma comunicação
(freqüentemente uma comunidade) entre os mundos diferentes postos em
contato. Porque este contato é perigoso, a comunidade dos vivos se preserva
e se protege dele, servindo-se deste intermediário que é a vítima ou o objeto
destruído Louis-Vincent Thomas (1976) invoca a cerimônia epwê-atwê entre
os abure da Costa do Marfim, que consiste em demolir e arrasar todas as
cabanas, sem poupar nenhuma, que tenham sido habitadas por pessoas da
geração precedente, a partir do momento em que restem somente poucos
representantes dessa geração. E cita Niangoran-Bouah (1960: 86): "um bairro
nasce e morre como um ser humano, deve acompanhar sua geração no além a
fim de que seus membros possam habitá-lo". Uma nova aldeia é então
construída, para exprimir simbolicamente "a permanência na mudança, a
vitória da vida sobre a morte".
A economia da morte tem um lugar importante na economia da vida: em
Madagascar passa-se às vezes toda uma vida construindo as casas dos
mortos; várias famílias chinesas foram arruinadas por um enterro e pela
construção da morada dos mortos. O potlatch funerário foi praticado entre os
haïda, os tinglit, os tsimishian e consistia normalmente em destruição de
riquezas. Entre os mongo, do Zaire, matava-se um escravo e arruinavam-se as
culturas da mulher do defunto. Se o morto fosse um chefe, às vezes não
restava uma só árvore plantada nas imediações, como entre os wagawaga da
Nova-Guiné. Os bens pessoais do defunto são muitas vezes queimados,
enterrados, afastados, proibidos (dayak, arunta, mohave, totonaques, incas).
Do ponto de vista dos vivos, estes objetos são sacrificados. São oferecidos
aos mortos para que estes fiquem definitivamente longe do mundo dos vivos:
se não se destinam diretamente à obtenção da proteção dos mortos, ao menos
tornam possível a neutralidade desses.
São numerosos os casos de comunhão alimentar: ocasiões em que se oferece
alimento aos mortos, em que se os convida para comer, em que se lhes
prepara uma refeição que será consumida sobre o túmulo. Na Espanha, além
das luzes e das preces, certos alimentos são preparados particularmente em
******ebook converter DEMO Watermarks*******
homenagem aos mortos (castañadas, buñuelos, huesos de santos...), e se
juntam ao mel, ao vinho, aos biscoitos, às tortas que os vizinhos trazem para
a vigília fúnebre (Fribourg, 1979). No México, as oferendas são gorditas
(alimentos à base de milho, modelado em formas diversas, humanas ou
animais: cachorros, vacas, porcos, pássaros etc.), frutas, café, legumes, leite,
atole (à base de milho novo e açúcar bruto), tamales (à base de creme de
milho, pimenta e carne de boi, frango ou peru, envolvidos em folhas de milho
e cozidos ao vapor). Os chineses preparam refeições periodicamente, nas
quais o defunto está presente por intermédio de um descendente que come,
bebe e agradece em seu nome. Na Bretanha se prepara uma refeição de
crepes, que é servida à meia-noite durante o velório; delas se abastece
generosamente o defunto, antes que ele se vá... Em Madagascar, em Bornéu,
entre os ciganos e em muitas localidades brasileiras, bebe-se. Consome-se
álcool até a embriaguez e a perda da consciência: comunga-se com o morto a
sua viagem...
O tempo de luto é determinado freqüentemente não pelos sentimentos
diretamente ligados à perda do morto, mas pela quantidade de gêneros
produzidos e acumulados para as refeições funerárias e para as festas
destinadas a despedir o falecido. Entre os toradja, espera-se o tempo das
colheitas para realizar as solenidades; entre os edo, da Nigéria, a duração do
luto depende da riqueza e da idade do filho mais velho do morto, sendo o
status do defunto função da riqueza dos seus sobreviventes (Maertens, 1979).
Por ocasião da morte, dá-se e recebe-se: o que é dado é minuciosamente
contabilizado, em muitas sociedades, em vista das contraprestações relativas
aos futuros óbitos. A sociedade continua a produzir, para se reproduzir; os
bens continuam em movimento para responder à estagnação da vida. Diante
da morte, os homens têm necessidade de víveres.
Tentativas de silenciar o silêncio, pela intensificação das relações de aliança e
parentesco. Quanto mais próximos os parentes, tanto mais atingidos e
ameaçados. No Nepal, entre as altas castas hinduístas (Toffin, 1979), os
agnatos distantes e as mulheres casadas ficam quatro dias de luto pela morte
de uma pessoa. Mas os parentes patrilineares mais próximos permanecem
impuros durante treze dias e os filhos, cônjuges, pai e mãe ficam poluídos um
ano inteiro e sujeitos a proibições diversas: não podem comer determinados
alimentos, não podem penetrar no templo, não podem participar de festas, são
obrigados a usar roupas de cores determinadas.
O período de luto comporta normalmente revisão e reorganização das
******ebook converter DEMO Watermarks*******
relações de parentesco. Assim, os fox organizam uma festa durante a qual o
defunto é substituído no sistema familiar por um indivíduo do exterior que
toma o seu nome, o seu status e herda seus direitos e relações, obrigando a
família enlutada a se abrir para o exterior, evitando um fechamento mortal
para a sociedade. Instituições de sororato, levirato e parentesco classificatório
recuperam um indivíduo porventura deixado só na floresta do parentesco.
Freqüentemente verificam-se festas comportando permissividade sexual e
rompem-se as barreiras que interditavam o incesto, como se Tânatos
despertasse Eros.
Às vezes, a morte exige reversibilidade nos circuitos de trocas matrimoniais.
O krahó quer morrer na casa materna e pede para ser transportado para lá no
momento em que a morte se anuncia, mesmo que isso lhe custe esforço
(Cunha, 1978: 23, 123): "se sua mãe estiver viva, um homem já maduro, e até
chefe do grupo doméstico em que vive, voltará para junto dela", "a existência
post mortem é concebida como o reino da consangüineidade". Entre os mara,
a terra é dividida, do ponto de vista das práticas funerárias em tantos
cemitérios quantos são as linhagens. Isto porque os homens são enterrados
nas terras das suas linhagens e as mulheres, dadas vivas às linhagens de seus
maridos, são devolvidas mortas às suas linhagens de origem para aí serem
enterradas. Por conseguinte, a terra, que recebe os mortos, constitui "de uma
maneira ao mesmo tempo simbólica e imaginária uma garantia da
perpetuação das trocas" (Jaulin, 1977a: 297-8).
De modo geral, parece que se pode considerar as relações com os mortos
como variando segundo a importância que se atribua a dois aspectos
fundamentais dos sistemas de parentesco: aliança ou descendência. Nos
sistemas que atribuem uma importância maior às relações de filiação e
descendência – como boa parte das sociedades africanas – entre três e
quarenta gerações (que são mais ou menos os limites dentro dos quais a
profundidade dos sistemas genealógicos varia no tempo), haverá sempre um
lugar para o morto. A passagem ao status de ancestral conterá em si uma
certa continuidade e a persistência do morto encontrará uma dimensão
temporal propícia. Neste caso, a sociedade cria laços de parentesco com os
defuntos e se desdobra, reproduzindo-se sobre o nada, preenchendo o vazio e
afastando os seus perigos.
Ao contrário, existem sociedades, como a dos krahó, em que o indivíduo só
conhece realmente aqueles com quem convive: "sabe enumerar as
peculiaridades de temperamento de cada um, suas habilidades e até mesmo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
reconhece as pegadas de cada habitante de sua aldeia". Mas, ao fornecer uma
genealogia, normalmente só consegue enumerar as pessoas que conheceu em
vida. Por isso, "as genealogias dadas pelos krahó se estendem
horizontalmente mas no sentido vertical são muito pouco profundas"
(Melatti, 1978: 117-8). Em um tal sistema é difícil encontrar um lugar seguro
para o morto: há uma descontinuidade entre os vivos e os mortos, uma
ruptura entre as sociedades do aqui e do além. Os mortos passam a ser
'outros' – antagônicos, adversários, inimigos. A reprodução social, ou seja, a
continuidade, efetua-se através de substituições, em que "uma pessoa assume
a máscara social da outra e a substitui cerimonial e juridicamente" (Cunha,
1978: 141). A sociedade se vê não como um continuum em relação aos
mortos, mas como uma oposição relativamente a estes. Manuela Carneiro da
Cunha sustenta com muito propósito que esta tenha sido a opção de muitas
sociedades indígenas brasileiras – opção que poderá exigir que seja repensada
boa parte das generalizações feitas sobre o significado sociológico da morte,
que tomaram o modelo africano como padrão único de referência.
A morte do outro é o anúncio e a prefiguração da morte de 'si', ameaça da
morte do 'nós'. Ela mutila uma comunidade, quebra o curso normal das
coisas, questiona as bases morais da sociedade, ameaça a coesão e a
solidariedade de um grupo ferido em sua integridade. A reação da
comunidade é um impulso contrário a essas forças desagregadoras. A
violência de suas manifestações significa que a comunidade continua a viver.
Quanto mais ela chora, quanto maior a sua dor, quanto maior a efervescência
pela qual dirige os indivíduos uns em direção aos outros, tanto mais intensa a
sua presença nas almas de seus membros. A comunidade reage com
veemência igual à da força que a feriu e os indivíduos nunca se sentem tão
iguais a ela quanto quando ela é ameaçada. Reagindo ao desabrigo a que seus
membros se viram submetidos, ela restabelece, pelo calor dos que
sobreviveram, a integridade do grupo. Ela coloca a morte em seu devido
lugar, mostrando-a como uma desventura existencial que se abate sobre o
indivíduo e que nada nega da essência que nele foi investida pela sociedade.
O rumor do social silencia o silêncio individual, através de manobras em que
ao mesmo tempo se comunga com o morto e se o afasta. Imuniza-se a
sociedade e evita-se que sofra outras infelicidades.
Esta vontade de viver da comunidade foi claramente demonstrada por Robert
Jaulin (1974a), em seu estudo sobre a morte sara. Aí, alimentos, vida, morte,
ancestrais, crianças, mulheres, terra, homens constituem um jogo complexo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
de símbolos e de elementos que se 'interingerem' e se 'intercasam', que dão e
que recebem, que articulam mortes reais e mortes iniciáticas simbólicas,
conjugando e misturando elementos afetivos, mágicos, jurídicos, econômicos,
simbólicos e imaginários que se entrecortam de prestações, presentes,
pagamentos, oferendas e sacrifícios feitos em favor do morto e de sua família.
A descrição de Jaulin é um belo exemplo de fenômeno social total e de
entendimento do fenômeno específico da morte como tal. A morte sara,
escreveu Pierre Bernard (1971: 39),
associa continuamente três grandes domínios de atividade: as atividades
da vida material (caça, pesca, trabalho dos campos, cozinha etc.); as
atividades concernentes à organização social (trocas de mulheres,
repartição de terras e de bens de consumo, organização das unidades de
trabalho etc); enfim, as atividades simbólicas, culturais. Nenhum desses
domínios está jamais separado dos outros; a imbricação completa e
permanente deles é o fato dominante. A atividade simbólica em
particular, mais fortemente posta em relevo na iniciação, deixa de
referir-se ao mundo do além; ela se insere estreitamente na vida real do
grupo, na medida em que seu papel é assegurar a compatibilidade e a
coerência do conjunto de suas atividades; digamos mais, ela representa a
respiração profunda do grupo e sua vontade de viver na duração
histórica.
Este caráter de fato social total pode ser percebido claramente através de
descrição que Michel Perrin (1979) nos deu dos rituais funerários guajiro.
Aqui, a morte não fala somente pelas concepções filosóficas e religiosas pelas
quais se procura enclausurar o desaparecimento de indivíduos em um sistema
cosmológico. Os funerais são as principais ocasiões de encontro coletivo e de
reagrupamento dos indivíduos. É principalmente nessas circunstâncias que os
guajiro dramatizam a ordem social. Ocasiões em que os vivos fazem um
espetáculo para si mesmos, do qual cada pessoa é ao mesmo tempo ator e
espectador, compondo um sistema de signos em que se exprime a posição
social do morto e a de todos os participantes em relação ao grupo familiar e à
sociedade global. A quantidade e o tipo de alimento distribuído a cada pessoa
é função de seu status. Expressam-se o grau de sucesso material do morto –
cujos bens são quase totalmente dilapidados – a posição hierárquica de sua
matrilinhagem, bem como o grau de coesão dela (porque, se quiserem
prosseguir o funeral após o esgotamento do gado do morto, os parentes
devem se unir para poder oferecer um suplemento). Nos funerais, os
******ebook converter DEMO Watermarks*******
diferentes papéis dos grupos de parentesco afloram nitidamente: os parentes
distantes, os patrilaterais e os maternos participam de modo diverso da
distribuição dos alimentos, das proibições, dos ritos de purificação, do
recolhimento de fundos e de gado. "Não é pois surpreendente que seja
durante este ritual ostentatório que conflitos se exprimam abertamente,
refletindo as contradições próprias à estrutura social guajiro..." (Perrin, 1979:
122).
Diante da prefiguração da morte de 'si' e da ameaça da morte do 'nós' que se
pode ver na morte do 'outro', a sociedade se emociona e sua palavra de ordem
é a união. A resposta contida no canto bambara seguinte, que Ziegler (1975:
273-4) transcreveu, é exemplar: eles se reúnem, cerramse uns contra os
outros – homens, mulheres e crianças formando círculos concêntricos e
entoam:
Aproximem-se, cheguem mais perto,
Apertem-se para que a hiena (a morte) não os coma
Apertem-se para que o leão (a morte) não os coma
Apertem-se.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
7 Morte do poder e poder da morte
O que até aqui foi dito nos leva a pensar nas relações entre morte e poder.
Trata-se de um tema fundamental para a compreensão, seja das
representações da morte vigorantes em uma sociedade, seja da natureza do
poder exercido dentro dos domínios dela. Contudo, tal reflexão exige de
início que duas noções sejam afastadas: em primeiro lugar, a que sustenta que
existam sociedades sem poder; em seguida, a que postula que a morte em si
possua algum poder.
No que respeita à primeira, lembremos antes de tudo que a sociedade é um
sistema. Como todo sistema, comporta dimensões coercitivas que desenham
os seus contornos e garantem sua sistematicidade. Além disso, a sociedade é
essencialmente um sistema de comunicação e de significação, o que implica
seja ela um sistema de regras que organizam o pensamento, o sentimento e o
comportamento de seus membros. Tais regras são intrinsecamente dotadas de
poder: sem poder, elas não seriam regras e o sistema não seria sistemático.
Por conseguinte, falar em sociedade é falar em poder – o que não exclui (ao
contrário, exige sempre) a discussão da questão de sua distribuição entre os
grupos sociais.
Depois de afastar a idéia de 'morte do poder', é preciso repensar a de 'poder
da morte'. Não é raro que as teorias do poder partam do a priori segundo o
qual a morte em si seja um mal, que seja indesejável, que toda outra coisa lhe
seja preferível, e que o poder, em última instância, consista em dispor dos
meios de, através da violência e da ameaça de conduzi-lo à morte, coagir um
adversário a se dobrar às intenções do dominante. No correr deste trabalho
veremos que esta idéia é essencialmente etnocêntrica. Mas, por enquanto,
limitemo-nos a lembrar que o 'poder' da morte reside no desafio que ela
oferece aos sistemas de classificação e que este 'poder' é função da resposta
que, à morte, cada sociedade forneça. Portanto, nada existe de poder na morte
considerada em si: depende do tipo de morte, ou de morto, e da maneira pela
qual cada cultura os domestica e os apreende em suas malhas. O 'poder' da
morte é um fantasma que o poder cria e no qual se reflete.
Nossos veículos de informação exaltam-se na descrição de desastres
(colisões, quedas de pontes e viadutos, terremotos...) para nos conscientizar, e
nos exorcizar, da morte catastrósfica de algumas dezenas de pessoas (logo
esquecidas). Entretanto, eles se pronunciam moderadamente acerca das
milhares ou milhões de pessoas que cotidianamente morrem em conseqüência
das guerras, das epidemias ou das fomes. Na realidade, para a nossa cultura,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
os primeiros aparecem como mais inquietantes e ameaçadores, porque se
produzem fora do nosso universo de controle e de certa forma além das
fronteiras da estrutura social. Eles colocam em risco e desafiam os sistemas
de classificação por meio dos quais nós apreendemos o mundo e organizamos
as relações sociais. Tais eventos catastróficos denunciam a precariedade da
condição humana tal qual nossa cultura a concebe. Por outro lado, fome,
guerra... entre outras infelicidades humanas são um modo particular de
operação da estrutura social e, consensualmente ou não, um produto da
vontade humana cujas conseqüências são perfeitamente previsíveis.
Compreende-se, então, por que talvez universalmente as culturas odeiem
especialmente as mortes insólitas (e este termo significa, é claro, coisas
diferentes para cada sociedade): entre nós, os desastres, a morte do casal que
retorna da lua-de-mel, do jovem assassinado no dia de sua formatura, do
rapaz fulminado por um raio, do filho que morre eletrocutado ao tentar salvar
o pai, as chacinas e monstruosidades. Tais mortes produzem uma comoção
especial: na Austrália, os que morreram por acidentes não merecem honras
fúnebres; entre os ao-naga, os familiares de um morto por acidente matam
todo o seu gado, e passam a viver miseravelmente.
Sudnow (1971), estudando os dispositivos de organização social destinados a
lidar com a morte em um hospital americano, relata alguns acontecimentos
que causaram surpresa, comoção e pânico, entre as pessoas que constituíam o
corpo de funcionários do estabelecimento. O primeiro acontecimento foi o
assassinato de uma pessoa, nos domínios do hospital. O segundo, o suicídio
de um paciente psiquiátrico. O terceiro, a morte acidental de um técnico de
Raios-X, eletrocutado quando manipulava a máquina. O traumatismo de que
foram afetadas as pessoas, o pânico e a comoção com que enfrentaram a
morte, num contexto em que ela faz parte da rotina diária, têm a ver com o
fato de que estas não são mortes 'de' hospital – ou seja, ocorridas de acordo
com um conjunto de normas que admitem a morte como normal e a
domesticam e aprisionam, porque capazes de desconhecer, atenuar ou
neutralizar o seu impacto. Trata-se de mortes ocorridas 'no' hospital, isto é,
fora da possibilidades de controle do sistema institucionalizado. Por causa
disso, são mortes dotadas de um 'poder' especial.
Em vez de se dizer que a morte tem poder, melhor seria dizer que ela tem
mana, ou seja, uma capacidade geral de produzir efeitos no nível da
sociedade e de seus sistemas simbólicos. É por causa deste mana que
ninguém permanece perto de um cadáver sem que a fisionomia ateste que é
******ebook converter DEMO Watermarks*******
precisamente um cadáver o que se está vendo. Na nossa cultura atual, por
exemplo, em que as pessoas não estão habituadas à visão de cadáveres, certas
reações são típicas: as pessoas ousam olhar rapidamente para o cadáver e
afastam os olhos imediatamente, como se quisessem separar do olhar algo
que não querem ver. Há pessoas que cobrem os olhos e pessoas que
desmaiam. Nessa ambigüidade está a essência do mana, que é ao mesmo
tempo causa e conseqüência dessas atitudes: a morte é temível porque a
tememos, e tememos a morte porque ela é temível. Os mitos e os ritos criam
os perigos contra os quais nos protegem.
O 'poder' da morte pode residir simplesmente na falta de cuidados rituais para
com ela, ou seja, na falta de atenção em inseri-la regularmente no âmbito do
discurso. Proceder de modo ritualmente correto é impedir que o defunto
retorne sem autorização, que se transforme em vampiro, que vire inimigo –
mas somente quando a cultura admite essas possibilidades no repertório de
destinos que oferece ao morto. Assim, os edo retiram as unhas e os cabelos,
que continuam a 'viver' depois da morte e que ameaçam falar fora do
simbólico: expõem-nos diversos dias ao olhar da coletividade, exorcizam-nos
com refeições servidas em horas regulares mas preparadas segundo receitas
invertidas, e os enterram mais tarde. Os nigo de Gana, fazem algo parecido:
enterram imediatamente o cadáver, mas sem as unhas e os cabelos, que são
guardados em um pequeno caixão até serem enterrados quando a comunidade
de parentes estiver reunida (Maertens, 1979).
Em outras culturas, partes do morto são conservadas como lembrança e como
relíquia, representando o mana que se atribui ao morto e à morte: elas são
pontos de apoio com o auxílio dos quais, por um lado, se pode agir sobre os
mortos e através dos quais, por outro lado, os mortos podem agir sobre os
vivos, curando e propiciando boa sorte. Elas são, enfim, nas mãos de um
feiticeiro, um meio de distribuir dor e infelicidade. Entre certos pigmeus, a
iniciação dos magos exige provas para o ingresso na sociedade secreta que se
consagra à magia negra. Algumas dessas provas são ligadas ao contato com o
mana da morte e da impureza. Uma delas consiste em atar – peito contra
peito e boca contra boca – o candidato a um cadáver e em os levar, ambos,
para o fundo de um fosso, que se cobre de ramagens e onde permanecem três
dias. Outros três dias o neófito passa em sua cabana, atado ao morto que se
putrefaz, de cuja mão ele se deverá servir para a alimentação. Esta mesma
mão, mais tarde, posta para secar, servirá como seu mais poderoso fetiche
(Cazeneuve, 1972). Através desse procedimento, o feiticeiro se apropria do
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mana da morte.
Muito mais importante que um poder próprio à morte é a apropriação da
morte pelo poder. Antes de tudo, a morte é apropriada pelo poder nos ritos de
passagem. A sociedade é um sistema de posições e a passagem de uma
posição a outra contém a morte simbólica para o estado anterior. À imagem
da morte física individual, que corta os canais de comunicação do indivíduo
com o mundo, os ritos de passagem, que são canais de comunicação entre as
diferentes posições sociais, impõem ao indivíduo a morte em determinadas
dimensões comunicacionais: quando decide transformar-se em monge, por
exemplo, o indivíduo é às vezes envolvido em uma mortalha, deita-se com a
face virada para o chão e morre para a comunicação sexual, pelo voto de
castidade, para a troca de bens pelo voto de pobreza e algumas vezes para a
comunicação lingüística, pela imposição de não mais falar às pessoas. Ao
mesmo tempo, como a iniciação comporta um 'nascimento' para o novo
status, o neófito adquire possibilidades de comunicação que lhe eram
anteriormente vetadas.
O controle da morte pelo poder se mostra também em uma espécie de
seletividade na passagem para o mundo do além: a vida no outro mundo
dependerá do comportamento que os indivíduos observem no mundo terreno.
Este controle social o Ocidente cristão conheceu muito bem, durante séculos,
a cada instante da vida individual, materializada na oposição Céu/Inferno.
Aos muçulmanos, a mesma idéia é proposta: o morto recebe na mão direita
um livro contendo suas boas ações e na esquerda a relação das más. Além
disso, se aos homens, no outro mundo, se prometem esposas superiores em
número, virtude e beleza àquelas de que dispunham em suas vidas terrenas,
às mulheres muçulmanas se oferece um retrato de suas vidas terrestres, com
todos os aborrecimentos e monotonia que estas comportam, fazendo as
mulheres talvez crer que, ao menos sob este aspecto, a vida do aqui é a
própria vida paradisíaca. Na religião asteca existiam diferentes 'paraísos': os
indivíduos para eles se encaminhavam em virtude do gênero de suas mortes,
determinadas antes mesmo do nascimento no livro do destino que continha a
vontade dos deuses. As mortes mais prestigiosas nessa sociedade de
guerreiros eram as que se davam nos terrenos de batalha e sobre os altares
sacrificiais, ou as das mulheres que morriam ao dar à luz, isto é, em seus
combates para produzir novos soldados. Na ilha de Eddystone, distinguem-se
três tipos de morte: a dos inimigos mortos na guerra, que permanecem
estrangeiros; a dos acidentados e das mulheres em parto, cujos corpos são
******ebook converter DEMO Watermarks*******
jogados no mar sem rito especial e que a sociedade esquece; a dos chefes ou
homens comuns, que, por obra de ritos diferentes, transformam-se em
ancestrais poderosos, mas benfazejos quando se lhes prestam as devidas
oferendas.
A continuidade da vida individual depende freqüentemente do
comportamento dos sobreviventes. A morte real e completa só acontece
quando o morto é esquecido, quando não há mais ninguém para sacrificar em
sua intenção, quando não encontra mais suporte algum no mundo concreto.
Então, a individualidade do morto desaparece e se dissolve na coletividade
dos mortos – anonimamente, inidentificavelmente: as almas se misturam
como as peças dos esqueletos em um ossuário.
Contudo, a duração da vida da individualidade não é mesma para todos
(Thomas, 1976): certos mortos privilegiados permanecem nomeados e
identificados, às vezes são transformados em gênios, santificados ou
divinizados. A dor provocada pela morte e os ritos que acarreta dependem do
tipo de individualidade do morto, ou seja, de seu status em relação aos
sobreviventes: dependem de ele ser 'próximo', 'íntimo' 'amado', 'respeitado',
'familiar', 'único', 'representativo', 'insubstituível' – qualidades que os
poderosos procuram atrair sobre si. Conseqüentemente, a desigualdade no
mundo dos vivos se traduzirá em desigualdade no mundo dos mortos, mesmo
que no além as relações de força sejam miticamente alteradas: "os últimos
serão os primeiros", "é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma
agulha que um rico entrar no reino dos céus"...
Na realidade, todo homem desvalorizado, todo homem que não é reconhecido
plenamente como homem, não tem direito à sobrevivência. O prisioneiro, o
escravo, a criança, o desviante, o suicida, o acidentado não têm posteridade.
Em muitas culturas não têm acesso à ancestralidade, simplesmente
desaparecem, ou se transformam em espíritos a errar e a ameaçar o mundo
dos vivos com suas forças maléficas. Entre os senufo, o acesso à posição de
ancestral depende da idade do morto – o que lhe dá, na terra, notoriedade e
poder – bem como das dimensões e da riqueza de sua linhagem (Jamin &
Coulibaly, 1979). Os jovens de ambos os sexos, os acidentados, os suicidas e
os cativos são enterrados depressa, sem outra manifestação que a tristeza dos
próximos. Apenas os homens adultos iniciados e as mulheres mães de ao
menos uma criança têm direito de entrar no reino dos mortos, através dos
ritos que os sobreviventes irão executar. Mas a condição de ancestral
dependerá ainda da vontade dos vivos, não sendo absolutamente uma
******ebook converter DEMO Watermarks*******
qualidade imediata do defunto: é negociada, reformulada, manipulada,
cancelada ou esquecida.
Seria muito ingênuo supor que a desigualdade dos homens diante da vida não
se traduzisse em desigualdade diante da morte. Segundo dados que Maertens
(1979) apresenta, as canonizações cristãs se revelam relativas às camadas de
hierarquização social: assim, há 80% de clérigos contra 20% de leigos, muito
mais nobres que camponeses, mais bispos que padres, mais abades que
monges, mais romanos que estrangeiros, mais homens que mulheres... Uma
vez promovidos à ancestralidade, os mortos passam a guardiães da lei social,
a preservadores da ordem política: lá do alto, de longe, de perto, não importa
de onde, os ancestrais vêem, vigiam, aconselham, protegem, castigam,
intervêm nos conflitos que se verificam entre os homens, exercem influência
sobre a sorte, sobre o resultado das caças, das guerras, das colheitas. Aqueles
que representam a tradição, a norma, o poder enfim – os pais e os anciãos –
levam consigo suas funções para o reino dos mortos e de lá continuam a co-
governar. A aliança entre o aqui e o além beneficia o aqui e especialmente
aqueles que aqui são beneficiados.
Ao supremo poder, corresponde a suprema imortalidade. A primeira lição de
nosso primeiro catecismo nos ensina que Deus é todo poderoso e eterno.
Todos os poderes se pretendem eternos. Os baulê da Costa do Marfim nem
ao menos podem dizer que o chefe morreu, dizendo, ao invés, que "o rei sente
dor no pé". Os diola do Senegal dizem que a "terra se quebrou" (Thomas,
1976: 405), e os mbede, que "a grande árvore foi abatida".
De fato, em princípio, não se imagina que o rei morra. Na Europa, a partir do
século XV, os reis eram embalsamados e as cerimônias funerárias reais eram
imensas exaltações do sentimento monárquico e da fidelidade dinástica: "logo
após seu último suspiro, ele era exposto como um vivo em um cômodo onde
um banquete era preparado, com todos os atributos do seu poder de vivo. A
conservação da aparência de vida era necessária à verossimilhança dessa
ficção..." (Ariès, 1979: 355).
Entre os rhadé-jarai, do Vietnam, o novo chefe da família é investido no
momento em que bebe a água que serviu para lavar o cadáver de seu
predecessor, comungando assim com o corpo místico do poder. O rei tem,
mais que qualquer um, uma dupla corporeidade: a de homem e a de poderoso,
um corpo biológico e um corpo político. Os reis se sucedem não tanto pelas
regras de descendência, mas por encarnarem uma mesma corporeidade
mística – o poder – provisoriamente ligada a seu corpo físico. Por isso, a
******ebook converter DEMO Watermarks*******
medicina moderna faz verdadeiros malabarismos para manter em vida os
corpos em que o poder se encarna: Franco, Truman, Salazar, Tito... Os chefes
continuam a governar mesmo depois de fisicamente incapacitados
(Pompidou, Salazar, por exemplo) e mesmo depois de mortos: em
Madagascar, entre os sakalave (Baré. 1977), em ritos de possessão e transes
os reis mortos falam por meio de "possuídos reais" e constituem um poder
paralelo ao do rei vivo, a confirmar o poder deste. Se não são cultuados,
castigam os vivos com infelicidades, doença e pragas.
À suprema imortalidade, o supremo poder. Mais que qualquer morte, a do
chefe pode ser simbolicamente a da sociedade. Os mbede dizem que o nkani
é uma grande árvore, que nunca cai sozinha. Por isto é necessário sacrificar,
produzir estruturalmente a desgraça que poderia ocorrer de outro modo: para
que o corpo do chefe não toque a terra, são sepultados juntos alguns escravos
(Alihanga, 1979). Outros povos buscam o contato máximo do corpo do rei
com a terra sobre a qual a sociedade vive e, com este fim, fragmenta-se o
cadáver real e se o distribui pelo território (Halfden, da Noruega no século
IX; os reis de França, distribuídos por diversas igrejas da Île de France). Às
vezes, o corpo do rei é queimado, pulverizado e espalhado pelo território.
Freqüentemente é inumado em espaços que se transforma em símbolos do
espaço total.
À morte do supremo poder corresponde a suprema vulnerabilidade do grupo.
Roberto DaMatta (1979: 123) presenciou o drama que teve lugar
quando o presidente Kennedy foi assassinado, imediatamente ocorrendo
uma espécie de supressão do individualismo, com a nação americana
tomando consciência de que era muito mais do que uma associação de
indivíduos. A morte de Kennedy, assim, deu consciência de um algo
acima das pessoas que o assassinato representava: a unidade de valores e
idéias, sem a qual a existência mesma das vontades individuais não
existe. Eu estava em Cambridge, Massachusetts, quando esta verdadeira
catástrofe ocorreu. Ali , onde o mundo parecia totalmente
compartimentalizado, inclusive pela ideologia cosmopolita dada por
Harvard, o universo social transformou-se. Pela tarde, no dia do
assassinato, e sob a comoção do advento, pessoas se falavam e se
abraçavam chorando juntas. O mundo impessoal e individualizado
sucumbiu sob o peso do todo e da imprevisibilidade da história....
Compreende-se, então, o porquê de a investidura do novo chefe ser
normalmente uma ocasião de festa e de alegria: simbolicamente, é o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
restabelecimento da ordem e o renascimento em uma nova sociedade. Por
isso, os mbundu de Angola enterram o corpo do rei (Maertens, 1979) de
modo a poderem vigiar a queda de seu crânio, por obra da decomposição, em
uma bacia colocada diante dele. Quando a queda se dá, num ambiente de
excitação o túmulo é definitivamente fechado e o cadáver do rei deixa de
ameaçar: seu corpo místico foi definitivamente separado de seu corpo
biológico.
O poder se apropria da morte construindo mártires e heróis e definindo
modelos de morrer – rentabilizando, enfim, a seu favor, o evento terminal da
vida de seus súditos e por esse caminho modelando toda a existência deles.
Mártires e heróis não temem a morte: fazem dom de suas vidas à comunidade
e nela sobreviverão. Heróis e mártires fizeram a história e com suas mortes
fizeram ou mantiveram a vida do poder. Neles, a presença do grupo venceu o
medo da morte. Daí cada poder reverenciar os 'seus' mortos seja nos
monumentos aos mortos das guerras mundiais, seja no Valle de los Caídos do
franquismo, seja no altar dos ancestrais.
O poder se introjeta nos indivíduos e rentabiliza suas mortes. Os camicases
eram cinco mil japoneses decididos 'voluntariamente' a se suicidar pela pátria,
projetando-se com seus aviões carregados de explosivos sobre objetivos
militares. Susumu Kijitsu, o aspirante dos camicases, 22 anos, escreve:
Eu vivo normalmente (...). A morte não me mete medo e minha única
preocupação é saber se eu vou poder afundar um porta-aviões
projetando-me sobre ele. Os aspirantes Miyazaki, Tanaka e Kimura,
meus companheiros, estão calmos e de bom humor; não se diria que eles
vão partir a qualquer momento para uma morte certa; eles passam o
tempo lendo e jogando cartas tranqüilamente... Eu não sei, meus
queridos pais, como lhes exprimir meu reconhecimento por me terem
criado durante vinte anos, e por me terem feito suficientemente robusto
para me permitir devolver a Sua Majestade Imperial a décima milésima
parte das graças que ela espalhou sobre nós... (Baechler, 1975: 221)
Mas todo poder implica uma estratégia: "nada de excesso em sua pressa de
morrer. Se você não encontrar o objetivo desejado, faça meia-volta. Você da
próxima vez terá mais sorte. Escolha uma morte que dê o máximo de
resultados" – aconselhava-se aos jovens no momento em que partiam para
suas missões.
Os camicases, porém, não eram apenas soldados especialmente
condicionados ao sacrifício. Eles representavam um dado cultural
******ebook converter DEMO Watermarks*******
amplamente presente nos meios militares japoneses: sistematicamente se
recusavam a tombar prisioneiros, a servir a outro senhor. Em agosto de 1942,
quando da tomada de Guadacanal, os marinheiros japoneses naufragados
recusaram-se a ser recolhidos pelos navios americanos. Alguns se deixaram
morrer, outros ficaram atirando até o fim. Muitos outros japoneses, em
diversas outras ocasiões, preferiram se suicidar, abrindo-se os ventres, ou
fazendo suas granadas explodirem sobre seus corpos. Em julho de 1945,
forças japonesas acuadas em Okinawa pediram um cessar-fogo, a fim de que
os soldados pudessem se suicidar com tranqüilidade (Baechler, 1975). Até
pelo menos cerca de trinta anos após o término da guerra, soldados japoneses
desgarrados de seus grupos e não informados do fim das batalhas foram
encontrados ainda com disposições guerreiras e mobilizados pela fidelidade
ao Imperador.
O carrasco e o poder são um par indecomponível. A sociedade intervém
sobre as leis da natureza não somente para reproduzir a vida, mas também
para se reproduzir e conservar o poder no lugar. A violência mortal está
presente em todos os sistemas sociais. Através dela, a sociedade antecipa a
seu favor as leis naturais concernentes à morte: infanticídio, gerontocídio,
pena de morte, guerras, sacrifícios...
Exemplo típico de introjeção do poder nos indivíduos e de apropriação destes
pela morte são os casos de falecimento provocados por "sugestão da
comunidade", para conservar a expressão de Mauss (1971): condenados pelo
poder, os indivíduos morrem realmente, porque se acreditam condenados,
perdidos pelo fato de haverem transgredido uma proibição. O social, por um
processo inconsciente, age sobre o físico, por intermédio do psíquico. A
morte vudu opera sem causas físicas constatáveis: deriva da exclusão do
grupo, da declaração da morte social, do incutir nos indivíduos a perda da
vontade de viver, que deprime os indivíduos, que lhes retira o apetite, que
lhes consome até o fim as energias físicas, que os priva dos pontos de
referência afetivos e intelectuais, desintegrando-os de tal forma que a partir
de um determinado ponto a morte passa a ser um simples detalhe biológico.
Como disse Lévi-Strauss (1967a: 194), "a integridade física não resiste à
dissolução da personalidade social": diante da condenação coletiva, o
indivíduo se transforma em seu próprio carrasco.
Nos casos menos 'perfeitos' de condenação à morte, a sociedade pode delegar
o poder de carrasco. Em Tikopia, informa-nos Firth, o condenado não é
executado. Ele é colocado em um barco e obrigado a dirigir-se para o alto-
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mar em péssimas condições de navegação. Se não voltar, a sentença terá sido
executada. Se voltar, é porque os deuses estavam com ele: escapa à morte,
seu crime é esquecido e ele é reintegrado à coletividade: um poder 'maior' o
absolveu. Nos casos mais comuns, a sociedade delega seu poder de carrasco a
um de seus membros: este faz a justiça, em nome da lei, em nome do rei.
Todos os outros homicídios são reprimidos por tabus, regras jurídicas,
convenções ou ritos religiosos: cultura alguma os considera coisas
insignificantes. Mas os homicídios praticados em nome do poder são
diferentes: não são assassinatos, são 'justiça'.
O interesse do poder pela vida dos homens é também apropriação da morte
deles. Poder algum admite a liberdade de suicídio. Vê nela uma afronta
perigosa e intolerável: a vida e a morte do escravo pertencem ao senhor. Em
toda parte onde exista a instituição penitenciária, um dos cuidados mais
presentes é o de retirar dos prisioneiros todas as possibilidades de que se
evadam de modo tão radical. É preciso que a morte seja controlada pelo
poder e que seja dada por uma autoridade: são numerosos os casos de
proibição de que os condenados à morte se suicidem (o que se procura evitar
a todo custo) e os casos inversos, mas idênticos sob o prisma do poder, de
condenação à morte de indivíduos que falharam em suas tentativas de
suicídio. Quando não chega a este cúmulo de condenar à morte os suicidas
fracassados, o poder, para vingar-se dos profanadores, freqüentemente
preferiu condenálos à vida: amputando-lhes as mãos, jogando-os nos porões
das galeras, confiscando-lhes os bens. Pronunciar a pena de morte seria
satisfazer o desejo dos 'criminosos'.
A Igreja Católica sempre fez do suicídio um pecado grave: Judas, segundo
ensinava a doutrina tradicional, é o único homem que se sabe seguramente no
Inferno, não por ter traído Cristo, mas por se ter suicidado. Na Idade Média,
ela permitia a mutilação do corpo do suicida, a confiscação de seus bens em
favor do senhor, a privação de sepultura em terra consagrada e a recusa de
preces em sua intenção. O suicídio, na França, foi considerado um crime até
depois da Revolução. Na Inglaterra, a legislação previa uma condenação
posterior: o corpo era exposto, pendurado em uma estaca na rua principal, as
propriedades do suicida eram confiscadas, sua memória tornada indigna, seus
cúmplices eventuais condenados por assassinato... até 3 de agosto de 1961
quando esta lei foi revogada e os envolvidos em uma tentativa de suicídio
passaram a ser passíveis de até 14 anos de prisão.
O que no suicídio mais provoca o poder é que este reconhece naquele uma
******ebook converter DEMO Watermarks*******
manifestação de liberdade humana. Por esta razão, quando atribui a um
condenado uma certa dignidade, o poder pode conceder-lhe a 'vantagem', o
'privilégio' de executar-se a si mesmo, isto é, de suicidar-se. Em Roma, o
suicídio era uma prerrogativa dos membros das elites, que poderiam
beneficiar-se dele e preservar algo de sua dignidade. Enquanto isso, quando
condenados, os escravos e as pessoas do povo deveriam necessariamente
perecer nas mãos do carrasco. Entre nós, este 'privilégio' foi dado a alguns
militares, que foram autorizados a comandar seus próprios fuzilamentos. Mas
estas são exceções, através das quais o poder se preserva diante dos olhos dos
que lhe estão submetidos, evitando demonstrar uma vulnerabilidade que
poderia ser deduzida da condenação de um poderoso à morte.
Se o poder incute nos parentes de um suicida um certo sentimento de
vergonha e se, de acordo com as culturas, decreta a impureza ritual deles,
aqueles que se deram morte em nome dos valores cultuados pela
coletividade, os suicidas altruístas, são dignos, não obstante, do respeito
comunitário e credores de solenes homenagens e recompensas. O poder, às
vezes, institucionaliza o suicídio, retirando da circulação social os indivíduos
que cessaram de rentabilizar em seu favor e em favor de sua reprodução. É o
caso dos esquimós, que já evocamos, que acreditavam que um homem,
oferecendo sua vida, poderia salvar a de seu filho ou de seu neto. Entre eles
os velhos que pesavam sobre a economia do grupo chegariam mais
rapidamente ao paraíso – que concebiam como um mundo sem frio nem fome
e no qual eles teriam um lugar especialmente favorável – caso dessem suas
vidas à comunidade. Ou ainda, o poder postula o suicídio como solução
honrosa às próprias contradições que impõe à vida dos indivíduos: assim,
entre os sara, os nigo e os luba (Maertens, 1979), o suicídio da viúva é a
solução para o incesto simbólico que ela seria obrigada a cometer se fosse
constrangida a retornar à casa de seu irmão.
Todo suicídio é uma tentativa mais ou menos institucionalizada, segundo as
culturas, de solucionar situações contraditórias que estas culturas oferecem a
seus membros. Recurso tipicamente humano, que não se pode encontrar nem
entre os animais, nem entre os homens destituídos de toda forma de
consciência, nem entre as crianças muito novas, o suicídio está
constantemente disponível aos seres humanos: contrapoder, a desafiar o
poder.
Para cada cultura, as suas contradições e seus métodos de solução pelo
suicídio: em Tikopia, o marido se mata eventualmente se sua mulher se
******ebook converter DEMO Watermarks*******
recusar a permanecer no domicílio conjugal; a mulher pode se matar em caso
de infidelidade, uma mulher solteira grávida se o amante se recusar a
desposá-la. Em Trobriand, por causa da revelação pública de transgressões
das regras de exogamia e por causa de adultério; os navajo e os mataco, por
ciúme e querelas conjugais; entre os chuckchee, que praticam a comunidade
de mulheres com os amigos, estas podem se matar se não estiverem de
acordo com o parceiro que lhes for imposto. No Ocidente capitalista, por
dívidas ou por conservação da honra.
Em Trobriand conhecem-se dois métodos básicos de suicídio: o
envenenamento e o lo'u (jogar-se do alto de um coqueiro). Em Tikopia, as
mulheres jovens se jogam na água durante a noite em região infestada de
tubarões, os homens jovens pegam uma canoa e ganham o alto-mar e os
adultos se enforcam. No Japão, os aristocratas praticavam o seppuku, espécie
de harakiri que aprendiam desde a infância, cujo gesto sabiam realizar com
extraordinária precisão; os subalternos tinham a cabeça cortada por um
auxiliar de suicídio (hatamoto); nas camadas médias da nobreza, o indivíduo
se abria o ventre com um punhal e seu melhor amigo o decapitava. As
mulheres não tinham direito ao seppuku: abriam a jugular com um pequeno
punhal que os pais lhes presenteavam por ocasião do casamento. Nos Estados
Unidos, as armas de fogo são preferidas pelos homens, os venenos pelas
mulheres; na França, os homens preferem se enforcar e as mulheres se afogar.
Em todo suicídio existe uma dimensão de poder: ele é sempre contra algo,
contra alguém, por alguma coisa. Na China, a mulher, inteiramente
subordinada à sogra e não podendo divorciar-se, via-se diante de duas opções
em caso de conflito grave: fugir para a cidade ou suicidar-se. Por este último
caminho, transformava-se em espírito capaz de se vingar e provocava
protesto da parte de seus consangüíneos que exigiam reparação. A tentativa
de suicídio era um instrumento de sobrevivência, o único praticamente à
disposição de uma mulher para enfrentar o poder de sua sogra. Esta via na
nora, por seu lado, um perigo potencial, porque o suicídio que ela ameaçava
poderia tornar praticamente impossível encontrar casamento para seus outros
filhos e filhas. No Japão, se um nobre se sentisse ofendido por outro nobre
poderia praticar harakiri diante da porta de seu ofensor, para lavar a honra.
Este último teria duas alternativas: ou se matava também ou ficava desonrado
– nos dois casos, o primeiro teria atingido seu objetivo, isto é, a vingança. Em
Trobriand o suicida do alto do coqueiro pode se dirigir à comunidade reunida
ao pé deste, reconhecer a culpa, mas ao mesmo tempo acusar, mobilizando a
******ebook converter DEMO Watermarks*******
solidariedade de seus parentes e amigos contra os acusados, provocando
freqüentemente vinganças.
Esta manipulação da própria-vida-própria-morte é um meio de agir as
contradições em que o poder coloca os indivíduos, ou em que os indivíduos
se colocam em virtude das contradições do poder. Mas é também um meio
pelo qual os indivíduos manipulam o poder e o enfrentam: ameaçando
eliminar a matéria-objeto sobre a qual ele se aplica e se exerce e, no caso
extremo, criando senhores sem súditos, aniquilando o poder em sua base. É
esta dimensão de liberdade da coragem do suicídio que está na raiz da
rebeldia das comunidades que preferiram a morte à submissão, seja pelo
suicídio coletivo, seja pela derrota diante do inimigo, seja pela vitória
libertadora. Por causa dessa dimensão de liberdade, silenciosamente
esquecemos, depois do estardalhaço produzido por nossa imprensa, os
novecentos cadáveres de Jonestown, Guiana, dos quais muitos foram
encontrados ainda de mãos dadas. E os acusamos, além disso: "fanáticos",
"idiotas iludidos"...
Existe, portanto, uma relação íntima entre morte e poder, mas tal relação não
se reduz à simples questão de exercício ou de controle dos meios de exercer a
violência. A possibilidade de levar o dominado à morte é um instrumento de
exercício de poder apenas na medida em que o dominado reconheça na vida
sob o poder alguma coisa preferível à morte – reconhecimento este que, como
vimos, não é, absolutamente, universal. Na medida em que o
desaparecimento do dominado elimine o objeto sobre o qual o poder se
aplica, compreende-se que a morte seja também um instrumento de
contrapoder, e que o poder se defina por uma dialética complexa entre a vida
e a morte, que não pode ser descrita de maneira simples nem por fórmulas
gerais.
Essencialmente, diríamos que todo poder, para se exercer, exige que seus
súditos apresentem simultaneamente um certo temor e uma certa intrepidez
em relação à morte. Como temerosos da morte, os indivíduos subordinados
preferem a vida e, conseqüentemente, a situação de dominados, que faz parte
das condições de vida que o poder lhes oferece. Como destemidos diante da
morte, os dominados podem ser soldados à disposição do poder, oferecer-lhe
suas vidas, enfrentando aqueles que não aceitem as condições de vida que o
poder impõe.
Ambos os lados são necessários ao funcionamento do poder: medo e
coragem. Todavia, quando o poder desenvolve outros meios de se exercer,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
quando, como na sociedade industrial moderna, os recursos tecnológicos lhe
permitem abrir mão de que os indivíduos sejam soldados, o poder passa a
incutir em seus súditos o medo extremo da morte e a obrigá-los a ver na vida
o valor supremo: ela passa a ser preferível a tudo, qualquer que seja a sua
qualidade e dignidade. É este o problema que estudaremos nas páginas
subseqüentes.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Parte II - Da comunidade ao indivíduo
8 A comunidade medieval dos vivos e dos mortos
A morte, como vimos nos capítulos precedentes, é um produto social. Seja do
ponto de vista dos seus estilos particulares de acontecer aos indivíduos, seja
do ponto de vista de sua rejeição pelas práticas e crenças, seja sob o ângulo
de sua apropriação pelos sistemas de poder, a morte é um produto da história.
Ao mesmo tempo, a história, tanto quanto produto da vida dos homens em
sociedade, é resultado da morte deles. As sociedades se reproduzem porque
seus membros morrem. Têm história porque não se reproduzem exatamente
como eram antes. Atingem novos estados porque, de certa forma, morrem
para seus estados anteriores. Por isso, a morte tem um lugar de relevo na
feitura e na interpretação da história. E a história, de sua parte, é a grande
medida produtora de morte: das mortes-eventos e das concepções sociais que
tentam compreendê-las e domesticá-las.
Nas páginas que seguem estaremos preocupados com as relações entre a
morte e a história no Ocidente. Tentaremos apreender, a partir da Idade
Média, os movimentos das transformações vividas e concebidas que
conduziram à morte tal qual nós a vivemos e a concebemos em nossas
sociedades contemporâneas e a partir de onde poderemos divisar certas
tendências futuras, já esboçadas no presente, apontando para uma
configuração inteiramente nova da morte. Essa representação inteiramente
nova comporta um significado antropológico também inteiramente novo: pela
primeira vez uma sociedade se dispõe a negar a morte em seus sistemas de
representação, simplesmente se recusando a representá-la, silenciando sobre
ela, fazendo como se a morte não existisse.
Nós acabamos de ver que os sistemas de compatibilização da vida e da morte,
que fazem o tudo conviver com o nada, o aqui com o além, e assim por
diante, são eminentemente paradoxais. Mas, um sistema que represente pelo
silêncio é o cúmulo dos paradoxos. E o silêncio sobre a morte em uma
sociedade que tem a morte como sua realidade mais barulhenta é o paradoxo
dos paradoxos. Lancemos um olhar sobre a história desses paradoxos.
As imagens que os cristãos se fizeram da morte, da vida e da imortalidade
variaram no tempo. No mundo medieval, os contrastes, os cortes e as
oposições que caracterizaram as épocas seguintes da história das
mentalidades ocidentais se manifestavam de maneira inteiramente diferente.
Nos espíritos da época, uma rede cerrada de correspondências entre a
anatomia e a fisiologia humanas, entre as diferentes idades da vida e o tempo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
cósmico, remetia a um sistema mais amplo de correspondências entre o
microcosmos e o macrocosmos, entre a individualidade, a sociedade e o
universo. No corpo humano via-se em escala reduzida uma representação da
ordem cósmica. Um sistema de classificações estabelecia um conjunto de
interdependências e de interinfluências entre os diversos ritmos temporais da
natureza (fases da vida, signos do zodíaco, estações do ano...), as qualidades
sensíveis (estados da matéria, temperaturas, cores...) e uma classificação de
temperaturas, humores e condições humanas.
Até o século XI, quando os primeiros signos de uma concepção individualista
da morte começam a aparecer, a morte, e tudo o que lhe dissesse respeito, era
vivida coletivamente e concebida como questão comunitária. A imagem
imperante até então, e vigente também depois, era a de um laço contínuo
entre vivos e mortos, unidos na Terra e unidos na eternidade, evocado nos
sermões dominicais. Para os cristãos dos primeiros séculos a morte era o
caminho para a ressurreição. Mas tratava-se ainda do "creio na ressurreição
da carne", que era uma concepção inteiramente diferente de pensamentos
vigorantes alguns séculos depois, baseados na oposição platônica entre o
corpo e a alma e que conceberiam a ressurreição como concernente aos
aspectos imateriais da existência. Com efeito, o corpo é importante e deverá
ressurgir gloriosamente: por isso a cremação dos corpos é condenada,
considerada uma prática de bárbaros pagãos e castigo especial para certos
criminosos. O batismo era o verdadeiro passaporte para a vida eterna. A
salvação seria comunitariamente partilhada, sem necessidade de julgamento:
os corpos deveriam sair nus de seus sarcófagos, homens e mulheres
abraçados, acompanhados de anjos que lhes cantariam as glórias.
Enquanto aguardam o momento glorioso do fim dos tempos, os homens
dormem. Repousam, esperando o reencontro com Cristo, sentado em seu
trono sob um arco-íris, receptivo, envolvido por anjos, evangelistas e
patriarcas. Aqui embaixo, os vivos rezam pelo repouso dos mortos,
configurando um quadro que se estenderá, penetrando profundamente as
concepções populares sobre o além, até os nossos dias: se os mortos dormem,
permanecem de certa forma vivos. De fato, dormirão diversos séculos mas
acordarão sem se perceberem disto, pensando que dormiram apenas uma
noite. Uma lenda, que Philippe Ariès (1977: 31-2) retoma, fala de sete
mártires que ressuscitaram (segundo as versões) depois de 196 ou 370 anos
de sono, para assegurar os vivos da realidade da ressurreição: "os santos se
levantaram e se saudaram, pensando que tinham dormido apenas uma noite".
******ebook converter DEMO Watermarks*******
O imperador, os bispos, o clero se reuniram à multidão que envolvia os
santos para vê-los, escutá-los: "creiam-nos, é para vocês que Deus nos
ressuscitou antes do dia da grande ressurreição (...) nós estamos
verdadeiramente ressuscitados e vivemos. Ora, assim como a criança no
ventre de sua mãe vive sem sentir necessidade, nós também vivemos,
repousando, dormindo, sem experimentar sensações". Ditas estas palavras, os
sete homens repousaram a cabeça sobre a terra e dormiram de novo... (grifos
do autor).
O grande sono da morte começa antecipadamente. Logo que observam os
primeiros sinais de morte, as pessoas se preparam para recebê-la como se se
preparassem para dormir. É no leito que se morre como é no leito que se
dorme. Mas o sono desta noite tem um caráter ritual. À espera da morte, o
indivíduo se deita com o olhar voltado para o céu, corpo na direção do
Oriente, mãos cruzadas sobre o peito, numa posição que a estatuária fúnebre
fixará até os nossos olhares. Faz a sua profissão de fé, confessa os seus
pecados, pede perdão às pessoas que o circundam, ordena que sejam
reparados os males que porventura tivesse cometido, pede a Deus que proteja
os sobreviventes, escolhe a sepultura, faz em voz alta o testamento (que
passará a ser escrito por uma autoridade a partir do século XII). Até essa
época e ainda por alguns séculos, o moribundo preside a sua morte, diante de
uma assistência calma que contribui para que tudo corra bem.
Uma dor percorria os presentes, mas silenciosamente, sem o caráter
dramático que marcará a época romântica. Não se tratava de reter e reprimir
uma dor insuportável e intolerável: dor existia, mas insuportabilidade e
intolerabilidade não existiam. A cena é normal, aprendida, esperada... A
medicina e a religiosidade da época conhecem meios de ajudar o homem a
enfrentar dignamente seus momentos derradeiros: conhecem-se drogas contra
a agonia dolorosa, mas é ao moribundo que cabe decidir se elas serão
aplicadas; a presença de um sacerdote é habitual para os últimos sacramentos
e normalmente é o moribundo quem o fez chamar. O moribundo desempenha
um papel que já lhe é conhecido e por isso pode encená-lo lucidamente:
muitas vezes deve ter feito parte da assistência desse ritual. Desde crianças os
filhos podem ajudar os pais a morrer, mas sob a condição de não
atrapalharem a despedida com choros desmedidos. Todos deveriam manter
silêncio e conservar as portas e janelas abertas para facilitar a entrada da
morte.
É preciso que a morte seja consciente para que essa ritualidade funcione. A
******ebook converter DEMO Watermarks*******
morte se faz anunciar, os homens têm premonições, a magia procura
adivinhar. Diversos procedimentos mágicos pretendem descobrir se uma
doença é fatal, se vale a pena tratá-la ou se é melhor preparar-se para morrer:
uma flor jogada em uma bacia flutuará ou não, por exemplo. Se uma pessoa
por acaso não perceber que a morte se aproxima, os seus próximos têm o
dever de adverti-la: nossas preocupações contemporâneas sobre a
conveniência ou não de se dizer ao doente a verdade sobre seu estado são
nesse contexto inteiramente desprovidas de sentido.
Em todos os níveis, a morte é pública e comunitária. O detestável é morrer
em segredo, longe, inesperadamente, sem testemunha, sem cerimonial. Em
um mundo em que a morte é familiar, é a morte silenciosa, esquiva,
traiçoeira, repentina que é especialmente temível: é esta que faz medo, que é
considerada monstruosa, que porta maldição; é esta que dilacera a
sensibilidade dos sobreviventes, que é absurda e incompreensível; é esta que
é vergonhosa e difamante – expressão da cólera divina. A morte nesta época
é eminentemente aquilo que os espanhóis (Fribourg, 1979: 35) chamam la
cierta: ela vem lentamente, seguramente, é a coisa mais importante da vida de
um homem, tudo é vão que não conduza a uma morte feliz.
A morte repentina, a morte do condenado, a do suicida e a dos desviantes se
distanciam desta morte feliz. Aos condenados, recusavam-se até as atenções
religiosas e muitas vezes se os consideravam como já estando no inferno, o
que significava que seus sofrimentos poderiam, ou deveriam, começar aqui.
Em princípio, os corpos dos suplicados deveriam ficar pendurados, expostos
até a putrefação, embora pudessem – em teoria – ser enterrados em terra
sagrada: tendo pagado, não deveriam pagar duas vezes, raciocinava a Igreja
(Ariès, 1977: 51). Mas este princípio permanecia puramente teórico: os
homens não aceitavam, nessa época, limitar e encerrar os casos nas cortes de
justiça. Um suicida era jogado fora do cemitério; um traidor poderia ser
esquartejado e jogado aos cães ou, ainda, ser queimado; um supliciado era
queimado, deixado a apodrecer ou simplesmente coberto de blocos de pedra.
Os casos de recusa de sepultura são inúmeros: as crianças não batizadas, os
suicidas, aqueles que não fizessem suas Páscoas, os que tivessem duelado, os
pecadores notórios, os que não fizessem testamento, os excomungados, os
apóstatas, os hereges, os que se envolvessem em cismas religiosos... Todos os
que fossem enterrados em desrespeito às disposições canônicas deveriam em
princípio ser exumados e colocados em seus devidos lugares. Tratava-se, para
os espíritos da época, de personagens temíveis, verdadeiros representantes do
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mal, detestados por todas as forças humanas e divinas. A morte dos
condenados era um espetáculo público, como era pública toda morte. E como
a morte não era uma ruptura total com a vida, não viam contra-senso algum
na acumulação de diversas penas de morte sobre um mesmo indivíduo: o que
acontecesse ao morto depois da execução era parte da sentença. A fortiori,
aqueles cujos crimes fossem descobertos após a morte poderiam
perfeitamente ter seus cadáveres levados a comparecer diante dos tribunais,
mesmo que isso exigisse exumação.
Na Idade Média, a morte desempenha um papel imenso nas artes, nos jogos,
na decoração religiosa ou leiga, na pedagogia. A cada passo, pensa-se na
vida, na morte, na vida eterna. Quando a morte aparecia, era recebida com
simplicidade e se tomavam imediatamente as providências rituais de
tratamento do cadáver e de comunicar a todos a sua chegada. O morto era
envolvido em uma mortalha, um lençol de linho, precioso no caso dos ricos
ou muito simples no caso dos pobres. Em seguida, o corpo era colocado em
um ataúde ou sobre uma padiola, ficava algum tempo exposto diante da porta
da casa, até ser transportado ao lugar de inumação por um percurso pré-
determinado, contendo certas paradas, fixadas normalmente pelo costume ou
pelo morto, para ser depositado no sarcófago ou na sepultura. Durante toda
essa operação, é Philippe Ariès (Ariès, 1977: 168) quem o sublinha, "o corpo
e seu rosto permaneciam visíveis até o fechamento definitivo do sarcófago".
Normalmente os funerais comportavam quatro fases fundamentais, segundo
nos ensina o mesmo historiador. A primeira, a mais espetacular e a única que
apresentava um caráter dramático, consistia na expressão da dor e tinha lugar
imediatamente após a morte: "os assistentes rasgavam suas roupas,
arrancavam a barba e os cabelos, ralavam o rosto, beijavam apaixonadamente
o cadáver, caíam desmaiados e, no intervalo de seus transes, faziam elogios
ao defunto" (Ariès, 1977: 86-7). A segunda parte era a única religiosa: a
absolvição, dita sobre o moribundo por um sacerdote e seu cortejo e repetida
mais tarde sobre o cadáver. A terceira era o cortejo fúnebre: depois da
absolvição, quando as manifestações de dor se tivessem acalmado, envolvia-
se o morto em sua mortalha e se o transportava ao lugar de inumação,
acompanhado de alguns de seus amigos. Era uma cerimônia eminentemente
leiga, na qual em princípio não havia sacerdotes. A quarta parte, enfim, era a
inumação propriamente, "breve e sem solenidade".
Os funerais são, durante toda a primeira Idade Média, dominados pela
expressão ritual de dor e de elogio do defunto, bem como pelo cortejo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
fúnebre até a sepultura. Tais ritos são eminentemente civis. A participação
religiosa é importante, mas não possui ainda o caráter dominante que
começará a ter a partir do século XVII, quando ela vai se fazer sentir
sobretudo nos dias que se seguiam à morte e ao enterro, sob a forma de
recitação de ofícios e celebração de missas.
Esta laicidade das representações da morte está presente especialmente na
arte macabra e na ocupação social dos cemitérios. No terreno das artes, o
tema da morte se manifesta na 'dança macabra'. Aí temos uma imagem de
morte em que ao menos tendencialmente o caráter de iniciação a uma nova
vida, de passagem para recomeçar de novo e de ingresso na transcendência é
obscurecido, para mostrar fundamentalmente o quadro do evento da morte, o
fim da vida terrena e o que isto deixa atrás de si: cadáver e putrefação. A
intenção inicial das artes e da dança macabra é recordar que a vida mundana é
transitória e vã e, por esta estratégia de demonstração dos horrores
angustiantes da morte, chamar a atenção para a vida do além e
simultaneamente apontar para um certo fascínio da condição de ser vivo.
Fascínio da condição de ser vivo, sobretudo através da condenação da vida
pecaminosa e através da profunda igualdade que derivava, aos olhos da
época, da sujeição de todos à morte: a certeza de que ela levaria a todos a
mesma sorte.
A visão e a iconografia da morte durante a Idade Média, até por volta do
século XVI, é essencialmente alegre e folclorística, envolvendo uma espécie
de grande festa comunitária e igualitária: reis, bispos, príncipes, burgueses,
plebeus, todos iguais diante da morte. Esta representação contém uma
dimensão irreverentemente contestatária da ordem social dos vivos, marcada
pela desigualdade social da riqueza, do nascimento e do poder e se espelha na
representação realista do corpo humano enquanto se decompõe. Ela é
diferente das representações, freqüentes nos séculos XVII e XVIII, de
esqueletos e caveiras que virão a desempenhar uma outra função ideológica.
Aqui, nas cenas de danças macabras, os vivos dançavam com a morte e com
os mortos, geralmente nos cemitérios, produzindo uma junção dos vivos com
os mortos e com a morte que terminava na proclamação de que esta última é
Rainha. A morte na dança macabra não é representada como uma figura
antropomórfica especial mas como uma consciência macabra de si, como
uma lembrança constante da tumba e dos processos naturais, considerados
como parte integrante da vida, como uma confrontação do homem com sua
imagem em um espelho realista (aliás, trata-se de uma época em que o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
espelho tem grande importância na vida cotidiana). A morte, em suma, é
concebida em uma atmosfera de familiaridade e sensualidade.
Essa aproximação entre vivos e mortos é também vivida nos cemitérios
medievais. Em primeiro lugar, pela localização deles. Apesar de sua relativa
familiaridade com os mortos, os homens da Antigüidade ocidental os temiam
e os mantinham à distância. Eles praticavam ritos ao pé das sepulturas, mas
estes ritos eram sobretudo voltados à manutenção dos mortos em seus
devidos lugares, a fim de impedir que eles voltassem para ameaçar os vivos.
Enterrados ou incinerados, os mortos eram considerados impuros e a
proximidade deles significava risco de poluição. Por esta razão, o mundo dos
vivos e o mundo dos mortos deveriam ser mantidos radicalmente separados e
os contatos submetidos a minuciosos cuidados rituais. Tratava-se quase de
uma lei de ferro: nenhum corpo poderia ser inumado no interior das cidades.
Os cemitérios antigos, como na Via Appia de Roma, situavam-se sempre fora
das aglomerações, quer se tratasse de cemitérios coletivos (as catacumbas
cristãs ligam-se provavelmente a esta tradição), quer se tratasse de túmulos de
famílias ou indivíduos.
Era comum em Roma a individualização das sepulturas. Quase todos,
freqüentemente mesmo escravos, tinham um lugar de sepultura, lugar este
normalmente assinalado por uma inscrição expressando o desejo de conservar
a identidade do túmulo e a lembrança do falecido (Ariès, 1975). Os
sarcófagos de pedra freqüentemente comportavam, além dos nomes do
morto, o seu retrato. Mas, por volta do século V, esta configuração se
decompõe: as inscrições desaparecem, os retratos caem em desuso, as
sepulturas passam a ser inteiramente anônimas, os cadáveres são entregues à
Igreja para esperar a ressurreição e as sepulturas passam a ser coletivas ao
menos para os pobres.
Um momento chegou em que a distinção entre a cidade e a periferia (na qual
desde muitíssimos séculos se enterravam os mortos) começou a desaparecer.
Em parte, pode-se atribuir este movimento ao crescimento dos agregados
populacionais; mas as coisas não aconteceriam como aconteceram se
modificações profundas nas concepções de vida e de morte não se tivessem
feito presentes. Transparece aí o começo da suavização da repulsa que os
vivos tinham pelos mortos: eles vão ultrapassar os muros das cidades, vão se
estabelecer no coração destas, aproximar-se das igrejas e mesmo fazer-se
enterrar no interior delas. "Doravante", escreveu Philippe Ariès (1977: 43), "e
por muito tempo, os mortos deixarão inteiramente de fazer medo". A
******ebook converter DEMO Watermarks*******
sepultura isolada que é agora capaz de provocar temor; é o morto não
integrado na comunidade dos mortos (e dos vivos) que fará horror. Por volta
do século XIII as sepulturas romanas ao longo das estradas serão inteiramente
abandonadas e já se estará em pleno 'comunismo cristão' no que se refere ao
culto dos mortos.
De agora em diante pouco importará o lugar da sepultura, desde que se esteja
perto da igreja, enterrado em lugar santo. Nenhum monumento, nenhuma
inscrição celebrará a individualidade do morto. Os cristãos partilharam nos
primeiros tempos as opiniões correntes a respeito dos mortos e foram durante
algum tempo enterrados juntos dos pagãos nos mesmos cemitérios. Passaram
posteriormente a ter seus cemitérios próprios, ao lado dos cemitérios pagãos.
Agora, localizam-se ao lado, ou dentro de seus templos. O que agora importa
sobretudo é a fusão tranqüila na massa dos mortos, sob a proteção dos santos
mártires e da divindade, aguardando o momento da grande ressurreição.
A inumação nas igrejas, como observou Daniel Ligou (1975), é
essencialmente um fato católico-romano. O judaísmo não somente proibia a
inumação nas sinagogas, como também não admitia a presença de cadáveres
no interior dos templos, devendo as orações pelos mortos ser proferidas nos
cemitérios. Tal proibição será reencontrada nas Igrejas da Reforma (mesmo
se numerosas exceções para os poderosos tenham sido historicamente
concedidas) e na Igreja Ortodoxa (em que o enterro dentro dos templos era
um privilégio das famílias reais sérvia, romena e russa).
Do mesmo modo que a aproximação entre os cemitérios e as cidades, o
enterro dentro das igrejas é inicialmente um gesto de contravenção do Direito
Romano: somente a partir do século IV os bispos e os papas adquirirão o
direito de serem inumados no interior dos templos e os imperadores cristãos o
de serem enterrados à entrada dos mesmos. Estes privilégios
progressivamente serão estendidos à massa dos comuns e transformar-se-ão
em modelo básico de sepultamento durante a Idade Média (acontecia mesmo
de se construírem igrejas para fundar um cemitério), até por volta de 1750.
O enterro ad sanctos está ligado provavelmente ao costume vigorante entre
os antigos cristãos de fazer refeições funerárias sobre os túmulos em que os
mártires estavam enterrados. Esta prática evoluiu para a construção de
edifícios funerários, nos quais se celebravam missas em homenagem a estes.
Tal devoção está associada ao culto das relíquias e, por este caminho, à
vontade dos fiéis de serem enterrados perto delas, a fim de assegurarem a
proteção dos santos, não somente em relação ao corpo, mas também no que
******ebook converter DEMO Watermarks*******
concerne ao ser integral, tendo em mente o dia do Grande Despertar.
Cada um tentará ser enterrado o mais próximo possível dos túmulos dos
santos ou de suas relíquias, em um espaço sagrado que compreendia a igreja
– que evidentemente não poderia comportar todos os mortos –, o claustro e
suas dependências, assim como o terreno que envolvia a igreja. É a esses
lugares que se faz referência quando nos testamentos se designa o lugar de
sepultura: "na nave central de tal igreja", "entre as duas cruzes de pedra"...
Como estes lugares não são ilimitados, não é difícil supor que os 'melhores',
isto é, os mais próximos às relíquias, fossem reservados aos poderosos e que
os pobres fossem empurrados para os limites do terreno santo, onde ficavam
as fossas comuns.
De qualquer forma, somente nos casos já evocados se recusava uma sepultura
ad sanctos. No fim da primeira Idade Média, por volta dos séculos X e XI, o
túmulo visível perdeu a supremacia para o enterro perto dos mártires. Já não
é mais necessário, nem para o bem do corpo nem para o bem da alma, que os
restos sejam etiquetados e associados a um nome e a um lugar particulares,
individuais e singulares – salvo evidentemente o caso dos santos, que serviam
de ponto de referência para todo o resto, e o de algumas pessoas, mais ou
menos associadas aos santos, cujos monumentos funerários eram
excepcionais, não coincidindo sempre com o lugar de inumação do corpo. O
cemitério e a igreja acabam por se associar mesmo no nível do vocabulário,
terminando as palavras que os designam por serem quase sinônimas: Philippe
Ariès (1977) se refere a um texto da época que define um cemitério como
uma igreja onde os defuntos são enterrados. Vê-se pois, entre os séculos VIII
e X, a formação de um culto dos mortos interessante, limitado às catedrais, às
abadias e às dependências destas, que deverá durar até o fim do século XVIII
sem deixar muitas marcas nas representações posteriores.
Até o século XVIII, o cemitério é sempre um pátio retangular associado às
igrejas, que recebe os corpos das pessoas que não podem pagar as taxas
elevadas de enterro no interior destas. Entre as paredes que cercam esse pátio,
uma é sempre a da igreja e as outras três freqüentemente comportam
carneiros. Sobre esses carneiros havia um ossuário no qual crânios e
membros eram dispostos segundo um projeto artístico definido: motivos
decorativos que vão desaguar nas artes barroca e macabra. Estes ossos
normalmente provinham das sepulturas coletivas, largas e profundas de
vários metros, que periodicamente eram renovadas; os corpos eram
amontoados em uma sepultura, que era fechada quando estivesse cheia para
******ebook converter DEMO Watermarks*******
que fosse reaberta outra mais antiga. Mesmo os ricos enterrados dentro das
igrejas acabariam, mais cedo ou mais tarde, nesta fusão artística de
esqueletos: nessa época não havia a nossa idéia moderna segundo a qual os
mortos deveriam ter um domicílio pessoal, de que fossem os proprietários
privados ou familiares à perpetuidade (Ariès, 1975).
Devemos observar, entretanto, que neste cenário religioso que os cemitérios
constituíam podia-se assistir ao desenrolar de cenas extraordinariamente
leigas, decorrentes da familiaridade com a morte e da aceitação dela como
perfeitamente integrada à ordem da natureza. Por diversas vezes documentos
emanados das autoridades procuraram coibir ou proibir o que consideravam
uma forma de comportamento demasiadamente livre para com os mortos e os
cemitérios. Tanto as altas autoridades eclesiásticas como o clero em geral
pareciam não aprovar tais formas de comportamento. Mas a repetição das
advertências e das proibições deixa-nos supor que elas fossem ineficazes e
que a população continuasse a agir do mesmo modo. A quê, especificamente,
se opõem essas autoridades? Em 1231, por exemplo, o Concílio de Rouen
proíbe que se dance nos cemitérios, sob pena de excomunhão; um outro, de
1405, retoma a proibição de dançar e interdita também os jogos de toda
espécie, as mímicas, os espetáculos de malabarismo, os músicos, o trabalho
de charlatães (Ariès, 1975).
O lugar dos mortos era aquele em que se vivia. O cemitério, o centro da vida
social. Com a igreja, ele não constituía só ou principalmente o lugar onde se
enterravam os mortos: até o século XVII, é uma praça pública, um sítio onde
se comercia, em que as proclamações e todos os modos de informação
coletiva têm lugar. Aí se passeia, brinca-se e diverte-se. Em suma, ele o lugar
mais barulhento, movimentado e confuso da cidade.
Espaço aberto a todos, envolvendo a casa comunal que a igreja representava,
no cemitério as pessoas se reuniam para as manifestações profanas e sagradas
que a igreja não pudesse comportar. Cada domingo e dia de festa o povo se
reunia às sepulturas e com a ajuda de fantasias bizarras fazia uma dança da
qual podiam participar todos os que tivessem vontade: a pessoa que conduzia
a dança representava a morte e os participantes a seguiam, fazendo gestos e
caretas, formando uma espécie de procissão que fazia diversas vezes o
circuito das sepulturas. Considerando que tais práticas se davam também nos
cemitérios do campo, compreende-se que elas se devam a motivos diferentes
dos de uma eventual falta de espaço nas cidades.
Na realidade, essa coexistência do profano e do sagrado – esta familiaridade
******ebook converter DEMO Watermarks*******
com o que antes e depois no Ocidente se considerou como objeto digno de
expulsão – significa que, para os espíritos da época, os mortos não
precisavam ser distinguidos por uma deferência especial. Hoje, essa
familiaridade pode nos parecer indecente e pornográfica. Entretanto, nessa
fase da Idade Média as pessoas freqüentavam e habitavam os cemitérios sem
se impressionar absolutamente, sem se incomodar com a proximidade das
grandes fossas comuns que ficavam escancaradas até que se enchessem, sem
se perturbar com as exumações, misturando-se às cerimônias fúnebres que aí
se verificavam. A visão e o cheiro do cemitério não impediam absolutamente
que aí se localizasse freqüentemente o forno comunal de pão: a proximidade
entre alimentos e cadáveres mal enterrados, exumados, expostos – que
causaria extremo nojo em nossos contemporâneos – deixava os homens
medievais insensíveis. É a partir do século XVI que estes sentimentos
começarão a se transformar, lentamente, encontrando resistência na
população. No século XVIII, restarão alguns traços das atividades
econômicas que se desenvolviam nos cemitérios, mas as grandes feiras
medievais já haverão desaparecido deles: começará a grande transformação
que em nome da higiene se aplicará sobre o cemitério e a morte.
Em resumo, a cidade medieval herdou dos romanos a prática da inumação,
que se fazia em cemitérios rústicos ou em túmulos independentes, em pleno
campo, ao longo das estradas. Por volta do século VIII, a inumação exterior
às cidades havia praticamente desaparecido e começava a ser realizada dentro
dos limites urbanos, junto aos túmulos dos mártires, em terrenos sagrados. Na
prática, os enterros se davam dentro das igrejas para os ricos e nos seus pátios
para os pobres. O cemitério era o centro da vida social, o que representa uma
enorme diferença em relação às práticas anteriores e posteriores: o cadáver
não inspira mais repulsa, a morte é "a grande irmã, ainda mais fiel que
inflexível" (Dumas, 1976: 503). Agora os mortos moram dentro das cidades.
São vizinhos dos vivos. Fundem-se anonimamente na comunidade dos vivos
e dos mortos. As inscrições funerárias que identificavam os mortos
individuais começarão a reaparecer somente a partir do século XII – depois
de oitocentos ou novecentos anos de quase completo anonimato.
O movimento de valorização de individualidade pôde ser seguido a partir de
algumas pistas fundamentais: o ressurgimento dos túmulos individuais, o
reaparecimento das inscrições funerárias, a representação da figura do morto
na estatuária fúnebre, as transformações sofridas pelos testamentos e pelas
concepções relativas à passagem à vida eterna. Trata-se de um movimento
******ebook converter DEMO Watermarks*******
lento, mas contínuo e contendo implicações profundas, diretamente
associadas ao conjunto de transformações que se operavam no nível do
sistema econômico. Destas últimas, as concepções contemporâneas relativas
à morte serão o desdobramento quase direto. Podemos percebê-lo, por
exemplo, entre os séculos XII e XVI, materializado no reaparecimento dos
túmulos individuais.
Sabemos que os túmulos individuais visíveis se tornaram raríssimos durante a
alta Idade Média: eles eram um hábito romano, concernente muitas vezes aos
próprios escravos, que se tornou dispensável durante a Idade Média, quando
não se considerava necessário nem a especificação do lugar da sepultura nem
sua individualização por um epitáfio ou uma inscrição qualquer. Como
observou Robert Auzelle (1965), o túmulo individualizado, quer pela
escritura quer pela representação da figura do morto, era um luxo. Para o
mortal comum, a única marca que aponta para uma sobrevivência simbólica
no aqui é uma marca coletiva, a grande cruz plantada no meio do terreno de
inumação, sobre a qual periodicamente se escrevia um epitáfio coletivo,
dirigido a todos os vivos por todos os mortos e ainda presente nos cemitérios
das cidades do século XIV.
O desenvolvimento dos túmulos individuais e individualizados expressa uma
tentativa de assegurar a permanência do morto não mais somente no céu, mas
também na Terra. Traduz uma intenção de proclamar aos sobreviventes as
glórias imperecíveis do morto, glórias provenientes tanto da prática das
virtudes cristãs, como da erudição humanista, das proezas cavalheirescas ou
da graça divina. Nos séculos XV e XVI, observou Philippe Ariès (1975), as
efígies associadas às sepulturas serão já fabricadas em série por artesãos
especializados, segundo padrões socioeconômicos determinados, com o
objetivo de ilustrar para os vivos o prestígio dos mortos. As placas que
continham epitáfios de poucas palavras metamorfosear-se-ão no século XVII
em verdadeiros resumos biográficos e passarão a ser o elemento importante
do túmulo, ainda mais importante que a efígie, e freqüentemente em
substituição a esta.
O túmulo visível não é simplesmente o signo do lugar de inumação. Como
escreveu Philippe Ariès (1975: 96-7),
ele é a comemoração do defunto imortal entre os santos, e célebre entre
os homens. Nestas condições, o túmulo visível era reservado a uma
pequena minoria de santos e de pessoas ilustres: os outros, quer tivessem
sido colocados na fossa dos pobres, quer no lugar da igreja ou do adro
******ebook converter DEMO Watermarks*******
designado para eles, permaneciam anônimos como outrora.
Uma característica interessante desse processo – que progressivamente vai se
tornando mais importante através de uma pululação de túmulos ao redor das
igrejas, nos cemitérios das cidades ou dos campos – é a nova concepção
funcional das sepulturas. Elas pretendem cumprir uma função de proteção:
são esculpidas ou construídas em forma de teto, favorecendo o escoamento
das águas de chuva fora da superfície de repouso do morto, afastando ao
menos simbolicamente o risco de infiltração capaz de corromper a
permanência e a integridade de um corpo que agora representa uma
identidade definida (Urbain, 1978). O teto é contemporâneo de uma outra
imagem que começa a nascer: a da sepultura como morada e, mais tarde,
como habitação familiar. A partir do século XV, a maior parte dos
testamentos expressará a vontade de ser enterrado na igreja ou no cemitério
em que outros membros da família estão enterrados: perto do marido, da
mulher, de filhos já mortos.
Não se trata ainda dos jazigos familiares dos séculos posteriores, mas do
despontar de um sentimento especial dos parentes em relação aos mortos: a
imortalidade terrena do morto não depende mais de ele ter sido um santo ou
uma pessoa célebre. Os epitáfios individualizadores das sepulturas exigem
destinatários vivos. O amor dos filhos, do cônjuge, dos parentes é a
contrapartida terrena da sobrevivência dos mortos e se expressa na
determinação dos vivos de perpetuar a memória dos entes queridos
desaparecidos.
Pouco a pouco, entre os séculos XV e XVII, a família começa a se 'apropriar'
do lugar de inumação e do monumento funerário, começa a 'privatizar' o
lugar e os destinatários das homenagens fúnebres, começa a 'acumular ' os
cadáveres dos parentes sob um teto único e começa a 'conservar' a lembrança
de seus mortos. Uma série de transformações liga entre si a prática
relativamente comum durante a Idade Média de construir uma igreja para
fazer um cemitério, o uso posterior de edificar uma igreja para nela possuir
um túmulo para si e para os seus e o costume dos séculos seguintes de
levantar jazigos familiares privados em cemitérios comunais.
Jean-Didier Urbain (1978) estabeleceu uma útil distinção entre a
'individuação' dos mortos e a 'individualização' destes. Sustenta que, embora
relativamente rara e residual, a individuação dos mortos é bastante antiga no
Ocidente e que até o século XII o tratamento simbólico dos mortos é
essencialmente uma questão de individuação: as sepulturas contém apenas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
brazões, símbolos genéricos de status e de pertinência social (atributos
cristãos, oráculos, espadas de cavaleiros) que não chegam a romper a
natureza fundamentalmente anônima dos túmulos. Mas a partir do século XII,
os mortos começam a ser individualizados e, no século XIII, o grande passo
será dado com a representação individual e realista do morto sobre sua
sepultura. O morto deixa de ser somente um indivíduo; passa a ser também
uma pessoa.
Entre os séculos XIII e XVII desenvolver-se-á progressivamente a prática de
designar por uma inscrição, uma pintura ou um monumento, o lugar preciso
da sepultura e a pessoa precisa a quem ela pertence. Isto está
extraordinariamente bem materializado no costume de se moldar uma
máscara reproduzindo o mais fielmente possível a fisionomia do morto, para
integrá-la ao conjunto de estátuas que constituem o monumento funerário.
Estas máscaras e estátuas representam o defunto deitado ou ajoelhado,
vivendo sobre o lugar onde jaz. Observemos que não se trata de um
morto/vivo qualquer: trata-se de uma pessoa muito particular, pois a
individualização é uma personificação. Segundo a expressão de Jean-Didier
Urbain (1978: 94-5), "sobre a base da refuncionalização radical da qual a
máscara mortuária é objeto – integrada à efígie ela se transforma em
significante da vida – os mortos se personalizam, se diferenciam de maneira
absoluta" (grifo do autor).
Modeladas sobre o rosto do cadáver e sendo realistas, as máscaras funerárias
comportam algumas mensagens implícitas. Os traços cadavéricos não são
reproduzidos com a intenção de causar terror nos passantes. São uma
fotografia instantânea e natural do morto, que se procurava fazer vivo. Não se
trata da representação do cadáver em decomposição das artes macabras
anteriores, nem do dormente que tranqüila e insensivelmente espera o grande
despertar: a máscara tenta apreender o momento mesmo da morte, da maneira
mais realista possível, e expressa uma reavaliação social deste momento,
apontando para sua interpretação futura como ponto de ruptura. Do
anonimato completo, passou-se às curtas inscrições sobre as sepulturas e às
máscaras realistas, em um processo de personalização do defunto que será
reforçado no século XVII e que desembocará em importantes práticas
contemporâneas.
É interessante, contudo, observar que estas práticas de moldagem de um
retrato realista do rosto do cadáver são em parte contemporâneas e em parte
imediatamente posteriores à transformação do rosto do morto em objeto
******ebook converter DEMO Watermarks*******
interditado à visão. De fato, até o século XII e mesmo até muito depois nos
países mediterrâneos, o rosto do morto permanecia descoberto e exposto aos
olhares: o morto era transportado diretamente ao sarcófago ou à sepultura
onde seria depositado com o rosto descoberto, mesmo que fosse um rico
envolvido em sua mortalha preciosa, mesmo que fosse fechado em um caixão
de madeira. Mas o corpo morto, que antes era um objeto familiar, evocador
da imagem do sono, doravante possui um poder especial: ele pode ser
representado mas não pode ser visto. É devorado por uma nova linguagem.
Paralelamente, duas outras tendências se desenvolvem: a generalização do
uso de caixões, em que os mortos serão fechados e subtraídos aos olhares
(não se trata simplesmente da ocultação do rosto, mas da ocultação do
cadáver) e a apropriação de tudo que diga respeito à morte pelo poder
religioso. Na seqüência dessas tendências, alguns séculos depois, o morto
será representado por um retrato feito quando estava vivo e as artes dos
funeral homes farão a exposição do defunto como se ele estivesse em seu
escritório de trabalho, como se estivesse falando ao telefone.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
9 Do grande despertar à pesagem da alma
Evocamos nas páginas precedentes o fato de que durante quase toda a Idade
Média o funeral, ou pelo menos o mais importante nele, era um cerimonial
eminentemente leigo no qual a participação da Igreja estava pontualmente
definida, limitando-se à imposição da absolvição ao morto (procedimento
cujo significado funerário era em parte amenizado pelo fato de poder ser
aplicado também ao moribundo, isto é, a uma pessoa ainda em vida).
A partir dos séculos XIII-XIV, todavia, os funerais passam a ser cada vez
menos civis e cada vez mais religiosos, até se transformarem, por volta do
século XVII, em um procedimento quase totalmente religioso. Através desse
processo o cadáver é integrado ao ritual religioso, generalizando-se o hábito
de se fazer celebrar missas para a salvação dos mortos e de transportar o
cadáver para o interior de uma igreja a fim de aí ser objeto de ritos de
despedida.
Mas, atenção: não se trata do cadáver tal qual era encarado nos séculos
anteriores. Trata-se de um cadáver fechado dentro de um caixão, subtraído
aos olhares. Ou melhor, retomando uma distinção de Jean-Didier Urbain
(1978), não se trata exatamente de um 'cadáver', mas de um 'corpo'
metaforicamente representado pelo caixão. Esta penetração do morto nas
igrejas, a exposição dos caixões diante dos altares, implica uma modificação
profunda das atitudes mentais: anteriormente os poderosos eram enterrados
dentro das igrejas; agora, antes de partir todos passam sob os olhos dos
sacerdotes e seus rituais. Além disso, nessa incorporação da morte pela
ritualidade oficial está expresso o reconhecimento pela Igreja das práticas
sarcofágicas individualizantes que então nasciam e que começavam a propor
preocupações novas com a retenção e a conservação da corporeidade, agora
associada à identidade pessoal do morto.
Durante o primeiro milênio, como já evocamos, a morte não era separação da
alma e do corpo, mas um sono profundo até o grande despertar, e a
'ressurreição da carne' era o reaparecimento de um ser integral. A partir do
século XII, essas concepções sobre vida no além começam a mudar:
adquirem o aspecto de uma separação – desta vida em primeiro lugar, dos
próximos em seguida. Passa a ser separação entre o corpo e a alma, entre um
corpo mortal e decomponível e uma alma eterna e personalizada que tornará
perene a individualidade do morto. Em 1648, um conselheiro do parlamento
de Toulouse escreverá em seu testamento, citado por Philippe Ariès (1975:
148): "eu dou minha alma a Deus, eu deixo meu corpo na igreja dos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Augustins, na sepultura dos meus". A valorização da individualidade pessoal,
a valorização dos laços familiares, a separação entre a alma e o corpo e as
tentativas de salvar estas identidades da destruição temporal, só podem ser
entendidas conjuntamente.
O inferno e a decomposição são os grandes horrores desse tempo. No século
XV, o fantasma da danação individual era brandido por todos os lados e em
todos os tons, através de imagens de morte e decomposição que traziam
consigo o perigo do desaparecimento da identidade pessoal. O devir dos
corpos se transforma no grande exemplo da pedagogia religiosa oficial, no
grande tema dos sermões dos sacerdotes: o corpo que se decompõe nas
sepulturas, o corpo supliciado de Cristo, o corpo que suporta as dores
produzidas pelas chamas do inferno... As ameaças do castigo eterno são
constantemente oferecidas àqueles que pela exasperação dos seus
sentimentos de serem indivíduos autônomos se esquecem de suas obrigações
sociais.
O inferno se transforma na grande instância repressiva e produtora de
obediência. Corpo e inferno formam um par nuclear de um discurso através
do qual a Igreja quer se dirigir às camadas populares e através do qual essas
próprias camadas pensam a obediência às leis terrenas e o castigo
correspondente à infração delas. Através da conjunção do corpo e do inferno,
a pedagogia eclesiástica obtém as imagens mais convincentes e eficazes para
se impor à sua audiência. O corpo neste mundo e o inferno no outro: eis os
dois pontos de ancoragem da dominação política.
Essa imagem do inferno é nova. O batismo já não é mais o verdadeiro
passaporte para a vida eterna. O grande dia não está mais em um futuro
longínquo, no despertar de um imenso sono tranqüilo. Ele se aproximou,
penetrou no quarto do moribundo. Entre os séculos XIII e XVI, uma nova
imagem de inferno passa a imperar. A visão apocalíptica do julgamento final
e da ressurreição dos mortos é cada vez mais coisa do passado. A pesagem
das almas e a decisão sobre a salvação ou a perdição eternas têm lugar agora
no momento mesmo da morte, em torno do leito do moribundo.
O julgamento divino é agora imediato e definitivo. A morte se transforma na
'última prova', durante a qual o indivíduo reverá toda a sua vida e poderá
recuperá-la pelo arrependimento de seus males, ou perdê-la definitivamente
pelo seu agarramento às coisas do aqui. O episódio da morte se transforma
em encenação de um tribunal: cada acontecimento da vida será pesado na
balança do Bem e do Mal, em presença de todas as potências do Céu e do
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Inferno. Na iconografia das artes moriendi dos séculos XV e XVI, do outro
lado da Trindade, da Santa Virgem e de toda a corte celeste, figura Satã e seu
exército de demônios monstruosos.
Aparece também nesta época o liber vitae, o livro da vida, que é um livro
simbólico, nas artes figurativas e na imaginação popular, destinado a
contabilizar as ações boas e más dos indivíduos e no qual cada indivíduo
reencontra a totalidade de sua vida materializada em uma única peça. Deus
conhece o conteúdo desse livro e julgará cada pessoa individualmente, pelos
seus méritos e deméritos particulares e pessoais.
Estamos já longe da ressurreição coletiva do século XII e anteriores: agora o
indivíduo se apresenta só diante do Grande Juiz. Até o século XIII, a cena
que se desenrolava no quarto do doente era solene e calma para ele. Ela
reduzia fundamentalmente as diferenças entre os indivíduos, porque a morte
era a mesma para todos e porque todos partiam em paz com os outros, com
Deus e consigo mesmo. Mas agora um elemento novo se apresenta: o medo
de não ser eleito, o pavor de ser discriminado, a angústia de ser julgado e de
que o demônio se aproprie do livro da vida.
O medo do além conseqüentemente começa a se manifestar em uma
sociedade que anteriormente não temia a morte e que vivia familiarmente
com ela: a reunião do momento da morte com o instante da decisão suprema,
temperada com dúvida e insegurança, transformou a morte em um evento
temível. A experiência da relação pessoal com Deus revelará a cada homem a
sua solidão profunda. A ameaça de sofrer um assalto do diabo, desejoso de
levá-lo para o inferno, incutirá em cada um o supremo pânico da agonia e da
morte.
Esta concepção judiciária do além está associada estreitamente a uma nova
concepção da vida como biografia particular. A existência de cada um é a
redação de um livro que conta uma história particular, da qual o episódio da
morte é ao mesmo tempo a última página e a solene apresentação dos
resultados àqueles que irão julgar. Esta última página é fundamental.
Escrevendo-a, o indivíduo poderá salvar-se ou perder-se definitivamente: ele
reverá sua vida inteira e será tentado ou pelo desespero e arrependimento de
seus erros, ou pela vanidade de suas glórias terrenas, dos prazeres vividos
sobre a Terra e do amor aos seres e haveres desse mundo. Sua atitude nesse
momento apagará todo o seu passado, suas ações boas e suas ações más,
condenando-o ou absolvendo-o. Até o último momento o indivíduo poderá
agir sobre sua biografia, porque ele é cada vez mais senhor dela, porque ela
******ebook converter DEMO Watermarks*******
não é senão o desdobramento no tempo de sua individualidade pessoal. O
olhar que a partir da última página o indivíduo lançará sobre sua existência
reforçará sua consciência de individualidade própria. E como a última página
do livro tem o poder de decidir sobre o destino após a morte, a última página
não será verdadeiramente a página derradeira: a biografia individual
prosseguirá até a eternidade.
Esta última página é, pois, a mais importante. Para que seja bem escrita, é
preciso que seja preparada desde o início, durante toda a duração da vida.
Não é no momento da morte que se deve pensar nela, mas a cada passo da
existência individual. A boa morte passa a ser a do indivíduo que, tendo
pensado durante toda a sua vida em sua morte física, soube se preparar para
ela e pôde enfrentá-la tranqüilamente, com a consciência leve. Como Philippe
Ariès (1975) observou, a arte de morrer é substituída pela arte de viver, os
cuidados relativos à morte são transferidos para a vida, para cada dia desta
vida. Não se trata, porém, de uma vida qualquer: a preparação para a morte
exige que toda a vida seja impregnada de morte, bem viver é viver com o
pensamento da morte.
O momento final comporta uma dialética ambígua. Em primeiro lugar, nada
está jogado, pois tudo pode ainda ser ganho ou perdido; mas ao mesmo
tempo são muito maiores as oportunidades daqueles que, tendo pensado nele
durante toda a vida, souberam se preparar para este momento. Em segundo
lugar, este momento derradeiro é considerado como ponto de passagem para
o outro mundo, mas o peso de seu significado como fim da vida terrestre
cresce continuamente e o fantasma de uma sepultura aberta começa a
incomodar tanto quanto a incerteza sobre qual porta tomar, se a do Céu ou a
do Inferno. A este propósito, o encontro com a morte se insinua como algo
mais seguro que a imortalidade e ambas conformam uma dialética ambígua
que talvez possa ser resumida em duas imagens: a morte é o objetivo da vida,
mas é também o final dela.
É preciso considerar também que esta época de temor da morte e das
incertezas que ela comporta é também uma época de extremo e apaixonado
amor pela vida, sentimento que é contrapartida da estratégia pedagógica dos
predicadores, consistindo em ameaçar com inferno e putrefação. O amor à
vida se expressa na ligação afetiva dos homens às coisas terrenas: os amigos,
os parentes, os cães, os cavalos, as plantações. É contra este amor ao aqui que
se volta a última prova, onde tudo pode ser ganho ou tudo pode ser perdido:
serão salvos aqueles que souberem se desligar das coisas do aqui, pois o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
homem da segunda Idade Média e da Renascença não quer se separar dessas
coisas e gostaria de levá-las consigo. O homem desta época é profundamente
consciente da morte, pensa nela todo o tempo, reconhece toda a sua
importância, mas ao mesmo tempo sente nela um envenenamento de sua
existência, uma ruptura com as coisas de que gosta. A cena da morte é
teatralização da passagem, é julgamento da vida, é consciência dela, mas é
também representação intertextual do apego e do amor à existência no aqui.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
10 Corpo e alma: biografia burguesa e angústia de morte
Refaçamos o caminho que seguimos até este ponto. Lembremos que durante
a Idade Média a morte no leito era ao mesmo tempo comum e costumeira.
Ela era acompanhada de dor da parte dos sobreviventes, mas esta dor não era
nem insuportável nem inconsolável e não provocava grandes aflições nos
indivíduos que iam morrer, porque estes não viam entre a vida do aqui e a do
além uma ruptura radical e porque viviam/morriam na esperança de despertar
em um paraíso assegurado.
Vivida coletivamente, a morte era passagem de uma vida a outra. A crença na
ressurreição da carne e a não-exasperação do valor da individualidade não
despertavam aflições especiais quanto à perda da integridade da
personalidade individual. Nas imediações do século XV, no bojo de
transformações que começaram a operar a partir dos séculos XII-XIII, a
morte no leito se carrega de um sentido dramático que não existia antes e que
pôde ser associado a transformações importantes nas concepções de morte e
de vida: desenvolvimento da individualização, aparecimento de uma
consciência especial da biografia individual, dúvidas sobre a imortalidade,
incertezas sobre a salvação, transferência do julgamento final para o quarto
do moribundo no momento mesmo da morte, individualização do julgamento,
crescimento do amor à vida...
Este sentido dramático aumentará no curso dos séculos XVI e XVII: a morte
começará a ser vista como o ponto onde o tempo linear pára, onde o homem
se defronta com a eternidade (durante a Idade Média, a eternidade, através da
presença de Deus, era imanente à história), os relógios começarão a
proliferar, o tempo divisível, susceptível de medida exata, passará a ser rei, a
identidade pessoal se transformará em biografia ou seja em encadeamento de
eventos cuja seqüência a morte ameaçará romper.
A existência não será mais "a plenitude de uma vida em sua duração total"
(Illich, 1875: 177) e o homem não se conformará mais à idéia de ser mortal.
Doravante deverá se preparar durante toda sua vida para morrer, o que
significa que uma modificação fundamental teve lugar: não é necessário
preparar uma coisa com a qual se está familiarizado. No século XV e XVI,
ainda se está mais próximo dos modelos tradicionais de morrer, mas as
mortes romântica e contemporânea já se fazem anunciar.
Jean-Didier Urbain (1978: 93) esclareceu perfeitamente o sentido de todo
esse processo: "apropriação do lugar e do edifício; privatização do lugar do
culto; acumulação, seqüestro e proteção dos cadáveres dos parentes: tudo é
******ebook converter DEMO Watermarks*******
colocado sob o signo da posse e da conservação". Cita em apoio um trecho de
Philippe Ariès (1975: 139): "em 1652, um testador quer que após sua morte
seu corpo e o de sua esposa sejam transportados à minha igreja e aí serão eles
colocados no jazigo da minha capela que aí eu mandei construir... e aí serão
rezadas, todos os dias, missas em minha memória e em memória de minha
mulher" (é Urbain quem enfatiza). Faz em seguida uma aguda aproximação
entre estes processos e as transformações que o modo de produção então
vigorante começa a sofrer: "o tema do Juízo Final se impõe no interior da
predicação eclesiástica no século XII: é então, igualmente, que o termo
'burguesia' aparece" (Urbain, 1978: 98-9).
Inicialmente esse termo será aplicado aos comerciantes, atores sociais que
logo virão a desempenhar um duplo papel, econômico e político. Por um
lado, eles irão se entreter com o comércio – com a circulação de dinheiro e de
produtos. Por outro, farão empréstimos financeiros (adiantamentos a artesãos,
pequenos investimentos etc.). A partir dessas atividades estes comerciantes
transformar-se-ão rapidamente em banqueiros, logo terão como clientes os
papas, os reis e as cidades, e progressivamente adquirirão influência política,
econômica e social, tornando-se capazes de agir sobre os dominantes e sobre
os dominados. "Proto-burgueses, eles serão os primeiros a vir parasitar
semiologicamente o espaço funerário aristocrático, vindo traduzir na morte
sua emergência, progressão e potência econômica e social" (idem).
Além dos ricos banqueiros, outras categorias descenderão dos primeiros
comerciantes: homens de leis, manufatureiros, lojistas – todos querendo
afirmar na morte os progressos materiais e sociais que realizavam na vida,
perenizar após a morte suas individualidades recém-valorizadas, romper com
o anonimato, distinguir-se e promover-se. A comunidade medieval dos
mortos está cada vez mais distante; a comunidade dos vivos perece
igualmente: existe uma "covariância entre a individualização crescente das
sepulturas e o desenvolvimento do capitalismo, primeiro comercial
(negociantes) e depois industrial (manufatureiros)" (Urbain, 1978: 100).
No período pré-capitalista, os poderosos foram os primeiros a individuar e
individualizar suas sepulturas, tentando garantir para si um melhor quinhão
de vida eterna: os nobres, os reis, os papas, os imperadores. Observando-os
de perto, "percebe-se que o que possuíam, fundamentalmente, era os seus
corpos". Eles dispunham de seus próprios corpos e dispunham também dos
corpos alheios para defesa e sustentação desse privilégio. Por volta do século
XIII, os comerciantes, em virtude de sua mobilidade social,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
"progressivamente escaparam a esta alienação feudal dos corpos": fazendo-
se credores dos reis e dos papas, conquistaram uma identidade, uma "
individualidade sociopolítica" (Urbain, 1978: 100 – grifos do autor).
Emancipados da sujeição ao poder, eles tomaram posse de seus corpos e mais
tarde viriam a se apropriar dos corpos dos outros. Estes
comerciantes/banqueiros serão os primeiros a penetrar os domínios funerários
aristocráticos, fazendo-se enterrar dentro das igrejas e mais tarde construindo
suas próprias igrejas e capelas.
O mesmo modelo reproduzir-se-á no século XVIII com relação aos artesãos,
que farão frutificar um conjunto de pequenas empresas individuaisfamiliares,
"nas quais o primeiro dos meios de produção é o corpo" (Urbain, 1978: 101).
O artesão é um trabalhador manual que exerce um ofício por sua própria
conta. Sendo artesão, o indivíduo é seu próprio senhor, seu próprio
explorador. Ele se possui – mesmo que nós saibamos que isso não passa de
uma ilusão, quando consideramos as pressões do sistema sociopolítico. Esta
ilusão produz, entretanto, uma sensação de autonomia e autopossessão: é
sobre esta ilusão que se constrói o individualismo burguês e é através dela
que o artesão vai se infiltrar por sua vez no espaço funerário.
A partir do século XIII, pois, o mundo econômico ocidental se transforma em
palco de uma luta em que todos os participantes querem preservar suas
identidades particulares e individuais. Esta "efervescência narcisista" é
animada pelo fantasma da autonomia corporal, pela auto-suficiência e pelo
"gozo absoluto de si" (Urbain, 1978: 104), que se traduz, nos fatos, por um
crescimento do individualismo burguês, pelo nascimento de uma massa
proletária e pelo desenvolvimento correlativo do capitalismo europeu. Este
último se funda essencialmente na apropriação ilegítima do corpo do outro
por alguém: "o corpo é o primeiro dos meios de produção e possuir os meios
de produção é antes de tudo possuir seu corpo". Compreende-se então a
significação traumática que a morte adquire neste contexto: ela é destruição
da individualidade e destruição do corpo. Ela é o contrário do espírito das
classes emergentes da época, se considerarmos que "o sonho, confrontado ao
biológico, desmorona" (Urbain, 1978: 102, 105).
Restam apenas dois caminhos, duas estratégias de sobrevivência: controlar o
futuro através da 'vida eterna' ou então imobilizar o tempo através de
tentativas simbólicas de conservação e de preservação dos mortos e de seus
corpos. Ambas as estratégias serão utilizadas, na batalha ocidental-capitalista,
para vencer a morte.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
O essencial da morte tal qual nós a conhecemos hoje nasce em meio a esta
efervescência narcisista. A partir dos séculos XII-XIII, entre ricos, letrados e
poderosos observa-se a ascendência do sentimento de que a cada um
corresponde uma biografia pessoal. No início esta biografia consiste de atos.
Bons ou maus, estes atos são globalmente apreciados como componentes do
ser. Progressivamente, esta biografia começará a incluir coisas, pessoas,
animais, fama – enfim, haveres. No final da Idade Média, "a consciência de si
e de sua biografia se confundiram com o amor à vida". A morte passa a ser
também a separação do haver, que na época se transformava em elemento
fundamental da composição do ser. Ao lado da morte como balanço, como
julgamento, como acerto de contas ou ainda sono, começa a aparecer uma
imagem de morte como apodrecimento e decomposição: "não mais o fim da
vida e último suspiro, mas morte física, sofrimento e decomposição" (Ariès,
1977: 139-40).
No nível religioso, a morte vai deixando de ser conseqüência do pecado
original ou morte de Cristo sobre a cruz e começa a se transformar em corpo
sangrando ao pé da cruz, como inúmeras vezes foi fixado na arte sacra
(Pietà), pondo em evidência a idéia de separação dolorosa e de atentado à
integridade física que a morte comporta. Com a descoberta de sua biografia e
do lugar que nela a morte vai ocupar, o homem ocidental rico do final da
Idade Média começa a se reconhecer a si mesmo na morte e descobre aquilo
que Philippe Ariès chamou de "a morte de si". Mas isto é o que ele não pode
aceitar.
Não pode aceitar, porque este homem pré-capitalista quer descer à sepultura
carregando sua riqueza. Quer guardar até a eternidade o produto de sua
acumulação terrena. Ele sabe que todo tesouro um dia deve ser despendido,
mas ele vê nesse tesouro a síntese de uma vida e de uma identidade que não
quer perder. Ele está dividido entre o aqui e o além e, na impossibilidade de
levar consigo toda a fortuna, tentará usá-la como 'investimento' para
conseguir a vida eterna (do que o testamento será um instrumento
privilegiado).
Essa não-aceitação da morte de si exprime-se de maneira absolutamente
nítida na estatuária fúnebre: em oposição ao modelo até então dominante, o
da representação do morto dormindo, ao final do século XIII um outro
modelo começa a se esboçar – o do defunto ajoelhado, em prece, sobre sua
sepultura (Urbain, 1978: 160). Este segundo modelo comporta uma geometria
revolucionária, "diametralmente oposta à da estátua jacente". Porque enfatiza
******ebook converter DEMO Watermarks*******
a verticalidade, nele o signo parece afastar-se de maneira radical do referente
primeiro, o cadáver. O morto-que-dorme não é um cadáver, mas dele
conserva a horizontalidade e a imobilidade. Ao contrário, o morto-que-reza
expressa um aguçamento da rejeição, uma ruptura radical da barra horizontal
que separa os dois mundos, projetando violentamente a silhueta do morto
para o mundo dos vivos, negando a barra de separação, em vez de limitar-se a
anulá-la ou neutralizá-la, dotando além disso a imagem do morto de uma
qualidade nova: o movimento. Mas esta recusa é apenas um lado da história.
Enquanto se desenvolve entre os ricos e poderosos esta recusa da morte,
enquanto aparecem os primeiros retratos reais autênticos, que se destinam a
fazer presente a personalidade individual e transformada em intemporal de
soberanos já falecidos, enquanto os poderosos passam a ser lembrados não
apenas como almas, santos ou símbolos, mas também como presenças
históricas contínuas, enquanto os ricos se preocupam intensamente em bem
localizar e identificar suas moradas derradeiras, os corpos dos pobres
continuam a ser jogados nas fossas comuns, simplesmente costurados dentro
de um pano rústico, submetidos à caridade dos 'caridosos' (confrarias de
pessoas que tentavam remediar o que lhes parecia a maior crueldade terrestre:
não possuir uma sepultura em terra da Igreja e jazer abandonado, como os
afogados, os acidentados anônimos, os condenados, os não batizados, os
excomungados...). Entretanto, estes 'caridosos' nenhum sofrimento
encontravam em atribuir aos pobres uma sepultura anônima. À pobreza,
evidentemente, os pobres já estavam habituados – mas nestas transformações
uma ordem social nasce, fundada na discriminação individualista e
comportando a ruptura da comunidade tradicional.
De fato, como Jean Baudrillard (1979: 43) observou, com a desintegração das
comunidades tradicionais, cristãs e feudais, a morte não é mais
compartilhada. Ela está agora, como os bens materiais que cada vez circulam
menos, sob o signo de um equivalente geral. No mundo capitalista cada um
se encontra só diante do equivalente geral. Da mesma forma, cada um se
encontra só diante da morte. E isto não é uma coincidência, porque "o
equivalente geral é a morte".
Com esta imagem moderna da morte, com o desaparecimento das concepções
medievais, com os jogos obsessivos da época barroca, mas sobretudo com o
protestantismo, a consciência da morte progressivamente se individualiza
diante de Deus, perde suas colorações coletivas e festivas, dando nascimento
à angústia individual diante da morte. Dessa angústia surgirá o imenso
******ebook converter DEMO Watermarks*******
empreendimento moderno de exorcizar a morte: a idéia de acumulação e de
produção material, a santificação através do investimento, do trabalho e do
lucro, que se cha ma comu ment e, com Max Weber, o 'espírito do
capitalismo'. O círculo se fecha: à medida que se instaura no poder, a
burguesia impõe a todos suas próprias angústias de morte – que são também
modelos de vida – interiorizando em cada indivíduo um "inferno psicológico"
sobre o qual "outras gerações de sacerdotes e feiticeiros crescerão mais sutis
e mais científicos" (Baudrillard, 1979: 43).
Podemos apreender a intimidade desse processo na evolução dos testamentos.
Ato de direito privado, exclusivamente destinado à transmissão de bens
durante a Antigüidade romana, o testamento desaparece do uso generalizado
até o século XII, quando reaparecerá expressando uma cosmovisão
inteiramente diferente, função que conservará até o século XVIII – quando o
peso das transformações que estamos considerando se fará sentir, obrigando-
o de certo modo a retornar à sua função inicial. O testamento durante todo
este tempo é um instrumento por meio do qual os homens pensam sua
posição entre esta vida e a outra, entre a morte, a ruptura e a continuidade, e
através do qual de certa forma continuarão a viver, pois poderão agir sobre o
fluxo das coisas: daquelas que deixaram atrás de si e daquelas que
encontrarão em suas viagens.
Antes do século XII, o testamento é parte naturalmente integrante do rito de
morrer. Noticiado de que a morte se aproximava, o indivíduo se recolhia e se
deitava. Com o olhar dirigido para o céu, com os braços cruzados sobre o
peito, fazia sua profissão de fé, confessava os seus pecados, pedia perdão aos
sobreviventes, recomendava a alma a Deus, escolhia a sepultura e, se fosse o
caso, dava instruções para a reparação dos prejuízos que tivesse causado a
outros. Isto tudo era feito oralmente, como se nenhuma razão impusesse
desconfiança em relação à disposição dos próximos de fazer cumprir as
determinações contidas nas últimas vontades do testador.
Nesta época tal quadro se transforma. Antes de tudo, o testamento passa a ser
estritamente obrigatório, elevado à condição de sacramento, comportando
uma sanção cruel, talvez a mais cruel de todas: aqueles que morressem
intestados, seriam em princípio excomungados e conseqüentemente não
teriam direito ao enterro em terra da Igreja. Essa obrigatoriedade se estendia a
todos, possuidores ou não de bens a legar: na segunda Idade Média, a função
religiosa dos testamentos é ainda predominante e até o século XVI é na
maioria das vezes um funcionário da Igreja ou o vigário local o redator e o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
conservador dos mesmos. Ainda que a partir dessa data um escrivão público
tenha substituído o padre nessas funções, o testamento continuará por
bastante tempo uma questão de religiosidade e fé: confessar sua fé,
reconhecer seus pecados, reconciliar-se com os sobreviventes e pagar um
dízimo à Igreja sobre o valor de sua herança...
Estas transformações ainda não refletem inteiramente os mutamentos radicais
que se operavam em outros domínios da sociedade. Os testamentos por
enquanto se limitam a reproduzir por escrito os ritos orais de épocas
anteriores (Ariès, 1977). Por bastante tempo ainda, o testamento ficará
intocado pelas formas extremadas de amor à vida, de obsessão macabra pela
morte, de individualismo manipulador. O homem já está só diante de Deus,
só com sua biografia individual, com seu balanço privado de boas e más
ações, mas continua testando segundo o modelo tradicional do moribundo ao
leito que em público abandona a vida e que até o fim conservará a palavra e a
presença dos próximos. Estas transformações virão entretanto afetar os
testamentos, promovendo a invasão pela porta aberta do amor à vida, do
extremo apego às coisas terrenas e da imensa pena de as abandonar.
De fato, o homem da segunda Idade Média e da Renascença se encontra
dividido entre dois mundos, entre os temporalia e os aeterna. Não sabe se
deve se apegar definitivamente às coisas do aqui e perder definitivamente sua
alma, ou se deve ater-se exclusivamente às coisas da alma e perder
conseqüentemente os prazeres da vida terrena. Neste quadro de dúvidas, ele
descobrirá o testamento, ou melhor, uma dimensão nova do mesmo.
Descobrirá que através dele poderá reunir os prazeres terrenos à salvação
eterna, conservar o amor às coisas dedicando-as à sua felicidade no paraíso.
Poderá enriquecer nesta vida, gozar as facilidades dessa riqueza e fazer seu
testamento em favor da Igreja e dos interesses dela. Manipulado desse modo
pelos indivíduos que legam e pela Igreja que recebe, o testamento se
transforma, segundo a expressão de Philippe Ariès, em um "contrato de
seguros" através do qual os indivíduos pagariam em moeda temporal sua
sobrevivência na eternidade. As dificuldades em que começava a se ver o
homem desta época se infiltram no testamento, permitindo-lhe ultrapassá-las:
"o testamento foi, pois, o meio religioso e quase sacramental de ganhar os
aeterna sem perder completamente os temporalia, de associar as riquezas à
obra da salvação" (Ariès, 1975: 190).
É de certo modo um contrato de seguros celebrado entre o indivíduo mortal e
Deus, por intermédio da Igreja. Um contrato com dois fins. Primeiro, um
******ebook converter DEMO Watermarks*******
"passaporte para o céu", segundo a expressão de Jacques Le Goff: assim ele
garantia os bens eternos, mas os prêmios eram pagos em moeda temporal,
graças aos legados piedosos. Em seguida, o testamento é também um salvo-
conduto na Terra: nesta condição, ele legitimava e autorizava o gozo – em
princípio suspeito – dos bens adquiridos durante a vida, dos temporalia. Os
prêmios dessa segunda garantia eram pagos em moeda espiritual, legados
piedosos, missas, doações para obras de caridade. "Assim, em um sentido, o
testamento permitia uma opção pelos aeterna; em outro, reabilitava os
temporalia" (Ariès, 1975: 190).
Por volta do início do século XVIII, modificações importantes vão afetar os
testamentos: preocupações com o lugar de inumação, caprichos sobre a
composição das cerimônias fúnebres, determinações sobre quem deveria
implementar as cláusulas piedosas, zelo de expressar suas convicções
profundas sobre esta vida e a outra, cuidado de definir-se como cristão e
católico, invocação da Trindade, da Virgem Maria, dos Santos padroeiros –
todas essas disposições, características dos testamentos dos séculos
anteriores, começam a cair em desuso. O objetivo do testamento continua a
ser o de fazer o homem pensar em sua morte enquanto ainda há tempo, mas o
pensamento se exerce agora a partir de outras premissas. Os testamentos não
são mais escritos pelos padres, já não têm também o caráter de sacramento.
Mas, mesmo cada vez mais laicizados, continuam fortemente impregnados de
religiosidade, continuam a ser um gesto pelo qual o homem da época decidia
sobre o que ele amava mais: seu corpo e sua alma.
Em favor de seu corpo, sobretudo a escolha de uma sepultura; em favor de
sua alma, missas e orações. Missas e orações que normalmente começavam
no momento da agonia e que continuavam por tempo indeterminado, à
perpetuidade, em intervalos regulares, distribuídas em datas fixas... Centenas
de missas, milhares de missas eram previstas pelo testador. Entretanto, no
século XVIII estas missas começam a deixar de ser distribuídas no tempo e se
concentram o mais possível perto do momento do falecimento, na medida em
que um julgamento a longo prazo é substituído por um julgamento sumário
no quarto do moribundo. Junto a isso, na segunda metade do século XVIII
outras transformações ocorrem: as cláusulas piedosas, as eleições de
sepultura, as encomendas de missas e serviços religiosos, as esmolas
desaparecem e os testamentos se transformam nitidamente em instrumentos
de transmissão de riqueza e de poder.
Assim laicizado o testamento foi se transformando em instrumento
******ebook converter DEMO Watermarks*******
exclusivamente jurídico que pouco ou nada mais faz que distribuir bens e
fortunas. Mais precisamente, ele se transformou em instrumento de
redistribuição do capital familiar, principalmente quando o morto fosse
também o chefe da família. Na nova sociedade é imprescindível que este
capital continue dentro da família e é obrigação de todos fazê-lo frutificar e
multiplicar. Não se concebe mais que as riquezas legadas possam ser
consumidas. Pelo contrário, o novo credo quer que sejam rentabilizadas.
O burguês rico desta época sabe perfeitamente que o que faz sua glória
(contrariamente ao que fazia a glória da aristocracia) é o seu dinheiro, e que
sua riqueza se deprecia e se perde quando é consumida. O burguês está, por
isso, submetido a uma pressão dupla: em primeiro lugar, por parte do
ancestral acumulador das riquezas que ele recebe; em segundo, por parte
dessa riqueza mesma, cuja natureza impõe um comportamento bem preciso,
na ausência do qual se evapora. O testamento do século XVIII é uma
transmissão de poder em todo o significado da expressão: não se limita a
transmitir a alguém uma riqueza e um poder particulares; mais do que isso,
impõe ao mesmo tempo regras à pessoa que recebe o poder.
Entende-se, portanto, para onde vai a confiança que o moribundo
progressivamente vai retirando à religião. Na formação das grandes dinastias
burguesas, os testamentos vão encaminhar para as famílias o que antes
endereçavam para os conventos e obras de caridade. São os familiares
doravante os grandes responsáveis pela sobrevivência do morto: aqui na
Terra, pela perenização e engrandecimento de sua obra; no outro mundo, pelo
culto que lhe deverão dedicar (e que será uma das características mais nítidas
das representações da morte no século XIX). Não se trata mais de eufemística
acumulação de boas/más ações ou de centenas ou milhares de missas, mas de
tesouros concretos, de capitais e propriedades. Não se trata mais de um
testador que prevê os menores detalhes do seu funeral, mas do predomínio
paulatino da fórmula "deixo à discrição dos meus...". Não se trata mais de
uma morte serena, mas da extraordinariamente dramática encenação fúnebre
do século XIX, marcada sobretudo pelo desespero da família e pelo gosto
romântico pela morte (contrastante, mas nada paradoxal).
Esses movimentos foram largamente comprovados pela pesquisa a que o
historiador Michel Vovelle (1978) procedeu relativamente às práticas
funerárias e especialmente testamentárias na Provence durante o século
XVIII. Os documentos mais antigos deste século costumam compor-se de
maneira a que no início dos testamentos figurem sempre as exaltações
******ebook converter DEMO Watermarks*******
religiosas: constatando a necessidade da morte e a incerteza em relação à sua
hora, o testador resolve proceder a... Trata-se aí em verdade de uma fórmula
já reduzida, se a compararmos a textos apenas um pouco anteriores que
começavam pela lembrança do pecado de Adão, pelo reconhecimento da
culpa deste e pela justiça do castigo que a morte representa. Os testadores de
Vovelle declaram em seguida que são "cristãos e católicos", às vezes
"apostólicos e romanos" e que "preferem a alma ao corpo". Invocam Deus, a
Santíssima Trindade, a Virgem Maria, toda a corte celeste, os santos
padroeiros, rogando-lhes intercessão. Esta fórmula vai se tornando
reveladoramente mais leve com o correr do século: a lembrança do sinal da
cruz, já rara no início, praticamente desaparece; a proclamação "sou cristão",
neutraliza-se aos poucos; a invocação de Deus persiste, mas a corte celeste
descomparece.
Cada vez mais, os testadores manifestam pressa de ir ao ponto fundamental:
"e como o maior e principal objetivo de todo testamento é dispor dos bens
para evitar toda contestação...". A inevitabilidade da morte não é mais
evocada ou o é raramente e a morte transforma-se em "tributo indispensável
que nós devemos à natureza". Adão é esquecido, a referência a Deus é cada
vez mais formal. Um número significativo de testadores, segundo os dados de
Vovelle, ainda pede missas em abundância, mas modificações sintomáticas
do espírito da época são dignas de nota: em primeiro lugar, o sonho de um
número incalculável de missas celebradas até a eternidade é substituído por
algo mais realista e pragmático, pela determinação de uma quantidade
definida de missas a oficiar; em segundo lugar, a preocupação recente de que
essas missas sejam tanto quanto possível concretizadas 'à vista', no momento
mesmo do falecimento, no mesmo dia ou no dia seguinte; em terceiro lugar, a
tendência a se dedicar uma quantia fixa em dinheiro para as missas,
independentemente da quantidade delas.
Os túmulos familiares começam a proliferar, ajudando a cimentar a união do
grupo e a consciência de suas tradições, de sua unidade no tempo. Mas a vida
eterna é um assunto que tende a desaparecer dos testamentos provençais –
embora os legados para assegurá-la continuem (menos intensamente, é
verdade) a ser feitos, e ainda que os intercessores terrestres para a vida eterna
continuem existindo. É sobretudo às suas famílias que os indivíduos pedirão
doravante que cuidem de suas almas e de suas salvações.
Esse processo de laicização que atinge tanto os domínios da vida como os da
morte é característico do Século das Luzes e encontra sua expressão nuclear
******ebook converter DEMO Watermarks*******
na oposição, que então se desenvolve, em todos os sentidos, entre o corpo e a
alma – oposição que consiste fundamentalmente na mais completa separação
destes elementos.
Esta separação é fundamental para o entendimento da problemática da morte,
sobretudo quando se considera que está no centro de todas as transformações
ideológicas, filosóficas e científicas a que os séculos seguintes irão assistir.
No curso dessas transformações os comportamentos, pensamentos e
sentimentos funerários serão palco de modificações radicais: a transformação
do corpo humano em objeto, a apropriação da morte pela medicina e pela
família, o desenvolvimento da ideologia da higiene e a conseqüente
separação entre o cemitério e a cidade, sem menosprezar os desdobramentos
de cada uma dessas transformações principais e seus entrelaçamentos.
É claro que a oposição entre o corpo e a alma não irrompe de repente e não se
difunde de uma só vez por toda a sociedade. A bem dizer, ela se manifesta
por um processo que mesmo em nossos dias não se pode considerar como
tendo dito tudo o que tem a dizer. De qualquer forma, se hoje estamos já um
pouco acostumados a suas mensagens, suas primeiras expressões perceptíveis
foram verdadeiramente espetaculares. No século XVIII acreditava-se ainda
na ressurreição da carne, da mesma forma que se julgava importante
preocupar-se com a salvação das almas: os epitáfios da época, os testamentos,
a arte fúnebre no-lo confirmam. Mas algo no coração da espiritualidade da
época apontava para outras indagações e continha os germes dos discursos
contraditórios que em seguida viriam, seja idealisticamente exaltar os
componentes espirituais do ser, recusando tudo o que dissesse respeito à sua
concretude carnal, seja materialisticamente reverenciar as dimensões
corporais do homem em desprezo à sua alma.
Por detrás de ambas as opções, a mesma ideologia desagregadora e o mesmo
espírito discriminador que terminarão por reduzir o corpo humano à condição
de objeto. Sem esta separação o corpo morto era considerado como digno de
uma distinção especial: era tratado quase como se fosse uma pessoa em sua
integridade. Não era uma questão de simples 'superstição', mas de direitos
estabelecidos na jurisprudência medieval e, mesmo, de obrigações: com um
estatuto legalmente reconhecido, o morto poderia ser perseguido em justiça –
o que acontecia aliás com uma freqüência considerável. Poderia ser citado
como testemunha e pagar suas condenações. Os laços de casamento não se
rompiam imediatamente com o falecimento e os defuntos eram objeto de toda
uma familiaridade, que expressava uma maneira particular de lhes reconhecer
******ebook converter DEMO Watermarks*******
dignidade.
Contudo, a partir do momento em que a dignidade do ser passa a residir na
alma e em que a morte passa a ser vista como o instante em que o espírito
abandona o corpo, duas conseqüências seguem imediatamente: em primeiro
lugar, o corpo enquanto corpo se transforma em algo intrinsecamente
desprovido de dignidade; em segundo lugar e a fortiori, com a morte se
extingue o sujeito de direitos, e a personalidade jurídica do indivíduo se
decompõe. O cadáver se transforma em coisa, em refugo, em dejeto: ritos
antigos, como a lavagem do corpo do defunto, de repente começam a agredir
a sensibilidade do século XVIII; a liturgia funerária cristã progressivamente
se desliga do cadáver, para prestar atenção quase que exclusivamente à alma.
O corpo e a alma deixam de ser vistos em sua mútua implicação
significacional já quase milenar. Cada um era a expressão metafórico-
metonímica do outro: uma morte feia era o fim de uma alma feia. Um
condenado por uma falta grave era jogado a apodrecer entre as imundícies,
era jogado aos animais, era esquartejado, tinha seu cadáver penalizado com
uma punição suplementar – porque seu cadáver era o reflexo de sua alma,
porque o sofrimento do corpo era expressão metafórico-metonímica do
sofrimento da alma. Os condenados são também condenados a expor sua
decomposição, porque esta é também a da alma. Mas os justos, estes
ressuscitarão com os corpos inteiros, porque não faz sentido o gozo de um
paraíso sem corpo, porque não existe gozo sem corpo.
Esta estrutura de idéias existe ainda no século XVIII, embora talvez não seja
mais representativa do espírito dominante. Lebrun (1975) relata um episódio,
ocorrido em Château-Gontier, em 1718, que nos parece bastante ilustrativo
do que estamos tentando dizer: aos dezesseis anos, grávida de seis meses,
tentando fugir à desonra pública, Marie Jaquelin se envenena. Seu crime é
duplo, pois leva à morte também a criança. O cadáver de Marie Jaquelin é
processado após ter sido exumado e a sentença logo executada: o corpo é
arrastado com a cabeça para baixo, o rosto encostado na terra, até a praça
pública, onde o carrasco extrai do vente da infeliz o corpo da criança. O
cadáver da criança é levado para um cemitério onde habitualmente são
enterradas as crianças mortas sem batismo; o de Marie Jaquelin é injuriado,
pendurado pelos pés, queimado em uma fogueira e as cinzas lançadas ao
vento. Observemos que o carrasco se fantasia de parteira e faz com que Marie
Jaquelin 'dê à luz', para separar o corpo criminoso do corpo inocente. Isto
feito, encaminha cada um para o seu destino, porque a cada um corresponde
******ebook converter DEMO Watermarks*******
uma coloração de alma que o destino do corpo exprime: à mãe correspondem
as cores do inferno; à criança, a incapacidade de penetrar no Céu, a
imposição do Limbo e de seu cemitério determinado. A brutalidade e o
desprezo em relação ao corpo-alma de uma expressa, por contraste, a atenção
e a dignidade que se reserva ao corpo-alma da outra.
Entretanto, com o desenvolvimento da oposição corpo/alma e com a
valorização desta última, as coisas mudam, mesmo para os condenados.
Desde a Reforma, são outras as atitudes dos religiosos em relação a eles. Não
se considera mais (aliás, a Igreja nunca o considerou plenamente) que o
criminoso seja a expressão do Mal, que sua corporeidade concretize o Mal e
que sua alma já esteja no inferno. Tal suposição justificaria em última
instância todos os sofrimentos que ao supliciado se impusessem e tornaria
inútil e mesmo sacrílego todo e qualquer esforço de lhe prestar assistência
espiritual. Progressivamente vai-se afirmando a idéia de que o supliciado é
reabilitado pelo seu arrependimento e pelo seu sofrimento, mas este
sofrimento agora é visto como castigo de um corpo, fonte de tentações, que
se deve desprezar. Aos poucos, vai-se impondo a obrigatoriedade da presença
de um sacerdote, de um confessor, ao lado do carrasco. Por este caminho, a
morte do condenado poderia até – coisa inconcebível durante a Idade Média
– ser melhor que muitas outras e oferecer-lhe de maneira segura a salvação
eterna.
Não nos iludamos, contudo. A separação corpo/alma dá nascimento também
à negação da imortalidade da alma, negação à qual aderiu boa parte dos
pensadores do século XVIII. Tais pensadores pretendem se desligar
definitivamente de tudo o que não diga respeito à única coisa que interessa,
isto é, a vida. Para eles, a morte passará a ser um 'acidente natural',
desagradável, mas inevitável (Choron, 1969). O melhor que se poderia fazer
era não pensar muito sobre isto e continuar vivendo, fazendo todo o esforço
possível para melhorar as condições de vida na Terra, já que fora dela não
existe outra vida.
Eis o que sobre a morte escreveu La Mettrie (1709-1751), autor de um
trabalho intitulado L'Homme Machine: "eis nossos projetos para a vida e para
a morte: durante a vida, até o momento da morte, ser um epicurista sensual,
mas no momento da morte me comportar com a firmeza dos estóicos". E
ainda o que em seu Des Progrès de l'Esprit Humain (1794) prevê Condorcet:
deve chegar um tempo em que a morte não será mais que o efeito, ou de
acidentes extraordinários, ou da destruição cada vez mais lenta das
******ebook converter DEMO Watermarks*******
forças vitais, e em que enfim a duração do intervalo médio entre o
nascimento e esta destruição não tenha um termo assinalável. Sem
dúvida, o homem não se transformará em imortal; mas a distância entre
o momento em que ele começa a viver e a época comum em que,
naturalmente, sem doença, sem acidente, ele experimenta a dificuldade
de ser, não pode crescer sem parar? (apud Choron, 1969: 116-7)
Tocamos aqui os dois filões que a divisão do humano proporcionou à
ideologia ocidental. Por um lado, a hipervalorização da alma, com o
correlativo desprezo pelo corpo, abre os caminhos à incomensurável riqueza
que poderá ser produzida e acumulada a partir do desenvolvimento da alma e
da exploração do corpo: característica de um sistema capitalista ainda não
extremamente industrializado, que encontra no saber (tecnologia) o seu
projeto e no corpo (trabalho) o seu meio de produção fundamental. Por outro
lado, um estágio posterior, característico de uma sociedade industrialmente
desenvolvida, em vias de se liberar do corpo como meio de produção
fundamental: a hipervalorização ideológica do corpo – do corpo 'liberado',
medicalizado, estetizado, vivo, 'amortal', eternamente consumidor (que
Condorcet, anteviu com precisão admirável), e que pertence a um homem
disposto a viver esta vida como se ela fosse a melhor de todas, porque é a
única. Se o primeiro filão retirou dos homens a dignidade de seus corpos, o
segundo se prepara a subtrair-lhes a dignidade de viver.
A separação do corpo e da alma, a transformação do corpo em objeto, faz
dele também um objeto isolado de conhecimento, passível de ser observado
de maneira fria e distante, capaz de ser visto como exterior ao espírito que
observa. Nos séculos XVII e XVIII o corpo é aberto, exposto, decomposto,
revirado, estudado, promovido enfim à condição de objeto de curiosidade
científica. Sobre o cadáver, freqüentemente, passeia o olhar do médico; mas
este olhar é desprovido do intuito de curar e se faz quase sempre acompanhar
de um objeto cortante.
Tudo isto é muito novo. Por toda a Idade Média, a sacralidade do corpo não
poderia consentir uma tal postura. Ela seria certamente vista como uma
sacrílega profanação, como uma crueldade indigna, injusta e imerecida. A
abertura de um cadáver com finalidades educativas foi sempre considerada
uma circunstância inteiramente excepcional, que exigia os mais minuciosos
cuidados rituais. Ivan Illich (1975) lembra que uma primeira dissecação foi
autorizada em Montpellier em 1375, imediatamente considerada coisa
obscena e novamente proibida. Nova autorização, algumas décadas mais
******ebook converter DEMO Watermarks*******
tarde, foi concedida para uma única dissecação anual em toda a extensão do
Santo Império RomanoGermânico. A Universidade de Bolonha foi
igualmente contemplada com uma permissão de realizar uma autópsia por
ano, às vésperas do Natal, por meio de uma cerimônia comportando uma
procissão e diversos exorcismos durante três dias. E coerentemente com a
visão medieval do corpo, os primeiros a serem submetidos a estas
experiências anatômicas foram exatamente os criminosos: no curso do século
XIV, a Universidade de Lerida e as universidades inglesas tinham
periodicamente direito a alguns corpos de condenados.
O desenvolvimento das práticas dissecatórias se compreende a partir da
constatação do fato de que o morto perdeu todas as características de sua vida
precedente, de que o seu cadáver doravante pode ser – a exemplo do que
Durkheim pedirá mais tarde para os fatos sociais – tratado como coisa. Ele
implica o abandono da crença na ressurreição da carne e o distanciamento das
concepções mágico-religiosas do corpo. Com isto o ser deixa de ser um
átomo, isto é, uma entidade indecomponível e intocável, e se transforma em
aparelho desmontável em suas peças constituintes: divisível e fragmentável,
como o sistema de trabalho que paralelamente se desenvolve na esfera da
economia, cuja natureza funcional será em parte projetada no entendimento
do corpo. A prática da dissecação anuncia o desmoronar de uma visão de
mundo e constitui uma representação nova da vida, que resultará na descrição
do corpo pela linguagem dos engenheiros e na sua estruturação intelectual
por analogia às máquinas.
Nos séculos XVII e XVIII os conhecimentos de anatomia brilham no alto da
hierarquia dos saberes. O conhecimento de si exige agora o conhecimento do
corpo. A filosofia passa a ser antes de tudo conhecimento da teologia natural,
quer dizer, do prodigioso encadeamento de causas e conseqüências que
permite aos organismos viver. Todos os que tenham alguma pretensão
intelectual estão doravante obrigados a conhecer anatomia: os magistrados
que devem se entender com os experts médicos e cirurgiões; os pintores e
escultores que procuram reproduzir com alguma fidelidade; os médicos que
queiram curar e mesmo o crente que pretenda conhecer Deus, porque os
mistérios e espetáculos do corpo morto levam à int errogação da alma que o
animava. Assim, progressivamente, o corpo vai se tornando objeto de
curiosidade científica, de esnobismo intelectual e de sutil morbidez. Na
pintura multiplicam-se as cenas de dissecação, as 'Lições de Anatomia' (a de
Rembrandt é de 1632); na Holanda, por ocasião das feiras, as aberturas de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
corpos humanos eram realizadas publicamente, para maior satisfação da
curiosidade coletiva.
Esta curiosidade é algo mais que intelectual. É muito difícil, neste caso, fazer
a delimitação perfeita entre o espírito científico e a sensualidade mórbida. As
pesquisas sobre as cores do início da decomposição têm algo de tanatofílico e
talvez expressem em linguagem dos séculos XVII e XVIII o que a 'beleza do
morto' expressará no contexto do século XIX. Existe sem dúvida neste
quadro uma certa aproximação entre Eros e Tânatos: as gravações e pinturas
do século XVII concernentes às lições de anatomia são presentes trocados
entre namorados, as visitas às dissecações são passeios que os casais fazem
juntos. Estas dissecações acontecem em grandes cerimônias, às quais acorrem
todas as pessoas importantes da vida mundana: segundo Philippe Ariès
(1977: 359-60), interpretando a gravura e a pintura do século XVII, as lições
de anatomia eram "como as defesas de tese e o teatro dos colégios, uma
grande cerimônia social onde toda a cidade se encontrava, com máscaras,
bebidas refrescantes e divertimentos". Entre o ritual medieval-renascentista e
a cerimônia dos séculos XVII e XVIII relativas à abertura e estudo do corpo
humano, quanta modificação nas representações sobre a vida e a morte!
******ebook converter DEMO Watermarks*******
11 Higiene, ciência e medicalização: morte natural
Durante todo este trabalho viemos percebendo que a morte 'natural' não existe
para a maior parte das sociedades. Observamos que toda morte é pública,
coletiva, social – sempre resultado de uma vontade adversa. Um problema,
enfim, muito mais 'sociológico' que 'biológico'.
Em certo sentido, a categoria de 'biológico' é resultado da separação entre o
corpo e alma: "a biologia supõe fundamentalmente a dualidade da alma e do
corpo" (Baudrillard, 1979: 48 – grifo do autor). Dessa dualidade nasce a
Morte, a morte verdadeira, tal qual a conhecemos: porque, de certo modo,
essa dualidade é a morte mesma. A liberação da alma e sua transcendência
em relação ao corpo transformam-no em objeto, em dejeto: ele não pode ter
outro destino senão a morte.
Como em qualquer cultura, é preciso exorcizar a morte, é preciso dominála.
Entretanto, estamos diante de uma cultura diferente: a morte será exorcizada
de modo diferente. Até o advento da ciência moderna, a percepção da
incapacidade humana se expressava na linguagem da religião. A vontade de
Deus, a boa ou a má sorte, governavam os destinos humanos. Havia técnicas
de intervir sobre estes fatores, mas os desígnios de Deus e da fortuna eram
inacessíveis ao homem: a magia e a oração poderiam mudar o fluxo das
coisas, mas este dependeria sempre da vontade de Deus – e contra esta
nenhuma transformação era possível.
A partir do século XVI esta concepção passa a ser crescentemente
inaceitável. Com a separação do corpo e da alma, dos assuntos naturais e dos
assuntos considerados verdadeiramente humanos, as coisas da alma são
distanciadas ou colocadas entre parênteses. Começa-se a considerar o homem
como uma das espécies biológicas, seus processos fisiológicos submetidos a
profunda investigação científica.
Existe aí um problema muito especial. A ciência, que insere o homem na
natureza, dota-o ao mesmo tempo da capacidade de manipulá-la, de
transmutar umas sustâncias químicas em outras, de criar substâncias
artificiais, de modificar o fluxo natural das coisas, de alterar as leis da
genética ou fazê-las operar em seu favor. Enfim, dota-o da capacidade de
mudar o mundo à sua vontade. Mas submeter o mundo à vontade é próprio de
um deus, não de um homem; de um ser imortal, não de um mortal.
É preciso exorcizar a morte: transformá-la urgentemente em algo natural,
porque é a natureza que os homens agora sabem poder controlar. O conceito
de 'morte natural' aparece como a colocação de um problema, como a
******ebook converter DEMO Watermarks*******
montagem de uma extraordinária equação cujo desenvolvimento se
prolongará até os nossos dias e seguramente nos ultrapassará: um sonho
louco de transformar a natureza do homem, dotando-a da natureza dos deuses
e, principalmente, da imortalidade no aqui. Este projeto está intimamente
ligado ao imenso programa de domínio da natureza e particularmente à
história da medicina. Bacon (1965: 209) chama atenção para o fato de que o
dever da medicina é o prolongamento da vida: "Nós o dividiríamos em três
partes, a primeira das quais é a conservação de saúde, a segunda a cura das
doenças e a terceira o prolongamento da vida". Este último dever é o mais
recente.
Esta estratégia não é difícil compreender. Para imortalizar o homem, a
ciência o introduz no domínio da natureza, isto é, coloca-o dentro das
fronteiras do que é mortal. Mas este território é também aquele que o homem
pode modificar através da ciência. A concepção de morte natural que
encontramos no início da Idade Moderna pressupõe a capacidade humana de
intervenção sobre as leis da natureza e o desenvolvimento do ambicioso
projeto de supremacia sobre elas.
Ao mesmo tempo, a noção de morte natural é coerente com o espírito das
classes que então emergem: ela é um protesto contra a brevidade da vida,
porque, se a morte não deriva mais do arbítrio das forças do além, mas de
causas a que os homens estão submetidos enquanto partes da natureza, ela
deriva, por conseguinte, de causas que os homens podem, senão abolir, ao
menos controlar (eliminando a morte violenta, a morte precoce, a morte
casual...). Assim, a morte 'natural' transforma-se rapidamente em uma
aspiração e logo em um direito tácito das classes dominantes e emergentes,
que passam a cultivar o ideal da morte natural, isto é, acompanhada
medicamente, sem sofrimento e que acontece em idade avançada.
A história da morte natural é também a da medicalização da morte e da 'luta
contra a morte'. Aqui encontramos novas distinções, novas discriminações,
características da cultura ocidental moderna: a morte sempre tinha sido uma;
não se pensava muito sobre suas diversas formas. Era a vontade de Deus e
ponto final. Protestar contra a decisão divina, um sacrilégio. Agora a morte se
divide em duas: de um lado, uma morte considerada normal, natural, porque
afinal de contas (por enquanto) tudo deve terminar; de outro, uma morte outra
– anormal, indigna, inaceitável – que se pode atribuir a uma causa externa
não natural (isto é, não controlável). Aos dominados, é claro, está reservada
esta segunda morte, a morte 'não-natural'.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
A medicalização da morte é também recente. O terapeuta tinha
tradicionalmente duas obrigações fundamentais: por um lado, ele podia
ajudar seu cliente a encarar a morte, tornando-a mais suave, ajudando o
moribundo a suportá-la se houvesse obtido o consentimento deste. Curando
ou ajudando a morrer, o trabalho do médico não assumia jamais o caráter de
uma luta contra a natureza. Neste contexto a idéia de adiar a morte, de
prolongar artificialmente a vida, não tem lugar: ela parece às mentalidades da
época uma blasfêmia, uma ofensa à vontade divina e, mesmo, um contra-
senso que adiaria os prazeres do paraíso. Além disso, o médico está obrigado
a manter seu cliente a par de seu estado e inteiramente impedido de omitir-lhe
a proximidade da morte. Quando fossem religiosos, os médicos estavam
formalmente impedidos pelo Concílio de Latrão (1215) de continuar
exercendo o papel de terapeutas diante dos moribundos, sobrepondo-se a este
o de sacerdote.
É no meio desta cena que o médico leigo começa a se apropriar da morte,
mas não sem intensa disputa de poder contra os representantes da religião. Os
conflitos são freqüentes: o confessor se reserva o direito de ser o único
presente à cabeceira do doente no momento da expiração; os Concílios de
Ravena (1311) e de Paris (1429) proibiram que os médicos se apresentassem
no quarto de um doente se o confessor aí não tivesse comparecido
anteriormente e incentivavam os médicos a não fornecer medicação alguma
aos moribundos que tivessem recusado a presença de um padre.
Todas essas proibições e exortações são, entretanto, signos de mudanças que
apontam para outra direção. Nos séculos XVII e XVIII, os médicos terão já
substituído na cabeceira dos moribundos os homens da Igreja e já estará
largamente anunciada a morte quase integralmente laica do século XX. Além
disso, começarão a se desenvolver os interesses dos indivíduos leigos pelos
meios de se sentir bem, de conservar a saúde, de prolongar a vida, de
perceber os sintomas das doenças, de discriminar entre os bons e os maus
médicos, os medicamentos eficazes e inoperantes, e assim por diante.
Tendo sempre a morte como contraponto e, mais particularmente, a morte
'natural', o médico, inspirado na oposição corpo/alma, desenvolve o seu
conceito novo de doença e as formas novas de tratá-la. Da idéia de morte
natural, a doença adquire o caráter de elemento exterior, de estrangeiro
inimigo. Por este caminho, a doença se transforma em uma entidade estranha
ao homem, exterior a ele, distante dele, capaz de comportar um tratamento
médico específico, isolável dos outros aspectos da sua integridade humana.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
O interesse do médico no final do século XVIII se desloca do doente para a
doença. O indivíduo doente se transforma em um 'caso', portador de um
rótulo patológico qualquer. Rapidamente o hospital se transforma no depósito
desses casos, aonde afluem os pobres, dispostos a expor os seus males a
qualquer médico disposto a tratá-los. Em troca, os médicos os estudam. Os
hospitais passam a constituir uma espécie de museu de doenças, onde os
médicos e os estudantes vêm se exercitar, vêm aprender a tratar outros casos
similares. Fora desses 'casos', fora das doenças nomeadas e catalogadas, das
quais se sabe que ela é o fim previsível, a morte não tem sentido e o
tratamento não encontra rumo. A morte antiga, diante da nova medicina,
começa a deixar de existir: os desígnios de Deus e a força vital são
progressivamente substituídos pelas 'doenças mortais', por uma
multiplicidade de causas específicas que se transformam nos novos
responsáveis pelos falecimentos. A morte foi deposta. Agora, diversas mortes
começam a imperar, cada uma delas mais ou menos passível de ter sua causa
específica dominada pelo saber do médico.
Uma outra observação se impõe: a medicalização da morte e o conceito de
morte natural estão estreitamente associados à emergência ao poder de uma
nova classe. Tradicionalmente os médicos recusavam a obrigação de
prolongar a vida; mas, agora, sob os estímulos dessa classe de pessoas que se
recusam a deixar a vida, este tipo de prestação passa a ser muito bem
retribuído: "este novo tipo de cliente é um homem rico que se recusa a
morrer, que quer ir até o fim de suas forças e morrer em plena atividade. Ele
só aceita a morte se ela o encontrar em boa saúde, com idade avançada mas
sempre válido" . No início da Idade Moderna tais homens eram raros; mas
nos meados do século XIX eles não poderão mais ser contados: "o pregador
que esperava ir para o céu, o filósofo que negava a existência da alma e o
negociante que queria uma vez ainda dobrar o seu capital estavam de acordo
em pensar que a única morte conforme à natureza é aquela que os encontraria
em suas mesas de trabalho" (Illich, 175: 185).
Até então somente os reis e os papas se viam constrangidos a permanecer no
comando de seus empreendimentos até o fim de suas vidas. Somente estas
pessoas recorriam aos médicos durante a Idade Média e a Renascença com o
intuito de serem ajudadas a permanecer nos postos de comando: mas estes
eram médicos especiais. Os médicos da corte davam aos monarcas a mesma
assistência que os barbeiros davam aos homens comuns: sangravam-nos e
purgavam-nos. Além disso, protegiam-nos dos envenenamentos. Mas os reis
******ebook converter DEMO Watermarks*******
não esperavam viver mais que os homens em geral e não esperavam de seus
médicos serviços especiais neste sentido. A nova classe de anciãos, ainda
segundo Illich, via na prolongação da vida um valor econômico absoluto e
pagava seus médicos na mesma medida, impondo a estes a obrigação de
prolongar a vida o máximo possível. Envelhecer tornou-se um meio de
capitalizar.
Ao mesmo tempo, duas outras variáveis se associam para tornar possível esse
sonho de prolongação existencial: por um lado, a difusão, entre os burgueses,
do hábito de fazer com que seus filhos estudem passa a permitir que os
velhos fiquem por um tempo maior ocupando os postos de comando (nesse
sentido, a invenção da 'infância' pela burguesia, tem uma evidente
significação política); por outro, a vida menos desgastante fisicamente que
esses burgueses passam a levar começa a tornar este sonho materialmente
realizável.
Por esse caminho, a idéia de morte vai tornando-se cada vez mais difícil de
aceitar por esses indivíduos e cada vez menos se vai sentindo a morte como
uma possibilidade próxima. A conseqüência de tudo isso é um pouco
paradoxal: de um lado, é cada vez mais preciso se preparar para a morte; de
outro, cada vez mais, as responsabilidades sobre o que fazer após a morte são
transferidas para os membros da família. O indivíduo quer cada vez menos
pensar na própria morte e, mesmo doente, não é mais a maior parte das vezes
que seu médico o advertirá da gravidade de seu estado e da proximidade do
desenlace. No século XIX será já necessário interrogar o médico, para que
diga alguma coisa sobre as possibilidades de vida de seu paciente. A
resignação à idéia de morrer está longe no passado; a grande obstinação do
tempo não é mais a própria morte – esta começou a se transformar em tabu –
mas a morte do outro, a morte do próximo, do amigo, do parente. A partir do
século XVIII e sobretudo no século XIX, por omissão do indivíduo, são os
familiares que se ocupam da morte dele, temendo seu desaparecimento antes
e cultuando sua memória e seu túmulo depois do acontecimento da morte.
A burguesia inventa, portanto, um sentido novo para a morte e atribui a ela
uma qualidade nova: a secularização. Neste palco novo, um personagem
também novo aparece e esta aparição com o tempo vai adquirindo um peso
cada vez mais considerável. Este personagem é o médico, que se apropria da
morte porque não só foi obrigado a prolongar a vida de seus clientes, mas
também porque no enredo da farsa que se desenrola seu papel é cada vez
mais nítido: não falar em morte. Ele faz parte de um complô de silêncio cujo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
arquiteto muito freqüentemente foi o próprio paciente: é este que muitas
vezes solicita a seu médico nada revelar sobre seu estado; é este que quer que
seu estado fique secreto. O médico se transforma em detentor de um segredo
profissional, que é também um segredo comercial na medida em que a vida
de seu cliente é um capital submetido às regras do sistema econômico.
Nesse contexto, é compreensível que a morte tenha se transformado em uma
questão política e que o poder passe a se interessar em se apropriar da doença
e do tratamento: aí está a origem próxima da morte contemporânea, sob
tratamento hospitalar intensivo. Em contraste, no outro extremo da escala
social a morte continua soberana: para os pobres, nada de tratamento médico,
ou quase nada. Por isso, começam a descobrir na morte uma fonte de
reivindicações – contra o não-tratamento de suas afecções, contra sua
condenação a morrer de morte não natural.
Silenciada e deslocada em um plano, a morte começa a manifestar-se em
outro: no dos fantasmas individuais e coletivos. Primeiro, a dúvida (ou
esperança) de que morto não esteja realmente morto, o pavor de ser enterrado
vivo. Os casos se multiplicam de pessoas que são encontradas em posição
diferente daquela em que haviam sido colocadas em suas sepulturas, de
caixões arranhados, de vozes que se ouvem em proveniência de túmulos, de
cadáveres que se autodevoram e assim por diante. No momento mesmo em
que tentam iludir a morte, os homens começam a temer ser iludidos por ela,
começam a temer a morte aparente.
Este imaginário algumas vezes se transformou em instituição: no final do
século XVIII e início do XIX, em Berlim, em Weimar e em Munique, uma
espécie de estabelecimento foi criado, onde os mortos deveriam permanecer
expostos diante de observadores atentos à sua menor manifestação até o
início da putrefação, a fim de que antes do enterro houvesse a certeza de que
o morto estivesse verdadeiramente morto. Muitos solicitavam a um parente
ou amigo que testasse, com uma faca ou agulha, se a morte realmente tinha
acontecido, ou pediam que se demorasse o máximo possível a fechar o caixão
e a proceder ao enterro, tentando exprimir, ambiguamente, a angústia diante
da possibilidade de uma morte precoce e a esperança de que a morte não
fosse verdadeira, de que pudessem conseqüentemente retornar à vida.
Em segundo lugar, o medo dos mortos vem se adicionar ao medo da morte.
Histórias fantásticas se multiplicam, cujos protagonistas são pessoas falecidas
que reaparecem, que voltam para ajustar suas contas com os vivos. Não se
trata simplesmente de associação entre morte e inferno, mas do
******ebook converter DEMO Watermarks*******
desenvolvimento de um inédito fascínio pela morte, em que os esqueletos
substituem os cadáveres em decomposição dos tempos medievais,
exprimindo uma nova problemática diante da morte: crânios e tíbias são
promovidos a significantes especiais, combinados a outros objetos (foices,
relógios, enxadas de coveiros...) e dispostos em lugares familiares (mesas,
prateleiras...).
Nessas representações macabras, não se trata nem da evocação do ancestral,
comum nas sociedades tribais, nem da convivência familiar com os mortos e
a morte, característica dos idos medievais. A 'morte seca' é evocação da
Morte – ameaçadora, inimiga, frustradora dos planos terrenos, interruptora do
tempo linear, representante, enfim, da ansiedade de uma cultura que sabe
cada vez menos como encontrar a morte e que se encontra confusa e inquieta
diante de suas interrogações sobre a natureza da vida e sobre o sentido das
existências individuais. Mas esta representação é também uma espécie de
canto do cisne da simbólica funerária no Ocidente: a partir dela a retórica
funerária se mostrará cada vez menos exaltada, o medo imporá silêncio sobre
a morte e ela deixará de ser representada explicitamente.
Como tudo, aliás, que diga respeito à morte, este processo é
extraordinariamente complexo e comporta inúmeras contradições aparentes
entre seus planos constituintes. Assim, como acabamos de ver, ao mesmo
tempo em que pretende silenciar sobre a morte a época clássica é obrigada a
defrontá-la em seus fantasmas, em seus delírios de reaparição de mortos e de
mortes aparentes. Da mesma forma, o silêncio que através da sua
secularização se quer impor à morte é combatido e contestado pelo poder de
uma religiosidade ainda consideravelmente atuante. A morte, que se quer pôr
à distância, continua em muitos planos ainda presente (do que a arte religiosa
barroca parece ser um magnífico exemplo). Esse discurso religioso consiste
essencialmente em lembrar a todos a fragilidade e a brevidade da vida, o seu
caráter vão em última instância e o fato de que o corpo é coisa fadada à
decomposição. Ele lembra a necessidade de preparação para a morte e a
conveniência da dissolução do momento final por toda a duração da
existência. Ele releva o episódio das mortes individuais como acontecimentos
pedagógicos a que o maior número de pessoas deva assistir a fim de bem
interiorizar as regras do bem morrer.
Para se realizar, essa interiorização exige um exercício cotidiano. Diversos
livros sobre a arte de morrer são editados e muitas vezes reeditados, todos
lembrando a necessidade da preparação cotidiana, a importância de viver na
******ebook converter DEMO Watermarks*******
companhia da morte. Tais tratados assumiam a forma de regras práticas a
observar, de receitas de bem viver/bem morrer. Michel Vovelle estudou de
perto estes manuais e de dois deles apresenta os extratos seguintes, capazes
de nos fornecer uma idéia bastante aproximada do teor desses textos:
Enfim, para te propiciares uma morte santa, faz estas três coisas: 1 Toma
todos os meses um dia para pensar mais seriamente durante algum
tempo na morte; 2 Quando fores atacado por alguma doença um pouco
considerável dispõe-te a tudo o que puder te acontecer de mais
aborrecido; 3 Tem um amigo fiel que te advirta livremente a partir do
momento em que tu estejas em perigo sem que seja necessário tomar
muitas precauções para te dizer essa notícia. É o melhor conselho que eu
posso te dar; porque muitos são sempre surpreendidos pela morte, por
falta de encontrar um amigo sincero que queira lhes prestar este bom
ofício. (La Douce et Sainte Mort, Pe. J. Crasset de la Cie. de Jésus,
Paris, 1680, apud Vovelle, 1974, p. 65-7)
Em seguida, o autor nos apresenta o sumário dos conselhos que outro manual
da época oferece a seus leitores:
Disposições remotas: I Pensar todos os dias na morte: 1. Que é certa. 2.
Que está próxima. 3. Que é enganosa. 4. Que é terrível. 5. Que é cruel.
6. Que é semelhante à vida. II Bem viver: 1. Evitar o pecado mortal e
venial de propósito deliberado. 2. Atacar sua paixão dominante. 3. Amar
a cruz. 4. Freqüentar os Sacramentos. 5. Praticar a oração e a obediência.
6. Ter uma grande devoção à Santa Virgem. III Fazer cedo seu
testamento. 1. Fazer celebrar missas diante de sua morte. 2. Fazer seu
testamento em boa forma. 3. Devolver os bens mal adquiridos. 4. Pagar
suas dívidas. IV Manter-se fiel a algumas práticas dos santos, para
pensar na morte e se preparar para ela: 1. Ao se deitar, colocar-se na
postura de um morto. 2. Comer em cada refeição um pedaço de pão para
alimentar os vermes que comerão o corpo. 3. Olhar as doenças como
companheiras da morte. 4. Ter uma caveira no quarto e meditar sobre o
que ela foi, sobre o que ela fez, disse e pensou; o que ela é, o que ela
será e refletir sobre si. 5. Fazer seu Relicário e seu Túmulo, e os beijar
todos os dias. (Oeuvres Completes, Grignion de Monfort, cap. III, n. 3,
'Dispositions pour bien mourir ', apud Vovelle, 1974)
Já observamos que não é necessário preparar algo com que se esteja
familiarizado. De fato, ao fim de uma vida construída sobre a idéia da morte,
era de se esperar que o acontecimento derradeiro devesse ser facilitado e
******ebook converter DEMO Watermarks*******
vivido como algo natural. Mas na realidade isto não acontecia mais: a
promoção da morte ao status de cena principal da vida, a frustração que ela
comporta e a ameaça de punição de que está imbuída transformaram-na em
momento terrível, que o indivíduo tem cada vez menos capacidade de
enfrentar sozinho. Ao mesmo tempo, o indivíduo se vê no centro de um
enorme cerimonial coletivo que faz de sua morte o momento de reflexão
sobre as contradições mais agudas dos grupos sociais a que pertencia,
contradições essas que estão presentes também em sua mente: a começar pela
própria idéia de morte – que ele não queria aceitar, na qual não pensava senão
a contragosto, para a qual foi obrigado a se preparar porque no fundo nela
não acreditava – e que agora se faz presente nos quadros de uma ritualidade
marcada pelo exagero massacrante da ostentação barroca.
Esse discurso religioso sobre o caráter vão da vida não se opõe entretanto de
maneira conservadora às tendências em vias de dominar o sistema
socioeconômico da época. Esta idéia de vanidade brota no espírito dos
homens da Igreja, mas rapidamente se infiltra nas mentalidades coletivas e
passa a comandar as atitudes novas diante da riqueza, do prazer e da matéria.
Tais felicidades terrenas não são mais desejáveis por si mesmas e por isso
podem ser adiadas e submetidas a um programa 'racional'. Nesse sentido, a
idéia de que a vida é vã é solidária à implantação do capitalismo: se o gozo
imediato dos bens continuasse dominante, a idéia de investimento não teria
podido se impor e a idéia de acumulação dos lucros teria sido absolutamente
impossível. Retirada do circuito de fruição imediata governada pelo prazer, a
riqueza adquirida se transforma em fonte de novos lucros. Compreende-se,
então, por que esta exaltação ascética se erige no verdadeiro prazer terreno.
Outra transformação fundamental caracterizando a relação da sociedade do
Grande Século com a morte foi a laicização dos cemitérios e sua separação
das igrejas bem como das cidades, sob impulso de uma ideologia higienista
inspirada pela ciência.
Vimos em algumas páginas anteriores que, durante a Idade Média, as
sepulturas eram colocadas dentro ou ao lado das igrejas e estas no coração
das cidades: o cemitério se confundia com a igreja e oferecia à população o
melhor lugar para as manifestações públicas e coletivas da comunidade. A
convivência com a morte inclui a proximidade com a decomposição, seja de
modo figurado, nas artes, seja de modo concreto, nas exumações ou nas
sepulturas coletivas que permaneciam meio abertas até serem completadas.
Nos cemitérios aconteciam as coisas públicas, até aproximadamente 1750:
******ebook converter DEMO Watermarks*******
neles as pessoas iam passear, dançar, vender e comprar, lavar a roupa; neles
se dava a justiça, se resolviam questões políticas da comunidade, se
consumavam execuções, se faziam reuniões, representações teatrais e se
deixava o gado pastar.
Nos séculos XVII e XVIII a situação começa a mudar. A intimidade com os
mortos, que sempre provocou a reprovação da Igreja, agora começa a lhe soar
como verdadeiro escândalo. A utilização 'profana' dos cemitérios passa a ser
objeto de vigorosos protestos da Igreja, mas desta vez estes protestos são
seguidos de medidas práticas. Protestar contra a familiaridade com os mortos,
a Igreja sempre o fez: mas agora começa a construir muros em torno dos
cemitérios e ordena que as portas sejam mantidas fechadas. Coerentemente, a
inumação no interior das igrejas se torna mais difícil, tende a desaparecer e o
retorno ao cemitério surge como uma das tendências principais da época: um
número cada vez maior de pessoas, que anteriormente se teriam feito enterrar
nas igrejas, dirige-se agora para os cemitérios.
Estas pessoas carregam consigo a vontade de ancorar as suas identidades
nesses cemitérios. O desejo de individualização existia antes da separação
topológica entre o cemitério e a igreja e correspondia a transformações que
transcendiam o campo específico das representações funerárias. Através
desse desejo, como cada indivíduo procurasse reproduzir no espaço funerário
a sua individualidade, o mundo dos mortos passa a espelhar o mundo dos
vivos de maneira quase direta, instituindo-se em "lugar de reprodução
simbólica do universo social" (Urbain, 1978: 85).
Assim, ainda segundo Urbain (1978: 103),
no século XVIII, o espaço funerário apresenta a cena seguinte: em torno
dos túmulos monumentais, com efígies prestigiosas de reis, rainhas,
nobres, bispos e outros poderosos, existem placas, às vezes com retratos,
freqüentemente com uma simples inscrição: são os negociantes e
artesão; depois, existe também este enorme branco, este vazio discreto,
este nada semiológico dos humildes, dos pobres, dos sem poder, que
traduz a inexistência deles: neste mundo-espelho que é o espaço
funerário, os pobres não se refletem! No Ocidente, se não se remete o
morto à sua diferença, remete-se, ao contrário, os vivos à sua diferença
social até mesmo na morte. (grifos do autor)
Este espelho, que é o cemitério, reproduz a sociedade também em outras
dimensões. A proximidade entre cadáveres e vivos, a que nossos
antepassados estavam habituados, passa doravante a incomodar. Este quadro
******ebook converter DEMO Watermarks*******
é literalmente insuportável, do ponto de vista da sensibilidade do século XVII
e dos séculos seguintes. É aí que a repugnância contemporânea aos odores e
emanações que acompanhavam as práticas funerárias medievais encontra o
seu nascimento. Em razão dessa intolerabilidade, é necessário modificá-las
urgentemente.
Subitamente, uma nova consciência urbanística e higiênica se manifesta,
lembrando que determinados abusos não poderiam continuar sendo
praticados, especialmente a facilidade demasiadamente grande com que se
permitia a construção de moradas de mortos no meio das habitações dos
vivos. Estas novas técnicas vêm advertir que os 'odores fétidos' exalados
pelos cadáveres eram uma indicação da própria natureza de que eles
deveriam ser postos à distância; além disso, estas teorias reabilitavam as
decisões dos povos da Antiguidade no sentido de colocar os mortos em
sepulturas periféricas.
Uma imensa lista de argumentos se adiciona aos argumentos fundamentais:
as casas agora são altas e as exalações que anteriormente se perdiam no ar são
impedidas de se dissipar; tais emanações, transportadas pelo vento, se
depositam nas superfícies das paredes e ameaçam provocar doenças
contagiosas; os vizinhos dos cemitérios não podem conservar os alimentos,
pois estes se decompõem rapidamente; o ouro e a prata, os objetos brilhantes,
em geral, nas proximidades dos cemitérios perdem logo o lustre; as feridas
nessas regiões ficam mais abundantemente supuradas; a decomposição dos
corpos é causa de epidemias e as casas próximas aos cemitérios são sempre
as primeiras a ser atacadas... Multiplicam-se nesta época as dissertações
eruditas que pretendem provar o poder fatal dos cadáveres inumados nas
igrejas, tornados agora responsáveis pelas mortes de crianças que aí se
reuniam para aprender o catecismo. Algumas pretendem conhecer casos de
coveiros que teriam sido fulminados ao romperem acidentalmente com suas
enxadas o ventre de um cadáver. Outros textos ainda querem demonstrar o
poder perigosamente corrosivo das terras em que uma grande quantidade de
inumações tenha sido realizada.
O objeto dessa repulsa é o cemitério na superfície e o cadáver na
profundidade. Michel Vovelle (1974: 200-2) registra uma carta anônima cujo
autor subordina a saúde pública ao tratamento individual dos cadáveres:
Um doente morre e é mantido em sua casa vinte e quatro, às vezes
quarenta e oito horas: será ainda necessário guardá-lo em um depósito,
descoberto, durante dez ou doze horas (...). Eis um cadáver que lança ao
******ebook converter DEMO Watermarks*******
ar sua infecção perigosa durante cinqüenta ou sessenta horas; o
movimento que se é obrigado a fazer com ele várias vezes, para o levar à
igreja e de lá ao depósito (...) aumenta ainda esta infecção, fazendo-a
sair. Esta infecção, já tão perigosa para um só corpo, quanto não será
para vários, para a multidão de mortos que pode existir em Paris, e
também por causa da temperatura do ar? (...). Assim, o interior de Paris
será, a todo momento do dia e em todos os bairros, enchido de
putrefação cadavérica e pestilenta.
Contra esses perigos, a distância e o fogo são os melhores remédios: em
1709, em Paris, grandes fogueiras são acesas nas praças públicas para
eliminar o escorbuto; durante as exumações acendiam-se fogos, como se fez
em 1785 no cemitério dos Inocentes. Entretanto, é o distanciamento que será
considerado a solução mais adequada. Os fenômenos que os médicos e a
opinião pública crêem observar não são mais denunciados como coisas do
diabo, mas como um aborrecimento natural, para o qual é necessário
encontrar um remédio. A administração pública ataca o problema em duas
frentes básicas: a primeira consiste em encomendar pesquisas a médicos
sobre a periculosidade dos cemitérios; a segunda, em legislar sobre o assunto,
impondo novas regras oficiais de relacionamento com os mortos. Enquanto
isso, no terreno da religião, multiplicam-se os estranhamentos relativos às
práticas de inumação dentro das igrejas, assim como os textos e sermões
lembrando que nesses lugares se deve sentir o perfume do incenso e não
outros odores...
Em 1765, uma decisão do Parlamento de Paris regulamenta as sepulturas e a
transferência dos cemitérios para fora da cidade; em 1776, uma declaração
real proíbe o enterro dentro das igrejas e no interior das cidades; entre 1785 e
1787, o cemitério parisiense dos Inocentes é desmontado e os ossos afastados
da cidade; no calendário implantado pela Revolução, um decreto de 23
prairial possibilita "sem necessidade de autorização, colocar sobre o túmulo
de parente ou de amigo uma pedra tombal ou signo distintivo de sepultura";
um ordenamento de 6 de dezembro de 1843 virá limitar esta liberdade à
aprovação do prefeito. No início do século XIX, depois de terem sido
afastados das igrejas e cidades, o princípio de separação dos mortos entre si
(melhor, das famílias dos mortos entre si) se impõe, através da prática de
fazer uma sepultura para cada morto, porque assim "quase não haverá
cheiro".
Todavia, estes dispositivos legais não se fizeram e não se impuseram sem
******ebook converter DEMO Watermarks*******
concessões aos privilegiados. A decisão do Parlamento, que proibia a partir
de 1º de janeiro de 1766 enterrar nos cemitérios existentes em Paris, ordenava
também que
examinar-se-ia se os cemitérios eram perigosos ou não; que nenhuma
sepultura poderia ser feita no futuro nas igrejas, excetuadas as dos
padres, dos superiores, dos fundadores e das famílias que têm capelas e
jazigos; que se colocariam os cemitérios fora da cidade e além dos
subúrbios; que os cemitérios seriam cercados por muros de dez pés de
altura. (Ligou, 1974: 64)
No mesmo sentido, a declaração real de 10 de março de 1776
limita o direito de enterro dentro das igrejas (artigo 1º), exige (artigo 2º)
a construção de jazigos, afirma que o direito aos jazigos é incessível
(artigo 3º), transfere os direitos das pessoas que podem ser enterradas
dentro das igrejas dos conventos, do interior destas para o claustro
(artigo 4º), exige (artigo 5º) que as pessoas que têm direito a serem
enterradas nas igrejas paroquiais possam escolher seus lugares nos
cemitérios, fixa (artigo 6º) o estatuto dos religiosos, precisa (artigo 7º)
que os cemitérios que se descobrirem insuficientes para conter os corpos
dos fiéis poderão ser aumentados e que aqueles que, colocados no
recintos das habitações poderiam ser nocivos à salubridade do ar, serão
levados, 'tanto quanto o permitirem as circunstâncias, para fora dos
recintos antigos...'. Enfim, o artigo 8º concede isenções fiscais às
municipalidades que comprarem terrenos para este uso. (Ligou, 1974:
65)
Quanto aos pobres, um progresso: o decreto de 23 prairial do ano XII
determina que seus corpos não serão mais superpostos, mas justapostos, e que
nenhuma sepultura poderia ser aberta e reutilizada antes de um período de
cinco anos. Além disso, os sarcófagos, que desde a Antiguidade eram
privilégio dos ricos, começam a se 'democratizar' através da generalização do
uso dos caixões e do enfraquecimento do costume de se enterrar os pobres
diretamente no chão. Esta prática durou seguramente até o final do século
XVIII, época em que muitos testadores solicitavam expressamente que seus
corpos fossem enterrados em caixões – o que prova que a prática não era
automática.
Um século depois, as teorias científicas serão inteiramente outras e serão de
novo coincidentes (por acaso ou não) com a opinião pública da época. O
Conselho Municipal de Paris, segundo nos informa Philippe Ariès (1977:
******ebook converter DEMO Watermarks*******
533-4) encarregou em 1879 uma comissão de especialistas de examinar as
possibilidades de tornar mais salubres os cemitérios então existentes. A
resposta desses especialistas destrói um século de argumentos: "os pretensos
perigos da vizinhança dos cemitérios são ilusórios...". De fato, diversas
experiências haviam já sido feitas, demonstrando por exemplo que a água
extraída de um poço em um cemitério "dissolvia o sabão, cozinhava os
legumes. Era límpida, inodora e de bom sabor", ou que animais criados em
pastos onde organismos estavam enterrados para se decompor apresentavam
uma evolução normal de seus pesos, ou, ainda, que "o vapor d'água que se
eleva do solo, das flores e das massas em putrefação é sempre
micrograficamente puro" e que "os gases que provêm de matérias enterradas
em vias de decomposição são sempre isentos de bactérias"; em suma, no que
se refere aos cemitérios de Paris, "a saturação do solo pela matéria cadavérica
não existe nem do ponto de vista dos gases, nem do ponto de vista dos
sólidos". Mas, a esta altura, os mortos já terão sido separados e afastados.
O cemitério moderno, como os cemitérios antigos, retorna ao exterior dos
muros das cidades. O morto de agora, como os mortos antigos, é expulso dos
templos. Em poucos anos, hábitos milenares são abolidos em nome das regras
de higiene e do 'perigo' que eles representavam para a segurança pública. A
oposição entre o corpo e a alma materializa-se também nas concepções e
projetos arquiteturais e urbanísticos e os argumentos de higiene prevalecerão
sobre os de dignidade, piedade e respeito aos mortos. Em dois anos, de 1785
a 1787, o cemitério dos Inocentes, por exemplo, foi revirado de todas as
formas e dele foram extraídos "mais de 10 pés de terra infecta de fragmentos
de cadáveres", foram abertas "40 ou 50 fossas comuns, das quais se
exumaram mais de 20.000 cadáveres" e se deslocaram "mais de 1.000
carretas de ossos". Como observou Philippe Ariès (1975: 161), "oito ou nove
séculos de mortos retirados de uma sepultura que muitos haviam
piedosamente escolhido na sua última hora" e cujo deslocamento se decidiu a
partir de princípios de salubridade ou finanças, nunca a partir de critérios de
respeito aos mortos e de afeição à terra em que repousavam os ancestrais
(preocupação que certamente existia, mas que foi silenciada e dominada). A
partir desse momento, a vida e a morte serão profundamente diferentes.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
12 A morte romântica
A morte e a vida serão diferentes, mas continuarão ostensivamente presentes
nos cotidianos dos homens do século XIX e do início do século XX. As
execuções, por exemplo, mesmo tendentes ao desaparecimento e realizadas
cada vez menos em público, serão ainda ocasiões de verdadeiras explosões da
excitação coletiva: bastava que fosse afixado um decreto de execução para
que ecos longínquos aflorassem imediatamente. Mesmo que alguns países
europeus tivessem já abolido a pena de morte e que outros simplesmente a
tivessem deixado cair em desuso, onde acontecessem, as execuções
assemelhavam-se às cenas medievais de festa coletiva. Em 1807, em
Londres, uma multidão de 40.000 pessoas vindas para assistir às execuções
de Holloway e de Hoggarti "foi tomada de um tal delírio que, ao final do
espetáculo, permaneceu sobre o terreno cerca de uma centena de mortos"
(Camus & Koestler, 1972:24-5). Tamanha empolgação não afetava somente
os membros das classes populares: construíam-se tribunas para as pessoas
distintas, "exatamente como se faz hoje nas partidas de futebol"; as mulheres
da aristocracia cobriam o rosto com uma máscara de veludo negro e faziam
fila para encontrar o condenado em sua cela; jovens de famílias bem situadas
atravessavam o país de um lado a outro para poderem assistir a uma
execução. Tudo isso em plena época romântica, em que "as mulheres
desmaiavam à menor emoção e homens barbudos versavam doces lágrimas
entre os braços uns dos outros".
Este quadro espetacular tende a reproduzir-se à sua maneira nas mortes do
dia-a-dia: de um lado, a ritualização da morte corresponde a um imenso
exagero no plano das manifestações públicas; de outro, estas manifestações
são cada vez menos públicas. É verdade que se continua a morrer segundo os
padrões tradicionais, isto é, diante dos outros. O moribundo espera a morte
em seu leito e preside uma cerimônia organizada por um protocolo conhecido
de seu ator e de seus espectadores. Dessa assistência, todos podem participar:
o quarto do doente constituía um lugar público até o final do século XVIII,
quando os médicos começam a protestar contra esta invasão. É claro, aí está
uma modificação evidente: enquanto os espectadores se preocupam em
ritualizar a morte, o desejo do médico é adiá-la e lutar contra ela. Assim, em
nome das regras de higiene, o público da cerimônia de morte é mutilado e se
reduz aos familiares do doente, adultos e crianças. No centro da cena, o padre
confessa, freqüentemente em público, aquele que vai morrer – mas sua
presença começa a comportar, para os olhares da época, uma certa
******ebook converter DEMO Watermarks*******
brutalidade e uma franqueza que incomodam tanto quanto consolam – e o
moribundo, do alto de seu poder patriarcal, abençoa cerimonialmente os
sobreviventes e distribui instruções para o futuro.
Esta cena tradicional podemos surpreendê-la no século XVIII através da
descrição célebre que nos deixou em suas Mémoires o Duque de SaintSimon,
a propósito da morte do rei Luís XIV. Ela é ainda a mesma do século XIX,
mas contém modificações que a comparação ao modelo tradicional nos
permitirá depreender.
A morte do rei se desenrola durante quase um mês: sua saúde declinava
nitidamente há quase um ano e seu médico "era o único que não se apercebia
de nada" (talvez mesmo porque fosse esta a função do médico: calar-se).
Entre 9 e 23 de agosto de 1715, ele se retira progressivamente da vida
normal: deixa de sair, deixa de andar, deixa de ficar em pé sem apoio... De 23
a 31 de agosto o rei agoniza, e morre a 1º de setembro, às oito horas, com a
idade de 77 anos, no 72º de seu reinado. As páginas de Saint-Simon no-lo
mostram lúcido, com plena consciência de seu estado, resolvendo calma e
organizadamente os seus negócios com Deus e com os homens: examina
gavetas, queima papéis, enfrenta a ação de pessoas que querem levá-lo a
prover cargos vagos. Confessa no domingo, 25 de agosto, e recebe a unção
dos santos óleos. Em 26 de agosto, dirige-se às pessoas que o cercavam:
Senhores, eu vos peço perdão pelo mau exemplo que vos dei. Devo
agradecer a maneira pela qual vós me haveis servido e a afeição e
fidelidade com que vós me haveis sempre distinguido. Eu estou
contrariado por não ter podido fazer por vós aquilo que eu teria gostado
de fazer. Os maus tempos são a causa disso. Eu vos peço para meu neto
a mesma aplicação e a mesma fidelidade que vós tivestes por mim (...).
Segui as ordens que meu sobrinho vos dará. Ele vai governar o reino
(...). Sei que eu me emociono e que eu vos emociono também; eu vos
peço perdão por isso. Adeus, senhores, conto com que vós vos lembreis
algumas vezes de mim.
Aconselha o delfim, o futuro rei Luís XV: "meu filho, tu serás um grande rei.
Não me imite no gosto que eu tive pelas construções, nem no que eu tive pela
guerra; procura, ao contrário, ter paz com teus vizinhos".
Toma decisões concernentes aos funerais e ao destino de seu corpo;
resolvendo, por exemplo, sobre para qual igreja deveria ir seu coração e
como deveria ser aí instalado. Preocupa-se também com seu destino após a
morte, revelando a algumas pessoas que não pensa que a morte seja terrível,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
advertindo seus médicos que "na vida ou na morte, tudo o que agradar a
Deus" e à pergunta de seu confessor sobre se sofria, respondendo: "Não, e é o
que me aborrece; eu queria sofrer mais, para a expiação dos meus pecados".
As últimas palavras, após as orações dos agonizantes que recitou com a
assistência foram: "Oh, meu Deus! Vinde em minha ajuda; apressai-vos em
me socorrer!".
O homem do século XIX continuará piedoso, sobretudo no momento da
morte. Continuará a decidir, ao sentir aproximar-se a velhice, sobre a
organização dos negócios terrenos, mas tenderá na maior parte das vezes a
deixar para os familiares as providências concernentes ao seu funeral. Entre
aqueles que o envolvem, contudo, no momento da morte, profundas
transformações estão em vias de se operar: no momento do último suspiro, a
família estará reunida ainda em torno do doente; os parentes mais velhos, a
mulher, estarão perto de seu leito, inclinados sobre o moribundo, olhando-o
diretamente; os filhos, entretanto, estarão um pouco afastados, intensamente
dominados pela tristeza e pela desolação, impossibilitados de enfrentar com o
olhar o desenvolvimento da cena.
No século anterior, os mortos foram banidos: agora a morte passa a
comportar um componente dramático de despedida quase insuportável. A
cena de morte deixa de apresentar a serenidade do modelo tradicional: os
últimos adeuses são agora dilacerantes, uma emoção quase incontrolável
aflige os espectadores. As bênçãos, as recomendações derradeiras, as orações
e os sacramentos tornam-se praticamente inviáveis nesse novo contexto
emocional. A angústia de morte, de que o moribundo era atacado desde os
tempos finais da Idade Média, é agora partilhada também pelos participantes
da cena: o medo da morte abate-se também sobre sobreviventes. Penetra-se
no tempo da morte do 'outro' ou, segundo a expressão de Philippe Ariès da
"morte de ti": a perda do ente querido se transforma em algo intolerável e o
luto começa a fazer fronteira com a loucura.
Três grandes e fundamentais modificações a observar. Em primeiro lugar, a
apropriação das coisas da morte pela família: a partir do século XV, até o
início do século XVII, o indivíduo tinha praticamente uma relação pessoal
com a morte: resolvia suas coisas, redigia seu testamento, compunha
freqüentemente o seu epitáfio. Essencialmente, via o indivíduo na morte um
momento excepcional, em que sua individualidade recebia forma definitiva:
ele não se sentia senhor de sua vida senão na medida em que se sentisse
senhor de sua morte. A partir do século XVII, o indivíduo passa, por um jogo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mútuo de interesses, a dividir essas responsabilidades com a família. No
século XIX, a apropriação familiar da morte estará realizada e atingirá nos
inícios do século XX o momento de apogeu.
Em segundo lugar, a morte no leito é menos pública que anteriormente. O
moribundo tem agora em torno de si apenas a família mais próxima e os
amigos mais íntimos. Desapareceram os representantes da comunidade. A
fortiori, desapareceram igualmente os estrangeiros desconhecidos que por lá
estivessem passando e que no quarto do doente se reuniam para um
cerimonial ao qual ninguém se poderia furtar, ainda que, com o tempo, a
tranqüilidade e indiferença dessas pessoas tendessem cada vez mais a
contrastar com o desespero dos familiares.
Nessa emoção dos familiares, encontramos a terceira característica nova.
Durante cerca de mil anos, a atitude das pessoas englobava um misto de
tranqüilidade e indiferença, que se quebrava apenas, e por um brevíssimo
período, no momento mesmo da morte – momento único em que os gritos e
as lágrimas encontravam aceitação. A partir do século XVIII, num processo
que culminará na segunda metade do século XIX e início do século XX, a
necessidade de exibir dor, de mostrá-la à comunidade e o desespero da
separação adquirem dimensões inéditas no Ocidente: geme-se, grita-se,
desmaia-se, quer-se morrer, partir com o morto. Estes sentimentos
demonstrados são na maior parte das vezes absolutamente reais e encontram
uma profunda justificação nas relações entre as estruturas psicológicas e as
estruturas sociais da época. De fato, nos períodos anteriores, a morte
provocava tristeza. Mas era uma tristeza moderada, perfeitamente controlada,
que não levava de maneira alguma ao desespero.
Esta atitude sentimental antiga pode ser compreendida à luz das concepções
então imperantes sobre vida e morte e especialmente sobre possibilidades de
salvação. Ela comporta, entretanto, uma explicação mais tangível, observável
no nível do relacionamento entre as pessoas: vivendo comunitariamente a
sociedade, a família e a morte, a afetividade dos indivíduos não se
concentrava sobre um número pequeno (e cada vez menor) de parceiros (os
parentes próximos e mais tarde somente o casal e seus filhos): incluía
também os parentes, no sentido extenso do termo, os vizinhos e os amigos.
Naquele contexto, a morte, mesmo de uma pessoa muito próxima, não
colocava em perigo a vida afetiva da pessoa. Como a noção de indivíduo não
existia com seu sentido moderno, ele não era insubstituível e a comunidade
era apta a oferecer aos sobreviventes uma variedade de substituições dos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
membros desaparecidos. Além disso, quer no plano ideológico quer no plano
real, a morte era mais íntima e menos surpreendente: por um lado, antes dos
progressos da longevidade individual, ela era um acontecimento sempre
próximo, relativamente comum, que fazia parte dos riscos que a vida
implicava; por outro, a interrupção da vida não comportava a frustração de
que a imbuíram os projetos existenciais e econômicos da burguesia.
Esta exaltação da afetividade está diretamente associada à promoção –
característica da época – do morto e da morte ao status de objeto belo.
Subitamente, sucedendo à repugnância do século anterior à idéia de morte e
procedendo o reconhecimento dos traços cadavéricos como antibeleza
fundamental, toda uma estética fúnebre começa a se desenvolver: o morto
passa a ser belo, a 'beleza' do morto invade as conversas cotidianas, para aí
permanecer latentemente até os nossos dias. A que atribuir esta modificação
de sensibilidade? De novo fazemos contato com a composição contraditória
das práticas e concepções funerárias. A promoção do morto à condição de
coisa bela é contemporânea do pavor à morte. Acontece simultaneamente à
recusa da morte e da perda da pessoa amada: por isso ela é antes de tudo uma
recusa de reconhecimento do fim do ente querido. Ela é o contraponto da
repugnância a imaginar, a representar e a enfrentar o corpo morto e a
decomposição.
A bela aparência do morto é também um signo de ausência de sofrimento
físico, de uma morte que acontece sem morder o corpo, de uma agonia que se
pretende tornar insensível. É ainda signo de ausência de sofrimento espiritual,
porque ninguém neste quadro social pode acreditar que seu parente amado,
que seu ente insubstituível possa ser condenado ao inferno: por isso o rosto
do morto passa a exprimir tranqüilidade, tranqüilidade que pode ser um
indício de um reencontro futuro com aqueles que aqui ficaram. A nova
representação do Céu é a imaginação de uma espécie de jardim em que as
pessoas separadas se reencontrem, em que as amizades desfeitas pela morte
poderão se reconstituir e em que a comunicação poderá ser restabelecida
(aliás, trata-se de uma época na qual se procura contato com os mortos e em
que os 'aparecimentos' destes se multiplicam de maneira particularmente
acentuada).
Estranha beleza esta, entretanto, que pode ser falada, mas não pode ser vista,
que é rapidamente ocultada, privatizada e distanciada. Estranha beleza esta,
que sucede às representações macabras do período barroco, coexiste com a
insuportabilidade de seu objeto e precede a consideração dele como algo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
indecente, análogo às secreções do corpo humano que não podem ser vistas
ou tocadas sem um certo nojo. Estranha beleza esta, que é dissimulação do
medo.
O morto é dito belo, porque no fundo é pensado e sentido como temível e
terrível: e o mesmo se pode dizer da beleza da morte. Esta simulação de
beleza faz parte do cerimonial romântico de funeral e de luto, da exaltação da
figura do morto, da confecção das estratégias de afirmação e reiteração do
desespero, assim como da superação desse desespero. O luto romântico é ao
mesmo tempo estas duas coisas: ele é a mise-en-scène da tristeza dos
sobreviventes para os olhos da comunidade e é o procedimento comunitário
(ou melhor, do que resta da comunidade) para a superação da tristeza, para a
solidarização e amparo ao sobrevivente infeliz, para o reordenamento do
grupo social.
Sob o império do exagero, o luto romântico significa a dificuldade que os
sobreviventes experimentam no que concerne à aceitação da morte do
próximo. Sob o império da cor negra, não é mais apenas a morte de 'si' que é
difícil de suportar, mas também a morte do outro, qualquer morte, a Morte,
enfim. A associação de uma cor especial à morte não existiu sempre: ela
surge a partir do século XVI, quando se começa a atribuir ao fim da vida
terrena um caráter sombrio e, nesse sentido, é companheira da iconografia
macabra. Além disso, o uso de uma cor especial para distinguir os enlutados
corresponde, por um lado, a uma necessidade relativamente recente de
discriminação entre o que está associado à vida e o que está ligado à morte e,
por outro, de reconhecer a apropriação da morte por uma categoria definida
de pessoas, os parentes do falecido: era desnecessário quando morte e vida
não se opunham e quando a morte de um indivíduo era vivida coletivamente
pela comunidade total em vez de por uma fração dela apenas.
As condutas subseqüentes à morte eram tradicionalmente um laço a ligar
mais solidamente a comunidade, sem comportar discriminação entre pessoas
enlutadas e não enlutadas. Envolviam os parentes, os amigos, os religiosos,
os ricos e os pobres e não objetivavam essencialmente o amparo a um
sobrevivente individual dilacerado pela tristeza. Eram uma espécie de
exorcismo de uma comunidade que se apressava em se reabilitar de uma
mutilação: modificações do ritmo da vida social, visitas, missas, doações…
no sentido de restabelecer o calor da vida social. Da tristeza transitava-se à
alegria, do luto à festa, das lágrimas aos risos. No plano individual, o luto
tinha também o efeito de proteger o sobrevivente contra os excessos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
eventuais de seu sofrimento: ele era obrigado a um certo tipo de vida social, a
visitar e receber visitas de seus parentes, amigos e vizinhos.
A presença de pobres, desses vivos-mortos, em todos os funerais não era sem
sentido: mesmo sem a intenção explícita, ela vinha lembrar aos sobreviventes
mais diretamente atingidos que, de qualquer forma, suas sobrevivências não
eram as mais dolorosas. Estes pobres ajudavam a transportar o morto até sua
sepultura e a chorá-lo. Em troca, recebiam esmolas, especialmente as capas,
geralmente negras, com que os próximos do defunto se cobriam durante as
cerimônias. Os pobres simbolizavam a comunidade total em sua realidade
terrena. Por isso, eles não estavam nos funerais para serem socorridos nem
para neutralizar a pobreza: ali eles estavam para expressar irreverentemente
que a verdadeira dor está aqui, para tornar a pobreza gritantemente visível e
mostrar que esta comunidade é composta também por aqueles que se
agasalham com migalhas das cores dos privilegiados.
O luto que se desdobra de modo ostentatório no século XIX tem ainda outra
função. Ele não é mais a festa coletiva, mas um conjunto de gestos e
expressões simbólicas que discriminam aqueles que têm algo a ver com a
morte. Ele não é mais a dramatização da dor coletiva no teatro da
coletividade, mas a mise-en-scène de um drama individual para uma platéia
seleta, os íntimos e familiares. Este drama individual não tem mais limite de
intensidade, a consternação é absolutamente arrasadora: coerentemente, o
círculo dos próximos socorre o sobrevivente enlutado e procura diminuir sua
dor.
Ao mesmo tempo e paradoxalmente este círculo de parentes e amigos tende a
aumentar e a agravar a dor individual: a expectativa de comportamento de
que está imbuído é a de que o indivíduo sofra, de que sofra muito pela perda
de um ente querido e que, à imagem do moderno sistema de divisão 'racional'
do trabalho, sofra também em substituição àqueles que se sentem na
obrigação de sofrer, mas que não chegam mais a experimentar este
sentimento. Rapidamente, a ideologia ocidental vai mascarar este caráter
coercitivo do luto romântico, ditado ao mesmo tempo pela solidão, pelo
desamparo em que o enlutado se vê repentinamente e também pela tarefa de
substituição por meio da qual ele se transforma em bode expiatório a
resguardar a comunidade desses sentimentos incômodos. A tristeza do
enlutado se transforma, então, em 'depressão', em dado da 'natureza humana',
em objeto de estudo dos psicólogos. No entanto, esta tristeza e esta depressão
individuais são contemporâneas da recusa ocidental de pensar na morte e
******ebook converter DEMO Watermarks*******
resultam precisamente da sobrecarga de uma realidade que, não querendo
mais olhar de frente, a sociedade impõe ao indivíduo.
Esta hiperenfatização da sensibilidade, que torna a morte uma coisa muito
mais cruel do que outrora, alimenta a saudade e a reverência à memória do
morto, erigindo a sepultura no templo especial onde este novo culto se
desenrola.
Este novo culto é inteiramente diferente e mesmo oposto às práticas
medievais pelas quais os mortos eram entregues à igreja, para aí serem
enterrados ad sanctos – pouco importando o lugar em que fossem colocados
e nenhuma preocupação havendo quanto à conveniência ou necessidade de
assinalar a identidade do ocupante de uma sepultura. Estas preocupações,
como vimos, se desenvolvem a partir do século XIV e passam a dominar o
universo funerário a partir dos séculos XVII e XVIII. Identificado como lugar
de poluição durante o século XVIII, o cemitério não é ainda lugar de visitas
sentimentais aos túmulos dos parentes. Contudo, no bojo do mesmo
movimento que exclui os mortos, desenvolvem-se o desejo e mais tarde a
obrigação de dotar cada morto de uma sepultura, exigindo-se que os corpos
sejam enterrados lado a lado e não mais em superposição: assim, o cemitério
adquire a imagem que ele hoje nos apresenta, de uma multidão quase
interminável de sepulturas individuais. Essas sepulturas individuais trazem à
consciência a presença de cada morto, mesmo que nem todas as sepulturas
fossem ainda identificadas por intermédio de imagens e de inscrições. E o
que é mais importante, estas sepulturas são signo da presença desses
indivíduos no além.
A conjunção do desenvolvimento da individualização, das transformações da
afetividade e do aparecimento da sepultura-signo oferece aos espíritos dos
séculos XVIII e XIX as condições de recusa do desaparecimento do ente
querido e da vontade de continuar em comunicação com ele, de poder
reencontrá-lo em um lugar determinado. Aí está a razão do surgimento de
diversos projetos utópicos que pretendiam conservar o corpo intacto; de
cemitérios em que se mumificaria o corpo por meio de soluções químicas,
deixandoo visível; de projetos menos utópicos de conservar o morto em sua
propriedade; ou ainda, de projetos bem factíveis de poder visitá-lo em lugar
privado dentro de um cemitério público. É então que as concessões de
sepulturas se transformam em prática corrente e que se começa a falar em
concessões à perpetuidade, em jazigos perpétuos, e que se começa a construir
sepulturas dotadas de formas híbridas entre a capela e a casa, para abrigar o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
indivíduo só ou acompanhado de sua família. É então também que o morto
individual adquire uma espécie de imortalidade, alimentada pela lembrança
dos sobreviventes e sustentada pelos jazigos 'perpétuos'.
A sepultura individual oferece uma base material de reverência aos mortos.
Esta irá transcender as divisões tradicionais entre as diferentes seitas
religiosas ou concepções filosóficas, e será aceita tanto pelas diferentes
Igrejas cristãs como por pensadores ateus e materialistas. Tal culto aos
mortos será absorvido por crentes de todas as religiões e será apropriado
pelas nacionalidades em busca de suas identidades, como símbolos de
unidade. Como observou Philippe Ariès (1975: 90), "a visita ao cemitério foi
– e é ainda – na França e na Itália o grande ato permanente de religião.
Aqueles que não vão à igreja vão sempre ao cemitério, onde as pessoas se
habituaram a florir os túmulos. Elas aí se recolhem, quer dizer, evocam o
morto e cultivam a sua recordação". Entre os cristãos, esta sobrevivência-na-
recordação coexistirá com as crenças tradicionais na vida do além; mas, entre
ateus e materialistas, esta eternidade-na-lembrança existirá, sobretudo durante
o século XX, independentemente, sustentando a perenidade das amizades da
vida no após a morte. Aceita por todos, esta eternidade-na-lembrança
permanecerá segundo o mesmo historiador (Ariès, 1977: 465), "o grande fato
religioso de todo o período contemporâneo" e constituirá, até a segunda
metade do século, a expressão derradeira de representação da morte no
Ocidente.
Voltemos entretanto ao século XIX. O costume recente de sepultamento
individual dota os cemitérios de um gigantismo inédito. Não possuir uma
sepultura se transforma em algo inadmissível e não possuir uma concessão,
algo vergonhoso. Ter uma concessão perpétua transformou-se em uma
espécie de título de nobreza, freqüentemente afixado sobre as sepulturas. No
mesmo sentido de exaltação da individualidade do morto, estas sepulturas
começam a se cobrir de monumentos, muitas vezes de grandes dimensões, a
lutar por todos os meios contra a possibilidade de o túmulo se tornar invisível
e inidentificável. Estas concessões perpétuas não eram dadas a todos.
Também não podiam ser objeto de transações comerciais. Desses dois fatos
nasce o jazigo familiar, mantido entretanto por uma tradição já antiga.
Esta nova forma de túmulo coletivo deriva das capelas que os ricos
mandavam construir, para aí serem enterrados e para aí enterrar seus
descendentes. Na origem e até o século XVII, quando o uso inumatório
começa a prevalecer sobre o uso piedoso, estas capelas respondiam a uma
******ebook converter DEMO Watermarks*******
função mais religiosa que funerária. Por esta razão, as primeiras sepulturas
coletivas dos cemitérios modernos são reproduções de capelas (embora,
como vimos, houvesse um crescente movimento de laicização da morte) que
apresentavam, em uma mistura típica, traços da arquitetura residencial –
'bons para pensar' a apropriação da morte pela família e a transformação
desse local em verdadeira casa familiar.
Em verdadeira casa familiar, pois este é também o tempo da desagregação
terrena da família tradicional. De um lado, porque o advento das grandes
guerras modernas expõe uma grande parte da população à morte e evidencia a
fragilidade da família, este último bastião da convivência comunitária,
roubando seus membros especialmente em um período de vida (início da
idade adulta) em que a morte faz da reconstituição do grupo familiar algo
particularmente difícil. De outro, a nova estrutura da sociedade é o maior
responsável por este processo desagregador, uma vez que os imperativos da
sociedade industrial e dos mercados que se desenvolvem não podem coexistir
com a antiga organização espacial da família. Doravante, é preciso que o
trabalhador esteja onde o mercado quiser que ele esteja e não onde seria
melhor para a solidariedade do grupo familiar: sendo o trabalho uma
mercadoria, ele deve estar onde puder ser vendido e comprado, onde puder
ser comercializado com ganhos maiores. Desse modo, populações rurais se
deslocam para as zonas urbanas para alimentar os centros industriais e
comerciais; habitantes das cidades se mudam para outras cidades para
sustentar o desenvolvimento dos centros políticos e administrativos.
Destruída na vida, a família procura resguardar o que resta de si na morte. E o
jazigo familiar será, nesse projeto, o seu instrumento privilegiado.
Durante o século XIX, a morte, que até o século XVIII era parte integrante do
ato de viver, transforma-se em um acontecimento detestável e terrível,
embora fascinante e atraente, que vem romper o andamento normal da vida.
Em primeiro lugar, o desenvolvimento da noção de indivíduo e sua
imposição sobre todas as dimensões da sociedade ocidental virão transformar
a alma em elemento principal da personalidade humana, em quintessência da
individualidade; virão fazer dos cemitérios intermináveis fileiras de
sepulturas particulares e dos rituais funerários redes rarefeitas de
relacionamento coletivo – inaugurando um novo culto cujos altares são as
sepulturas individuais.
Em segundo lugar, as transformações do imaginário religioso e as mudanças
das concepções sobre a vida eterna. Elas amenizam o rigor do julgamento
******ebook converter DEMO Watermarks*******
individual no quarto do moribundo, transformam a condenação ao inferno em
uma possibilidade aberta para os outros apenas (improvável para si e para os
entes queridos) e promovem o morto à condição de objeto belo. Este
movimento, como vimos, é dissimulação do medo na morte e da solidão na
vida, assim como definitiva substituição, agora praticamente explícita, do
temor do outro mundo pela pena de deixar este mundo.
Em terceiro lugar, a invenção do abismo que separa o homem da natureza, a
separação entre o corpo e a alma, a localização da morte no domínio estreito
da corporeidade e a instituição de almas próximas a viver perto dos vivos,
com os quais podem se comunicar e com os quais podem encontrar
cotidianamente na lembrança ou diante das sepulturas que são a base material
desse culto.
Em quarto lugar, a localização das práticas funerárias e sua apropriação pela
família, pela medicina e pelo poder público. Laicização que vai permitir a
constituição de um discurso funerário relativamente consensual, com base no
qual a partir das primeiras décadas do século XX os poderes públicos
tentarão construir símbolos de unidade nacional.
Enfim, o surgimento do cemitério moderno: retrato da sociedade,
administrado pelos poderes públicos, aberto a todos os mortos, sem
discriminação de suas opiniões religiosas, constituindo um campo neutro por
onde todos os vivos e todos os mortos poderão passear.
Neste novo cemitério, a integração dos dominados parece facilitada. A ver de
perto, entretanto, os pobres aí estão para mostrar pela miséria de sua
individualidade o fausto da individualidade dos dominantes.
Tratava-se para os dominantes, não de proceder a uma abolição
filantrópica das diferenças sociais na morte, mas de transformar os
agentes sociais dominados em agentes conservadores, como eles, os
dominantes, recuperando-os, assim, como diz Robert Jaulin, através de
uma ilusão de questionamento do sistema... Nada mudou
fundamentalmente sob o sol do Ocidente, apenas a esperança substituiu
a resignação e a esperança faz viver e crer. (Urbain, 1978: 330-1 – grifos
do autor)
Nesse cemitério as oligarquias tentam por todos os modos esconder a
decadência que a seus olhos a morte comporta, confrontando-se com a
decadência dos pobres: as sepulturas são templos de mármore, monumentos
sofisticados, verdadeiros edifícios luxuosos, de aço, de vidro, de concreto –
obras de arte que contrastam com as sepulturas planas, mal encabeçadas por
******ebook converter DEMO Watermarks*******
um crucifixo pobre, cobertas por mato e castigadas pelas chuvas, habitadas
por homens menores, cujas almas estão aí para serem transformadas em
lumpemproletariado do além e humilhadas para a grande exaltação dos
dominantes.
Este cemitério é – à imagem da vida – marcado pela propriedade: como neste
mundo, no qual quem não tem haveres não tem dignidade, no outro, no
mundo do cemitério, quem não tem propriedade não tem individualidade
respeitável. Em um mundo em que o econômico é rei, quem tem haver tem
ser, quem continua tendo continua sendo: esta é a lei fundamental do nosso
cemitério, que inventou concessões 'perpétuas' de sessenta ou de cem anos
para nutrir a esperança e a ilusão de que o ter continuará a ser. Assim,
separando o ter do ser e dispondo-os de maneira hierárquica, o Ocidente
libera um imenso processo de discriminações e de hierarquizações que virão
a separar a cidade do campo, a economia da ética, a alma do corpo, o
indivíduo da comunidade, a pessoa do indivíduo, os sãos dos doentes, os
vivos dos mortos... E a Morte estará sempre presente no coração desse
projeto ocidental de desintegração.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
13 Uma revolução fúnebre
A estrada que os historiadores das práticas funerárias ocidentais traçaram
para nós possibilitar-nos-á, agora e nas páginas subseqüentes, apreciar
adequadamente o significado histórico-sociológico de nossas práticas
fúnebres contemporâneas. Mais particularmente, ela nos habilitará a avaliar o
sentido político de práticas fúnebres que se insinuam, embora muitas vezes
de modo embrionário, como características da civilização industrial
plenamente desenvolvida e estabelecida.
Através dessa viagem, pudemos perceber as inúmeras transformações que a
imagem da morte sofreu na sociedade ocidental, mais ou menos
paralelamente às reformulações que a própria estrutura da sociedade veio
sofrendo. Não obstante, pudemos também perceber que, por detrás (ou
apesar) dessas transformações, um certo fundo comum permaneceu
relativamente imutável durante e através dos diferentes períodos históricos –
uma permanência que ofereceu aos homens que a viveram uma ilusão de não-
mudança.
No curso das últimas décadas do século XX, todavia, nós presenciamos uma
verdadeira revolução das práticas funerárias e dos pensamentos e sentimentos
a elas associados. Esta transformação revolucionária, em duas palavras,
consiste no seguinte: a morte, que sempre foi 'tudo' (sempre foi considerada
absolutamente importante pela sociedade e pelos indivíduos), agora começa a
ser olhada com aparente indiferença, desaparece do mundo do dia-a-dia, está
em vias de tornar-se 'nada'.
Padrões que vigoraram plenamente no Ocidente até o início do século XX
conhecem uma franca decadência. A morte era um fator de comoção social
nunca negligenciável, que se exprimia sempre nos detalhes dos
comportamentos rituais: fechavam-se as janelas, acendiam-se velas, aspergia-
se águabenta pela casa, vizinhos, amigos e parentes compareciam, sinos
repicavam, cartazes eram afixados noticiando o falecimento, serviços
religiosos eram oficiados, condolências eram apresentadas à família do morto
e um cortejo o conduzia ao cemitério. Os relógios eram paralisados, os
espelhos cobertos, os velórios eram longos e freqüentados, as pessoas se
vestiam de negro. Após o enterro, o tempo era preenchido por inúmeras
visitas dos parentes ao cemitério e dos amigos aos enlutados… até que a vida
retornasse ao seu ritmo normal e que as visitas ao cemitério se tornassem
mais raras.
Esta gestualidade é todo um esforço social para exprimir a tristeza pelo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
desaparecimento de um membro da comunidade, ao mesmo tempo que uma
tentativa de superação dessa tristeza pela partilha dela com a comunidade, ou
seja, pela socialização da dor. Mas o século XX modificou completamente
essas práticas de descarregamento de lágrimas, gritos e lacerações que
terminavam pelo domínio do cheio coletivo sobre o vazio individual. A
expressão de dor foi proibida, sobretudo com a finalidade de poupar dela a
coletividade; o luto foi abandonado à iniciativa individual e considerado
quase uma agressão contra a comunidade (progressivamente passa a ser de
bom tom guardar o luto como um segredo individual). Do indivíduo enlutado,
espera-se que seja capaz de exibir sempre um rosto sereno – e não demonstrar
dor transforma-se em signo de equilíbrio emocional. Analogamente, o luto é
cada vez mais assunto de um número restrito de pessoas: ele se privatiza,
tocando somente os parentes muito próximos (quando não desaparece
totalmente). Elimina-se igualmente tudo o que fosse expressão de exaltação
emocional: acabaram-se os jejuns, as abstinências, os fechamentos sobre si
durante vários meses ou anos. Todos os signos distintivos das pessoas
atingidos pela morte de um próximo (cor negra etc.) são apagados em nome
da consternação e do cuidado de não perturbar as outras pessoas com
assuntos tão desagradáveis. Assim, nas tinturarias de hoje não se vêem mais
as placas que outrora anunciavam 'luto em 24 horas', um serviço de urgência
que possivelmente contrastava com os hábitos do tempo, em que todos já
deviam possuir suas roupas de luto.
Os cortejos fúnebres são digeridos pela cidade. Não são mais nem as
pequenas procissões que a pé percorriam os pontos principais das cidades,
nem as carruagens puxadas por cavalos que com ar solene dominavam o
ambiente, nem os clássicos carros funerários a motor que ainda despertavam
atenções. Não: o cortejo fúnebre de hoje mal pode ser percebido. Os
automóveis se perdem no meio de todos os outros e o furgão funerário se
identifica cada vez menos como tal. Tudo se passa como se propositalmente
se o quisesse ocultar, como se se quisesse atrapalhar o menos possível os
sobreviventes e seus trânsitos urbanos. Do mesmo modo, desaparecem
progressivamente as condolências, as visitas, as últimas homenagens. As
próprias famílias 'enlutadas' solicitarão doravante que não se façam visitas,
que não se enviem flores (essas flores que cada vez mais significam uma
desculpabilização que se pode comprar), porque, conscientes, estas famílias
se esforçam por evitar que a sociedade se incomode e que as pessoas pensem
por muito tempo que uma morte tenha acontecido. Mesmo os lutos nacionais,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
como observou Louis-Vicent Thomas (1976), tendem a ser neutralizados:
raramente se interrompe o trabalho, limitam-se os governos a decretar que as
bandeiras sejam postas a meio-pau, reduz-se ao mínimo a duração do luto
(assim, por exemplo, a morte do General De Gaulle provocou um luto oficial
de sete dias no Senegal e no Egito, mas de um dia somente na França).
A regra em nossa sociedade é a neutralização dos ritos funerários e a
ocultação de tudo que diga respeito à morte. Veremos que os dois fenômenos
estão associados estreitamente: porque nossa civilização nega a morte, não
pode suportar sua ritualização; e, inversamente, por não possuir os
necessários instrumentos rituais para enfrentá-la, a civilização ocidental
moderna é obrigada a banir a morte e a negá-la por todos os meios. Nossa
hipótese de base é a seguinte: este processo de supressão da morte não está
absolutamente ligado às sensibilidades individuais das pessoas mais ou
menos diretamente atingidas por um óbito; ele responde, ao contrário, a uma
coerção social perfeitamente identificável, que obedece a princípios políticos
inteiramente localizáveis, característicos de nossa cultura.
As pessoas não encontram mais padrões de comportamento diante da morte.
Das crianças são afastados os velhos, entre outros motivos porque são uma
evocação da morte. Quando a morte acontece, a estas mesmas crianças, a
quem hoje podemos explicar os complicados sistemas de tratamento
eletrônico de informações e os detalhes da fisiologia sexual, dizemos que o
morto fez uma viagem, que está descansando em outro lugar, que saiu e vai
demorar a voltar...
Os velhos mesmos não sabem mais como se comportar diante da morte e em
toda parte o papel social de doente, ou melhor, de paciente hospitalar se
sobrepõe ao de moribundo: ele se espera que siga as instruções médicas, que
colabore até o fim com os médicos e os enfermeiros, sem pensar na morte,
sem ensimesmar-se, sob pena de sofrer as represálias que os padrões de
relacionamento pessoal hospitalar-paciente comportam.
Não se fala mais em morte, embora se pague cada vez mais seguro de vida;
não se pensa mais em morte, não se formulam mais conceitos para pensála,
mas a ela se reage com sorrisos embaraçados, com silêncios reticentes, com
desconversas que são signos do aparecimento de algo cuidadosamente
reprimido. Tenta-se esconder a morte, fazendo-se com que seu tratamento
seja responsabilidade de técnicos especializados, banindo-a completamente
do domínio dos leigos, instituindo seu conhecimento em algo hermético e
distante. Exalta-se a ignorância do que respeite à morte e o "tive ao menos a
******ebook converter DEMO Watermarks*******
satisfação de que ele não se sentiu morrer" substitui o "sentindo a morte
próxima" que, como Philippe Ariès (977: 556) observou, caracterizou toda a
história da morte no Ocidente.
Em nome desta ignorância obrigatória a dissimulação da gravidade do estado
de saúde de uma pessoa passa a ser a primeira obrigação dos médicos e dos
familiares. Todos os signos que anunciavam a morte e em virtude dos quais
os indivíduos para ela se preparavam são sistematicamente apagados. A
presença do sacerdote passa a ser considerada como verdadeira
monstruosidade, extrema crueldade contra o doente. Os derradeiros
sacramentos são administrados somente (nos casos em que ainda o sejam)
quando os doentes estejam inconscientes e quando os familiares se encontrem
inteiramente sem esperança. Este silêncio é obrigatório, mesmo que se apóie
sobre a mentira. No início, o silêncio e a mentira pretendiam proteger o
doente contra sua angústia diante da morte; posteriormente, vêm
desempenhar a função de fornecer uma confortável ilusão à comunidade,
desobrigando-a de pensar sobre a morte, possibilitando-lhe fugir à emoção,
banindo a morte da consciência de todos, permitindo, enfim, às pessoas
continuar agindo como se fossem felizes ou, ao menos, continuar dando a
todos a impressão de que o fossem.
Em nome dessa ignorância obrigatória (mas não somente em seu nome)
transferiu-se a morte para o hospital. Morre-se cada vez menos em casa, entre
os familiares. Hoje e no futuro, morre-se em hospitais para onde os
indivíduos doentes são deslocados tanto para aí serem tratados quanto para aí
morrerem... É claro, pesam nessa transferência também o desenvolvimento
das técnicas médicas e o fato de que muitos cuidados possíveis no hospital
não são possíveis na residência do doente: os equipamentos são muitas vezes
pesados e em número insuficiente, os tratamentos podem exigir intervenções
freqüentes, os medicamentos podem exigir conhecimentos especiais para ser
administrados...
Não obstante estas razões de ordem técnica, não esqueçamos que a família já
não é mais a mesma e que provavelmente o doente não encontrará quem dele
se encarregue em casa. Não esqueçamos que nossas famílias pretendem
oferecer a suas crianças um ambiente 'psicologicamente sadio' e que esta
ambição é incompatível com a convivência com seres decrépitos, enrugados,
decadentes, fracos, capazes de produzir contaminações físicas e psicológicas.
Não esqueçamos que nossas famílias querem, para si e para seus doentes,
ambientes assépticos e que a casa, paradoxalmente, não é suficientemente
******ebook converter DEMO Watermarks*******
asséptica para o doente, nem o doente é bastante esterilizado para permanecer
no recinto doméstico. Não esqueçamos que famílias e doentes querem
ambientes calmos e que nem poderá a família encontrar essa calma com a
presença das contradições que o doente evoca, nem poderá o doente
encontrar tranqüilidade no meio das contradições em que vive a sua família.
Não esqueçamos que as famílias vivem em apartamentos, nas grandes
cidades, e que os vizinhos aceitam a presença de um doente e a contigüidade
da morte ainda menos que os familiares. Portanto, a expulsão do doente e a
invenção do hospital como lugar aonde se vai morrer são contemporâneas do
desenvolvimento da ideologia da higiene e da decomposição da instituição
familiar: o hospital se transforma em asilo a proteger a família da doença e da
morte, a proteger o doente das pressões emocionais de sua família, a proteger
a sociedade da publicidade da morte.
No hospital a morte não é mais a cerimônia pública que sempre a
caracterizou na história do Ocidente, a que o moribundo presidia em meio a
seus vizinhos, amigos e parentes. Este ambiente humano não tem nada mais a
dizer. O doente também não. Ao encampar o doente, o hospital o despedaça,
decompõe-no em peças constituintes. Ao fim de um longo processo de
individualização, o indivíduo foi levado ao hospital. No hospital, ele perde
sua individualidade e se transforma em número, fragmenta-se em órgãos que
têm existências independentes; ele se descobre objeto de uma linguagem que
não compreende, referente de uma língua que não é a mesma da vida
cotidiana. Passa a ser gerido por máquinas que não conhece e que não pode
controlar: tubos que penetram pelas narinas, pelos braços, pelos orifícios
intestinais, pela boca; máquinas que fazem respirar, que purificam o sangue,
que alimentam diretamente, que controlam as batidas do coração e o trabalho
das células cerebrais; aparelhos que imobilizam ou fazem movimentar os
membros... Nesse novo palco a morte se transforma em fenômeno técnico
que o médico decreta quando resolve desligar os instrumentos: passa a ser um
processo regulável que ocorre por etapas sucessivas de frustrações, isto é, por
pequenas derrotas que o poder médico vai sofrendo à medida que o tempo
passa.
Assim, nem a família nem o indivíduo são mais senhores da morte. A
primeira se desagregou e não quis mais saber da morte. O segundo se alienou
de sua própria morte e a entregou aos médicos e suas máquinas. O momento
final não existe mais. A morte, para o público, deixou de ser um processo e se
transformou em notícia que o poder médico pode manipular em grau cada
******ebook converter DEMO Watermarks*******
vez mais considerável. O controle da morte se transformou em objeto e
objetivo de ciência e os homens passaram a exigir desta o que esperavam
antes da magia e da religião. O homem se transformou em objeto de sua
própria morte, foi reduzido a uma condição menor, sem direito e sem vontade
de saber que vai morrer. Transformou-se em ator de uma farsa da qual todos
se sentem beneficiados e que todos fingem não conhecer. Para evitar a dor de
pensar que a morte existe, o homem ocidental escolheu calar-se, instituir os
fatos da morte em segredo que apenas o poder conhece e transformar os
falecimentos hospitalares em signos de desenvolvimento econômico-social
que, em nome do progresso, devem ser difundidos ao máximo (para a mais
perfeita realimentação do sistema).
A visão da morte é, portanto, inteiramente outra. Ela não é mais, como
escreveu Monica Charlot (1976: 124), "definida metafisicamente como o
ponto de passagem inevitável para uma outra vida, mas clinicamente, por
aproximações científicas sucessivas". As concepções modernas do morrer,
dominadas pela linguagem da medicina, supõem uma dialética complicada
entre o andamento autônomo do organismo e as intervenções, voluntárias ou
não, que sobre ele são operadas. Em decorrência dessas intervenções, a morte
poderá ser postergada ou adiantada: as doenças poderão ser bem ou mal
tratadas, os acidentes poderão ser evitados ou não, os hábitos de vida poderão
ser mais ou menos saudáveis... A morte, de certo modo, se transforma em
uma espécie de responsabilidade técnica que nada tem a ver com o
andamento autônomo do organismo.
As mortes-eventos são agora resultados de causas explicáveis e inteligíveis,
mas essencialmente exteriores à natureza do organismo. Por este caminho, o
organismo adquire uma espécie de imortalidade teórica – e a morte se
transforma em acontecimento acidental, em inimigo externo que se quer
(pode) recusar: se o homem morre, é por acidente, por culpa de alguém que
não seguiu as instruções, por atraso da ciência que precisa ser incentivada,
por interferência de um fator aleatório que vem interromper um projeto por
natureza interminável: contra este fator devem-se tomar imediatamente as
mais sérias medidas corretivas, restritivas, disciplinadoras, controladoras...
Nasce assim o mito da imortalidade, ou melhor, em sua versão moderna, da
'a-mortalidade' do homem. Este mito tem suas raízes nos movimentos do
século XVIII que separaram a alma do corpo e que promoveram o corpo a
objeto de ciência, a coisa da natureza, mortal, mas sobre a qual se poderia
agir desde que o poder de interferir se intensificasse e se desenvolvesse. O
******ebook converter DEMO Watermarks*******
poder se intensificou e se desenvolveu até o ponto de postular implicitamente
que os organismos humanos são imortais por natureza e que a única coisa que
impede a concretização prática dessa imortalidade é não ser o poder ainda
suficientemente forte. Com isso, ele coloca o desejo de imortalidade a serviço
de seu próprio fortalecimento e cria a esperança em seus súditos de desfrutar
da eternidade sobre a Terra.
Paralelamente ao aparecimento dessa nova concepção de imortalidade,
observa-se o descomparecimento das antigas, quer no nível das preocupações
cotidianas, quer no plano dos dados estatísticos – mesmo que os modernos
conceitos de imortalidade coexistam ainda com crenças na existência de Deus
(menos fortes que outrora, mas sempre presentes) e mesmo que coexistam
com o pensamento de uma possível imortalidade na e através da natureza, à
maneira dos materialistas (o homem morre mas a natureza continua,
alimentada pela morte dos organismos). O pavor de perder a salvação eterna
progressivamente se deixou substituir pela esperança de viver mais, de poder
postergar a morte, de ser surpreendido por uma descoberta científica capaz de
a cancelar.
Dentro dessa nova escatologia a morte é quase sempre uma surpresa, porque
sua possibilidade é dúvida tanto quanto certeza. Nessa moderna escatologia, a
morte passa a ser preferida como acontecimento surpreendente e fulminante,
porque assim se pode reduzir ao mínimo a angústia que ela comporta. Impõe
uma nova estratégia de salvação: enquanto não for possível conquistar a
imortalidade física, se a deve conquistar simbolicamente – por instrumento da
empresa, das obras, do trabalho, das heranças e dos herdeiros, dos
monumentos funerários...
Desse modo, o materialismo burguês oferece aos indivíduos uma razão
metafísica para viver neste mundo. E a metafísica, uma razão material para
sobreviver no outro. Este outro mundo que agora nada mais é, entretanto, que
as impressões positivas que sobre o mundo do aqui cada um tiver deixado –
impressões por intermédio das quais continuará 'vivendo': contribuições ao
bemestar coletivo, à cultura, à justiça, à liberdade... Garantias burguesas – em
que os comunistas, apesar de discordâncias semânticas mais ou menos
profundas, também crêem – de que a vida não se perde completamente com a
morte. Esta é a imortalidade moderna, burguesa ou não: voltada para o
mundo do aqui. De uma forma ou de outra, fisicamente ou não, é esta vida
que não se quer mais deixar.
A crença em que a morte não seja inerente à natureza do homem e em que
******ebook converter DEMO Watermarks*******
não estejamos a ela condenados, incentiva o desenvolvimento de meios tidos
como capazes de transformar estas possibilidades em realidade concreta.
Doravante, todos os meios são válidos, que permitam o afastamento da morte
perene e sua substituição pela vida eterna. Vida e morte não são mais, nesses
casos, termos metaforicamente empregados: nos Estados Unidos, por
exemplo, há quem pense em fundar associações cujos objetivos sejam 'lutar
contra a morte'; na França uma Sociedade Imortalista foi fundada em 1976
com o objetivo de ajudar as pesquisas sobre recuperação celular,
rejuvenescimento, reanimação e esclarecimento de opinião pública sobre as
possibilidades de prolongar a vida e de abolir a morte.
No mesmo sentido, desenvolvem-se técnicas-tentativas de obtenção por
meios químico-físicos da eternidade no aqui – do que a criogenização parece
ser o exemplo mais ilustrativo. A criogenização é uma técnica de conservação
que consiste em substituir o sangue do indivíduo, alguns segundos após ter
sido considerado morto, por uma solução capaz de preservar os tecidos contra
a decomposição e, em seguida, em reduzir a temperatura corporal a um ponto
extremamente baixo, introduzindo-o em um cilindro isotérmico que, por sua
vez, está colocado em uma espécie de central que cuida da manutenção de
seu funcionamento. Aí o corpo aguardará até que o desenvolvimento da
ciência permita a descoberta de meios de superação da(s) doença(s) de que o
indivíduo teria morrido. Apesar da enorme incerteza que apresenta, a custos
relativamente altos, o empreendimento se desenvolve com certa rapidez:
diversas cidades americanas têm já suas centrais de criogenização, à espera
do dia do Grande Degelo – versão em linguagem do século XX do Grande
Despertar medieval!
É claro que este sonho de imortalidade no aqui despreza todas as questões
não estritamente ligadas à continuidade de existência biológica. A vida se
reduz a um problema exclusivamente biológico sem importar a sua
qualidade: viver é o que importa, qualquer que seja a vida. Perguntas como,
por exemplo, se a vida após o degelo valerá a pena ser vivida, não são
absolutamente formuladas. Onde estarão os amigos de antes? A mulher, os
filhos? Que língua será falada no tempo do descongelamento? Terá o
ressuscitado uma profissão? Como poderá ele ganhar esta sua nova vida? E
sua 'quase-viúva', poderá ela contrair novas núpcias, dispor da herança do
quase ex-marido? Existirão ainda todas essas coisas: dinheiro, núpcias,
profissão? Tudo isso permite levantar a hipótese de que se trate, no fundo, de
manipulação comercial de um sonho que permitirá ao cliente, mesmo em
******ebook converter DEMO Watermarks*******
caso de sucesso técnico, descobrir, após alguns milhares ou milhões de
dólares de pagamento e décadas ou séculos de espera, que a mercadoria não
era o que esperava.
Encontramos aqui um exemplo cristalinamente claro de materialização da
ideologia ocidental: conservar a vida, banir a morte, parar o tempo, apagar a
história, exaltar a permanência, divinizar o poder. A criogenização exprime
com rara nitidez até onde pode ir a ideologia individualista de nossa
sociedade, onde os laços afetivos passam a não importar mais, onde uma vida
sem afeto, em que os amigos e companheiros ficaram para trás, continua
valendo a pena e pode ser tranqüilamente mercantilizada, transformada em
algo que os ricos podem pagar. Ela nos mostra claramente que o poder se
apropriou da vida e da morte (ele pode decidir quem será ou não congelado) e
que um tempo pode chegar em que nem mesmo a morte seja uma porta para a
libertação, pois nada impedirá que o indivíduo seja congelado contra a sua
vontade, e descongelado quantas vezes quiser o poder – este poder que, como
os deuses, poderá ressuscitar os mortos e imobilizar a história.
Por esse caminho os antigos sonhos de ressurreição são substituídos no
Ocidente pela vontade suprema de conservação, de conservação em todos os
sentidos (idade, saúde, situação política...) – primeiro entre os poderosos,
depois progressivamente entre todos. Os antigos teoremas sobre a
imortalidade não convencem mais: uma espécie de insuficiência parece tê-los
contaminado. É preciso substituí-los por algo mais convincente, por algo
mais eficaz, mais coerente com o progresso da tecnologia, mais adequado a
uma civilização de extremo desenvolvimento econômico e industrial. Assim
se pode explicar a criogenização. Assim se pode explicar a arquitetura
cemiterial. Assim se pode explicar a arte fúnebre contemporânea. Essas
modernas concepções existem já em estado latente no culto dos túmulos do
século XIX e início do século XX, em que o morto já não era mais
reconhecido como tal pelos sobreviventes – em que ele era 'conservado' na
memória dos seus. Este mesmo desejo de conservação, podemos surpreendê-
lo hoje em nossos cemitérios e em nossos objetos funerários, como o fez
Jean-Didier Urbain (1978), em um trabalho absolutamente sedutor sobre o
projeto significacional dos cemitérios ocidentais contemporâneos.
O cemitério moderno é objeto de uma atenção relativamente recente. Até
algumas décadas atrás, antes que o culto das sepulturas se impusesse, os
cemitérios não recebiam os cuidados que hoje estamos habituados a ver. O
costume de cada família cuidar das sepulturas dos seus e de as autoridades
******ebook converter DEMO Watermarks*******
públicas administrarem um cemitério como se administra uma cidade
(limpeza, construção de vias de circulação, informações permitindo o
direcionamento das pessoas no espaço cemiterial...) não existia, ou pelo
menos não se havia imposto como prática geral. À medida que se desenvolve
isto que estamos chamando de 'culto dos mortos', cada sepultura passa a ser
ornada de flores, de objetos de arte, de retratos, de textos evocadores. Cada
cemitério passa a ser objeto de preocupações estéticas, de planejamento
urbano, de caprichos ecológicos. Os arquitetos contemporâneos, quando
pensam a questão dos cemitérios, manifestam sempre o cuidado de integrá-
los ao cenário urbano, de descobrir para eles o melhor lugar. Não vigoram
mais as atitudes do século XVIII que determinavam o banimento dos mortos
em nome da higiene para fora das cidades: hoje, o afastamento dos mortos é
pensado como uma medida a favor deles, como um intencional afastamento
da confusão do mundo urbano, como a transferência deles a um lugar onde
possam 'descansar em paz'.
Por isso, os projetos mais modernos têm concebido os cemitérios como
parques em que o repouso dos mortos se confunde com um retorno à
natureza, quase como uma estadia prolongada na casa de campo tão sonhada,
envolvida pelo verde cada vez mais raro. Assim, sob o pretexto de repouso
dos mortos, o moderno urbanismo acaba oferecendo às grandes cidades
industriais, muitas vezes, um dos únicos lugares vivíveis de seus territórios,
ou pelo menos uma contribuição ecológica importante da qual na maior parte
das vezes os habitantes urbanos não têm consciência.
Entretanto, este moderno cemitério dificilmente pode ser identificado como
terreno fúnebre por um passante não advertido. Ele se fantasia de parques nos
quais as sepulturas são discretas, nos quais a morte é maquiada e por isso
dificilmente visível em sua verdadeira fisionomia. Ele corresponde à versão
moderna de imposição de silêncio à morte. Corresponde a uma simplicidade
que se atingiu ao final do desenvolvimento de um complicado projeto
arquitetural de que os cemitérios-cidades (compostos, como os cemitérios-
parques, de edifícios justapostos ou amontoados) participavam: integrar os
mortos no mundo dos vivos, a partir da negação da morte.
Os cemitérios-cidades clássicos, desenvolvidos a partir ou sob influência do
seu banimento para fora do perímetro urbano no século XVIII, eram cercados
por muros altos. Estes muros eram obrigatórios e assinalavam uma ruptura:
constituíam uma barra, marcando uma oposição entre vivos e mortos, entre
dois universos com identidades próprias. O cemitério-parque moderno,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
entretanto, tende a perder estes muros. Eles desabam, como desabaram todas
as fronteiras com que a civilização ocidental se defrontou: este
desmoronamento é o próprio processo por meio do qual os vivos devoram os
mortos e os mortos perdem sua identidade característica. Embora a
comparação, no ponto atual do presente trabalho, possa parecer precipitada,
os mortos são vítimas de um processo similar ao que atingiu diversos grupos
indígenas brasileiros: são encerrados em parques, em nome da proteção de
sua tranqüilidade e da preservação de suas identidades.
Este cemitério, que tínhamos caracterizado como um espelho de nossa
sociedade, não é entretanto só isso. Ele não se limita a reproduzir a aparência:
expõe igualmente a transparência de nossa cultura por meio de um jogo
complicado de signos que se remetem reciprocamente. Ele é um repertório de
pistas que a curiosidade convida a seguir – sobretudo no que respeita aos
cemitérioscidades nos quais o empobrecimento semiológico não tornou ainda
estas pistas escassas. As indicações que os cemitérios fornecem poderão
levar-nos a descobrir de novo a intenção significacional deles: reter a
dinâmica biológica, imobilizar a história, afastar qualquer idéia de revolução
ou de decomposição, seqüestrar os cadáveres fazendo com que a idéia de
morte se evapore das consciências, liquidar o 'outro' em sua diferença e
alteridade próprias – enfim, abolir todas as descontinuidades no espaço
significacional, que desafiam os dogmas de conservação e de continuidade
sobre os quais o Ocidente quer se fundar.
No cemitério contemporâneo cada objeto é um signo a desempenhar um
papel significacional preciso em favor do imenso projeto de congelar o
tempo. Os mausoléus, que eram capelas, se transformaram em casas muitas
vezes luxuosas, obedecendo a estilos arquitetônicos atualizados, dotadas de
jardins, de vidraças, ostentando o nome do proprietário... Nestas casas, o
morto não está mais morto: ele possui um nome e um endereço. Existe,
portanto: o tempo se transformou em espaço e se petrificou.
O tempo se petrifica também nas flores, que agora são de plástico, que não
murcham mais, que permanecem sempre idênticas a si, que são imitações
cada vez mais perfeitas de flores naturais e vivas e que – principalmente –
permitem aos vivos se preocupar menos com a existência dos mortos. O
tempo se solidifica em nossa obsessão pela fotografia: na vida, fixando os
momentos; na morte, conservando a imagem. É interessante observar que as
fotografias, que em nosso cemitérios identificam as sepulturas, são quase
sempre muito anteriores ao momento da morte, como se o desejo fosse o de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
conservar uma imagem bastante viva do morto. Quanta diferença aqui em
relação às máscaras funerárias que, moldadas sobre o rosto do morto,
pretendiam fixar e conservar exatamente sua fisionomia cadavérica! Ainda
mais, a presença da fotografia em nossos cemitérios é perfeitamente coerente
com uma sociedade em que as pessoas aprenderam a conhecer o real através
de fotografias e por isso precisam fotografar a vida para senti-la real. Como
diz uma publicidade (citada por Fuchs, 1974: 97-8) para venda de aparelhos
fotográficos, "Vovô não está mais aqui. Mas, para nós, fuma como sempre o
seu querido cachimbo. Filme! Assim você fixará um pedaço da vida!".
A fluidez do tempo é solidificada pelos epitáfios que falam em 'lembranças
eternas', que exaltam a perenidade do defunto. Ela é contestada pela solidez
das pedras com que são feitas as sepulturas: pedras imperecíveis, que se
transformam em metáfora da vida eterna. O tempo também não flui em um
mundo cujas árvores estão sempre com folhas, em um mundo que escapa às
variações climáticas das estações do ano. Estas mesmas funções
significacionais vêm desempenhar os objetos de metais resistentes, o
revestimento dos caixões com chumbo, a manutenção das sepulturas sempre
limpas e polidas, para garantir que nada mudou, que tudo continua o mesmo,
que a decomposição não se realiza... Obsessão tão forte de conservação, que
às vezes o sonho se une à realidade: "a utilização de plástico", observou
Louis-Vincent Thomas (1976: 355), "principalmente como revestimento dos
caixões, desacelera consideravelmente a tanatomorfose".
Esses signos pretendem dissimular a morte. Plantas disfarçam muros,
escondem sepulturas sob argumentos de ordem moral, de calma,
recolhimento, serenidade, intimidade etc. que devemos reservar aos mortos.
Mas esses argumentos são apenas álibis: na realidade é a morte que se quer
apagar, é dela que se quer afastar o pensamento dos vivos (Urbain, 1978).
Sepulturas escondem caixões, que escondem corpos, que escondem...
cadáveres... O cemitério é um imenso aparelho de fazer desaparecer e ao
mesmo tempo conservar: ele é simultaneamente a barra de separação mundo
dos vivos/mundos dos mortos e a dissimulação dessa barra.
Tudo no espaço cemiterial é marcado por essa função significacional de
neutralização (e o próprio cemitério por sua vez é dissimulado): oculta-se
primeiro o cadáver, vestindo-o, envolvendo-o em uma mortalha, impedindo a
sua visão, fechando-o dentro de um caixão; depois, oculta-se o caixão dentro
de uma sepultura e a sepultura sob um monumento; enfim, constrói-se um
muro a ocultar o espaço inumatório, muro este que é posteriormente
******ebook converter DEMO Watermarks*******
dissimulado por plantas, por árvores, por grades, por uma corrente, pela
impressão de se tratar de um parque e não de um cemitério. Todos esses
elementos, mortalha, caixão, grades, monumentos... são ao mesmo tempo
signos de separação e neutralização da separação: "um trabalho incessante
sobre a barra, situado entre a dissolução do objeto e a dissimulação do
cadáver" (Urbain, 1978: 156 – grifos do autor) – um trabalho de ilusão dos
vivos, de postulação da inexistência do objeto ocultado.
É o cadáver que se quer ocultar por detrás da palavra 'corpo'. Ao longo de
uma série de engavetamentos – roupa, mortalha, caixão, caixão exterior,
caixão interior, sepultura, monumento funerário etc. – o cadáver é superado e
substituído pelo 'corpo'. Eis a estratégia: vestir o cadáver, envolvê-lo com
uma mortalha (ou cobri-lo de flores), fechá-lo em um caixão, depositar este
caixão dentro de um outro, este outro em uma sepultura, esta sepultura sob
uma lápide ou monumento funerário e, sobre tudo isso, escrever: 'aqui
repousa o corpo de...'. No fim desse caminho, todo traço de desaparecimento
biológico desaparece. Permanece em seu lugar um corpo, como o corpo de
um criogenizado, pronto para despertar, não pertencendo mais à morte, mas
aos vivos que o mantêm artificialmente em 'vida'.
Substituindo o 'cadáver ' pelo 'corpo', esta semiótica trabalha sobre a barra,
neutralizando-a ao mesmo tempo que a afirma: neutralizando-a pela negação
do cadáver; afirmando-a pela postulação do 'corpo'. A barra que separa o
universo da vida do universo da morte não é mais o cadáver, que não existe
nesse discurso, mas o 'corpo' – o que equivale evidentemente a uma quase
explícita negação da morte e à destruição da diferença entre o mundo dos
vivos e o mundo dos mortos. Os sobreviventes podem ficar tranqüilos: este
'corpo' está protegido por caixões, sepulturas, roupas, monumentos, muros;
ele está assimilado à dureza da pedra, à solidez da madeira de que é
confeccionado o caixão. Ele é corpo e permanecerá corpo. Tudo é corpo: o
caixão que protege, a lápide que dissimula, o terno que veste. Tudo é
metáfora ou metonímia do corpo: o terno que lhe está contíguo, o caixão que
reproduz estilizadamente suas formas e seu volume, a lápide que porta seu
nome e sua fotografia...
Esta estratégia de substituições é reforçada ainda por uma dialética entre
conteúdos e continentes, entre significados e significantes – como observou o
mesmo autor – que termina pela negação do conteúdo da sepultura, ou seja,
do cadáver. Assim, os objetos funerários são livros abertos, caixas que
contêm dados fisionômicos e biográficos do morto (nomes, datas,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
fotografias...), monumentos que contêm sepulturas, sepulturas que contêm
caixões, caixões que contêm outros, que por sua vez contêm roupas, que
contêm 'corpos'... Os continentes remetem sempre a conteúdos que são
continentes, envelopes que contêm envelopes, que contêm envelopes...
Assim, todo o espaço cemiterial se vê povoado de continentes, de formas que
contêm outras formas, de formas que são conteúdos e que por isso negam de
um modo sutil o vazio da sepultura, povoando-a de uma infinidade de signos
que dão impressão de cobrir o vácuo sobre o qual se apóiam. Por isso, muitas
vezes não é preciso que exista um cadáver para que exista sepultura (caso,
por exemplo, de restos de soldados mortos em guerra), porque não é isto que
se supõe existir dentro dela, porque a falta de cadáver não produz o vazio,
porque é outra coisa que preenche uma sepultura: o que o objeto nega
não é a própria fossa, mas sua vacuidade, sua insignificância, seu
silêncio, sua escuridão... O objeto funerário assinala o não-vazio: ele
semantiza o absurdo, conta o após-morte, faz da morte uma segunda
existência... Por esta relação imaginária entre o visível e o invisível, o
significante e o significado, o objeto se transcende, tudo se semantiza –
o objeto e a morte. (Urbain, 1978: 32)
Além disso, um jogo de redundâncias e reiterações vem reforçar este projeto
significacional. O mundo semiológico dos mortos ocidentais é
extraordinariamente monótono, extremamente repetitivo, cheio de
significantes múltiplos para um mesmo significado, reproduzindo pela
redundância a sua mesma obsessão: repetindo para fazer crer; repetindo mais
ainda, para fazer esquecer.
Sabemos que a redundância é um mecanismo significacional de redução da
ambigüidade, de superação do ruído e de combate à entropia da mensagem.
Todavia, a partir de um determinado limite (caso por exemplo de um cartaz
publicitário que fique vários meses em um mesmo lugar), a redundância
passa a desempenhar o papel oposto e a mensagem passa a não ser mais
percebida (razão pela qual os publicitários substituem seus cartazes
periodicamente). A redundância pode ser, portanto, duas coisas opostas – e é
precisamente essa sua qualidade dupla que interessa ao projeto semiológico
do cemitério: por um lado ela persuade, postula, torna claro; por outro ela
faz(-se) esquecer, não (se) deixa perceber, oculta(-se). E mais, a redundância
dos signos cemiteriais reproduz a idéia que os homens ocidentais têm do
mundo dos mortos: um mundo sem novidades, sem mudanças, sem
acontecimentos aleatórios, onde o tempo foi congelado, os ruídos silenciados,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
a história paralisada. Um mundo habitado por um povo que não faz senão
se conservar, se repetir, se reproduzir eternamente igual. O mundo dos
mortos é o mundo do fechamento por excelência, o mundo onde o
tempo, ele mesmo encerrado, não pode mais fluir: tudo aí é
incansavelmente igual. É, pois, o lugar do eterno existente, da eterna
presença do objeto amado, o prolongamento em sonho do mundo dos
vivos, a organização reprodutiva da ordem da vida, que denota
claramente nossa sociedade como uma sociedade de conservação.
(Urbain, 1978: 319)
Desse modo, "de envelope em envelope", segundo a expressão de Roland
Barthes (1976: 64), "o significado foge". De dissimulação em dissimulação,
de repetição em repetição, de substituição em substituição, o cadáver
desaparece, a morte se evapora, os vivos se esquecem de sua finitude e
passam a viver um delírio de 'amortalidade'. Como fazem todos os mitos,
evacua-se a realidade: o fato de que o homem é um ser limitado. Eis aí um
discurso de poder que se postula eterno, postulando a imortalidade de seus
súditos, fechando uma porta através da qual estes poderiam tentar uma
chantagem libertadora; discurso que petrifica as existências deles,
decretando-os mortos antes que a morte aconteça (porque, se não morrem não
são vivos); discurso que os congela em prisões, asilos, hospitais, cemitérios e
centrais de criogenização, até dispor dos meios de livrar-se do mal que os
atinge.
Assim como o cemitério-parque faz desaparecer a morte de maneira mais
eficiente que o cemitério-cidade, a incineração é um procedimento mais
radical de banimento que a inumação. Historicamente o Cristianismo
considerou a prática de enterrar os mortos como um fator de auto-
identificação, através do qual os cristãos se sentiam continuadores das
tradições judias e se opunham às práticas crematórias, que consideravam
tipicamente pagãs. A inumação, na história do Ocidente cristão, sempre se
definiu como prática contrária à incineração, em nome do respeito que se
deveria ter ao corpo após a morte. A partir de 785 a cremação é procedimento
proibido, formalmente banido pelos poderes religiosos e seculares. Sua
prática, por mais de dez séculos, será reservada como punição aos
criminosos, feiticeiros e pecadores reconhecidos – até o século XVIII,
quando ressurgirá justificada por argumentos higienistas, preocupados muito
mais com a saúde dos vivos que com o destino dos mortos: em 1720, em
Marselha, visando a combater a epidemia que então grassava, milhares de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
cadáveres foram queimados em cal viva. Em 1887, depois de diversos
projetos não aprovados, a cremação foi autorizada na França, mesma época
em que uma grande efervescência envolvia o tema em países como a Itália, a
Áustria, a Inglaterra e a Alemanha.
Desde então, o desenvolvimento da incineração se faz com uma rapidez
considerável: na França, por exemplo, há cemitérios em diversas cidades
(Paris, 1892; Rouen, 1899; Reims, 1903; Marselha, 1907; Lyon, 1914;
Estrasburgo, 1922; Toulouse, 1972; Amiens, 1973), embora o número anual
de incinerações não possa ser considerado exageradamente elevado: mais ou
menos 2.500 por ano, ou seja 0,44% do número de mortos em 1974 (contra
0,23% em 1964), segundo dados que Daniel Ligou (1975) apresenta. Em
compensação, estes números atingiam na mesma época 57,3% na Inglaterra,
45% na Alemanha Federal, 41,6% na Suécia, 40% na Checoslováquia, 37,2%
na Suíça (Ligou: 1977). Trata-se, portanto, de uma prática nada desprezível,
cujo desenvolvimento no Ocidente parece longe de estar terminado.
Por instrumento da incineração os mortos são rapidamente reduzidos a
poeira, as transformações biológicas são supressas e substituídas por um
procedimento culturalmente controlado. Os argumentos tradicionais em seu
favor – de que é mais higiênica, mais ecológica, mais moderna, mais
econômica – não são absolutamente convincentes. O principal é que a
incineração é espetacularmente redutora e radicalmente exterminadora: como
disse Jean-Didier Urbain (1978), o fogo é o ultravivo que produz a ultramorte
– a morte radical, a liquidação da morte, a morte dos mortos. Além disso, esta
morte da morte, que a incineração produz, é produto da vontade social. A
tanatomorfose cultural se impõe à tanatomorfose natural e afasta para longe o
fantasma de uma decomposição sofrida. A incineração é praticamente a
oficialização da decadência do culto das sepulturas, das visitas aos
cemitérios, dos epitáfios e dos monumentos funerários: sobre 40 incinerações
estudadas por Godfrey Gorer (1965) somente uma é acompanhada de uma
placa e 14 são assinaladas por inscrições no 'livro de recordações' que se
coloca à disposição dos visitantes. Para os outros, nada: suas cinzas foram
espalhadas sobre o território do esquecimento como outras foram
disseminadas sobre os oceanos.
Evacuam-se os mortos, evacuam-se os signos, a mesma angústia, entretanto,
permanece. Agora, reprimida, escondida, secreta. O progresso técnico que a
incineração comporta não é mais que o progresso das técnicas de dominar os
vivos, de instituir a morte como realidade impensável, como realidade
******ebook converter DEMO Watermarks*******
inexistente. No fundo desse silêncio coletivo os fantasmas individuais fazem
suas danças macabras, roubando aos homens a consciência de seus limites,
fazendo com que se acreditem amortais, por isso definitivamente presos ao
tempo imobilizado. A extremamente alta temperatura da cremação
desempenha a mesma função simbólica que a temperatura extremamente
baixa da criogenização: fazer esquecer o morto, banir a morte, conservar a
ilusão de vida através da abolição da noção de morte, através da decretação
do fim do território onde os mortos vivem. E assim, produzir a verdadeira
morte, a morte definitiva, a Morte.
A morte se profissionalizou. A família transferiu o moribundo para o hospital
que por sua vez o transferiu morto para as empresas funerárias. As estratégias
mercadológicas dessas empresas subtraem o defunto de sua família mesmo
nos casos raros em que esta esteja disposta a tomar por conta própria as
providências necessárias. Mas a verdade geral é que a família não quer mais
se encarregar desse problema. Não suporta mais a proximidade do
moribundo, entregando-o aos hospitais e mesmo a empresas como a
Threshold Society, de Los Angeles, que se especializa em prestar cuidados a
moribundos: mediante uma certa quantia em pagamento por hora (7,5 dólares
em 1975) um 'tanatologista' se coloca à cabeceira do doente, no lugar dos
parentes que 'não podem' se dedicar ao mesmo (Thomas, 1978).
Uma vez morto, são as empresas funerárias os grandes interessados pelo
indivíduo. Essas empresas contam freqüentemente com a cumplicidade dos
hospitais – adquirindo adiantadamente informações sobre a saúde dos doentes
– e também com a da família do morto, que quer ver o 'problema' resolvido
do modo mais rápido possível, mesmo que os preços sejam com freqüência
exorbitantes. Nem as famílias sabem mais tomar as providências, nem a
apropriação do mercado da morte pelas empresas funerárias permite que tais
providências sejam tomadas por atores autônomos: empresas funerárias,
fabricantes de caixões, construtores de monumentos funerários, compositores
de epitáfios... estabeleceram já uma verdadeira ditadura econômica sobre o
mercado, baixando a lei do 'morra, nós fazemos o resto', ocupando-se de
'tudo', desencarregando a família de tudo.
Rentabilizar a morte é a razão econômica destas empresas. Multiplicam-se os
objetos funerários, especula-se sobre os preços, utilizam-se sofisticadas
técnicas de marketing e comercialização: nos Estados Unidos (Maertens,
1979), estimam-se em dois bilhões e meio de dólares anuais os recursos que
circulam em função das empresas funerárias durante a década de 1970. Um
******ebook converter DEMO Watermarks*******
imenso mercado de desculpabilização, sem dúvida, que integra a negação da
morte no sistema da vida, fazendo da morte, como escreveu Louis-Vincent
Thomas (1978: 109-10), um evento "insidiosamente reduzido à medida do
sistema: reificado, despido de todo simbolismo, despersonalizado, inscrito na
linearidade temporal, objeto de operações comerciais, como um fato
econômico qualquer". Nesse quadro econômico, a estratégia principal dos
vendedores é incutir e explorar a 'culpabilidade dos sobreviventes' (Karsenty,
1977), levando-os a buscar o mínimo de culpa com o máximo de recursos –
raciocínio que se aplica também a toda a empresa de conservação da vida,
como os hospitais, as prioridades em matéria de política de saúde, os
tratamentos médicos aos doentes graves, os seguros etc...
Desse modo, como se tivessem consciência de que o desenvolvimento das
concepções sobre morte no Ocidente não lhes é favorável a médio/longo
prazo, tais empresas parecem querer tirar, de uma só vez, todo o lucro
possível, aproveitando ao máximo o que ainda resta do romantismo do século
XIX, impondo aos sobreviventes que comprem montanhas de flores, caixões
de metal, travesseiros...
Estas empresas não deixam entretanto de fazer concessões às 'mais recentes
preferências do público', vendendo caixões que sejam 'belos' do lado de fora e
'confortáveis' do lado de dentro (já que quem os vai ocupar não é realmente
um morto) e povoando seu discurso de eufemismos neutralizadores: 'sala de
preparação' em vez de câmara funerária, 'ataúde' no lugar de caixão, 'caixão'
ou 'féretro' significando corpo, 'corpo' no lugar de cadáver, 'cerimônia' em vez
de sepultamento... Em conseqüência, são numerosos os sobreviventes que se
endividam por muito tempo, às vezes até a própria morte, por terem querido
dar a seus pais, a seu esposo, irmão etc. um funeral 'compatível', 'digno', 'à
altura'... Por terem sido obrigados a colocar sua angústia à disposição do
lucro de outrem.
Outra conseqüência dessa comercialização da morte: a lógica do sistema
impõe a produção em série. A criatividade tradicional desaparece, a morte se
transforma em catálogo. Os catálogos contêm tudo: modelos de sepulturas, de
caixões, de epitáfios, de alças de metal, de cerimônias fúnebres, de coroas de
flores, de anúncios fúnebres – tudo já preparado, em conserva (ou
congelado), pronto para ser consumido. Todos os produtos têm nomes que os
identificam, como as marcas identificam os automóveis. Através da produção
em série e apesar da multiplicação de objetos de consumo mortuário, as
empresas fúnebres oferecem um discurso empobrecido, um discurso
******ebook converter DEMO Watermarks*******
redundante, incapaz de falar sobre a morte e por isso adequada a uma
sociedade que quer fazer vigorar o silêncio. Um discurso cuja elasticidade se
dá quase somente no sentido da hierarquia, em que as frases diferentes que se
podem formar são unicamente aquelas que podem ser traduzidas em mais ou
menos dinheiro, em maior ou menor consumo.
Nesse mesmo sentido pode-se entender uma das mais recentes invenções
dessas empresas, o funeral home e a tanatopraxia que lhe está associada,
ambos imperando ainda quase exclusivamente nos Estados Unidos. Nesse
país, até o final do século XIX, as providências funerárias eram quase uma
exclusividade da família e dos amigos mais próximos, que cuidavam da
inumação, da lavagem do cadáver, da sua vestimenta, da encomenda e às
vezes da confecção do caixão, do transporte do defunto à igreja e ao
cemitério, onde, à beira da sepultura, faziam uma prece comum. Até ser
transportado normalmente o defunto ficava exposto na sala de visitas da
família, cercado pelos amigos e parentes (Maertens, 1979). Os costumes
modernos se opõem, todavia, a estas práticas tradicionais: cada vez se tolera
menos a presença do corpo (doente ou morto) em casa, seja por convicções
de ordem higiênica, seja por falta de condições psicológicas para enfrentar a
realidade. Abandonado pela família, que não pode aceitar o desaparecimento
do ente querido, pelos médicos, que se preocupam somente com o corpo
doente, e pelos sacerdotes, que não se ocupam senão da alma, o cadáver se
transformou, no século XX, em uma espécie de terra-de-ninguém, da qual os
'tanatólogos' das empresas funerárias rapidamente se apossaram, fazendo dele
um dos grandes consumidores do sistema capitalista.
Imaginou-se, então, colocar o corpo em exposição em um lugar especial,
cercado de uma nova ritualidade, que desempenha as mesmas funções
ideológicas que viemos percebendo no correr desse estudo. Esses funeral
homes não são nem o ambiente personalizado da residência do morto nem o
ambiente impessoal dos hospitais. Eles criam um ambiente novo no qual o
morto é rei – e, como os reis, não morre. Um ambiente em que um mestre de
cerimônia, o funeral director, comanda o comportamento das pessoas
lembrando-lhes discretamente as 'boas maneiras' a observar em um salão
funerário durante as cerimônias. O morto acolhe seus convidados, como se se
tratasse de uma recepção: ele já foi lavado, embalsamado, cuidadosamente
vestido, maquiado. Todo traço de morte foi eliminado: o ambiente é
planejado para que a dor não aflore e não atrapalhe o bom funcionamento das
coisas. Como se se tratasse de um coquetel ou de um vernissage, existe aí um
******ebook converter DEMO Watermarks*******
tom apropriado e um vocabulário conveniente cuja regra fundamental é a
seguinte: a palavra morte – e tudo o que dela se aproxime – é uma
obscenidade.
Em nome do 'respeito ao defunto' e da 'preocupação de não traumatizar os
vivos', os funcionários desses funeral homes cuidam da restauração do
cadáver (apagar os traços de agonia), de sua conservação (disfarçar a
tanatomorfose), de sua beleza (dando ao morto um aspecto saudável), de sua
higiene (se não parece morto, não parece poluir), de seu ambiente (as pessoas
se sentem mais à vontade, conversam mais livremente, em tom normal, ao
som de música...). Em casos extremos, mas não raríssimos, o morto é
colocado em posição de vivo, 'falando' ao telefone, sentado em seu escritório,
maquiado, de óculos, pernas cruzadas, às vezes sentado em sua sala de visitas
(living, em inglês). Ele está vivo, vai se mexer!
Mas ele não se mexe, tudo isso é uma ilusão: o vivo quase-morto é na
realidade um morto quase-vivo. Dominados por uma angústia silenciosa e por
uma ideologia insidiosa, os sobreviventes não percebem o ridículo da farsa de
que são personagens. E caem prisioneiros nas malhas dessa armadilha
implacável e aparentemente paradoxal de negação e rentabilização da morte,
em que morrer se transforma em uma transação comercial, em um ato que os
vivos e os mortos desempenham como atores econômicos, em proveito da
reprodução das relações de força do sistema social.
Eis, então, em que se transformou a morte no Ocidente. Eis o destino dos
ritos medievais que congregavam a comunidade, por intermédio dos quais,
como vimos na primeira parte desse trabalho, todas as sociedades constroem
um sistema especular por meio do qual vivos e mortos, vida e morte, se
(auto) reconhecem reciprocamente e conseguem por referência a um outro
lugar determinar a posição da vida no território da existência e a do homem
no domínio da vida. Ocultando a morte, o moribundo, o cadáver, esquecendo
as sepulturas e os ritos, maquiando e travestindo, queimando e congelando
nossa sociedade destrói este complexo especular, decretando a alienação do
homem diante da vida, a exaltação da vida contra a existência e a divinização
da biografia contra a vida e contra a existência.
Destruindo a idéia de morte, o(s) poder(es) do Ocidente erigem a vida em
(falso) valor supremo e decretam a biografia individual como padrão de
avaliação definitivo. Pela porta aberta do banimento da noção da morte e da
postulação de que tudo é vida, o Ocidente inventa a morte verdadeira, o
precipício definitivo, o não-tempo, o não-lugar, o não-pensamento, a não-
******ebook converter DEMO Watermarks*******
lembrança... Se a morte não existe, se só existe vida, como o Ocidente quer
fazer crer a seus membros, toda a ação ocidental sobre o mundo passa como
sendo produção de vida, criação e progresso: seu caráter arrasadoramente
destrutivo poderá passar despercebido, a sociedade de 'consumação' e
destruição poderá esconder-se atrás do mito da sociedade de consumo, de
conservação e de progresso.
O mito ocidental de conservação da vida, de amortalidade, de imortalidade,
contém em si a Morte: o irreversível vazio que estamos em vias de produzir.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Parte III - Do indivíduo à espécie
14 Um outro estilo de morrer
O valor especial que parecemos atribuir à vida humana na sociedade
ocidental tem uma história não muito longa. De fato, nem a morte
representava o pavor que a ela atribuímos, nem a vida foi sempre o bem por
excelência, a preservar e a acumular contra todos os outros.
As concepções de morte imperantes no Ocidente foram em grande parte
responsáveis por esta relativização do valor da vida. Contudo, razões de
ordem infra-estrutural também se fizeram sentir, de modo ao menos
igualmente marcante: é que a morte não estava ostensivamente presente
apenas no nível das chamadas 'ordens concebidas'; constituía uma realidade
cotidianamente vivida, cuja proximidade sempre foi parte integrante do
existir. A onipresença da morte não poderia ser isenta de repercussões sobre
os comportamentos e a relativa indiferença com que era vista não podia
deixar de implicar uma certa indiferença no que concerne à valorização da
vida.
A freqüência mesma da morte, por si só, deveria implicar uma certa
resignação. Isso era particularmente verdadeiro no que dizia respeito à morte
de crianças: 25 a 30% das crianças medievais conheciam a morte antes que
pudessem andar; 45 a 50%, se considerarmos os natimortos, os primeiros
anos de vida e as épocas conturbadas. Como morriam? Atacadas por má
nutrição, más condições de higiene, doenças infantis, certamente. Mas
também por falta de precauções que poderiam evitar muitas mortes
prematuras: exposição da criança ao clima, mães ou amas que dormiam sobre
a criança e a sufocavam, falta de cuidados elementares com a sua segurança...
Ariès (1948, 1973) e Lebrun (1975) desenham um quadro do tratamento da
criança durante o Ancient Régime que não permite excluir a hipótese de o
infanticídio ter sido praticado e de boa parte da mortandade infantil ter
correspondido a um desejo mais ou menos consciente – reprovado, é certo,
pela moral religiosa e oficial, mas na prática incluindo-se entre as coisas
eticamente neutras, exercidas secretamente, incapazes de levantar suspeitas,
pois impostas a seres socialmente menos valorizados, que nascimentos
posteriores viriam substituir e cujas mortes provocam batismos urgentes e
esquecimentos apressados.
É preciso esperar a segunda metade do século XVIII para que este quadro
apresente modificações sensíveis. É nesta época que a criança deixa de ser
considerada como um ser rebelde, portador de perigos simbólicos, evocador
******ebook converter DEMO Watermarks*******
de doenças e de incômodos, cuja vida individualmente quase nada vale. É
somente neste momento que a criança deixa de ser vendida, abandonada,
assassinada. É então que ela passa a ter existência como categoria social, à
qual se reconhece uma certa dignidade, dignidade destinada a crescer
extraordinariamente com o desenvolvimento da sociedade industrial. Mas
este é também o momento em que ela começa a ser avaliada como força de
trabalho real ou potencial, em uma época em que os camponeses podem
ainda se recusar a trabalhar nas usinas, em que a mão-de-obra industrial é
ainda escassa e instável. O sistema industrial se faz fazendo também da
criança seu produtor e seu consumidor, levando-a para as usinas e escolas,
fazendo-a sujeito de 'necessidades' a satisfazer. Para tal fim, o sistema
ajudou-a a viver: para que ela viesse a permitir, através da formação e da
reprodução da força de trabalho que por seu meio se operavam, a vida do
próprio sistema que estava em vias de se constituir.
No final do século XVIII, mesma época em que começam a se multiplicar os
livros de puericultura e de pedagogia, atraindo todos os olhares para a direção
deste novo herói cultural, a mão-de-obra infantil é numerosa e bastante
procurada. Participa de trabalhos domésticos, ajuda a tratar e limpar a lã e o
algodão, a confeccionar vestimentas. Liga-se por contrato a empresários e
interessa aos proprietários de usinas, na medida em que é remunerada em
plano inferior e em que pode ser moldada para formar os operários-modelo
do futuro. Fonte de riquezas, a criança é talvez o maior beneficiário das
transformações das condições de vida, do desaparecimento das grandes
epidemias, da evolução da estrutura demográfica. Por este caminho, a partir
do início do século XVIII, a criança francesa tem uma esperança de vida
superior à de seus pais, diferença que vai progressivamente aumentando com
o tempo, pelo menos até o terceiro quarto do século XX (época a partir da
qual tende a estabilizar-se nos países altamente industrializados).
Ao mesmo tempo, o pensamento social se agita em torno da saúde dos
trabalhadores adultos. Médicos, moralistas, filósofos, políticos, começam a
colocar esta questão em primeiro plano. A acumulação de capital e a
formação da economia industrial exigiram muito do trabalhador: em 1564,
segundo nos informa Jacques Attali (1979), a duração do trabalho se limitava
a 20 semanas por ano; em 1694 essa duração é de 48; em 1726 de 52, ou seja,
o ano inteiro. Começa-se a criticar o desperdício de homens no trabalho, a se
acusarem as doenças de diminuir a produtividade, a se estudarem
cientificamente os problemas de organização do trabalho. A saúde e o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
descanso entram na pauta das reivindicações, no mesmo momento em que as
máquinas começam a ser capazes de substituir o trabalhador ou mesmo de
expulsá-lo da usina e em que o volume de produção exige que ele viva – não
mais somente para produzir, mas também para consumir.
Médicos, parteiras e regras de higiene passam a ser requeridos para proteger e
policiar a saúde da população. A manutenção dessa saúde adquire caráter de
investimento social. Proteger o trabalhador é uma medida em favor de um
'capital humano' e nesse sentido justificam-se como 'racionais' os gastos em
saúde, educação, cultura e previdência social. Um certo Dr. Hacket (1925),
preocupado em assegurar a rentabilidade desse capital humano, escreverá na
introdução a seu livro sobre medicina do trabalho:
A saúde dos trabalhadores deve ser mantida e melhorada enquanto meio
de produção (...). Frangos, cavalos de corrida, macacos de circo são
alimentados, alojados, treinados e mantidos no mais alto nível de força
física para assegurar um rendimento máximo em suas funções
respectivas. O mesmo princípio se aplica aos seres humanos. Um
aumento de produção só pode ser esperado dos trabalhadores sob a
condição de se atribuir uma grande atenção a seu ambiente físico e a
suas necessidades. (citado por Attali, 1979: 202-3)
Surge uma nova preocupação com a saúde e com a vida, não mais
determinada pelo prolongamento da estadia do burguês à frente de seus
negócios, mas pelo crescimento do valor do indivíduo enquanto trabalhador
na produção e no consumo. O corpo se transforma em mecanismo que deve
ser mantido em bom estado de funcionamento para poder produzir. Vem a ser
uma ferramenta que faz com que outras ferramentas produzam. O grande
inimigo deixa de ser o doente, que agride por sua diferença (e por isso é
recolhido aos hospitais): transforma-se na doença, essa grande força
destrutora de riquezas, essa praga a destruir plantações de operários e a
impedir que homens sejam recolhidos às usinas e que se transformem em
pontos terminais do circuito de consumo, onde a produção industrial deva
escoar. Doença e pobreza são agora os grandes inimigos a abater nos
domínios da sociedade industrial: medicina e polícia se transformam em
estratégias político-econômicas.
Por isso o aumento da esperança de vida se transforma em bandeira de
burgueses e de proletários, em peça fundamental da otimização do sistema,
mesmo que sua obtenção custe a diminuição da esperança de vida de
populações marginais à sociedade industrial: transformação de cada
******ebook converter DEMO Watermarks*******
trabalhador industrial em uma máquina eficaz de produzir e de consumir. Por
isso, são postos em evidência 'reivindicações', 'direitos' e 'vitórias' dos
trabalhadores: 'progressos' na luta contra as doenças (em 1920 a tuberculose
mata na França, por exemplo, três vezes menos que em 1770; os antibióticos
são um golpe mortal contra doenças mortais; as vacinas protegem as crianças;
o impaludismo e a difteria praticamente desaparecem do mundo rico
industrial...) e contra a exploração econômica (encurtamento do número de
horas de trabalho, melhoria das condições de habitação, férias remuneradas,
proibição do trabalho das crianças, generalização da educação escolar,
desaparecimento da servidão doméstica...).
O aumento da duração do funcionamento da máquina humana de produzir se
transforma em signo do progresso das nações, em ideal de ser da sociedade
industrial, mascarado sob o pretexto de prolongamento da existência
individual, que se quer ilimitadamente aumentada até a eternidade (negação
da morte), mas que na realidade é otimizada de acordo com as leis do
sistema: nem demasiadamente curta que não permita produzir, nem
demasiadamente longa que seja deficitária socialmente.
Concretamente, muitas modificações podem ser observadas no que concerne
à distribuição da morte antes e depois da constituição da sociedade industrial.
De fato, ao menos do ponto de vista estatístico a luta contra a morte e a
doença apresentou resultados efetivos. Hoje estamos muito longe dos
supostos 20 ou 22 anos de vida que se podiam esperar no início da era cristã,
ou ainda longe dos 33 anos de esperança de vida do homem medieval inglês.
Em 1550, época em que muitos cadáveres de crianças podem ser encontrados
nas ruas e nos depósitos de dejetos de Londres, um nobre do sexo masculino
podia esperar viver 36,5 anos, ou 38,2 se fosse mulher. Na França a
esperança da vida é de 40 anos em 1861, transformando-se em 68 anos um
século mais tarde. Na Inglaterra um homem vive em média, por volta de
1750, 44,5 anos e uma mulher 45,7 – média esta que será de 50 anos, pela
primeira vez, talvez, para o estadunidense do início do século XX. Mais
recentemente, no final do século, os homens e as mulheres suecos atingiram o
recorde de média de vida, respectivamente 72 e 76 anos. Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde, a longevidade atinge nos anos 70 do século
XX em média 68 anos para os homens e 75 para as mulheres. Na Europa, é
claro; pois na América Latina, Ásia e África, nesta mesma época a vida
humana dura menos de 40 anos, cifra que é ainda menor se considerarmos
ocasiões especiais (secas, chuvas demasiadas, fome, guerras...).
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Na raiz desses fenômenos demográficos, encontramos a prevenção da varíola,
a melhoria da alimentação, as vacinas, a medicina preventiva, certamente –
embora em graus e em qualidades bastante diferentes dos que habitualmente
se supõem. Estes fatores na realidade são bastante menos importantes que
suas aplicações sobre um segmento particular da população (entre outros
fatores): as pessoas em tenra idade.
O aumento da esperança de vida dependeu fundamentalmente do decréscimo
da mortalidade nos primeiros anos de vida. Desde o século XIX até o último
quartel do século XX, por exemplo, os ganhos em esperança de vida em
termos de idades avançadas foram relativamente pouco significativos: aos 50
anos, são de cinco anos para os homens e de dez para as mulheres; aos 60
anos, de três e de seis; aos 70 de um e de três anos, respectivamente; aos 80,
praticamente nada se ganhou em termos de anos agregados à duração da vida.
A maior parte das mortes, que até cem anos atrás se concentrava nos
primeiros anos de vida, deslocou-se: de 20% no primeiro ano de vida para
1%; de 12% nos quinze primeiros para 0,5%. Observemos ainda que,
enquanto este movimento operou nos estratos etários mais baixos, os limites
máximos da vida permaneceram quase intocados no período mencionado. Por
exemplo: apesar do fato de que nos países industrializados as doenças dos
anciãos tendessem a absorver a maior parte dos orçamentos de saúde, o
número de pessoas que ultrapassavam os cem anos permaneceu praticamente
o mesmo de antes.
Além disso, nessas sociedades industriais, em que o número de anos a viver
foi estatisticamente multiplicado, a distribuição deles não se fez
igualitariamente: apesar de que as condições de vida do trabalhador tenham
melhorado, o contraste entre a esperança de vida do rico e a do pobre, de um
modo geral, parece ter aumentado. A morte não é certamente tão neutra como
acreditavam os baixos-relevos das catedrais da Idade Média, quando ela
atacava todos, mais ou menos indiscriminadamente. Na França, a esperança
de vida de um trabalhador braçal de 35 anos é sete anos inferior à do
professor de igual idade e, nessa mesma idade, morrem três vezes e meia
mais trabalhadores braçais que professores. Aos 70 anos, os trabalhadores
correm duas vezes mais risco de morrer que os professores. O risco de morte
de um trabalhador de 35 anos é estatisticamente igual ao de um professor de
47 anos: "de 1.000 trabalhadores braçais vivos aos 35 anos, resta menos da
metade – 498 – 35 anos mais tarde, aos 70 anos; de 1.000 professores, ao
contrário, permanecem 732, ou seja, quase três quartos. Aos 75 anos, contam-
******ebook converter DEMO Watermarks*******
se 572 professores sobreviventes, para 331 trabalhadores" (Charlot, 1976:
60).
Aos 45 anos, duas vezes mais trabalhadores especializados morrem de câncer
que funcionários administrativos. Com efeito, um imenso assassinato
anônimo e silenciosamente é perpetrado dentro da coletividade, pois, se a
pobreza e a debilidade fisiológica dos pais determinam as chances de vida
dos filhos, como sabemos, a desigualdade diante da vida mais do que nunca
determinará a desigualdade diante da morte.
As causas mais importantes da morte na história ocidental operaram sempre
em escala coletiva. Nas cidades, as condições de saúde, alojamento e
alimentação eram precárias para a maior parte da população; as epidemias se
propagavam de cidade em cidade, encontrando terreno fértil nos
amontoamento de pessoas e de imundícies. Das cidades, elas passavam para o
campo. As epidemias – peste, varíola, tifo, disenterias variadas, gripes,
pneumonias, tuberculoses em ondas sucessivas – combinavam-se com
períodos intercalados de fome e de guerra. A Grande Peste, por exemplo,
aparecida na Ásia por volta de 1333, onde fez cerca de 25.000.000 de mortos,
espalhou-se pela Europa, trazida pelos navios, propagada pelos ratos: um só
doente contaminava toda uma cidade; em cinco anos, entre 1346 e 1350,
dizimou um terço da população do continente. Diversos surtos epidêmicos
são veiculados por soldados: o exército de Charles VIII, em 1494, transportou
a sífilis de Nápoles para diversas regiões européias; entre 1520 e 1543, 19
milhões de astecas morreram de varíola, levada pelos soldados espanhóis; em
1490, os soldados espanhóis trazem o tifo de Chipre...
Seria um pouco ingênuo querer explicar as transformações das taxas de
mortalidade coletiva por progressos particulares verificados no plano das
técnicas médicas, sobretudo aqueles que se referem à terapia individual. Ivan
Illich (1975: 21-2), em um trabalho no qual critica de modo penetrante a
instituição médica contemporânea, afirma que a diferença entre as esperanças
de vida das gerações sucessivas aparece sob Ancien Régime, sem que tenha
havido progressos notórios concernentes às técnicas terapêuticas: "ela se
amplifica com a revolução pasteuriana e desaparece bem antes da recente
aparição do arsenal do médico contemporâneo".
De fato, não se trata de negar de maneira absoluta a importância dos
progressos da medicina. Mas de colocá-los em seus devidos termos,
localizando os progressos que foram realmente eficazes. Tais progressos são
precisamente aqueles que se ligam às transformações do modo de vida
******ebook converter DEMO Watermarks*******
coletivo, como o aparecimento de preocupações higiênicas, a melhoria das
condições de habitação e alimentação, as transformações nas condições de
trabalho, a melhor organização das cidades no que diz respeito a esgotos e
evacuação de lixo, a introdução de inseticidas, vacinas e antibióticos, a
previdência social. Tais transformações têm uma dimensão social capaz de
ser entendida à luz da própria racionalidade do sistema industrial, para o qual,
já dissemos, a otimização da duração da vida é uma questão essencial.
Assim, relativizando a importância de técnicas médicas particulares e
isoladas, Ivan Illich lembra que a tuberculose, por exemplo, cuja taxa de
mortalidade era da ordem de 700 por 100.000 em 1812, reduz-se a 370 por
volta de 1882, quando Koch cultivava ainda o primeiro bacilo, a 180 em
1904, quando se abriu o primeiro sanatório, a 48 por 100.000 após a Segunda
Guerra Mundial. A cólera, o tifo, a febre tifóide e a disenteria também teriam
evoluído de modo relativamente independente das técnicas médicas, na
direção do desaparecimento: escarlatina, rubéola, difteria, coqueluche
perderam cerca de 90% de suas taxas de mortalidade na faixa de um a 15
anos, antes do emprego de antibióticos.
A transformação mais efetiva, do ponto de vista da saúde, foi a modificação
do modo de vida do operariado, esmagado de todas as formas pelas cidades.
Aos olhos do sistema, as doenças, mais do que pessoas, atacavam
trabalhadores e consumidores. Por isso era preciso urgentemente bani-las e
nesse sentido as mais graves medidas médico-policiais foram tomadas. Toda
uma política de saúde aparece, preocupada com a proliferação das mortes e
dos nascimentos, com o nível de saúde e a duração da vida, com os fatores,
enfim que fazem variar a longevidade humana, integrando-os à economia e à
racionalidade capitalistas.
Em torno da vida desenvolver-se-á toda uma política de vigilância e de
acusação, pelas quais o médico e a medicina serão os grandes responsáveis:
enunciando padrões de comportamento, muito mais que intervindo
diretamente no plano orgânico. Ao mesmo tempo, contudo, deixar-se-á que
apareçam e que se desenvolvam outros fatores de mortalidade, integráveis à
logicidade do sistema: ansiedade e solidão produzidas pelo dinheiro,
angústias e distúrbios nevosos e psíquicos relacionados com as contradições
sociais, suicídios ocasionados pela solidão dentro de uma sociedade que se
pulveriza, doenças mentais, estresse, acidentes cardíacos, hipertensão,
alcoolismo, doenças respiratórias e digestivas patrocinadas por estes grandes
contribuintes do fisco que são as fábricas de cigarros e bebidas, acidentes de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
trabalho, desastres de circulação, drogas, colorantes, conservantes
químicos… Tudo isso em meio de estandartes que defendem o afastamento
da morte, a perpetuação da vida e que são no fundo muito mais políticas
demográficas que atitudes efetivas em vista da conquista da saúde e da
dignificação da vida.
Um dos resultados dessa política é a proliferação de anciãos, muitas vezes
produzidas nos laboratórios médicos. A preocupação com a duração da vida
implica naturalmente o esforço de postergar o seu final, o que se poderá
conseguir por meio da consideração do corpo humano como uma máquina
que se pode conservar e reparar. A saúde das pessoas idosas coloca-se no
primeiro plano das políticas orçamentárias dos países industriais. Na Suécia,
por exemplo, que é um dos países que melhores resultados obtiveram nesse
domínio, por volta do último quarto do século XX, 10% da população
ultrapassavam 70 anos e utilizavam 50% das despesas hospitalares e os 2,5%
que ultrapassavam 80 anos eram responsáveis por 25% essas mesmas
despesas (Attali, 1979). De um modo geral, nos países ricos quase metade das
despesas de saúde destina-se a oferecer às pessoas idosas algumas semanas
ou alguns meses suplementares de vida. Conseqüentemente, o desenho que se
forma é o de uma sociedade que, querendo aumentar a vida, está
multiplicando o número de velhos (sobretudo na faixa dos 60-75 anos) – o
que não deixa de representar uma frustração, ou um fracasso, para uma
sociedade que cultua a juventude e que pretende conservá-la.
Tal multiplicação de anciãos é ainda mais paradoxal quando se considera que
esta é uma sociedade hostil aos velhos. De fato, quanto mais os homens
vivem, menos são reconhecidos simbolicamente como socialmente
importantes. Esta sociedade é inteiramente diferente das sociedades africanas
no que respeita à situação dos velhos. Na África em geral não existe
decréscimo com o passar dos anos, não existe decadência, mas, pelo
contrário, enriquecimento da personalidade humana até a morte e mesmo
depois quando os velhos se transformam em ancestrais. Os velhos são sábios
porque são detentores dos conhecimentos tradicionais que transmitem à
comunidade; são ricos de uma riqueza que não pode de outro modo ser
adquirido. Aqui, ao contrário, os anos acumulados são um fardo que os
velhos e os jovens devem carregar. Os anciãos são vistos como conotadores
de doença e morte e por isso deles se afastam as criancinhas. São
testemunhas de um fracasso e daquilo que não se quer ver: respectivamente, a
impossibilidade de conservação da juventude e a realidade da morte.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Multiplicando os velhos nossa cultura tornou-os paradoxalmente inúteis:
improdutivos e relativamente fracos consumidores. Seus saberes e sua
experiência não são mais úteis à construção do progresso da sociedade
ocidental que, mudando continuamente, torna-os obsoletos e dispensáveis
diante das técnicas modernas que podem cada vez mais ser dominadas por
jovens especialistas que sabem mais e mais sobre menos e menos. Em uma
cultura em que ser velho é out, é compreensível que os velhos sejam
afastados e jogados fora do círculo dos plenamente vivos – e que sua morte
social seja decretada antes mesmo de sua morte biológica.
Não se eliminam os velhos nas culturas ocidentais (apesar da atualidade
crescente dos debates sobre eutanásia), mas eles são socialmente mortos
através da aposentadoria, que, baseada na idade cronológica e sem grandes
relações com as idades fisiológica e psicológica, arranca o indivíduo muitas
vezes compulsoriamente do círculo de suas relações, decretando-lhes, em
imenso número de casos, a morte real poucos meses ou anos depois. Matam-
se os velhos internando-os nos asilos, impondo-lhes a separação das pessoas
e coisas que amam e a conseqüente solidão. Matam-se os velhos forçando-os
à inatividade e ao abandono, encaminhando-os definitivamente para a morte
em vida – pois o internamento, na prática, como a morte, é uma passagem
irreversível – e obrigando-os, nos asilos, a conviver cotidianamente com a
presença da morte dos companheiros. São internados para que morram: na
França, nas grandes cidades, 80% das mortes se dão nos asilos e hospitais.
Qual o sentido da velhice em nossa sociedade? É claro que ela não se limita a
dar lucro às companhias de seguro, que calculam o valor dos anos de vida
como qualquer mercadoria. Ela não se limita a manter elevado o número de
consumidores, pois os velhos não são grandes consumidores, embora sejam
os maiores clientes do imenso mercado de produtos farmacêuticos e serviços
médico-hospitalares. O sentido de velhice não está seguramente no peso-
morto que os velhos representam, muitas vezes, do ponto de vista da
racionalidade do sistema econômico (um terço da sociedade vivendo de
parasitismo econômico).
Não, nada disso. O sentido da velhice é o de ser um símbolo, de simbolizar
uma fronteira, um muro que se pode teoricamente fazer recuar e onde se faz
concentrar a ação da morte. O afastamento e discriminação dos velhos é
criação de um território onde se espera que a morte opere. Por este caminho
busca-se o afastamento, a discriminação e o direcionamento da morte. Estes
velhos – nos quais apreciamos sobretudo a juventude (quando a têm) – são
******ebook converter DEMO Watermarks*******
testemunhas de acumulação, valor máximo de nossa sociedade: são
testemunhas de acumulação de vida, de acumulação de consumo, de
acumulação de energia. Eis por que os deixamos viver e até os obrigamos a
isto: são o contraponto que nos permite enxergar a nossa vida – como o louco
nos permite enxergar nossa razão, o índio, nossa cultura e o homossexual,
nossa sexualidade.
A presença do velho é indispensável em uma sociedade que cultua a 'morte
natural'. A morte do velho, mesmo que contra ela se lute com todo esforço, é
a única morte 'normal', a única morte 'lógica' porque situada precisamente no
'fim' da vida – a única morte aceitável. A partir dessa localização da morte no
fim da vida, o não-velho pode viver tranqüilo, sem pensar na morte e mesmo
viver na esperança de que com o passar dos anos a técnica gerontológica
venha a ampliar a vida, esticar os seus limites, aboli-los até. Essa idéia de
morte natural não é aceitação da morte como fazendo parte da ordem natural
das coisas. Pelo contrário, é transformação dela em algo remoto, em coisa
removível, abolível, esquecível. É o outro lado de uma vida concebida como
valor, como mercadoria, como propriedade que se deve preservar e trocar
pelo melhor preço (variável com as condições do sistema econômico-político
em que se insira), como propriedade que se pode consumir (no trabalho, por
exemplo), mas que não se pode consumar, vivendo-a integralmente e
livrando-se dela quando se tornar insuportável.
É a este ideal de morte natural que responde essencialmente a instituição
médica contemporânea. Perseguindo o sonho de morte natural, nossa
sociedade fez do setor médico um de seus mercados mais importantes,
empregando nos países desenvolvidos cerca de 5% da população ativa – à
frente, portanto, de setores à primeira vista dominantes, como o siderúrgico e
o de produção de veículos. A medicalização penetra fundo em nossas vidas e
constitui um dos domínios em que o poder da técnica foi mais bem acolhido e
menos contestado: cada habitante das sociedades desenvolvidas é um
hóspede potencial dos hospitais, um paciente quase certo de operações
cirúrgicas, um freqüentador assíduo de consultórios e ambulatórios. Se, antes,
freqüentar um hospital era signo de pobreza (os hospitais eram lugares
pestilentos, sustentados pela caridade pública, pontos de concentração de
indigentes que aí vinham receber esmolas, onde a preocupação de curar não
ocupava absolutamente um posto especial), hoje os hospitais e as clínicas são
indicadores de desenvolvimento econômico, lugares que as pessoas têm a
obrigação quase moral de freqüentar.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Nos hospitais e centros de pesquisas médicas operam-se os grandes milagres
de nosso tempo. Aí, a aplicação racional de técnicas terapêuticas se envolve
de moderno misticismo, em que o poder se proclama capaz de executar o
impossível, transformando-se por causa disso em credor de obediência cega,
em depositário da mais incondicional confiança. Corretiva ou
preventivamente a medicina invade nossas vidas: profissionais de
manutenção da saúde e de gestão do corpo são cada dias mais capazes de nos
dizer o que fazer, o que comer, quanto dormir e assim por diante. As
instituições médicas permitem e estimulam o consumo de dentifrícios
milagrosos, de loções que fazem nascer cabelos, de remédios que
emagrecem, que tranqüilizam, que estimulam, que restabelecem e fortificam
o apetite sexual, que recuperam o esforço despendido no trabalho, que
produzem beleza e que propiciam felicidade... constituindo, assim, um
discurso que nos obriga a não ver sob a cobertura das miragens que
apresenta.
Desse modo, as instituições médicas se transformam em instrumentos de
controle social, apropriando-se da tarefa de administrar a saúde e a vida dos
indivíduos. O hospital, embora de modo diverso, continua exercendo a
função policial, função que absolutamente não monopoliza, dividindo-a com
a imprensa, a publicidade, a escola, o consumo... Diante da moderna
medicina o doente se transformou em paciente, destino que foi também o do
indivíduo são. A pessoa hospitalizada foi reduzida a uma dependência
comparável à do prisioneiro na penitenciária, à do estudante na escola, à do
operário diante da linha de montagem: foi desnudada por essa instituição
total, perdeu sua identidade, transformou-se em número, em um 'caso' de uma
doença particular, deixou de ser responsável por si mesmo, por sua doença e
por sua vida. O indivíduo são deve agora consumir medicamentos e fazer
exames rotineiros. Para prevenir as doenças, o indivíduo saudável é obrigado
a fazer ginásticas, dietas, tirar férias, divertir-se… Enfim, é coagido a
submeter-se a uma vida 'sã', a padrões de comportamento que estes 'técnicos'
lhe propõem e mesmo lhe impõem. Por esse caminho, pela medicalização da
vida biológica e psíquica, os problemas cruciais são despojados das
dimensões sociais, são despolitizados e acabam apresentados como questões
particulares, individuais que uma visita a um especialista, um bom calmante,
um passeio ou um regime alimentar podem resolver.
Estas instituições são gigantescos aparelhos de fazer desaparecerem a dor e a
morte – o que fundamentalmente vem a ser a mesma coisa. O hospital é o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
lugar para onde se transportam aqueles que sentem dor, como acontece com
aqueles que vão morrer. Assim escondido, o sofrimento não poderá
obscurecer a imagem de felicidade e de bem-estar, que por toda parte a
sociedade moderna tenta incutir em seus membros. Assim escondida, a dor
terá silenciada a pergunta que sempre traz, pois ela é uma indagação sobre o
sentido da vida e o lugar desta no seio da existência, em um momento
particular. A anestesia, sob todas as suas formas, é uma das grandes
descobertas de nosso tempo: através dela se estabelece a separação entre o
mal e a sua consciência. Grande invenção, de que o poder político lançou
mão muito antes do poder médico: grande invenção, capaz de alienar o
sujeito de seu sofrer.
Segundo a expressão de Ivan Illich (1975: 150), "é extremamente difícil,
hoje, reconhecer que a capacidade de sofrer possa constituir um signo de boa
saúde". Em uma sociedade dominada pela analgesia, fugir à dor é o caminho
racional, preferível a todos os outros. A dor, como a morte, é o grande
inimigo e contra ele de nada valem consciência, liberdade, fantasia,
coragem... À medida que são absorvidas pelas instituições médicas, as
capacidades de enfrentar a dor, de inseri-la no ser e de vivê-la são retiradas
do indivíduo. Tratada por drogas, a dor entre nós é vista medicamente como
um ruído nos circuitos fisiológicos e é despojada de sua dimensão existencial.
Não possuímos mais os mitos de outrora, que atribuíam à dor um sentido e ao
sofrimento uma razão de ser (maturidade e força para muitas sociedades
tribais, sombra do prazer e da felicidade para os gregos, prenúncio da
salvação para os cristãos...). Estamos em uma sociedade em que sofrer não
tem sentido e por isso somos incapazes de perceber o sentido do sofrimento,
o sentido do nosso sofrer.
Ao lado do medo à dor, sentimento dos mais intensos do tempo em que
vivemos, uma constatação se impõe: as técnicas de analgesia estão nas mãos
do poder (como as técnicas de matar) e opor-se pode significar ser condenado
à dor. Uma técnica de tortura pela suspensão da dor nasce: somos todos
potencialmente torturados, estamos todos submetidos a uma tortura latente.
Vivendo em uma sociedade anestesiante, estamos todos anestesiados,
incapazes de sentir sobre nós a pressão do poder. Lobotomizados por todos os
meios, semiológicos, econômicos, políticos... estamos incapacitados de sentir
conscientemente a tortura silenciosa de que somos objeto cotidianamente.
Incapazes de sentir prazeres provocados por estímulos de baixa intensidade,
escravizamos nossos prazeres à necessidade de estímulos sempre mais fortes
******ebook converter DEMO Watermarks*******
e nos proibimos, como em muitos outros níveis de nossa existência, a
satisfação com pouco.
O banimento da dor ocorre paralelamente ao banimento da morte. O hospital
é o lugar onde se sofre e se elimina a dor, assim como é lugar onde se morre e
se elimina a morte. As instituições médicas são empresas de eliminação da
dor, de produção de conformidade orgânica e psicológica e de luta contra a
morte. Entretanto, de acordo com o padrão geral da sociedade em que
existem, nem mesmo nestas instituições a morte é encarada de frente. Dos
moribundos exige-se aí que fiquem calmos e em repouso; a eles aí se
administram calmantes que além da função de tratamento específico do
doente põem em evidência a impossibilidade dos outros de suportar a
"enunciação da angústia, do desespero ou da dor" (Certeau, 1979: 27).
Em torno do moribundo, observou ainda Michel de Certeau, o pessoal
médico se retira, foge. O moribundo é colocado à distância, posto na posição
de morto ('tem necessidade de repousar', 'é preciso deixá-lo dormir'). "Os
moribundos são proscritos, porque são os desviantes da instituição
organizada pela e para a conservação da vida" – um fenômeno que se pode
compreender pelo desejo de restabelecer a ordem normal das coisas, porque,
em uma sociedade em que se nega a realidade da morte, os mortos ameaçam
menos do que aqueles que estão morrendo.
Coerentemente com a estratégia de ocultação da morte, os pacientes devem
acreditar que nunca se morre nos hospitais em que se encontram. Com este
propósito são freqüentemente colocados em quartos privados ou
semiprivados. Por isso, a arquitetura do hospital e sua organização interna
tornam difícil a formação de comunidades de pacientes ou mesmo o simples
estabelecimento de interação entre eles. Tal determinação, além de ocultar a
morte, contém do ponto de vista do poder médico uma vantagem adicional:
impossibilitados de formar grupos com seus iguais, os doentes se vêem
enfraquecidos diante da instituição (Mauksch, 1977), já que, comunicando-
se, poderiam transmitir-se reciprocamente as regras e expectativas vigorantes
no hospital e desenvolver meios de as manipular. Pulverizados, desprovidos
de relação ente si, os doentes se transformam mais docilmente em 'pacientes'.
Contrariamente ao que se pensa de um modo geral, o não enfrentamento da
morte é parte da própria formação do pessoal hospitalar. O médico
atualmente é quem luta contra a morte – ainda mais que seu paciente – mas
sua formação e sua carreira são marcadas pelo afastamento dela. A morte não
faz parte do programa de estudos das faculdades de medicina, superada pelo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
estudo da doença, da patologia que causa a morte – salvo nos casos hoje
relativamente raros de estudos curriculares de medicina legal e nos casos
mais modernos em que a morte é profundamente estudada com objetivo de
ser compreendida, postergada e cancelada.
Elisabeth Kübler-Ross (1977: 14) refere-se ao depoimento de uma estudante
de medicina sobre como pôde passar seus anos de aprendizado sem contato
algum com a morte:
Eu vivi, como estudante de medicina, experiências dramáticas e
desesperadas de ressurreição, mas lembro-me com dificuldade de ter
percebido um morto. Isto se deve em parte a meu próprio desejo de
evitar todo contato com cadáveres, é claro. Mas depende também da
engenhosidade que se põe em prática para fazer desaparecer o corpo o
mais rapidamente possível, como por encantamento. Passei horas nesse
hospital, de dia e de noite, mas nunca percebi...
No mesmo sentido, em suas carreiras profissionais o pessoal hospitalar tem
tanto menos chance de presenciar a morte e de ter contato com cadáveres
quanto mais elevadas forem as suas posições na hierarquia funcional. Nos
hospitais existe uma verdadeira divisão de trabalho na maneira de se lidar
com cadáveres: os médicos somente tocam cadáveres quando diagnosticam a
morte ou realizam autópsia, considerando a manipulação de corpos mortos
um trabalho de menor dignidade, destinado a pessoas de status menos
elevado. Os médicos e enfermeiras de posições mais altas são normalmente
os que menos chances têm de presenciar falecimentos, de ver cadáveres e de
os manipular fisicamente, já que "o trabalho de locomoção e preparo dos
cadáveres é feito por pessoas de menos nível", conforme nos declarou certa
vez um médico entrevistado (Rodrigues 1979: 51). Em um dos hospitais
norte-americanos que Sudnow (1971) estudou, a tarefa de preparar cadáveres
estava a cargo de funcionários de baixa posição, 95% dos quais eram negros.
Tudo isso é bastante coerente com o fato de que – sendo o acontecimento da
morte uma experiência vivida como fracasso pelo profissional hospitalar –
sejam considerados 'bemsucedidos' exatamente aqueles profissionais que com
ele menos contato têm.
Face a este ritual obsessivo de negação da morte, o moribundo perde a
liberdade de renunciar à vida e o médico se apropria cada vez mais da vida e
da morte, admitindo sempre de má vontade os casos em que não pode mais
nada e deve capitular diante da insuficiência do seu saber, diante de sua
incapacidade de realizar milagres. Obrigado a curar, o médico tenderá a
******ebook converter DEMO Watermarks*******
entregar o moribundo a máquinas que conseguirão mantê-lo artificialmente
em vida, às vezes por tempo indeterminado.
Odette Thibaud (1975) cita o caso de um ancião de 85 anos, em coma
irreversível, quadriplégico, em hemodiálise por causa de danos graves dos
rins, munido de um estimulador cardíaco e mantido em respiração artificial.
Em semelhante contexto, tornando-se capazes de manter vidas não
autônomas, os médicos se transformam também em senhores da morte,
capazes de decretá-la ao determinar a colocação ou não dos aparelhos, a
manutenção ou a retirada deles. Mais do que nunca, a morte se transforma em
um gesto de quem detém o poder.
No plano técnico a tarefa médica de combater a morte realiza façanhas
extraordinárias: injeções de hormônios, reanimações depois do ingresso na
morte clínica, invenção de corações e pulmões artificiais, transplante de
órgãos sem substituição aos órgãos doentes... A partir da concepção do
organismo como uma espécie de mecânica funcional, considera-se que suas
peças podem ser substituídas. Levado às últimas conseqüências, tal
pensamento permite supor uma certa imortalidade teórica, do ponto de vista
funcional.
Mas, em contrapartida, esta concepção despreza todos os problemas de
identificação e de relação do indivíduo consigo mesmo e com a sociedade.
Em nome da recusa da morte (e vice-versa) o corpo é concebido e tratado
como uma máquina exterior e independente da pessoa. Raramente é
percebido em sua globalidade e em suas relações simbólicas: é integrado – ao
pé da letra – visceralmente à sociedade industrial. Pernas e braços artificiais,
intestinos de matéria plástica, corações controlados por baterias, olhos
transplantados, rins doados etc. etc. integram-se no sistema industrial e no
circuito das mercadorias ('bancos' de sangue e de olhos, 'catálogos' de
órgãos...) dentro em pouco produzidos em série, submetidos à lei da
obsolescência tecnológica e constituindo homens-robôs. Nas palavras de
Jacques Attali (1979: 283), "o hospital, teatro de cura onde a morte se
mascara, transforma-se em lugar de morte onde a vida é esquecida".
Todas essas inovações – deslocamento para a velhice, asilos, hospitais etc. –
tornam a morte um fenômeno menos cotidiano. Nos tempos anteriores, todos
estavam condenados a perder durante a vida, além dos pais e avós, irmãos,
irmãs, primos, tios, um ou vários filhos, inúmeros amigos, vizinhos e
conhecidos. Hoje, a experiência da morte nas sociedades industriais acontece
normalmente em idade relativamente elevada, atingindo um avô ou uma avó.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Sendo as famílias atuais reduzidas aos pais e filhos e muitas vezes residindo
longe do domicílio dos avós e de outros familiares, pode acontecer de uma
pessoa não vir a conhecer a experiência da morte antes de ser adulta.
Contudo, somente isso não poderia explicar o distanciamento da morte.
Esse distanciamento é algo explícito e ostensivamente querido. De fato,
contrariamente à rarefação da experiência da morte no domínio familiar, a
morte adquire hoje na vida coletiva uma presença estatística poucas vezes
atingida anteriormente. Os cemitérios urbanos estão saturados: na antiga
Berlim Ocidental, por exemplo, era necessário esperar seis semanas para
encontrar um lugar em algum dos seus cento e dezesseis cemitérios; no Japão
somente os membros da família real podem ser enterrados em Tóquio; em
algumas cidades começa-se a construir cemitérios verticais. A falta de espaço
para enterrar é um dos argumentos dos defensores da cremação e em muitos
países só é possível enterrar a cerca de duzentos quilômetros das grandes
cidades.
Em nossa sociedade a longevidade se transformou em riqueza, a vida em
capital e a morte naquilo que demonstra que nada disso tem sentido. Por isso
não se pode pensar nela, se a deve banir. Por isso se constrói a idéia de morte
natural, que acaba por se identificar com o limite a partir do qual o organismo
humano não resiste mais à aplicação de instrumentos, máquinas e drogas e
passa a recusar qualquer tratamento adicional. O instante da morte deixa de
ser marcado por uma ação corporal ('fechar os olhos', 'dar o último suspiro',
'parar de respirar ', 'silêncio das batidas do coração') e se transforma em
indicações fornecidas por ap arelhos (por exemp lo, quando o regist ro do
eletroencefalograma é constante, apontando para a inatividade absoluta das
células cerebrais). Além disso a noção de morte natural exclui a possibilidade
de que o homem porte a morte em si, de que ela seja parte integrante da vida,
reduzindo-a a um acidente – circulatório, cerebral etc. – que não ocorreria se
o paciente estivesse em um hospital, se o hospital tivesse mais recursos, se a
ciência estivesse mais adiantada e assim por diante.
Nessa idéia de acidente, como observou Jean Baudrillard (1976), citando
Octavio Paz (Conjonctions et Disjonctions), percebe-se uma armadilha: a
idéia de acidente coloca como exterior ao sistema a sua própria fraqueza. A
idéia de acidente reduz as mortes automobilísticas, por exemplo, a algo
casual, aleatório, subordinado à sorte e inteiramente exterior a um sistema
social que se apóia na locomoção mecanizada. A noção de acidente, ao invés
de mostrá-lo como algo interior, intrínseco, endógeno ao sistema, define-o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
como uma interferência exterior que mais sistema pode eliminar: por isso, ela
torna possível e até reclama que medidas repressivas, corretivas, preventivas,
disciplinadoras sejam tomadas para banir os acidentes e para punir aqueles
que, por negligência, permitiram que o acidente acontecesse. A teoria do
acidente é, pois, uma forma a mais de banimento da morte, de ocultação dela
e de postulação de imortalidade. Eugène Ionesco percebeu isso de maneira
sagaz, ao declarar mais ou menos o seguinte em uma entrevista: acabei
compreendendo que a gente morria porque teve um acidente, que de qualquer
modo a morte era acidental e que prestando a atenção em não ficar doente,
tendo juízo, usando cachecol, tomando remédios, tomando cuidado com os
veículos, a gente não morreria nunca.
Este pavor à morte, esta postulação e reafirmação insistentes de
'amortalidade' são o outro lado da criação da morte verdadeira, da morte
profunda, da Morte. Negando a morte, nossa cultura criou a Morte. A
negação da morte e a invenção da Morte são um fato específico da sociedade
industrial, fruto da oposição vida/morte que nossa cultura não sabe integrar.
Todas as culturas, como vimos na primeira parte deste livro, acreditam que a
morte comece antes da morte e que a vida dure depois da vida, de forma que
morte e vida não sejam termos inconciliáveis, que uma não seja o fim da
outra, que ambas se encontrem no mesmo plano e não sejam pensáveis
separadamente. Enquanto as outras culturas privilegiam a continuidade, a
nossa cultua a ruptura. E, com medo de suas divindades, é obrigada a abjurá-
las. Por isso silencia. Por isso tenta esquecê-las.
Não obstante nossa argumentação, tudo o que estamos dizendo poderia ser
aparentemente contestado se ligássemos um aparelho de televisão. Este
simples gesto poderia, à primeira vista, demolir todas as acusações de
ocultação e de negação da morte, dirigidas contra nossa cultura. Um gesto tão
simples, que talvez tenha esta função de demolição como um de seus deveres
ocultos. Afinal, como afirmar que a morte não pode ser objeto de conversa,
como afirmar que existe todo um esforço social para escondê-la, como
sustentar que só pode ser descrita com o uso de eufemismos, como declarar
que a educação das nossas crianças ignora a realidade da morte, como dizer
que nossa sociedade quer expulsá-la, se os nossos jornais relatam e dissecam
dezenas de mortes diariamente? Como afirmar o tabu da morte, se em nossa
cultura ela exerce fascínio, é ambicionada mercadoria jornalística e se o
destinatário dos meios de comunicação de massa, como diz Kientz (1973:
140), "é um espectador insaciável dos casos de morte"? Como afirmar o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
silêncio, se a morte participa ruidosamente da maior parte dos espetáculos e
formas de comunicação, como filmes, teatro, televisão e literatura? Sobre que
base dar crédito a este tabu, se a morte entra na arrecadação publicitária dos
jornais (anúncios de falecimentos, por exemplo), nos noticiários (catástrofes,
crimes, acidentes) e assim por diante?
Contra a idéia de silêncio, os meios de comunicação nos dão a impressão de
um imenso barulho, de um intenso falar sobre a morte. Mas que morte é essa,
que povoa os meios de comunicação? São mortes normais, do dia-a-dia, do
próximo, daquele com quem temos alguma coisa a ver? São mortes que
despertem pânico, que coloquem explicitamente uma fronteira entre o aqui e
o além, que evoquem o drama da finitude humana? São mortes que
impliquem um ritual, que questionem o homem no mais fundo de sua
existência? – Não! Simplesmente são mortes que ocorrem sobre a tela da
televisão, sobre o papel do jornal, incapazes de perturbar o ritmo de nosso
jantar ou o sabor de nosso café da manhã. São mortes que não evocam a
decomposição, que não nos colocam diante de um impasse escatológico, que
não transformam as relações sociais. São mortes excepcionais, pouco
prováveis, violentas, acidentais, catastróficas, criminosas ou que atingem
pessoas importantes e excepcionais. Em suma: não são mortes.
São mortes desprovidas de sentido. O morto dos meios de comunicação é um
desconhecido, um anônimo, um qualquer, um estranho, um 'ele'. O morto dos
meios de comunicação não nos concerne diretamente. É uma abstração
remota que não se concretiza jamais. É um acontecimento distante, que atinge
um 'outro' intangível. Por isso se disse que tais mortes são na "terceira
pessoa" (Jankélévitch, 1977), objetos sem nenhuma característica própria,
iguais a todos os outros, sem nenhuma dimensão trágica, sem nenhum poder,
desgastados pela redundância, esquecíveis com a mesma facilidade com que
se desliga o aparelho de televisão ou se viram as páginas de um jornal. Sobre
a morte, então, pode-se falar porque ela está transformada, desprovida de
conteúdo, negada. A verborragia que a cerca nos meios de comunicação de
massa é negação da morte, é ocultação dela do mesmo modo que o silêncio
imperante em outros domínios.
O que os meios de comunicação fazem é reverberar o tabu da morte,
vendendo para cada um de nós um sentimento reprimido no fundo de cada
alma, e por meio dessa falsa enunciação tornar a repressão ainda mais efetiva.
Dando a impressão de dizer o que não pode ser dito, os media dão a seus
espectadores a impressão de sentir o que não pode ser sentido e, em lugar das
******ebook converter DEMO Watermarks*******
perguntas sem respostas que toda morte comporta, oferecem respostas para as
quais não houve perguntas – respostas que se destinam a silenciar toda
indagação, a abolir antecipadamente toda reflexão sobre o evento terminal da
existência humana e sobre essa existência mesma. Por detrás desse rumor
silenciante mais uma porta se abre, pela qual a morte poderá ser integrada ao
circuito econômico do lucro, colocando-se em vitrines, transformando-se em
apelo para a venda das mercadorias da indústria cultural.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
15 Trabalho morto e consumo
Nossa civilização mede os progressos a partir de uma noção vaga de
acumulação de energia per capita. Para nós os progressos se avaliam
relativamente à capacidade de transformar e de dominar a natureza, isto é,
relativamente às nossas possibilidades de produzir. A valorização da vida
humana nesta sociedade é uma manifestação desse culto que prestamos à
acumulação de energia, culto que se revela, entretanto, de maneira estatística:
não se trata originalmente da valorização de cada vida, mas de uma política
de implementação de um sistema que se serve da vida como energia e que se
preocupa com sua distribuição estatística muito mais do que com sua
significação. Tanto isto é verdadeiro que, em nome da acumulação de
energia, nossa sociedade não se furta à destruição de vidas. Ela procura,
através de uma distribuição estratégica da duração e da valorização da vida,
implementar uma média abstrata coerente com os interesses que imperam em
um determinado momento de evolução do sistema.
Assim, nossa civilização obriga cada um de seus membros a vestir a pele do
Homo oeconomicus. Impõe-lhe a obrigação de encarar a vida como energia,
como valor, como mercadoria. Incutindo em seus membros a ideologia do
'progresso', ou seja, de domínio da natureza em função de uma produção
sempre maior, nossa cultura transforma cada um de seus homens em uma
espécie de empresário de si mesmo: constrange-o a ver a própria vida como
um empreendimento, força-o a inserir-se até o fundo nas malhas da
racionalidade do sistema, obriga-o a se conceber como algo a dominar e de
que se podem retirar resultados sempre maiores. Por esse caminho, a vida
humana se vê reduzida às dimensões de um sistema em que 'tudo tem preço'.
Ao mesmo tempo ela é ideologicamente erigida em beneficiário maior desse
sistema, beneficiário em proveito do qual tudo se justifica: em suma,
contraditoriamente a vida é erigida em algo que, como dizemos, 'não tem
preço'.
As sociedades industriais supõem acumulação (e consumo) de vida assim
como supõem acumulação de capital. Elas exigem que cada operário trabalhe
sobre um capital e que este capital se renove. 'Acumular, acumular' é a lei do
sistema – lei que não exclui a vida, mas a inclui como primeira condição,
como força produtiva elementar, como 'capital social básico' indispensável. É
com ela que o operário trabalha, mas é também sobre ela que deve trabalhar.
A vida humana é igualmente objeto de trabalho e o sistema postula-lhe um
conjunto de 'necessidades' que trabalhador e sistema devem satisfazer. Por
******ebook converter DEMO Watermarks*******
este caminho, insere-se a vida humana no circuito do consumo e se a erige
em ponto fundamental de articulação deste com a produção e em pedra
angular de legitimação de toda uma civilização. Ponto inicial, terminal e
nodal do sistema, não há como não compreender por que a vida seja
proclamada o seu valor mais alto.
Isso não nos dispensa, entretanto, de examinar a questão um pouco mais de
perto. O sistema industrial é muito mais transformação da vida em objeto de
trabalho, que algo dependente da vida como força produtiva. Ele se funda,
sobretudo, na substituição de trabalhadores por máquinas, de trabalho vivo
por trabalho morto, de homens por bens de capital. A máquina, decerto, é
trabalho. Mas é trabalho acumulado, congelado sob uma forma inerte,
desprovido das dimensões vivas do trabalho do operário. O progresso da
sociedade industrial comporta o desaparecimento dessa força produtiva
original e sua substituição por bens de capital, capazes de serem mais
adequadamente ajustados aos ideais de progresso do sistema – além, é claro,
de serem mais docilmente controláveis. Contudo, desinteressando-se da vida
como fonte de trabalho, o sistema industrial tende a valorizá-la como objeto
de trabalho, como algo que pode ser moldado à maneira do sistema, como
ponto de convergência e escoamento da produção. As questões relativas à
formação do consumidor passam a ser mais atuais que as concernentes à
mera reprodução da força de trabalho.
A simples existência da máquina contém em si um elemento de exclusão do
trabalho e do trabalhador – exclusão que é tanto maior quanto mais eficiente
for o engenho. Além disso, a organização industrial da produção, com o que
exige de especialização e de fragmentação do trabalho, significa a exclusão
do trabalhador ao mesmo tempo do processo de produção e do resultado do
trabalho: o labor é cada vez mais pulverizado, até que seja impossível para o
trabalhador ter uma visão de conjunto de sua atividade produtiva, até que o
seu trabalho perca toda significação.
Nesse sentido, é uma ingenuidade acreditar que a alienação do trabalhador na
sociedade industrial se reduza a uma simples questão de relações de produção
e que deva desaparecer espontaneamente com a abolição das relações de
classe e da exploração do homem pelo homem. Infelizmente as coisas não
são tão simples: é verdade que em um sistema capitalista as relações de
produção fazem com que o fruto do trabalho do homem se torne um objeto
exterior a ele e estranho ao homem; é verdade que o operário não tem direito
algum sobre o produto de seu trabalho; é verdade que o artefato que fabrica
******ebook converter DEMO Watermarks*******
não tem nenhuma referência a ele, constitui um mundo estranho ao
trabalhador e mesmo hostil, agredindo-o como um inimigo; é verdade que o
homem que trabalha, sendo explorado, se aliena 'em' e 'por' seu trabalho e que
o resultado de sua labuta lhe seja mostrado não como resultante de um
esforço de produção histórico e social, mas como fruto de um milagre, como
decorrência mítica da Técnica e do Progresso.
Tudo isso é verdade. Não obstante, não podemos esquecer que as usinas
modernas são tecnicamente projetadas e organizadas para que em seu espaço
qualquer invenção criativa, qualquer manifestação espontânea de vida não
programada seja impossível; que o programa de uma linha de montagem
fornece ao operário toda informação de que este necessita para o seu trabalho,
recusandolhe qualquer escolha, qualquer decisão, qualquer participação; que
o trabalhador nelas inserido é devorado por encadeamentos medidos segundo
o ritmo das máquinas, determinando a priori e exteriormente todos os gestos
do trabalhador e que o transformam progressivamente em complemento da
máquina, em trabalho morto como esta...
À medida que progride, a sociedade industrial abre mão do produtor. Bane o
homem da cena como responsável por esse papel e o substitui por trabalho
morto (que nesse sentido é uma metáfora da máquina), põe no lugar dos
produtores trabalhadores imigrantes (que são 'máquinas' mais baratas,
trabalho morto também), ou ainda robôs, artefatos programados e até mesmo
inventos genéticos adaptáveis a determinadas tarefas específicas, produzidos
como se produzem máquinas. Assim, o Kennedy Institute da Georgetwn's
University declara em um relatório sobre engenharia genética: "seres
quiméricos e parahumanos poderiam legitimamente ser fabricados para fazer
trabalhos difíceis e desvalorizantes". Ou ainda: "a sociedade poderia ter
necessidade de produzir pessoas que tivessem uma resistência excepcional
para desempenhar papéis particulares, por exemplo, pessoas de pequeno
tamanho para os vôos no espaço" (Fletcher, 1974: 17).
Desse modo, o homem morre para e pela produção, é sacrificado no altar do
crescimento e da produtividade e termina transferido para o território do
consumo. Segundo as leis do sistema, é necessário eliminar as atividades não
rentáveis, para produzir valor e capital, para acumular energia; é necessário
substituir os elementos obsoletos por elementos novos, capazes de criar
novos valores com menor dispêndio. Segundo essas mesmas leis, a partir de
determinado ponto de desenvolvimento é necessário substituir o homem
como trabalhador produtivo e valorizá-lo especialmente como consumidor.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Aí está, evidentemente – na substituição do trabalho humano pelo trabalho da
máquina – uma das contradições de um sistema que necessita pagar salários a
seus trabalhadores. Os salários destinam-se não somente a preservar a vida e
a força produtiva daqueles, mas também a fazer com que gastem, com que
consumam, com que escoem a produção. Assim fazendo, o consumo dos
trabalhadores determina que os salários retornem às fontes que os versaram.
No âmbito do sistema capitalista, por conseguinte, e ao contrário do que
muitos pensam, entre reivindicações operárias de salários mais altos e classes
dominantes não há antagonismo senão a curto prazo e conjunturalmente:
maiores ou menores, os salários são peças do funcionamento do sistema.
Portanto, o salário não é mais necessariamente algo que alguém recebe como
contrapartida do trabalho, mas algo que introduz um indivíduo em um
sistema de consumo. O trabalhador não pode mais ser considerado apenas
como produtor de mercadorias – coisa que vai deixando progressivamente de
ser, substituído por máquinas, por robôs e por imigrantes (esses operários de
segunda categoria, condenados a realizar as tarefas que os ex-operários
nativos não quiseram mais realizar e destinados a consumir o que estes não
quiseram mais consumir – o velho apartamento, por exemplo). Em uma
sociedade que produz em série, estandardizadamente e em escala industrial, o
trabalhador se transforma em cliente do sistema, em consumidor por
excelência. Seu trabalho deixa progressivamente de ser produtivo; passa a ser
trabalho consumidor – o que é uma outra espécie de trabalho.
Esta outra forma de trabalho é menos espontânea do que comumente se
supõe. Ao ser inserido no consumo o indivíduo recebe toda uma pauta de
deveres a realizar. Sob a capa da liberdade e do prazer o sistema de consumo
impõe a cada um que seja o que é, quer dizer, que concretize o ideal de ser
que a sociedade forja para seus membros: o consumo é obrigatório, a
ninguém é lícito viver aquém de suas possibilidades. Contudo, não é como
ética e como obrigação que o consumo procura se legitimar: mais insidioso, é
como 'necessidade' que se apresenta. Segundo este argumento, os homens
consomem porque possuem 'necessidades' internas, genuínas, inatas... que o
sistema de consumo graças aos milagres da sociedade industrial vem
satisfazer. Não porque uma coerção externa a isto os constranja.
Fazendo abstração de todos os seus determinantes culturais, o conceito de
'necessidade' legítima como natural a pauta de consumo que a cada indivíduo
é proposta e até imposta. Sob o manto da 'necessidade', o consumo é
mostrado não como fenômeno específico da sociedade industrial, mas como
******ebook converter DEMO Watermarks*******
algo que sempre existiu, como uma espécie de satisfação de uma demanda
genuína da natureza humana, como o preenchimento de uma lacuna que as
outras formas de organização da vida social foram incapazes de completar.
Para contestar essa argumentação, nem precisamos fazer recurso a outras
culturas e verificar se tais 'necessidades' são mesmo universais. Basta
olharmos para nossa própria sociedade e constatar que com o
desenvolvimento do aparelho produtivo estas necessidades se tornam mais e
mais imprecisas, mais e mais indeterminadas e complexas. Basta olhar para
nossa própria sociedade e verificar que, quando o sistema penetra na 'era da
abundância', tais necessidades se tornam cada vez mais arbitrárias,
evidenciando que não existem limites para o consumo. Se tais necessidades
fossem reais, era de se esperar que fossem satisfeitas a partir de um certo
nível de consumo: mas elas são impossíveis de se serem satisfeitas, porque
são peças essenciais de um sistema que se funda na carência constante e que
impele os indivíduos a consumir sempre mais e mais.
Se essas necessidades não são naturais, mas produzidas sistematicamente,
seria um erro acreditar que o território do consumo seja uma parte passiva do
sistema social, inteiramente submetida aos estímulos do setor produtivo,
considerado como único elemento dinâmico. Na verdade, ele tem dinâmica e
peso próprios, que se tornam mais e mais importantes, ao menos no que diz
respeito à manipulação da vida humana, à medida que o trabalho produtivo
humano é substituído por trabalho morto. É claro que historicamente o
sistema vive primeiro da exploração da força de trabalho; mas vai
progressivamente substituindo essa força de trabalho, transferindo a
exploração para outros níveis, realizando a dominação por outra estratégia:
deslocando tudo isso para o consumo, provocando uma legitimação circular
da exploração, estabelecendo o reino do ilusório, fazendo com que a sujeição
seja vivida como liberação, transformando o obrigatório em agradável e
desejável.
É por esse caminho que se pode entender a publicidade, por exemplo, que,
originalmente um instrumento econômico, transforma-se em verdadeira
escola social de consumo, indispensável ao equilíbrio do sistema, através da
regulação psíquica dos indivíduos – prevendo, reduzindo, estimulando,
vigiando as motivações humanas profundas. A publicidade é como um leque
de possibilidades oferecido a cada indivíduo e um estímulo a que opte. Não é
possível não optar. Uma nova ditadura está instaurada, usando uma estratégia
oposta à que consiste em não permitir opções. A estandardização dos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
produtos deixa o consumidor em presença de um mundo de bens
equivalentes, cuja diferenciação somente pode ser estabelecida a partir de
fatores psicológicos, sobre os quais atuam as técnicas de persuasão: qualquer
opção é a mesma coisa, qualquer escolha é eleger o sistema. Não optar é a
única forma de libertar-se dele.
Este raciocínio ajuda-nos igualmente a entender a moda, outro mecanismo
dos mais importantes na dinâmica do sistema de consumo. A moda é um
conjunto de mudanças que expressa a ação impositiva do sistema cultural,
muito longe de responder a alguma necessidade natural: mudar de sapatos, de
móveis, de roupas, de veículos etc. responde às determinações de uma
sociedade competitiva, que utiliza a competição como meio de alimentação
do consumo e da produção. A moda é manifestação de uma sociedade
marcada pela obsolescência necessária dos objetos, ou seja, pela morte
obrigatória deles, contrapartida lógica de sua substituição por outros novos,
sob o estímulo do discurso publicitário. A moda é manifestação de uma
sociedade marcada pela perempção programada de pessoas, que são
obrigadas a se renovar e a se reciclar sob pena de desaparecerem digeridas
pela competição, que são obrigadas a se transformar continuamente para
sobreviver: aquele que de modo radical não acompanhar a moda passa a ser
out e morre socialmente. Compreende-se então que a instituição da moda só
apareça em uma sociedade em que se lute por mobilidade social. Em
sociedades desse tipo, pelo recurso ao 'estar na moda', os indivíduos fogem à
possibilidade de se sentirem rebaixados, ao mesmo tempo em que criam para
si a ilusão de uma mobilidade ascendente que não existe na realidade: se
estou na moda, estou in; se estou in não decaí socialmente, se acompanho a
moda, superei o estágio anterior.
Assim, através da moda e da publicidade, entre outras táticas, o consumo
reduz o homem a um ser passivo, manipulado por necessidades artificiais,
absolutamente sem vida própria, obrigado a estar de acordo mesmo quando
pensa discordar. Por intermédio do consumo o sistema encontra o melhor
caminho para reproduzir-se, para conservar sua vida contra todas as outras.
Decretando a morte dos produtos existentes, o consumidor abre as portas para
novas emissões produtivas e isto permite ao sistema renascer continuamente.
Como Baudrillard observou (1976: 49), "não há mais consumo produtivo,
nem consumo improdutivo, só há consumo reprodutivo". O tempo livre,
tempo de consumo, é tão produtivo como o trabalho: "Ninguém produz mais.
A produção morreu. Viva a reprodução!" (grifo do autor).
******ebook converter DEMO Watermarks*******
É preciso que tudo seja levado à morte para poder ser reproduzido. Os
objetos são produzidos de forma a incluir em sua estrutura o germe de sua
decadência. Nesse sentido, nossa cultura, ao construir destrói. Inclui
voluntariamente uma dimensão de morte mesmo nos gestos seus que
aparentemente são gestos de vida. Em virtude da necessidade de optar, de
fazer distinções psicológicas entre produtos iguais, o acessório passa a
imperar sobre o essencial, com tudo o que isso implica de saqueamento de
produtos primários e de desperdício de energia humana. Não se trata somente
de um problema de produção: mesmo que os objetos tivessem vida longa e se
limitassem a suas qualida des essenciais , eles s eriam ps icologicamente cons
iderados velhos, imprestáveis e inúteis, porque, em uma sociedade marcada
pelo consumo e pela reprodução, os objetos não valem pelos valores de uso
nem pelas necessidades reais ou fictícias a que devam atender – mas por suas
simples presenças, presenças condenadas à ausência e à substituição por
outras presenças fadadas ao mesmo destino.
À primeira vista, a mudança está inscrita no coração do sistema. Velhos
produtos são substituídos por novos, por novos aparentemente diferentes,
diferentes principalmente porque são novos (qualidade importantíssima em
uma sociedade de consumo); antigas técnicas são substituídas por novas,
reputadas como mais aptas a aumentar a produtividade, a substituir trabalho
humano por trabalho artificial. Consumo e produtividade determinam um
mundo característico: durante séculos foram as gerações de homens que se
sucediam em um cenário estável de objetos; hoje as gerações de objetos se
sucedem em ritmo acelerado durante a mesma existência individual. Se antes
o homem impunha seu ritmo aos objetos, hoje são os objetos que impõem os
seus aos homens (Baudrillard, 1973). Diante dessa nova cadência é preciso
que os homens se reciclem continuamente se não quiserem ser devorados
pelos objetos.
Fala-se até em 'educação permanente', considerada uma coisa necessária.
Sabemos que a educação existe sobretudo porque as antigas gerações morrem
e porque é necessário transmitir a cultura às novas gerações. Se a educação se
transforma em algo 'permanente' é porque a morte é permanente; é porque a
sociedade mata, morre e se suicida cotidianamente: matar, morrer e se
suicidar continuamente são próprios de uma sociedade que muda
constantemente, que permanece mudando, cuja permanência é a mudança. Ao
mesmo tempo, em uma sociedade com tais características é compreensível
que tudo o que diga respeito à morte adquira uma coloração especial: pálida,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
provavelmente.
Por toda parte a morte ocorrida no plano ontogenético é condição da
reprodução no plano filogenético. E a morte dos indivíduos, condição da
reprodução da sociedade. Um sistema fortemente marcado pela reprodução é
necessariamente um sistema fortemente marcado pela morte. Justificando a
reprodutividade pela satisfação das 'necessidades' humanas, o sistema
transforma progressivamente a produtividade em fim em si mesmo e despoja
o homem das características de vivo. Transforma-o em matéria a ser
trabalhada, educada para o consumo, impossibilitada de ser livre, escrava das
'necessidades' através das quais o sistema quer se erigir em algo natural e
universal e se impor por uma lógica incontestável – pois fundada no 'ser das
coisas'. Tal ideologia contém um objetivo preciso, que é oferecer uma base
irrefutável à dominação política em uma sociedade que se transformou no
principal consumidor de vidas, sob todas as formas: pela violência, pelo
trabalho, pelo consumo...
******ebook converter DEMO Watermarks*******
16 Natureza morta
A lei do lucro máximo e do máximo consumo nunca levou a sério a
preservação do planeta. Partindo do princípio de que os recursos são
inesgotáveis (uma condição essencial para um sistema que quer produzir e
consumir sempre mais e que pretende ser eterno), nossa sociedade impôs um
sistema de relações entre a produção, o consumo e a natureza que a
impulsiona sempre na direção do esgotamento desta última. Por este
caminho, ela terminará por arrasar irremediavelmente sua própria substância,
aquilo que lhe vem do meio natural: extraordinariamente predatória, nossa
sociedade tende a manter a própria vida através da destruição dos recursos da
natureza. Entretanto, uma contradição: como para todos os predadores a
sobrevivência depende estritamente da vida das presas, à medida que a
predação aumenta as possibilidades de sobrevivência do predador diminuem.
Levando à morte as outras formas de vida, nossa civilização atrai a morte
para si, transforma-se em Morte e se envenena de morte: condena-se à
extinção, levando consigo as demais formas de vida.
Todo um aparato persuasivo é necessário para nos fazer esquecer que a
fruição consumística não tem sentido quando se liga aos aspectos predadores
da sociedade industrial; que não tem sentido fruir certos bens da vida quando
a fruição destes bens contém a promessa de destruição da vida. Crescimento
demográfico, poluição, esgotamento dos recursos naturais, empobrecimento
das terras cultiváveis... desenham no horizonte o fantasma da morte coletiva,
do desaparecimento total da humanidade: fantasmas que começam a
despertar angústias ainda mais fortes que as da morte individual porque
retiram da vida toda significação, porque fazem dela um instrumento de
aceleração da morte total, da morte verdadeira, da Morte.
Para produzir o seu primeiro milhão de habitantes o planeta precisou de cerca
de dois milhões de anos. A partir do aparecimento do homem moderno, do
Homo sapiens, seiscentos mil anos foram necessários para que o efetivo da
humanidade atingisse os quatro bilhões. A agricultura e a sedentarização
desenvolveram prodigiosamente os recursos alimentares, permitindo às
populações crescer: seis mil anos de agricultura permitiram atingir 250
milhões, que foram dobrados em mil e quinhentos anos. Desde as primeiras
eras da humanidade os rendimentos agrícolas têm crescido
consideravelmente, e este crescimento foi em parte responsável pela
multiplicação populacional: se ao caçador paleolítico eram necessários dez
quilômetros quadrados para se alimentar, o pastor neolítico precisou de dez
******ebook converter DEMO Watermarks*******
hectares, o camponês medieval de dois terços de hectare e o cultivador
japonês do final do século XX de um sexto de hectare (Dorst, 1970).
Depois da industrialização o ritmo populacional se acelerou
vertiginosamente: o primeiro bilhão foi atingido em 1830; o segundo, em
1930; o terceiro, em 1960; o quarto, em 1978 e o sexto na virada do segundo
milênio. Em decorrência desse ritmo a densidade de população atinge
números dificilmente poderiam ser imaginados há algumas dezenas de anos:
alguns bairros contam 38.600 habitantes por quilômetro quadrado em
Chicago, 69.500 em Londres, 92.700 em Tóquio e 302.600 em Hong Kong
(Dorst 1970). Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU, 1958:
22) observa que se o ritmo atual de crescimento continuar ainda por
seiscentos anos "o número dos seres humanos sobre a Terra seria tal que cada
um não teria mais que um metro quadro de superfície à sua disposição".
Enquanto isso, há os que imaginam o dia em que o volume dos humanos será
igual ao volume do planeta. É claro que esses dias não chegarão – o que é
uma gritante evocação de Morte qualquer que seja o caminho tomado.
Os países subdesenvolvidos, muito mais numerosos, são responsáveis em
termos absolutos pela maior parte desse crescimento demográfico, seguindo o
caminho já percorrido pelas nações industrializadas. Tais países começaram
mais tarde nesse caminho, conhecendo tardiamente a queda da mortalidade
(quando a conheceram) e aplicando com menor assiduidade as técnicas de
controle de nascimento. Na China, por exemplo, a população triplicou entre
1650 e 1850, passando de 113 a 350 milhões; em 1933 a população era de
450 milhões, que se reduziram em razão de fome e guerras a 400 milhões por
volta de 1946, antes de passar aos 583 milhões de 1953, a um bilhão ou mais
no último quartel do século XX.
A existência nesses países de uma população majoritariamente jovem
mantém as taxas de fecundidade sempre elevadas – o que encontra terreno
livre para se desenvolver em sociedades nas quais a vida humana ainda não é
colocada em balança, avaliada e programada de acordo com as diferentes
conjunturas econômicas. Assim, em um mundo em que os poucos ricos
poluem e destroem mais do que os muitíssimos pobres, descobrimos um
paradoxo: esses países ricos estão muito mais densamente povoados que os
países pobres; mas, enquanto estes últimos se decidem cada vez mais a
limitar o crescimento de suas populações, nos países ricos se estabelecem
incentivos tributários para fomentar a existência de famílias numerosas.
Cada vez maiores quantidades de pessoas se concentram nos centros urbanos.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
O desenvolvimento incontrolável das cidades acarreta a perda de suas almas:
nenhuma das nossas poderá jamais ser uma comunidade humana, nem
mesmo um aglomerado de comunidades. Coerentes com a lógica do sistema
social de que fazem parte, as cidades impedem a seus habitantes que tenham
uma vida comunitária (o que elas comportaram durante muitos séculos),
impondo-lhes vidas justapostas, submetidas cada vez mais à ação coercitiva
das estruturas urbanas. A cidade moderna é uma verdadeira catástrofe:
aspirando as populações rurais para uma vida miserável, devorando tudo o
que é produzido pelo ambiente que a envolve (terra, água, ar), acumulando
dejetos dos quais não sabe o que fazer, poluindo pulmões, olhos e ouvidos,
prendendo, escravizando... Não é por acaso que nelas possamos encontrar
alguma semelhança com nossos cemitérios, como Louis-Vincent Thomas
(1976: 191) observou:
Não é singular que a configuração das cidades se pareça tanto com a dos
cemitérios? A or den ação de uma e de outra obedece ao mesmo
enquadramento geométrico e a repartição dos elementos responde a
questões similares. Habitat individual e coletivo, ruas, avenidas, praças
onde a circulação é regulamentada, bairros aristocráticos ou populares,
lugares de descarga, cartazes e tabuletas, tudo isso se encontra nas
aglomerações dos vivos e dos mortos, em escalas variáveis segundo suas
populações. Mesmo os grandes cemitérios, como as grandes metrópoles
têm seus arranha-céus, suas torres de silêncio, ou as terão, para conciliar
o crescimento do número e a penúria do espaço; e têm freqüentemente
seus fornos crematórios, equipados como as usinas modernas...
Para sustentar essa imensa massa de homens que vivem nas cidades sem
produzir diretamente os bens que os mantêm em vida é preciso exigir muito
da terra e dos homens que nela trabalham, é preciso fazê-los produzir
intensivamente. Substâncias diversas foram criadas, capazes de aumentar a
produtividade da terra. O emprego de pesticidas, no sentido restrito, é um
progresso evidente. Todavia, o uso dessas substâncias acarreta problemas,
pois, disseminados em escala industrial sobre a natureza, tais produtos fazem
muito mais que eliminar de modo definitivo o perigo dos predadores das
plantações: produzem rupturas gravíssimas do equilíbrio natural, matando de
maneira indiscriminada, destruindo a fauna, todos os insetos, 'úteis' ou
'nocivos', e por essa via permitindo a ruptura das cadeias naturais de
relacionamento entre as espécies, inclusive as que religam o homem e o
mundo.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Partes do mesmo sistema de assalto à natureza, cidade e campo se aliam na
difusão de poluição pelo planeta – poluição atmosférica, poluição alimentar,
poluição das terras e das águas – e impõem um estilo de vida novo, vida
pálida, quase morte: quando a poluição ultrapassa certo nível perigoso,
aconselha-se aos habitantes de Los Angeles não fazerem muito esforço, para
não respirar muito; em Tóquio muitas vezes se utilizam máscaras de gás. Não
é inimaginável o dia em que se atingirá este ponto para o conjunto do planeta,
quando se poderá verificar que as medidas isoladas de controle – aqui as
chaminés das usinas, ali os motores dos automóveis, aqui a poluição dos rios,
ali os pesticidas e conservantes alimentares – de nada adiantam, a não ser no
sentido de mascarar o problema geral de estruturação da sociedade e de
relação do homem com a natureza.
Produtora e consumidora insaciável de objetos, a sociedade industrial é
também produtora de restos que não pode consumir e que é obrigada a
rejeitar em favor de novas levas produtivas. O lixo se tornou um verdadeiro
problema civilizacional: uma tonelada de lixo por habitante anualmente em
Nova Iorque; um milhão de toneladas na cidade de Paris em 1972; centenas
de quilos de embalagens em qualquer cidade industrial por habitante e por
ano; dezenas de milhões de dejetos industriais, centenas de milhares de
toneladas de pneumáticos, centenas de milhares de veículos abandonados e
assim por diante.
Essas montanhas de objetos imprestáveis são testemunhas de uma mutação
significativa na história humana: até tempos relativamente recentes, até pelo
menos a Revolução Industrial, os dejetos eram fundamentalmente de natureza
orgânica, passíveis de serem absorvidos pelos processos de corrosão natural,
não constituindo, portanto, uma agressão, muito menos uma agressão
violenta, ao ambiente. Agora objetos de curta duração na escala humana são
dotados paradoxalmente de extraordinária longevidade diante dos processos
naturais, o que os institui automaticamente em desafios que estes processos
naturais devem enfrentar.
Extremamente destrutiva de objetos, a cultura aprsenta constantemente à
natureza um problema que esta não sabe mais resolver: destruir objetos. Os
cemitérios de automóveis, que fazem parte hoje da decoração de todas as
periferias urbanas, são ilustrações gritantes desse desafio. A propósito, no
mesmo trabalho, Louis-Vincent Thomas (1979) observou os paralelismos
entre os dejetos e a morte: o que se joga fora perdeu suas funções vitais ou
teve a morte socialmente decretada. Em uma sociedade governada pelo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
princípio de rentabilidade, cadáver e dejeto são iguais, definidos pela
incapacidade de rentabilizar, ambos essencialmente inúteis. Em ambos os
casos, a mesma pergunta se coloca continuamente: como se livrar disso? –
pergunta que recebe respostas análogas, pois os dois são jogados em um
buraco para que todos se esqueçam o mais rapidamente possível do futuro
que nos está reservado, para que não se fale mais sobre isto. "De uma parte e
de outra, é a mesma intenção de supressão material, de isolamento e de
colocação distância".
Tais questões são particularmente importantes no que diz respeito aos dejetos
atômicos, capazes de prolongar seus efeitos no tempo e no espaço,
ameaçando com terríveis conseqüências. A possibilidade de um acidente em
uma central atômica (a ruptura de uma canalização, por exemplo) comporta
uma catástrofe de extensões imprevisíveis – possibilidade que, naturalmente,
transforma essas centrais em privilegiados objetivos militares na
eventualidade de uma guerra. No entanto, os interessados nessa nova fonte de
energia se esforçam em nos convencer de que os riscos são remotos, de que
as instalações são seguras, de que os ganhos compensarão os riscos... Aliás,
segundo os defensores desse moderno eldorado, os riscos são pequenos:
afirmam que são da ordem de um acidente em vinte mil anos por reator. Tudo
muito seguro: mas esquecem de dizer que se tudo der 'certo' dentro de
algumas décadas existirão no mundo cinco mil reatores, o que significa uma
probabilidade de um acidente nuclear a cada quatro anos. É interessante
observar ainda que os que afirmam a segurança das centrais estão ao mesmo
tempo inseguros dela: para que esta segurança seja efetiva é preciso proteger
as usinas contra inimigos, acidentes naturais, acidentes técnicos, terroristas
etc.; é preciso cercá-las de todo um aparato de disciplina, vigilância, pressão,
triagem, espionagem, manipulação, terror...
Aí está: a partir de nossa tecnologia, da exploração demográfica e de nossos
próprios atos, plasmados pela cultura, podemos destruir o equilíbrio de uma
natureza da qual nossa própria vida depende. Para evocar a presença dessa
catástrofe, não é necessário pensar em bomba nuclear: nossa própria vida
tornou-se agente de destruição da biosfera. Cada um de nós pode sentir hoje,
concretamente, em suas vidas, a decadência das condições naturais de vida. E
diante dessa consciência inevitável do ataque irreversível que fazemos à
natureza, os meios de comunicação apressam-se em nos falar das riquezas
inesgotáveis dos mares (até que os próprios gestos de nossa economia contra
os oceanos se incumbissem de desmoralizar essa mentira), e a difundir em
******ebook converter DEMO Watermarks*******
escala industrial uma falsa consciência ecológica.
Esta falsa consciência ecológica quer nos ensinar a evitar fontes particulares
de poluição, a crer que o problema pode se reduzir ao simples controle das
descargas dos automóveis e das fábricas, à redução das taxas de colorantes e
conservantes de nossos alimentos ou a passeios freqüentes por paisagens
rurais. Mas não é só o meio urbano que está sendo atingido. É o conjunto do
meio natural, é todo o ecossistema planetário que está ameaçado pelos dejetos
industriais, pelo escapamento dos motores, pela agricultura química. Não se
trata somente de uma hecatombe animal, que promete transformar a Terra em
um deserto. Não se trata somente da destruição da cobertura vegetal da terra e
do desaparecimento em cadeia das espécies animais e vegetais. Também não
se trata de medidas de preservação que se possam tomar aqui e ali. Tratase de
muito mais do que isso: da colocação em questão de toda uma civilização, do
reexame radical de todos os nossos valores. A isto esta falsa consciência
ecológica se recusa.
Esta falsa consciência ecológica, preocupada com replantios de árvores e
filtros nas chaminés, esquece e faz esquecer que vivemos em uma sociedade
na qual a natureza foi transformada em escrava e reduzida à condição de
matéria a ser desfrutada em nome de um consumo opulento que assegura o
crescimento industrial. Cúmplice do sistema de consumo, esta consciência
ecológica deixa de mostrar que o crescimento do sistema não se faz através
da proliferação de coisas realmente necessárias, que a maior parte dos
produtos não se destina a satisfazer necessidade alguma que não tenha sido
criada pelo próprio sistema e que é necessário uma quantidade maior de
produtos para garantir o mesmo grau de 'in-satisfação' de 'necessidades'.
Para garantir maior consumo, substituímos os transportes em escala orgânica
por transportes em escala mecânica e mais tarde os transportes ferroviários
por transportes rodoviários (consomem sete a oito vezes mais energia e se
desgastam muito mais depressa); substituímos os objetos aparafusados, que
podem ser facilmente reparados, por objetos soldados, que devem ser jogados
fora porque impossíveis de recuperar; substituímos embalagens degradáveis
por outras não degradáveis e mesmo assim devem ser jogadas fora;
introduzimos o hábito de consumir coisas imediatamente descartáveis –
enfim, organizamos um sistema de vida que é uma punção constante da
natureza. Este sistema de vida, nossa falsa consciência ecológica não
denuncia. E não denuncia porque é parte do próprio sistema. Assim, os
jornais de domingo em Nova Iorque e em outras cidades industriais são cada
******ebook converter DEMO Watermarks*******
vez mais volumosos: cada número dominical do New York Times custa 77
hectares de florestas canadenses (15 hectares para o número ordinário) e é em
grande parte ocupado por publicidade que incita a consumir outros objetos.
Na maior parte das vezes estes objetos são inteiramente dispensáveis e aí está
uma das razões pelas quais este consumo deve ser estimulado
publicitariamente.
Cora Dubois (1976: 77) dá a palavra a uma anciã wintu, falando com pesar da
relação dos homens brancos com a natureza:
A gente branca nunca quis saber da terra, dos gamos ou dos ursos.
Quando os índios matam carne, comem-na toda. Quando desenterramos
raízes, fazemos buracos pequenos... Não derrubamos as árvores. Só
usamos madeira morta. Mas a gente branca revolve a terra, abate as
árvores, mata tudo... O espírito da terra odeia-a. Os brancos arrancam as
árvores e tumultuam as entranhas da terra. Serram as árvores. Isso faz-
lhes mal, causa-lhes dores. Os índios jamais magoam seja o que for...
O mesmo contraste podemos sentir nas relações que os mbuti têm com a
floresta. Segundo a expressão de Maurice Godelier (1974) a floresta para os
mbuti é "tudo". Ela é o conjunto de todos os seres animados e inanimados;
constitui uma realidade superior aos diferentes bandos locais e aos
indivíduos: existe como uma Pessoa, uma divindade à qual os mbuti se
dirigem utilizando termos que designam ao mesmo tempo o pai e a mãe, o
amigo e o amante. A Floresta isola e protege, oferece caça e mel, bane as
doenças e pune os culpados. A Floresta é a Vida. A morte acontece porque a
Floresta adormeceu e por isso é necessário despertá-la a fim de que continue
sendo pródiga em alimentos, saúde, felicidade, compreensão e harmonia
social para todos os mbuti, qualquer que seja o bando a que pertençam.
Quando alguém morre, durante um mês e quase todos os dias o bando caça
com mais intensidade que de hábito, capturando uma quantidade maior de
animais que são divididos e consumidos em um festim seguido de danças e
cantos que duram até quase a aurora. De manhã a voz da Floresta chama de
novo os mbuti para novas caças e novas danças...
Estes sistemas de ritos e crenças podem nos parecer superstições ridículas,
mas têm por efeito conservar o grupo humano em equilíbrio com o meio
natural. Pode ser inconcebível para nós que uma planta seja considerada um
ser respeitável e que ninguém a colha sem um motivo muito importante, sem
observar prescrições rituais que objetivem apaziguar os espíritos da natureza.
Pode parecer incompreensível que animais de caça sejam protegidos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
magicamente contra os abusos dos caçadores que não poupem as fêmeas e os
filhotes. Pode parecer puro idealismo romântico acreditar que os homens, os
animais e as plantas constituem uma única relação recíproca de vida e que
todos os excessos contra um sejam um ataque contra os outros... Mas foi sob
essa filosofia que a humanidade conseguiu viver os muitos milênios de sua
existência na Terra – sem jamais colocar-se, sem jamais colocá-la, em perigo
de extinção.
Nossas filosofias ocidentais acentuam, quase todas, a supremacia do homem
sobre o resto da natureza. Fazem desta apenas um cenário destinado a
enquadrar a existência temporária dos homens sobre a Terra.
Deus os abençoou [o homem e a mulher] e lhes disse: "crescei e
multiplicaivos, e enchei a Terra, e tende-a sujeita a vós, e dominai sobre
os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se
movem sobre a terra. Disse-lhes também Deus: Eis, aí vos dei eu todas
as ervas, que dão as suas sementes sobre a terra; e todas as árvores, que
têm suas sementes em si mesmas (...) para vos servirem de sustento a
vós (...)". (Gênesis 1, 28-29)
Assim, encontra o homem ocidental uma justificativa moral para se
transformar em agente geológico capaz de decretar o esgotamento de todas as
fontes de energia e a paralisação de um planeta tornado inabitável. Em uma
só geração, sem enfrentar nenhum obstáculo de ordem ética ou mítica, nós
aniquilamos recursos e energias que desde milhões de anos jaziam nas
entranhas do planeta: o carvão é explorado há oitocentos anos, mas quase a
metade já tinha sido extraída antes dos meados do século XX; a metade do
petróleo bruto conhecido até por volta de 1975, gerado desde as origens da
humanidade, foi consumida nos dez anos anteriores; o urânio deverá
desaparecer se forem construídas todas as centrais nucleares previstas. Ao
contrário de objeções éticas ou míticas, até poucos anos economistas e
políticos de todas as colorações teóricas e ideológicas consideravam
retrógradas e reacionárias todas as posições ligadas às transformações das
relações do homem com a natureza e à moderação do ritmo da sociedade
industrial.
Esta questão põe igualmente em evidência o mito do desenvolvimento
econômico para as nações pobres. Esta máquina de destruição da natureza é
também de destruição do homem – e os pobres dela são as primeiras vítimas.
Até as últimas décadas do século XX o mundo rico, com 29% da população
do planeta, utilizava e esbanjava mais de 80% dos recursos mundiais e não
******ebook converter DEMO Watermarks*******
aceitava em nenhuma hipótese uma redução do que se chama 'nível de vida'.
Ora, não havendo redistribuição da riqueza existente não há redução possível
da pobreza.
Os projetos de enriquecimento de todos devem ser imediatamente excluídos
como impossíveis, pois planeta algum pode resistir a um ritmo de produção e
consumo comparável ao do americano médio. Por exemplo, se todos os
humanos consumissem tanto petróleo quanto o cidadão americano as reservas
conhecidas deste líquido durariam apenas sete anos. Conseqüentemente, a
continuar imperando um sistema de vida em que duzentos milhões de
americanos consomem e poluem mais do que o fariam cinco bilhões de
índios, a defasagem entre as zonas desenvolvidas e os países dominados não
desaparecerá jamais e o nível de vida dos países pobres não se aproximará
nunca do 'nível de vida' dos países industrializados. Portanto, para estes
países é outra a direção a ser buscada, diferente da opção industrial (que deve
ser eliminada de seus horizontes e de todos os outros).
Este impasse do desenvolvimento a falsa consciência ecológica não denuncia.
Limita-se a discutir as datas prováveis de esgotamento deste ou daquele
mineral e a procurar desacelerar o ritmo de sua exploração enquanto um
substituto não seja encontrado. Contenta-se com pregar a utilização do
mineral substituto, quando este seja conhecido. Limita-se a propor que as
raridades produzidas pelo sistema de produção sejam superadas por uma
produção aumentada, agravando, assim, necessariamente, as raridades: o
aumento da produção de energia aumenta a poluição, que será combatida
com construções, usinas de beneficiamento e de purificação, que aumentarão
o consumo de energia, que aumentará a poluição, e assim por diante –
fazendo com que se gaste mais e mais energia e recursos para se proteger
contra suas próprias atividades, para se proteger de si mesmo.
Presa neste círculo vicioso, essa consciência ecológica cria os clubes de férias
nos quais os ricos vão mergulhar em elementos naturais, vão se evadir das
dificuldades urbanas, descobrir os modernos paraísos, esses ecossistemas
artificiais que escondem e ao mesmo tempo revelam a morte da natureza.
Uma verdadeira consciência ecológica não é nada disso: é uma maneira de
olhar as contradições da sociedade industrial, uma crítica radical de seu
relacionamento com a natureza, questionando a própria organização da
sociedade e suas razões de ser. Para esta verdadeira consciência ecológica, as
depredações impostas à natureza, a poluição e tudo mais não são meros
subprodutos do desenvolvimento e da sociedade industrial, mas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
conseqüências tão lógicas quanto fatais. Comportam o espectro da Morte,
concretizam o que Morin (1975: 250) chamou de "ideologia de Cortez e de
Pizarro".
******ebook converter DEMO Watermarks*******
17 Sobre a guerra
Existem sociedades inteiramente avessas à guerra e que jamais a praticam.
Nada há que nos obrigue a supor que este gênero de violência seja
indispensável ao funcionamento das sociedades. Entre tribos que nunca
guerreiam e que parecem não encontrar prazer algum na violência podemos
lembrar, entre muitas outras, os lepcha do Himalaia, os pigmeus que vivem
na floresta Ituri do Congo e os arapesh da Nova Guiné. Estas sociedades, que
vivem em montanhas, desertos e florestas distantes, têm como principal
característica comum o fato de não procurarem exercer dominação sobre seus
vizinhos, capturá-los ou matálos, embora possuam armas suficientes para
fazê-lo. Não obstante a existência de sociedades como essas, do ponto de
vista antropológico a guerra não é uma exceção: indivíduos e grupos podem
se associar de diferentes maneiras, combatendo-se inclusive.
À primeira vista a luta pode parecer o oposto da sociabilidade e da
cooperação, por ser essencialmente um antagonismo. No entanto, pode
desempenhar uma função social importante. Não somente grande parte das
hierarquias sociais foram historicamente estabelecidas a partir de guerras,
como também, e de uma maneira muito mais ponderável, as guerras
funcionam como mecanismos de identificação grupal, a partir da oposição
que estabelecem entre o 'nós' tribal e o 'ele' inimigo. Exercem uma função
lógica e sociológica, na qual a alteridade é muito mais resultado do
enfrentamento que propriamente a sua causa – coisa difícil de compreender
para os membros de uma sociedade que, incapaz de tolerar o 'outro', aniquila-
o constantemente.
Entre os tupinambás e os uroni, povos que se preparavam seriamente para
serem brutais e implacáveis em relação aos inimigos em campo de batalha, a
guerra era vista como uma espécie de homicídio ritual. Antes de se lançar à
luta os guerreiros se pintavam e se decoravam, invocavam os antepassados,
drogavam-se com substâncias alucinógenas para entrar em contato com os
entes protetores e reforçavam suas armas com fórmulas mágicas. Os inimigos
mortos em campo de batalha representavam na verdade 'sacrifícios', no
sentido de que suas mortes satisfaziam os ancestrais e eram meios pelos quais
os guerreiros comungavam com o passado e solidificavam o presente.
Da mesma maneira, os dani da Nova Guiné (Gardner & Heider, 1969), que
vivem em clãs potencialmente inimigos entre si, crêem ser necessário fazer a
guerra para a prosperidade da ordem social e para obter saúde e felicidade
através da expressão de agressividade contra os inimigos tradicionais. Suas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
batalhas, combinadas previamente, duram um dia inteiro, desde que não
chova ou que não faça muito calor, casos em que os combates deverão ser
adiados. A decisão de organizar uma batalha é tomada pelos chefes de guerra,
que se interpelam aos gritos. Passam toda a manhã preparando a batalha, até
que por volta do meio-dia os exércitos se alinhem um diante do outro, a uma
distância de cerca de quinhentos metros. Assinalando o início do combate,
um pequeno grupo avança até cerca de cinqüenta metros da linha inimiga e
lança flechas. Bate em retirada em seguida e repete várias vezes este ataque
ritual. Depois destes preliminares passa-se à segunda fase da 'guerra', que
consiste principalmente em uma série de escaramuças nas quais grupos de
cerca de duzentos guerreiros lançam suas flechas durante dez ou quinze
minutos. Quase toda a energia é gasta em se esquivar das flechas do inimigo
e em tentar armar-lhe uma cilada. Coisa complicada, porque o combate é
feito em terreno aberto. Após algum tempo os guerreiros que moram mais
longe começam a se retirar de modo a estarem em casa antes que a noite caia.
Então, as flechas dão lugar às injúrias de parte a parte. No final das contas, a
batalha custou algumas feridas superficiais, provocadas por flecha ou lança.
Às vezes, mas raramente, pode acontecer de alguém morrer, o que será
sempre um acidente deplorável: em todo um ano, os mortos são em número
de dez a vinte, menos do que se morre de gripe entre os dani, embora a
guerra seja uma instituição envolvendo todos os homens.
Essa ritualidade predominante nas guerras da maior parte das sociedades está
muito distante do que se imagina ser guerra em nossa sociedade. Aqui,
procura-se evitar que as crianças tenham contato com os mortos e com a
morte, mas se lhes permite divertir-se com filmes sobre guerras e destruições
e se lhes dão armas em miniatura como presentes. Aqui se aumentam
incessantemente as despesas militares, ao mesmo tempo em que se engajam
cada vez menos os militares nos combates e no planejamento das guerras. O
lado ritual da guerra praticamente desaparece, aqui, sob a hipervalorização de
sua função destrutiva. Em oposição a enfrentamentos em que muitas vezes os
adversários se conhecem pessoalmente, nossas guerras são cada vez mais
tentativas de aniquilamento em massa de objetivos civis. A indústria e a
tecnologia modernas, colocadas a serviço da guerra, exigem destruição em
escala industrial.
Podemos lembrar, a propósito, um acontecimento ocorrido no início da
Primeira Guerra. Quando os zepelins alemães começaram a fazer incursões
noturnas sobre Londres, Bernard Shaw escreveu uma carta ao Times
******ebook converter DEMO Watermarks*******
sugerindo que o Conselho do condado de Londres tomasse providências no
sentido de construir abrigos para as crianças das escolas, temendo que a
Alemanha adotasse sistematicamente este método de ataque. Os redatores do
Times ficaram tão indignados com a sugestão de Shaw, que quase não
permitiram a publicação da carta. Em editorial, acusaram-no de
irresponsabilidade, porque havia ousado acenar, ainda que por brincadeira,
com a possibilidade de que um governo civil, como era o alemão, pudesse
aviltar-se tanto a ponto de pretender fazer incursões aéreas contra cidadãos
pacíficos. Como a história largamente demonstrou, Bernard Shaw não teve
necessidade de defender-se, já que a resposta acabou vindo dos próprios
alemães.
Desde então os objetivos civis têm sido privilegiados pelos militares: destruir
as cidades é levar ao fim a resistência do adversário e desmoralizá-lo. Em
Hiroxima o bombardeiro provocou um furacão de fogo que durou seis horas e
devastou inteiramente uma extensão de mais de 10 km2, destruindo
literalmente toda a cidade. A operação foi repetida três dias mais tarde, desta
vez sobre Nagasáqui, levando o Japão a render-se. Esses dois bombardeios
fizeram mais de 100 mil mortos e de 200 mil feridos. Cada uma dessas
bombas possuía uma potência de cerca de 20.000 toneladas de TNT
(trinitrotolueno), ou seja, duas mil vezes mais que as maiores bombas de
TNT usadas durante a guerra (Clarke, 1971). Desse modo penetramos na
época da guerra-extermínio, fazendo nossas a teoria e a prática de nossos
inimigos fascistas. Instituímos o genocídio como técnica bélica, isto é,
eliminamos da guerra o que ela tem – por mais paradoxal que isto possa nos
parecer – de respeito humano e de atribuição de uma certa dignidade ao
'outro'. Dignidade que faz dele um ente à altura de ser considerado
adversário.
O genocídio é o mais antigo e brutal substituto da guerra. Mas apresentou-se
em nosso tempo sob o nome de 'guerra total', que consiste não mais em
enfrentar os exércitos inimigos sobre os campos de batalha, obtendo sucessos
militares, mas em disseminar pânico e morte entre as populações civis, com o
mínimo risco possível para o agressor. Madri, Varsóvia, Londres e Roterdam
foram os primeiros objetivos dessa guerra total, inaugurada pelos fascistas.
Mas não se limitou a eles o número de adeptos, pois antes do fim da Segunda
Guerra, os americanos já se haviam convertido, aperfeiçoando os métodos de
matar em massa. Um bombardeio aéreo sobre Tóquio, por exemplo, causou
180.000 vítimas em uma só noite.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Uma das conseqüências dessa moderna forma de guerra é que a relação
mortos militares/mortos civis se inverteu: na guerra de 1914-18, cerca de
13% dos mortos eram civis; na guerra de 1939-45, a porcentagem foi de
70%; na Guerra da Coréia, de 84% e na Guerra do Vietnã, para 900.000
soldados vietnamitas mortos, 4.300.000 civis perderam a vida. "Na batalha do
Globo, se ela tiver lugar, a humanidade chegará ao cúmulo do absurdo:
porcentagem dos civis entre os mortos = 100%, porcentagem de militares =
0%" (Clarke, 1971: 279).
Segundo Getting (1963), de 1820 a 1999 o número de mortes causadas por
guerras tem evoluído, prospectivamente, da seguinte maneira: de 1820 a
1859, 800.000 mortos em 92 guerras, isto é, 0,1% da população mundial;
entre 1860 e 1899, 4,6 milhões de vítimas fatais em 106 guerras, quer dizer,
0,4%; de 1900 a 1949, 42 milhões em 117 guerras, o que significava 2,1% da
população; entre 1950 e 1999, se continuar o mesmo ritmo, deverá haver 406
milhões de mortos e 120 guerras, o que representará 10,1% da população
mundial. Enfim, na faixa entre os anos 2000 e 2050, 4.050 milhões de
vítimas, equivalentes a 40,5% dos homens.
Estes números não levam em consideração o emprego das modernas armas
atômicas, hipótese em que todos esses cálculos não farão o menor sentido.
Não obstante, as armas nucleares estão aí e as armas convencionais são cada
vez mais terríveis pelos efeitos diretos e indiretos: três quintos do Vietnã
estão por longo tempo impossibilitados de serem cultivados por causa da
destruição dos diques que protegiam os arrozais: por causa do lançamento de
pesticidas e herbicidas que comprometeram gravemente o equilíbrio natural,
produzindo altos riscos de câncer; por causa da craterização do solo, com o
conseqüente enterramento da camada de húmus e a multiplicação dos riscos
de malária; por causa da carbonização da superfície, produzida pelas bombas
de napalm e assim por diante. A exportação de armas cresceu 700 vezes entre
1950 e 1970, o que representou uma taxa de progressão anual de 9%, ou seja,
quase duas vezes o crescimento anual médio do Produto Nacional Bruto
(PNB) dos países subdesenvolvidos (Getting, 1963). Desse comércio
participaram todos: ricos e pobres, comunistas e capitalistas. Na maior parte
dos países os orçamentos militares são superiores aos de saúde. Tais gastos
têm estado acima de qualquer suspeita e acima de todo debate. Qualquer
pensamento de redução dos mesmos com freqüência tem ressoado como
medida antipatriótica, como alta traição.
Resultado dessa corrida armamentista: a bomba atômica que destruiu
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Hiroxima é hoje uma arma insignificante diante dos explosivos modernos.
Somando apenas os 'recursos' dos Estados Unidos e os legados pela antiga
União Soviética, a moderna tecnologia bélica é capaz de destruir algumas
dezenas de vezes todos os traços de vida sobre a Terra. Por que dezenas de
vezes se uma vez só seria muito mais que suficiente? – eis uma pergunta
impossível de ser respondida em termos militares. A resposta exigiria o
exame das relações que nossa cultura mantém com a natureza:
obsessivamente voltado para a conquista da natureza, o homem hoje é capaz
de destruir a espécie humana e passou a ter direito de veto sobre a evolução
de sua própria espécie. Nada pode nos assegurar que não o faça, sobretudo se
levarmos em consideração que o custo de fabricação de bombas nucleares
baixa rapidamente e as põe ao alcance também dos países subdesenvolvidos,
democratizando ironicamente o 'direito' de destruir o planeta. Além disso, não
está excluída a possibilidade de que em futuro mais ou menos próximo
técnicos de média qualificação venham a ser capazes de improvisar uma
bomba rústica, ampliando o problema de sua proliferação, colocando-a ao
alcance de um maior número de megalomaníacos.
Não é indispensável que estes armamentos sejam acionados para que o poder
destrutivo deles opere. As riquezas extraordinárias empregadas em
armamentos provocam desperdício de minerais, de espaço, de energia e de
cérebros. Assim, em quase todos os países industrializados ou fortemente
militarizados, a maior parte dos orçamentos de pesquisas é encampada pelos
militares – pesquisas essas que muitas vezes não são publicadas, por serem
consideradas 'segredos estratégicos'. Ainda mais: os armamentos poluem
perigosamente as águas e o ar, provocam leucemias (radiatividade produzida
pelas experiências nucleares), alterações genéticas que até o momento não se
soube explicar muito bem... A eventualidade de uma guerra nuclear é causa
de uma das maiores crises que afetam nossas sociedades contemporâneas,
pelo simples fato de ser uma possibilidade apropriada e manipulada por quase
todos os poderes nacionais e internacionais – inclusive através do sofisma de
que as armas são meios dissuasórios de impedir a guerra.
A ciência é um grande aliado do moderno militarismo. Não é por pura
consciência que a teoria atômica está na raiz da bomba atômica do ponto de
vista dos termos e da prática. A ciência é também Nagasáqui e Hiroxima, é
Vietnã e Coréia, é os campos de concentração alemães e suas experiências
sobre seres humanos, é as projeções sobre os mortos prováveis de uma guerra
nuclear, é os resultados colaterais de pesquisas militares. O poder do homem
******ebook converter DEMO Watermarks*******
sobre a morte é também poder de morte sobre os semelhantes: estão aí as
armas bacteriológicas, as técnicas de tortura 'cientificamente' estudadas para
obter melhores resultados sem deixar que a vítima morra, a bomba de
nêutrons que é capaz de destruir todas as vidas e preservar as riquezas,
bombardeando uma região com raios gama e de nêutrons. Tudo isso dá
sentido pleno à constatação de que o melhoramento e o aparente maior teor
de segurança de nossas condições atuais de vida configuram-se como
produtos secundários de uma pesquisa científica posta ao serviço do
aniquilamento. Tudo isso impõe o mais radical reexame da ciência e sua
desmistificação.
Os poderosos se transformaram em árbitros da vida e da morte de toda a
humanidade. Ingenuamente acreditamos (por falta de crença melhor) que,
afinal de contas, seria necessário um louco para acionar estes armamentos e
que Hitler está definitivamente morto. Esquecemos que muitos estiveram
perto de Hitler depois de sua morte. Esquecemos, sobretudo, que a loucura
que esperávamos de Hitler foi Truman quem a cometeu. Estamos
inteiramente enganados em nossa crença de que seria necessário que um
louco chegasse ao poder para que esses armamentos deixassem de ter efeito
apenas dissuasório. Isto porque não é a bomba atômica em si mesma que
comporta real perigo, mas a nossa vontade de usar qualquer meio de
extermínio, ou seja, o ethos da bomba atômica. Nos tempos antigos os
exércitos invasores querendo exterminar o inimigo poderiam envenenar as
reservas de água das populações civis. Mas o envenenamento da água é um
tabu de guerra que raríssimas vezes foi violado: porque a destruição nunca
valeu por si, porque guerra não era sinônimo de extermínio e de genocídio.
Estamos enganados quando cremos que seja necessário que um louco ocupe o
poder para que estes perigos sejam efetivos, simplesmente porque os loucos
já estão no poder. Como disse Michel Serres (1972: 200), "os loucos
perigosos já estão no poder, pois eles é que construíram esta possibilidade,
organizaram os estoques, prepararam finamente a extinção total da vida. A
psicose deles não é um acesso momentâneo, mas uma arquitetura racional,
uma lógica sem rasuras, uma dialética rigorosa".
******ebook converter DEMO Watermarks*******
18 O outro morto
Nossa civilização não se limita a desenhar o fantasma da morte coletiva em
seus horizontes próprios. Ela leva a realidade dessa morte às outras
sociedades. África, América, Ásia foram ou estão em vias de ser devorados
por este espectro.
O caso da América é exemplar e permite compreender o funcionamento dessa
máquina de destruição. Na ocasião da chegada dos espanhóis havia de tudo
entre os indígenas americanos: astrônomos, canibais, engenheiros,
matemáticos, guerreiros, nobres, plebeus, ouro, prata... Mas nenhuma das
culturas americanas conhecia o ferro, nem a pólvora e o emprego da roda era
praticamente inexistente. A civilização que aqui aportou veio contaminada de
idéias conquistadoras e subjugadoras, próprias do Renascimento, das
cruzadas, dos romanos, dos faraós... A real conquista não se verificou jamais,
mas a destruição foi fácil: as civilizações nativas não adotaram os padrões
que lhes traziam os europeus, mas sucumbiram rapidamente. Fernão Cortez
desembarcou em Vera Cruz acompanhado de cerca de 100 marinheiros e 500
soldados, trazendo uns dez canhões, mosquetões, pistolas e alguns arcabuzes.
E isto foi suficiente, embora a capital dos Astecas, Tenochtitlan, fosse cinco
vezes maior que Madri e tivesse o dobro da população das maiores cidades
espanholas. Pizarro entrou em Cajamarca com 180 soldados e 37 cavalos,
encontrando um exército de 100 mil índios para defender um império que se
estendia sobre todos os Andes Centrais. Além disso, as bactérias e os vírus
foram aliados importantes: os europeus traziam consigo a varíola e o tétano,
várias doenças intestinais, pulmonares e venéreas, o tifo, o tracoma, a febre
amarela e a lepra, as cáries... Os índios morriam em quantidade, porque seus
organismos não opunham resistência às doenças novas, fator responsável
pelo desaparecimento de quase metade da população indígena logo ao
primeiro contato.
Entre 1492 e 1551 toda uma civilização foi destruída pelos espanhóis, após a
queda dos impérios inca e asteca. Os índios morreram ou foram condenados
ao trabalho forçado em terras que lhes foram arrancadas e que viraram
propriedade dos invasores. Todas as estruturas políticas foram arrasadas,
como o tinham sido a economia, os sistemas de irrigação, o urbanismo, a rede
de estradas... Entre 40 e 100 milhões de pessoas viviam na América em 1500,
segundo as diferentes estimativas. A catástrofe foi muito maior do que
comumente se supõe (Ribeiro, 1973), pois um quarto da humanidade foi
exterminado pelos micróbios e pela sede de ouro dos europeus. Entre os incas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
os 10 milhões de indivíduos de 1530 foram reduzidos a um milhão em 1600,
enquanto no México a destruição atingiu 96 em cada 100 indígenas. Os que
sobreviveram foram condenados ao trabalho nas minas até a morte, obrigados
a colaborar com o imenso saque destinado a financiar o capitalismo europeu.
Essa destruição se baseou nas próprias características das sociedades
destruídas, vítimas de sua sociabilidade. Os invasores não foram recebidos
como invasores, mas como estrangeiros aos quais se deve hospitalidade.
Ainda assim, mesmo quando transformados em inimigos, a inimizade não
chegou a lhes negar uma certa dignidade. Do ponto de vista europeu, ao
contrário, o índio era mero objeto, um instrumento para ou contra a obtenção
das riquezas, destituído de qualquer atributo humano respeitável.
Para manipular essas características o invasor usou duas táticas fundamentais:
o saque e a invasão. A invasão e a rapina, conforme Robert Jaulin (1979a)
observou, caminham juntas: sobrecarregar uma comunidade de objetos
estranhos é um dos muitos modos de saquear esta comunidade. Estes objetos,
recebidos com boa acolhida e curiosidade exatamente porque são
estrangeiros, são dotados de imenso poder destrutivo pela corrosão que
produzem no cotidiano tribal, na medida em que são elementos exteriores,
não pertencentes ao sistema de relações humanas que definem a comunidade.
Não é por coincidência simples que ao menos nos primeiros contatos tais
objetos são dados aos indígenas e não vendidos ou trocados. Estes elementos
penetram no cotidiano da comunidade e efetuam o saque 'por dentro' ou 'de
dentro'. Por isso, o saque econômico e político é freqüentemente associado à
difusão de tais produtos que efetuam um trabalho de conversão ao
estrangeiro, de sedução e de criação de 'necessidades'. Por isso, aos povos
colonizados os conquistadores querem sempre socorrer, vestir, alimentar,
instruir, cuidar, alojar, civilizar, sanear...
Não é só pela eliminação física que levamos a morte coletiva às outras
civilizações. Pelo contrário, uma sociedade poderosa e agressiva como a
nossa otimiza a vida e a valoriza como energia e consumo. Ela só mata em
determinadas condições, ditadas por sua racionalidade particular. Ela tem
necessidade de vidas para poder se estender, para encontrar força de trabalho
e mercado consumidor. Ela é essencialmente conquistadora, precisa que
homens vivos existam para serem conquistados. Por isso está mais
interessada em destruir as relações humanas que prevalecem entre os
indivíduos do que em destruir em si mesmos estes indivíduos. Seu objetivo
sendo a introdução de bens industriais produzidos em escala maciça,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
homogênea e estandardizada, seu inimigo só pode ser a diferença, não
necessariamente os indivíduos portadores de diferença. Seus inimigos são
indivíduos sociais, não indivíduos biológicos.
O problema real não é o genocídio, mas o etnocídio, a liquidação do
diferente. Massacrar ou assimilar, reprimir ou depositar em reservas, utilizar,
suprimir, esterilizar, comprar, vender, investir... são meios de realizar o
etnocídio, implicando ou não genocídio. A negação do outro é uma postura
civilizacional que pode se operar do modo mais cordial. Desse fato inúmeros
missionários, indigenistas e antropólogos nos deram a prova, no momento
mesmo em que pensavam estar a ajudar os indígenas e a lhes oferecer o 'bom'
caminho. Essencialmente, quer pela destruição pacífica quer pela destruição
material do outro, o etnocídio é o crime que nossa civilização comete contra
povos que nos apresentam uma diferença que não conseguimos aceitar. Esta
diferença não consideramos que o outro tenha direito de possuir.
A coexistência com o outro é inteiramente contraditória com a estrutura de
nossa sociedade, mesmo que ela o ignore, mesmo que o extermine. Por esta
razão, o primeiro movimento dela será na direção de liquidar o outro
enquanto outro e de transformá-lo em 'mesmo'. Esta urgência de liquidação
do outro, este movimento de expulsão das pessoas e comunidades delas
mesmas, é um ponto crucial na caracterização da dimensão de Morte da
sociedade ocidental: do banimento dos mortos (que são 'outros' em relação
aos vivos), do banimento da morte (que é 'outra' em relação à vida), da
expulsão dos indivíduos de si mesmos (na medida em que, privados da morte,
perdem a noção de seus limites).
Tocamos aqui em mais um ponto contraditório e paradoxal de nossa
sociedade em sua relação com a morte: detestando a morte e os mortos como
outros, esta sociedade bane os mortos e mata a morte. Contudo, no momento
em que os bane, no momento em que estabelece ruptura e oposição entre
vivos e mortos e entre a vida e a morte, ela os transforma em outros que ela
detesta. Ao destruir o outro pelo genocídio, pelo etnocídio, pelo consumo,
guerra ou trabalho, ela os transforma em mortos – ainda 'outros', destinados a
serem destruídos. Desse modo, a dinâmica de destruição não tem fim. E na
impossibilidade de transformar o outro em mesmo, ou seja, os mortos em
vivos, terminará fatalmente por transformar os vivos em mortos: movimento
que contém o apocalipse total como possibilidade perfeitamente lógica.
Este apocalipse já o viram muitas civilizações. No final do século XVI os
indígenas sobreviventes do Peru eram levados ao suicídio para se livrar do
******ebook converter DEMO Watermarks*******
desespero e dos maus tratos que lhes impingiam os espanhóis: alguns se
enforcavam, outros se deixavam morrer de fome, outros ingeriam ervas
venenosas; mulheres matavam seus filhos no momento do nascimento para
livrá-los dos tormentos que os aguardavam. Os índios da América do Norte
que vivem hoje nas reservas apresentam uma taxa de suicídio maior que a
taxa geral americana. Entre esses índios o suicídio atinge sobretudo os jovens
de menos de trinta e cinco anos e é, segundo as diversas tribos, tanto mais
atuante quanto mais destruídas se encontrem as estruturas tradicionais.
Segundo Galeano (1978), em Cuba, durante o século XIX, muitos escravos se
suicidaram em grupo, tentando por esse caminho enganar o amo: acreditavam
que desse modo ressuscitariam com carne e espírito na África. Mas os
senhores respondiam a esta indisciplina mutilando os cadáveres, para que os
escravos ressuscitassem castrados, manetas ou decapitados: desse modo,
conseguiam com que muitos desistissem da idéia de se matar. O mesmo autor
ilustra os efeitos da 'conquista' sobre os indígenas da Guatemala:
Os efeitos da conquista e todo o longo tempo de humilhação posterior
despedaçaram a identidade cultural e social que os indígenas tinham
alcançado. Todavia, essa identidade fragmentada é a única que persiste
na Guatemala. Persiste na tragédia. Na Semana Santa, as procissões dos
herdeiros dos maias dão lugar a terríveis exibições de masoquismo
coletivo. Arrastam pesadas cruzes, participam da flagelação de Jesus
passo a passo, durante a interminável ascensão do Gólgota; com
gemidos de dor, convertem Sua morte e Seu enterro no culto da própria
morte e do próprio enterro, a aniquilação da formosa vida remota. A
Semana Santa dos índios guatemaltecos termina sem Ressurreição.
(Galeano, 1978: 61-2)
Diante de uma sociedade incapaz de compreender a diferença de outra
maneira que em termos de desigualdade, diante de uma cultura que não vê
como alternativa para o outro senão a assimilação ou a destruição, as demais
civilizações morrem. Morrem pela destruição física de seus membros ou pela
necrose dos tecidos do grupo social que constituem. Assimilação e destruição
são, do ponto de vista do 'outro', a mesma coisa: privadas de seus próprios
pontos de referência, essas sociedades se vêem impedidas de entrar em
relação consigo mesmas, de inventar por si mesmas as suas próprias
existências.
Na medida em que nossas relações com estas culturas são essencialmente
uma extensão de nossa civilização sobre elas e uma negação delas (Jaulin,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
1977), na medida em que tais culturas não são mais elas mesmas, pois
desprovidas de seus próprios pontos de referência, de suas relações consigo
mesmas, revela-se diante de nossos olhos uma verdade palmar: nossas
relações com elas são radicalmente relações conosco mesmos, e a negação e
destruição que lhes portamos são negação e destruição de nós próprios. Tudo
o que queremos das outras civilizações é incluí-las como objetos de
manipulação em nosso mundo: vítima dessa máquina infernal, o 'outro'
conquistado se transforma em 'mesmo' conquistador – para a mais completa e
eficiente extensão do sistema.
Esta ação destrutiva do Ocidente não é recente, ainda que agora nós a
percebamos em escala industrial. Responde a alguns milênios de tradição
faraônica, romana, judaico-cristã etc., e desembocou nos 'conquistadores', nos
pioneiros, nos bandeirantes, nos colonos, nos missionários, nos
imperialistas... Este ethos conquistador e destrutivo é certamente uma das
mais assentadas premissas da sociedade ocidental: Espanha, Portugal,
Inglaterra, Holanda, França, América do Norte, Rússia... não apenas foram
herdeiros legítimos dessa tradição, como também asseguraram a sua
preservação e a sua transmissão, destruindo sempre e cada vez mais os seus
'selvagens' do interior e do exterior.
Esta eficácia crescente adquire força total a partir do momento em que o
Ocidente consegue instalar dentro dos povos poderes estranhos aos povos.
Isto é, a partir do momento em que em nome da independência e da
descolonização o Ocidente ocidentaliza definitivamente estes povos,
incutindo-lhes o ideal de estatização e de submissão a governos e burocracias
inteiramente artificiais e a partir do momento em que os conduz às ideologias
da modernização, do crescimento econômico, da competência profissional…
Em outras palavras, a partir do momento em que os converte à religião do
'progresso' e ao culto da substituição da colonização política pela suposta
independência industrial.
Por esse caminho a sociedade ocidental reproduz em relação às outras
culturas a mesma ação predatória que marca seu comportamento em relação à
natureza. Fascinada por si mesma, nossa cultura fere a natureza e agride as
outras civilizações, tentando sobre ambas imprimir o seu ser: reduzimos a
natureza ao 'nós', reduzimos os 'outros' ao 'nós'. Não nos imaginamos fazer
parte integrante da natureza, do mesmo modo que não reconhecemos que
somos essencialmente essas relações com o outro e com a natureza. Não
costumamos perceber que negar tais relações corresponde a negar a nós
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mesmos: a ruptura que nossa sociedade impõe entre o homem e o mundo é
manifestação extrema da contradição do nós com o outro e da identificação
da natureza com o outro a negar e a destruir, seja pela violência, seja pela
assimilação.
Alargando sem cessar seu campo de influência – pela mundialização de sua
cultura, pela extensão material do seu território, pela penetração insidiosa no
'outro' – nossa civilização põe fim à existência do outro, mas também à
existência de si. Compreende-se: na medida em que preciso do outro para me
ver, por contraste, como 'mesmo', o outro e eu estamos solidariamente
unidos. Cada um de nós é para o outro a um tempo o 'outro' e o 'mesmo'.
Destruindo o outro, estou automaticamente arruinando esta parte essencial de
mim que o outro é. Conseqüentemente, negar o outro é negar-se a si mesmo.
O preço da negação do outro é necessariamente a solidão. Mais grave ainda,
esta destruição engendra as conseqüências sociológicas da solidão: se a
relação de uma sociedade consigo mesma é função de sua relação com o
outro, na ausência do outro ela não terá mais relação consigo mesma, isto é,
será desprovida de identidade, cessará de existir como grupo social. A
sociedade explodirá ou desaparecerá em decorrência da pulverização de suas
partes.
"O desaparecimento do outro é a asfixia que nos forjamos", observou Robert
Jaulin (1974b: 20). A morte da natureza e das civilizações é ao mesmo tempo
nossa Morte, "a ruptura dos laços de viver". E mais: se o olhar lançado sobre
outra sociedade é o único meio pelo qual os indivíduos podem conhecer sua
própria sociedade, privar-se do outro é condenar-se à submissão definitiva.
Portanto, aceitar que uma sociedade seja aniquilada é provocar a própria
morte de si, é compactuar com a supressão da própria liberdade ou, como
disse LouisVincent Thomas (1976: 113), "é morrer da morte do outro". Não é
por coincidência que nossos poderes pretendem à humanidade única e à
implantação da civilização universal: nesse projeto somos os senhores, mas
também somos os escravos; somos tão vítimas como as culturas que
desaparecem – igualmente fadados ao desaparecimento.
Podemos compreender isto facilmente se considerarmos a sociedade como
um sistema de comunicação. A comunicação exige a presença do outro,
porque a alteridade é sua razão de ser: supõe a existência de uma diferença a
ser trocada, porque o 'mesmo' não se comunica com o 'mesmo'. Se a
sociedade ocidental for uma civilização de 'mesmos', a comunicação em seu
seio será impossível e ela não poderá se manter enquanto sociedade: "a
******ebook converter DEMO Watermarks*******
referência a um único sistema de civilização implica o silêncio" (Jaulin,
1977: 55). Expandindose, desenvolvendo ao máximo sua própria lógica,
nossa civilização encontrará a perfeição total e se descobrirá só. Como em
todo sistema de perfeição total, a eficiência absoluta significará paralisia,
entropia, Morte: nenhum sistema pode subsistir sem receber ajuda do
exterior.
Não se trata de propor o empalhamento das culturas e a paralisação de sua
história. Não se trata absolutamente de escravizar as culturas às suas
características distintivas atuais, de impedir que mudem em seus ritmos e
direções próprios. Não se trata de privilegiar qualquer diferença particular.
Não: as diferenças podem ser quaisquer umas, seus conteúdos localizados
importam pouco. É o fato da diferença, a existência da alteridade, que deve
ser conservado. O que nossa sociedade faz é destruir o fato da diferença,
produzindo uma imensa monocultura, uma imensa massificação que nos
tornará cada vez maiores e mais sós, cada vez maiores e menores.
Destruindo as alteridades autênticas, nossa sociedade, tentando sobreviver,
cria internamente outras diferenças. Ela privilegia o indivíduo, ela o
especializa e fragmenta, rompe os liames do indivíduo com a comunidade. O
indivíduo se torna incapaz de ver e de sentir a comunidade: desprovidos de
padrões comuns de relacionamento, estes indivíduos conseguem cada vez
menos se comunicar e são o ponto onde a desagregação da sociedade se
mostra de modo mais agudo. Contra uma desagregação que opera em escala
industrial, é necessária uma solidariedade igualmente produzida nos
laboratórios: não conheço mais o meu vizinho, sequer o cumprimento, mas
sofremos juntos, na mesma hora, cada um em seu apartamento, o mesmo
drama da heroína que os media nos oferecem. Ou ainda, contra uma
desagregação que se realiza em virtude da falta de 'outros' autênticos, é
necessário produzir 'outros' artificiais que nos ajudem a gerar uma
consciência fantasmática de nós mesmos: multiplicam-se as rachaduras
internas entre classes, entre raças, entre povos, entre nações, entre minorias
de todo tipo...
Assim, a realização da 'megaetnia', ideal explícito de muitos filósofos desde a
Antiguidade, não poderá ser outra coisa senão a concretização desta solidão
total e o caminho para a 'megamorte'. Algo dessa possibilidade se revela já
em nosso imaginário, na nossa ficção futurista, talvez de modo inconsciente:
nossas representações da aventura espacial estão repletas de mitos em que a
Terra é invadida por seres extraterrestres, desconhecidos que vêm nos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
dominar e destruir. Como se algo dentro de nós nos acusasse, criamos estes
Cortez e Pizarro dos séculos vindouros, desta vez contra nós – talvez porque
algo secretamente nos diga que eles sempre estiveram contra nós. Assim
como os marinheiros portugueses viam monstros nos mares, nós enxergamos
monstros no espaço. Estranha analogia, reflexo da mesma atitude
civilizacional: nossa atitude diante do espaço é a mesma que sustentamos
diante do 'outro'. Nada tem de uma curiosidade impulsionada pela
sociabilidade, por uma vontade de travar contato com o diferente: é uma
'conquista', orientada para a negação da diferença entre a Terra e o espaço,
para reduzir o segundo às dimensões da primeira.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Conclusão - Quatro mitos e uma ilusão
Estas considerações nos levam a aproximar de alguns mitos que nossa
sociedade forjou sobre si mesma e a descobrir por detrás deles o caráter
ideológico e a função política de dominação. Trata-se de quatro mitos
fundamentais, ativamente presentes nas representações que as populações
ocidentais fazem da sociedade em que vivem. Constituem um conjunto de
premissas a orientar os nossos pensamentos, comportamentos e sentimentos
com relação a nós mesmos e a todas as formas de existência.
Em primeiro lugar, o mito da extrema riqueza da sociedade industrial. Desde
algumas gerações, todo um esforço de pedagogos, jornalistas, historiadores,
antropólogos, sociólogos, políticos, economistas, publicitários (para destacar
apenas alguns especialistas dentro de uma tendência geral de pensamento
vigorante em nossa sociedade) tem-se voltado para o objetivo de convencer
cada um de nós do fato de que pertencemos a uma sociedade extremamente
rica; de que esta riqueza é crescente e característica peculiar da sociedade
industrial, que nesse domínio teria obtido resultados inigualáveis, em muito
superiores aos de qualquer outra sociedade que se lhe pudesse opor como
parâmetro de comparação.
Seria difícil duvidar da veracidade dessa riqueza, sobretudo quando olhamos
ao redor e nos vemos cercados por uma multiplicidade quase asfixiante de
objetos, aparelhos, estantes de livros, consumo de energia... Seria quase uma
negação da evidência afirmar o contrário dessa riqueza, quando olhamos
nossas cidades com suas ruas pavimentadas, entulhadas de veículos que mal
podem se locomover, quase inteiramente cobertas de edifícios amontoados;
quando examinamos nossas gavetas e armários e descobrimos a multidão de
objetos que compõem os nossos pertences; quando consideramos nossos
orçamentos privados e os de nossos governos, dos mais simples aos mais
ambiciosos...
Mesmo que consideremos esta riqueza mal distribuída, todos estamos
convencidos da extraordinária riqueza de nossa sociedade quando nos
comparamos a outros povos contemporâneos ou anteriores, os quais
consideramos como sendo de economias 'primitivas', de tecnologias
'rudimentares', de trocas 'tradicionais', desprovidos de mercados 'modernos'...
Não há como fugir desta impressão, quando comparamos o volume absoluto
ou per capita de nosso produto ao de qualquer outra sociedade; ou quando
estabelecemos um paralelo entre os nossos pertences, os objetos que nos
cercam e os objetos pessoais e o ambiente de cultura material de outras
******ebook converter DEMO Watermarks*******
sociedades.
Contudo, é esse mesmo raciocínio comparativo, mas exercido sobre outras
bases, que nos levará a compreender a questão de modo diferente e a lançar
sérias dúvidas sobre a resistência dessa obviedade a um exame crítico mais
apurado. Porque vivemos em uma sociedade que considera a riqueza como
um de seus valores absolutos e um de seus objetivos mais urgentes, somos
incapazes de relativizar o conceito de riqueza e de examinar com acuidade o
seu verdadeiro sentido sociológico. Para nós, membros de uma sociedade que
busca continuamente a acumulação de bens, riqueza e pobreza são categorias
absolutamente contraditórias, possuindo cada uma valores próprios que se
excluem: ser pobre é ser pobre, ser rico é ser rico – e isto independe do modo
particular pelo qual riqueza e pobreza sejam vividas concretamente em
situações sociais definidas.
Uma consideração sociologicamente válida do problema exige que
abandonemos a idéia de que riqueza e pobreza sejam categorias absolutas e
excludentes pairando acima das sociedades e as vejamos como categorias
sociológicas que só adquirem sentido em termos de relações sociais.
Desprezando nossa concepção etnocêntrica de riqueza e pobreza, que as põe
acima de tudo, e vendo estas categorias como relações sociais, atingiremos
um nível em que as relações entre os homens e os bens produzidos e/ou
disponíveis se apresentam sob uma ótica inteiramente diferente, através da
qual poderemos enxergar coisas que as lentes de nossa ideologia não podem
captar e cujo aprofundamento (que não faremos aqui) poderia nos conduzir a
conclusões absolutamente inesperadas.
Nesse sentido, seria interessante nos deter um minuto na apreciação da
relação entre um membro de uma sociedade de economia de 'subsistência' –
para utilizar um termo ao agrado dos apologistas de nossas riquezas – e os
poucos bens e serviços que povoam o seu espaço social. Que vemos aí, de um
modo geral? Objetos comunitariamente significativos, que têm uma história
identificável e conhecida de todos, que preenchem o espaço com significação
e que vão muito além de suas funções utilitárias ou de seus valores de uso.
Uma borduna é muito mais que uma borduna: é um signo, contém uma
história conhecida, é resultado do exercício de uma técnica comunitariamente
partilhada. Uma flecha não é somente uma flecha: está associada a
determinadas fórmulas mágicas, a determinado animal a que se destina, a
determinado ancestral que primeiro a fabricou. Cada objeto tem uma
identidade própria e um valor em si, não sendo devorado pelo anonimato de
******ebook converter DEMO Watermarks*******
produções em massa ou em série; cada objeto preenche todas as funções
pragmáticas ou significacionais que se esperam dele.
Ao contrário, o nosso objeto não é nada disso, ou o é muito pouco. Ele é cada
vez mais anônimo; ele se reduz às suas funções de uso. Mesmo suas
dimensões significacionais são transformadas em dimensões utilitárias
(sobretudo de hierarquização de seus possuidores, criando necessariamente
muitos pobres para poucos ricos). Nosso objeto nada nos diz sobre sua
história, despreza inteiramente o trabalho social que nele foi investido.
Mesmo as funções de uso de nossos objetos foram sacrificadas: pela
obsolescência programada, pelas transformações da moda, pela multiplicação
de objetos que se destinam à mesma função. Não atendem a nenhuma
necessidade que não tenha sido artificialmente criada pelo sistema do
consumo e nesse sentido estão necessariamente condenados à incompetência
e à incapacidade de satisfazer – porque é nessa insatisfação que reside o
princípio do seu desprezo e de sua substituição por outro produto,
alimentando o sistema de produção e de consumo em massa.
Eis o resultado dessa comparação: todo o imenso volume de produtos saídos
de nossos braços e de nossas máquinas é essencialmente marcado pela
insatisfação. O ideal de maior riqueza é dominado pelo sentimento de
constante pobreza, sentimento este que é o verdadeiro motor do sistema. Se
significação é a categoria humana por excelência, nossas 'riquezas' são
extremamente pobres, pois se definem sempre por outras riquezas, outros
bens que a partir deles poderão (ou não poderão) ser obtidos e que em si
mesmos significam cada vez menos: necessitamos então, incessantemente, de
mais e mais objetos para tentar (sem sucesso) suprir a mesma lacuna
significacional. Chegamos assim a uma primeira conclusão paradoxal: se
riqueza e pobreza podem ser considerados como categorias válidas (o que
não é seguro) de reflexão sobre o social, é precisamente a sociedade de cuja
riqueza jamais duvidamos que deverá vestir a roupa da pobreza e aquelas que
sempre consideramos pobres que a melhor título poderiam se livrar desse
rótulo.
Em segundo lugar, consideremos o mito da extrema capacidade produtiva da
civilização moderna. Com raríssimas exceções, somos orgulhosos dos
'milagres' que nossa tecnologia é capaz de operar. Mais do que isto,
encaramos com desprezo dogmático, rotulando-as de retrógradas e
reacionárias, quaisquer tentativas de relativização dessa capacidade produtiva
– o que vale também para as propostas de reexame e moderação dela. Apenas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
recentemente começamos a oferecer espaço a idéias que sustentem que esta
capacidade produtiva estaria indo longe demais e passamos a considerar a
hipótese de que determinados freios precisem ser acionados em benefício do
futuro do próprio sistema produtivo. Mas estas recentes concessões são
simples questões gerenciais, destinadas a otimizar este ou aquele aspecto do
sistema sem examiná-lo a fundo em seus próprios princípios estruturais. Tais
concessões esquecem que o problema reside no próprio diálogo envenenado
que nosso sistema produtivo mantém com a natureza, assim como na própria
natureza dos bens que produzimos.
Fizemos referência nas páginas anteriores ao verdadeiro saque que nossa
sociedade pratica contra a natureza. Consideramos o descompasso existente
entre o ritmo obsessivo de produção industrial e o ritmo natural da
regeneração. Consideramos a precariedade dos bens produzidos,
predestinados à morte rápida pelo próprio gesto que os produz. Examinamos
nossos arsenais bélicos, nossas relações com outras culturas. Tornamos então
manifesta a existência em nossa sociedade de uma dimensão destrutiva
normalmente escondida, de uma dimensão de morte normalmente oculta.
Tudo isso nos leva a colocar sérias dúvidas sobre a realidade de nossa
capacidade produtiva, em grande parte compensada, ou mesmo superada, por
nossa capacidade de destruir. Nós nos orgulhamos de termos desenvolvido
como nenhuma outra sociedade as técnicas de construir, mas
sistematicamente esquecemos que a maior parte dos inventos que aos nossos
olhos fazem a glória de que nos jactamos deriva de descobertas fundamentais
pelas quais não somos os responsáveis: domínio do fogo, invenção da roda,
cerâmica, alavanca, domesticação de animais e de plantas...
Deveríamos, pois, ser mais prudentes e considerar que também edificamos,
como nenhuma outra sociedade na história humana, técnicas, artefatos e
máquinas de destruir. E que, incapazes de produzir e até mesmo de entender
os processos fundamentais da vida e da existência, possuímos os meios de
destruí-los e a tudo mais que em nosso planeta encontre existência. Ainda
mais: no nosso delírio destrutivo, somos capazes de repetir outras e outras
vezes a mesma operação de aniquilamento – como se isso fosse possível ou
necessário!
Em terceiro lugar, o mito do 'progresso', essa verdadeira religião do nosso
tempo. O progresso é a projeção do presente sobre o futuro e o projeto de
eliminação de todos os elementos do presente que não se submetam às
ideologias do poder imperante. O progresso é a projeção do presente sobre o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
passado e o desprezo a todos os elementos do passado que não contribuíram
para a edificação do poder presente. No presente, no passado ou no futuro,
progresso é uma noção impossível de se definir fora dos interesses instalados
no poder e, portanto, inteiramente viciada como instrumento de reflexão
sobre o destino das sociedades. Participa da natureza etnocêntrica e
etnocidária de nossa civilização, pela imposição a todas as outras dos ideais
presentes e futuros de nossa sociedade e pela decretação de nosso trajeto
histórico como sendo aquele único que todas as outras culturas devam
observar. De modo apriorístico, postula a superioridade da sociedade
ocidental sobre todas as demais e nos seduz. Seduzidos pelo progresso,
aceitamos todas as violências que em seu nome sejam praticadas.
O progresso é o máximo de progresso, no sentido definido pelo poder. Por
isso é categoria adequada a uma sociedade que quer indefinidamente
produzir, acumular, consumir e permanecer. Conseqüentemente, tal noção
não pode resistir à desmistificação das concepções relativas à riqueza dessa
sociedade e à natureza de suas capacidades produtivas. Produção e riqueza –
acumulação de energia – são os fundamentos materiais da idéia de progresso
e esta não pode permanecer de pé quando esses fundamentos soçobram. Por
este caminho, podemos relativizar esta noção e desvendar a sua função
política e ideológica de racionalização e de legitimação. Podemos também
repensar a natureza de cada um dos acontecimentos considerados como
constituindo progressos (transformações tecnológicas, modificações na
organização política e social, descobertas científicas, desaparecimentos de
usos e costumes etc) e abrir uma via para a compreensão de suas funções
políticas específicas, isto é, como algo relacionado ao aperfeiçoamento das
técnicas de exercício de poder.
Enfim, o mito da vida. A crença na idéia de que mais do que qualquer outro
lugar nossa sociedade é o terreno propício ao florescimento da vida. Este
mito contém o pensamento de que podemos produzir vida, graças à nossa
ciência médica, à nossa agricultura, à nossa zootecnia – enfim, graças à nossa
capacidade produtiva, à nossa riqueza e a nosso progresso. Este mito é o
banimento da idéia de morte, a postulação da amortalidade e da imortalidade
humanas. É o mito fundamental, a síntese de todos os outros, o caminho que
leva à compreensão do tabu com que envolvemos a morte e ao entendimento
das estratégias pelas quais escondemos nossas dimensões de Morte.
Acompanhando esse caminho reencontraremos algumas questões a que
anteriormente fizemos referências e que agora poderemos retomar em bases
******ebook converter DEMO Watermarks*******
mais compreensíveis: essencialmente, nossas reflexões sobre as relações
entre morte e poder e a atualização específica dessas relações na sociedade
industrial. Por detrás da cortina que o mito da vida e o tabu da morte
antepõem a nossos olhos, muito pouco ou quase nada aprenderemos sobre a
morte – esta condição inacessível à inteligência humana. Em compensação,
alguma coisa poderemos descobrir sobre a natureza do poder e os modos de
seu exercício em nossa sociedade.
Consideremos inicialmente a concepção tradicional de poder. Esta concepção
pensa, implícita ou explicitamente, o poder, como sendo a possibilidade de
fazer prevalecer a própria vontade e os próprios interesses, através do
domínio e/ou monopólio dos meios de exercício da violência – concepção
que contém, como conseqüência extrema, a capacidade de o dominante levar
o dominado à morte. Limitada aos aspectos mais superficiais da situação de
dominação, esta definição evoca a morte como seu fundamento lógico.
Paradoxalmente, entretanto, ela não serve para pensar as relações entre o
poder e a morte. Tal limitação não é difícil de demonstrar.
Em primeiro lugar, a definição é tautológica. Ao incluir na definição o objeto
a definir, impõe um retrocesso lógico que, sob a aparência de um
procedimento intelectual de penetração, de aprofundamento e exame crítico,
limita-se a confirmar e a legitimar pré-noções sobre o poder que já povoavam
nossas mentes. Assim, poder é a 'capacidade de', é a 'possibilidade de', é
'dispor dos meios de', é a 'superioridade sobre' – expressões que em última
instância significam que 'poder é poder': poderíamos perfeitamente reescrever
a definição, simplesmente dizendo que poder é 'poder' usar os meios de
exercício da violência, que poder é poder levar o adversário à morte e assim
por diante.
Em segundo lugar, a definição faz economia dos aspectos culturais do poder,
das dimensões simbólicas, induzindo a pensar a situação de dominação como
simples atuação mecânica de forças. Esquece que uma arma, por exemplo, só
é um instrumento de poder na medida em que seja reconhecida como tal – ou
seja, quando está inserida em um sistema cultural e quando a ameaça que
comporta pode ser identificada. A definição coloca em segundo plano o fato
de que é necessário que os dominados conheçam os códigos de pensamento e
de sentimento que lhes permitam comportar-se como dominados, isto é, que
lhes possibilitem desempenhar o papel social de subordinados. Qual o poder
de um revólver sobre o indivíduo que nunca tenha visto um e que não
conheça seus efeitos potenciais? Qual o poder do Inferno sobre indivíduos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
que nele não creiam, ou de um deus para seguidores de outros credos? Sem
conversão prévia, como é que membros de uma sociedade que desconheça a
disciplina castrense poder-se-iam enquadrar nas instituições militares?
Em terceiro lugar, decorrência imediata dessa segunda fraqueza, a definição
despreza o caráter recíproco do poder e o apresenta como uma via de mão
única. Não considera que o dominado também age sobre o dominante: força-
o a procurar uns caminhos de preferência a outros, obriga-o a exercer
determinada estratégia de atuação e uma tática de manipulação dos símbolos
envolvidos. Ignora que as relações de poder, como todas as relações sociais,
são relações de troca e que o dominado pode encontrar em sua situação atual
algo que não queira perder (mesmo que este algo lhe seja taticamente
induzido pelo dominante), preferindo-a muitas vezes a outra situação a que
eventualmente poderia se ver reduzido se assumisse radicalmente o risco de
se rebelar.
A quarta fraqueza reside no fato de a definição supor, como conseqüência de
seu matiz não relacional, que o poder seja algo localizável em uma
determinada fração da sociedade que o 'detém' e que 'impõe' sua vontade e
seus interesses a outras frações, que passivamente os aceitam. Faz crer que o
poder seja algo que alguns grupos e pessoas 'têm' e não uma dimensão
fundamental da própria estrutura da sociedade. Em vez de ver pessoas,
instituições, grupos e classes como canais pelos quais o poder circula na
sociedade, essa definição tradicional prefere ver o poder como algo que
alguém possui, que não se quer perder, que pode ser dado e tomado – como
algo enfim que os homens dominam, e não como alguma coisa que domine
os homens. Deixa escapar, assim, toda possibilidade de compreensão da
reprodutibilidade do poder e sua perpetuação no tempo.
Em quinto lugar, supõe a definição, como decorrência desse quarto erro, que
os interesses e vontades de dominantes e dominados sejam necessariamente
contraditórios e incompatíveis. Tal idéia representa um a priori que
dificilmente poderia ser confirmado se estivéssemos habituados a considerar
uma civilização na globalidade de seu conjunto e se tivéssemos as atenções
voltadas para a compreensão dos antagonismos internos a uma sociedade
como uma de suas características exteriores. De modo mais apropriado, não
cometeríamos este erro se tivéssemos a capacidade de perceber as
contradições de uma sociedade não como meros epifenômenos destinados a
serem devorados pela marcha da história, mas como constituindo o próprio
modo de ser desta sociedade. É por não assumir esta perspectiva holística que
******ebook converter DEMO Watermarks*******
a definição nos impede de enxergar situações em que dominados sejam
cúmplices de dominantes. No caso específico, por exemplo, ao pleitearem
maiores salários, diminuição das jornadas de trabalho, ampliação das férias
remuneradas e da duração da vida individual, ao saquearem a natureza, ao
reivindicarem ampliação do consumo, ao procederem à destruição das outras
culturas... fatores que constroem, no tempo, um sistema social de que
burgueses e proletários são os (supostos) beneficiários.
Finalmente, para nos limitar apenas aos aspectos mais relevantes para o
present e estudo, a definição parece edificar-se sobre uma concepção
etnocêntrica de morte. Contém implicitamente a idéia de que a vida seja
preferível à morte, de que qualquer vida seja preferível a ela. Esquece que a
idéia de morte é socialmente construída e que não representa para todos o que
significa para o homem ocidental. Despreza inúmeros exemplos históricos de
indivíduos e grupos que preferiram morrer a viver a qualidade de vida que
lhes era imposta. Passa por cima do fato de que o próprio poder necessita que
seus soldados tenham um certo grau de destemor diante da morte e que
estejam dispostos a morrer para permitir a vida do poder. Pecado
fundamental, esta concepção faz crer que o dominante não necessita da vida
do dominado – além de não considerar a possibilidade que tem o dominado
de empenhar sua própria vida no jogo do poder, ameaçando subverter de
modo radical a relação de dominação. Vendo a morte como um monopólio do
dominante, que a impõe sobre e contra o dominado, a definição nos impede
de ver a morte aplicada pelo dominado sobre si e contra o dominante,
possibilidade única de levar as relações de poder ao paroxismo e ao colapso.
Uma análise em termos de poder, que queira compreender o papel da morte
em nossa sociedade, só é possível se conceber o poder como uma relação
social inscrita e enquadrada em um contexto cultural, ele mesmo impregnado
de poder, que se implementa e se reduz em cada ação social e que implica
manipulação estratégica de símbolos. A relação de poder envolve
necessariamente no mínimo dois pólos, ambos participando de um poder que
se distribui de maneira não obrigatoriamente homogênea pelos diferentes
planos da estrutura social e das relações sociais.
O poder não se confina a uma área específica do social que reconhecemos
como seu campo privilegiado e onde esperamos que se manifeste de modo
formal – o 'político'. Não é 'algo' localizável em um ponto particular da
organização social – mas é o princípio mesmo dessa organização, aquilo que
permite a uma sociedade constituir-se em sistema íntegro, protegendo as
******ebook converter DEMO Watermarks*******
fronteiras interiores e exteriores contra elementos capazes de decretar a ruína
de sua sistematicidade. Desse modo, o poder é essencialmente algo que
domina os homens como membros de organizações sociais, não algo que os
homens dominem enquanto poderosos. Fazer a crítica do poder significa,
portanto, muito mais do que atacar os poderosos. Significa revolucionar todo
um tipo de vida social.
É claro que a questão da 'natureza' do poder e a da 'detenção' do poder não
são independentes. Pelo contrário, a solução da segunda exige o perfeito
conhecimento da primeira, sob pena de se substituir eternamente uma tirania
por outra – fato do qual toda a história ocidental é uma inequívoca ilustração.
A pergunta importante é talvez menos 'quem tem o poder?', mas: 'o que é o
poder e como pode ser comunitariamente implementado?'. Em outros termos:
'que tipo de relação dos homens entre si, da cultura com a natureza, de uma
civilização com outra civilização?' Inverter esta ordem de valores é querer
'tomar o poder' e desse modo reproduzir apenas com papéis trocados a mesma
estrutura de exploração.
A compreensão da natureza do poder é o grande tabu de uma sociedade em
que o poder é detido, enquanto a questão da detenção do poder, por sua
própria natureza, é na maior parte das vezes colocada de maneira explícita e
inconfundível – mesmo que se sofisme e que se minta sobre os modos de
ascensão; mesmo que se procure mostrá-los como 'legítimos', 'justos' ou
'democráticos'. Por si só, este fato impõe uma ordem de prioridade à reflexão.
Com efeito, na medida em que os poderosos tanto podem tomar quanto
podem dar e na medida em que o mesmo se aplique aos dominados, porque o
poder é uma relação de troca, a questão da detenção do poder poderá sempre
receber uma resposta equívoca e ilusória: 'a situação de hoje é melhor que a
de ontem', 'estamos construindo uma democracia', 'o poder é exercido em
nome do povo'... desse modo – já que a própria estrutura da relação de poder
e dominação não foi recusada – a manipulação de dominados cuja aspiração é
'participar do poder' e 'dominar o poder' acaba se transformando em um
problema relativamente fácil para o dominante. Pensar a natureza do poder é
recusar esta estrutura, é abandonar o delírio de assumir o poder, é recusar-se a
exercer o papel dominante, mas é sobretudo rejeitar o papel social de
dominado. Nesse ponto, a morte tem um significado especial, que tentaremos
tornar explícito.
O poder está presente em todos os pontos e contamina todas as relações. Tem
uma extraordinária capacidade digestiva, que lhe permite transformar em
******ebook converter DEMO Watermarks*******
alimento que o sustenta até mesmo veneno com que se tenta destruí-lo.
Instaura-se de maneira fragmentária ou extensa em todo o tecido social,
penetra em todas as existências, transforma o dominado em agente de
dominação, mesmo pelo ato através do qual pensa estar se libertando e
'assumindo' o poder. Constrói-se a partir de baixo, em cada mínima ação,
insinuando-se como necessidade vital. Reproduz-se através da tecnologia e
como tecnologia, através do saber e como saber, através da vida e como
contrapoder. Só encontra uma fronteira: a morte. Não a morte de que se
apropria e da qual é senhor (que a definição tradicional sabe identificar). Não
a morte que se lhe contrapõe, matando pessoas identificadas como
dominantes. Mas a morte com que se o desafia, forçando-o a ser poder até as
últimas conseqüências e obrigando-o a se estabelecer de maneira tão total que
a dominação se pulverize diante da inexistência de dominados, fazendo desse
modo com que o sistema exploda pela hipertrofia de sua própria lógica.
Como assinalamos anteriormente, em todo o curso da história e na maior
parte das sociedades a ameaça de morte violenta é meio de controle social,
sanção contra os comportamentos desviantes, instrumento de dominação, em
suma. Como quer a teoria tradicional do poder, podemos todos ser mortos e
por isso obedecemos. Entretanto, como Hegel nos ensinou em sua
Fenomenologia do Espírito, não é na minha morte que o poder está
interessado, não é dela que se nutre: pelo contrário, é minha vida que
preenche essas funções. Por isso, o dominante permite ao dominado que viva
e a isto até o obriga. Por isso adia sua morte. E se apropria da vida do súdito,
apropriando-se de sua morte, constituindo a relação de dominação pela
negativa de decretação da morte do dominado. Por instrumento do adiamento
da morte do dominado, o dominante faz deste um servo, um escravo,
apropriando-se de seu trabalho (e mais tarde também de seu consumo).
Portanto, não é a capacidade de decretar a morte que faz do poder poder. Pelo
contrário e paradoxalmente, é a estratégia de obrigar a viver que o constitui.
Dentro desse quadro, o risco de morte é um pressuposto absoluto da
libertação. É a única maneira de fazer explodir uma relação que pressupõe a
negação da morte para poder existir.
Um raciocínio em termos de detenção do poder nos mostraria pessoas
obedecendo para escapar da angústia de morte, submetidas à chantagem que
o poder encena de cortar a vida, de condenação eterna, de julgamento final...
Levar-nos-ia a crer que só exista o poder da morte e que todo poder seja
sempre o poder da morte, quer seja veiculado pelo Príncipe, pelo patrão, pelo
******ebook converter DEMO Watermarks*******
carrasco, pelo pai ou por Deus. Tenta convencer-nos de que a vitória do
poder implique sempre a vitória pela morte e pela proclamação do direito de
vida e de morte sobre os derrotados.
Contrariamente, um raciocínio em termos de natureza do poder mostrarnos-ia
um poder preocupado em conservar a vida de seus súditos, munindo-se de
todo o aparato de instituições jurídicas, médicas, policiais etc. que possam
garantir a segurança deles. Um raciocínio em termos de natureza do poder
nos mostraria o poderoso preocupado em fechar a única porta segura de
libertação e de destruição da relação de poder: a morte. É exatamente para
fechar esta porta que o poder incute nos dominados o medo da morte, o
supremo pânico de deixar de existir; é para fechar esta porta que transforma a
morte em tabu, que a bane das possibilidades cognitivas e afetivas de seus
súditos.
É claro que um tabu dessa natureza envolvendo a morte só é possível em um
tipo particular de sociedade: a sociedade industrial. Em toda sociedade a
dominação se funda sobre o medo da morte (ou seu equivalente: inferno, por
exemplo) e sobre a regulamentação do direito de produzir a morte. A pena de
morte é definida pelo poder e ninguém pode provocar a morte de outro ou de
si mesmo sem ser a isto autorizado pelo poder. Assim, o temor da morte
desempenha um papel importante na dominação e sem ele ela provavelmente
não seria possível. Mas, em contrapartida, o soberano depende também de
que seus súditos sejam capazes de enfrentar a morte, de ser mártires, de ser
soldados que morram para permitir a existência do poder. Conseqüentemente,
o medo absoluto da morte não interessa ao poder, na medida em que decreta a
paralisia de seus soldados. Este pavor extremo só é possível sob uma
condição: que os soldados possam ser substituídos por máquinas, que o poder
possa abrir mão de que sejamos soldados. E isto só pode acontecer em uma
sociedade industrial.
Dispensando os súditos de morrer, o poder abre caminho para tirar o melhor
proveito de suas vidas. Para isso, entretanto, é preciso impedir que os
dominados façam por si mesmos o que o poder não fez, ou seja, é necessário
proibir-lhes que decretem eles mesmos suas mortes. Por isso o suicídio não é
tolerado por nenhum poder: porque é visto como um meio de independência,
porque subverte a relação de poder e a corrói radicalmente. O suicídio é
imperdoável: em seu delírio, o poder irá até condenar à morte o indivíduo que
tentou suicídio, irá impedir que se suicide o condenado à morte, irá executar
penas de morte sobre cadáveres de suicidas. Tudo isso não se explica apenas
******ebook converter DEMO Watermarks*******
porque o suicídio seja um desafio ao poder, mas também porque todo
verdadeiro desafio ao poder seja de natureza suicidária.
Assim, somos cada vez menos livres para atentar contra nossa saúde e contra
nossa integridade física (vacinas obrigatórias, declaração obrigatória de certas
doenças, obrigação de tratamento em certos casos, prolongamento artificial
da vida mesmo contra os desejos do doente...). Cada vez mais somos
obrigados a proteger nossas vidas e a preservá-las (como ilustração,
pensemos nos equipamentos obrigatórios de segurança). Visando a eliminar o
suicídio, um relatório do Ministério da Saúde francês (citado por Baechler,
1975), propõe consultas obrigatórias de higiene mental nas escolas, exames
médicos obrigatórios para todos os trabalhadores de menos de vinte e cinco
anos, observação estrita dos jovens trabalhadores isolados e dos estudantes de
primeiro ano, vigilância aumentada por ocasião das provas escolares, criação
de plantões de serviços sociais em cada bairro de Paris, em cada cidade de
razoáveis proporções, em toda escola de certo tamanho e assim por diante.
Tais medidas tornam-se compreensíveis quando examinamos a significação
coletiva dos suicídios. Matam quase tanto quanto os veículos a motor,
segundo dados franceses de 1970 (Charlot, 1976): entre as mortes acidentais
e violentas, 19,3% das dos homens foram por suicídio, contra 29,6% em
acidentes motorizados; quanto às mulheres, 18,1% das mortes foram
autoprovocadas, contra 18,4% em acidentes com veículos. Nas últimas
décadas do século XX, as estatísticas apontavam para a França cerca de 15
mil suicídios declarados a cada ano, embora muitas mortes efetivamente por
suicídio não pudessem ter sido consideradas como tal oficialmente: por
exemplo, suspeita-se que uma quantidade considerável de acidentes de
automóvel possa ser vista mais propriamente como sendo voluntária. E mais:
naquele ano estimavam-se para a França as tentativas de auto-extermínio
entre 200 mil e 400 mil anualmente. Mas este país ocupava uma posição
apenas intermediária, quando tomamos as taxas de suicídio em escala
comparativa: ao lado de países como a Bélgica (16 por 100 mil), a Austrália
(14,9) e o Japão (14,7), acima dos Estados Unidos (11,1), abaixo da então
Alemanha Federal (41,3), da Áustria (22,8) e da Hungria (29,8).
Não se trata absolutamente de fazer apologia do suicídio. Mas estes dados
parecem indicar algo mais que simples ações isoladas de indivíduos
desesperados. São um imenso clamor pelo direito à felicidade, uma
demonstração, por um gesto irrecusável, de que a vida tal como é não merece
mais que a ela se esteja ligado. São uma escandalosa afirmação do direito à
******ebook converter DEMO Watermarks*******
liberdade e à dignidade – afirmação que o opróbrio lançado contra o suicida e
seus próximos tenta anular. São ainda uma provocação àqueles que, não
sendo mais felizes que o suicida, são, todavia, incapazes de cometer o mesmo
gesto. Além de dramas pessoais, estes dados permitem supor que, embora de
modo desorganizado e privado, muitos transgrediram o tabu da morte em
busca da porta da liberdade. Mas esta porta só será real quando o desafio for
coletivo, pois então a morte será a do poder, incapacitado de ir às derradeiras
conseqüências de seu ser – porque essas últimas conseqüências representam
precisamente sua própria morte.
Entendemos, então, por que o poder impõe sobre a morte um tabu: para lacrar
esta porta, para eliminar esta possibilidade. Retirando aos homens a noção de
seus destinos, subtrai-lhes a consciência real de suas vidas, escondelhes de
cada instante a real significação e institui o presente em modo único de ser.
Ao negar e banir a morte, o poder age coerentemente: sabe que a liberdade do
homem exige a existência da morte e que é esta existência – não temida – que
impele a ousar e a não esperar. Sabe que é sobre o adiamento da morte do
súdito que o poder constrói sua própria superioridade.
Desse modo, como Baudrillard (1979: 39) agudamente percebeu, se é "sobre
a gestão de vida como sobrevivência objetiva que o poder se funda", "a única
solução é retornar contra o sistema o princípio mesmo do seu poder (...).
Desafiar o sistema por um oferecimento ao qual ele não possa responder,
senão por sua própria morte e seu próprio desmoronamento..." (os grifos
desta citação e das seguintes são do próprio Baudrillard).
É necessário que o próprio sistema "se suicide em resposta ao desafio
multiplicado da morte e do suicídio" (Baudrillard, 1976: 64). Este desafio é o
de fazer aqueles que detêm o poder
assumir o poder até seu limite, que não pode ser senão a morte dos
dominados. Desafio ao poder de ser poder: total, irreversível, sem
escrúpulo e de uma violência sem limites. Nenhum poder ousa ir até este
ponto (no qual ele se liquidaria também). E é então diante desse desafio
sem resposta que ele começa a se desagregar. (Baudrillard, 1977: 74-5)
Esta é a única arma absoluta e sua simples ameaça coletiva pode fazer o
poder desmoronar (...): se ele vive de minha morte lenta, eu lhe oponho
minha morte violenta. (Baudrillard, 1976: 64)
Prossegue:
isto muda todas as perspectivas revolucionárias sobre a abolição do
poder. Se o poder é a morte adiada, ele não será suspenso enquanto o
******ebook converter DEMO Watermarks*******
suspense dessa morte não for suspenso. E se o poder (...) reside no fato
de dar sem que lhe seja retribuído, é claro que o poder que tem o senhor
de conceder unilateralmente a vida só poderá ser abolido se esta vida lhe
puder ser devolvida – em uma morte não adiada. Não há alternativa: não
é conservando a vida que se abolirá um dia o poder, uma vez que não
terá havido reversão do que foi dado. Só a devolução desta vida, a
retorção pela morte imediata da morte adiada constitui uma resposta
radical e a única possibilidade de abolição do poder... (Baudrillard,
1976: 69)
E conclui Baudrillard (1976: 268), "a maior parte das práticas, mesmo ditas
políticas e revolucionárias, contenta-se com negociar a sobrevivência, isto é,
com comerciar sua morte com o sistema..."
Assim, entende-se o porquê de a nossa sociedade ter criado a Morte, essa
linha socialmente postulada de separação entre vivos e mortos, essa
irreversível passagem que abole a morte, que a institui em pavor primordial
retirando-lhe as características de (outra) vida que nela sempre viram todas as
culturas e estabelecendo em seu lugar um grande silêncio, um vácuo
insuportável, um abismo definitivo, um vazio incomensurável, um não-
espaço, um nãotempo, uma eternidade invertida que só pode ser uma coisa:
temida.
Temendo este depois da vida que não é mais vida, que passou a ser Morte, os
súditos de nossa sociedade passam a temer a morte e a aceitar a vida que lhes
é imposta. Transformam-se em seres incapazes de oferecer suas vidas a si
mesmos, isto é, em seres incapazes de correr o risco de morrer. De certo
modo estes homens passam a ser incapazes de viver, pois não querer morrer e
não querer viver são a mesma coisa. Seres humanos incapazes de viver, pois
só há um meio de não morrer: já estar morto.
Entende-se também por que o direito à vida e à proteção contra a morte –
vitórias dos trabalhadores de nosso tempo, através da promoção da saúde, da
previdência social, da segurança do trabalho, dos seguros... são igualmente
vitórias do poder: por isso o médico luta mais contra a morte que o próprio
paciente, por isso o poder impõe as medidas de segurança e de proteção das
vidas de seus súditos. Não é por acaso que tantas vezes as populações que
supostamente estavam sendo protegidas se rebelaram contra a proteção,
recusando a idéia de se vacinar, de observar os limites de velocidade, de
obedecer às sinalizações, de usar os equipamentos de segurança, de curvar-se
às normas: é que elas viam, na possibilidade de dispor e mesmo de arriscar
******ebook converter DEMO Watermarks*******
suas vidas, uma dimensão fundamental de sua liberdade.
Tão importante é para o poder o banimento da morte e dos mortos que, em
uma sociedade em que tudo se transforma em mercadoria, é significativo que
o 'após morte' escape a este destino. De fato, após os funerais, o
esquecimento de que são vítimas os mortos fazem deles fracos consumidores:
as visitas às sepulturas vão se tornando cada vez mais esparsas e o consumo
de que os mortos são responsáveis vai diminuindo com o tempo. É que este
próprio esquecimento é condição de funcionamento do sistema: há uma
incompatibilidade absoluta entre os valores da economia industrial e a
aceitação da morte. A morte nega a idéia de acumulação de bens, que diante
dela deixa de ter sentido. A morte questiona radicalmente as ideologias da
eficácia e da competência e ridiculariza a competição social. Quebra
radicalmente a linearidade do tempo e demonstra que o tempo ou é reversível
ou é nada, verdade insuportável para um sistema que quer que o tempo seja
linear e adverte que 'tempo é dinheiro'. Mostra que o 'progresso' é uma ilusão,
que o progresso não tem fim e que haverá sempre mais um progresso a
realizar quando se morre. Acima de tudo, para uma sociedade que quer
acreditar nessa ilusão, a morte é inadmissível porque elimina a possibilidade
de atingir objetivos, porque mostra que a realização pessoal e coletiva, nos
termos definidos pelo sistema, é impossível.
Mas a urgência do banimento da morte não chega ao ponto de exigir o
sacrifício da lógica do sistema: as contabilidades nacionais utilizam estudos
seriíssimos sobre a morte, no que respeita ao custo econômico. Para evitar a
morte, é necessário investir em segurança, previdência, medicina,
alimentação... Portanto, existe um limite além do qual, apesar de o sistema
nos dizer que a vida humana não tem preço, não vale a pena investir e é
melhor deixar as pessoas morrerem. Se quisermos, por exemplo, diminuir em
20% o número total de mortos em acidentes automobilísticos, será necessário
gastar x, o que significará um preço y por morto. Este investimento global
deverá teoricamente ser tão elevado quanto menor se pretenda que seja o
número total de mortos. Analogamente, se quisermos diminuir o número de
falecimentos em catástrofes na rede ferroviária, seremos obrigados nos
termos do sistema econômico e social a pagar um aumento considerável do
custo desse transporte, coisa que nem sempre passageiros e companhias de
transporte estão dispostos a fazer. E isto se aplica a tudo em uma sociedade
em que a vida humana foi transformada em mercadoria: aos tratamentos
médicos, às relações com a ecologia, à previdência social, à limitação dos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
armamentos, à pesquisa científica...
Banida, produzida, administrada, a morte está em toda parte na sociedade
industrial e esta presença é o grande paradoxo de uma sociedade que pretende
divinizar a vida. Este paradoxo é talvez a mais fundamental explicação do ser
desta sociedade: não é à toa que a sociedade que mais cuida da segurança, da
higiene e do banimento da morte, a sociedade norte-americana, seja também
a sociedade mais violenta e mortífera de que se tem notícia, e que seu
exemplo seja seguido de perto por todas aquelas que a acompanham no estilo
industrial de vida.
É pura ilusão querer se libertar dessas sociedades, ao mesmo tempo
mortíferas e policiais, produtoras e negadoras de morte, sem se libertar desse
estilo industrial de vida (ou de Morte). Optar por este estilo de vida é deixar-
se cair nas malhas desse círculo vicioso, o 'progresso'. O progresso deve
sempre negar-se a si mesmo para permanecer progresso. Ele se constrói sobre
uma produtividade crescente do trabalho social, produtividade
necessariamente ligada a uma repressão crescente. O progresso industrial
quer ser a mais total dominação do homem sobre a natureza e isso engendra
lógica e necessariamente (já que o homem é parte da natureza) a dominação
do homem pelas técnicas da dominação. E isto nos leva a uma conclusão
palmar: dominar o domínio – e não a natureza – transformou-se na grande
questão de nosso tempo.
Sociedades de tecnologias 'rudimentares' nos ensinam que a simplicidade e a
acessibilidade dos meios de produção não permitem o exercício eficaz de
controle sobre os trabalhadores por intermédio desses meios de produção. Em
contraste, a complexificação da tecnologia transforma o controle dela em
algo não apenas possível, mas em coisa necessária: as usinas nucleares, por
exemplo, sejam capitalistas ou socialistas, supõem uma sociedade
obrigatoriamente centralizada, estratificada e policial. Desse modo, se
quisermos lutar por uma sociedade diferente, devemos lutar por um modo
diferente de relação com a natureza e por uma sociedade construída sobre
outras bases tecnológicas. E devemos substituir o sonho louco de crescimento
ilimitado, que é em última instância o que justifica essa tecnologia, por algo
que esteja ao alcance humano e que possamos controlar.
Em nome desse crescimento, desse 'progresso', nós nos transformamos em
nosso próprio inferno: somos capazes de destruir todas as formas de vida,
mas somos capazes por meio da bomba de nêutrons de preservar as riquezas;
somos capazes de inventar e de justificar horrores como o genocídio dos
******ebook converter DEMO Watermarks*******
judeus, os campos de concentração, as câmaras de gás, o etnocídio e o
ecocídio; somos obrigados a criar inimigos fictícios para através da morte
deles propiciar-nos uma sensação artificial de vida. Tudo isso coloca para
nós, que nos vemos nos píncaros do saber, no ponto mais alto da Evolução, a
indagação sobre um tema elementar, para a qual não temos resposta – e na
falta da qual nos perdemos no mundo: Que é o homem? Que significa ser
homem? Qual o lugar do homem no mundo?
Incapazes de responder a estas questões elementares, nós nos arvoramos em
agentes geológicos, em modificadores dos processos biológicos, em seres
capazes de guiar a evolução; em seres imortais, preocupados com a
longevidade individual, quando desprezamos a longevidade das civilizações –
enfim, em 'conquistadores' da natureza. Mas, estamos preparados para isto?
Podemos aceitar a responsabilidade de mudar o período de vida dos
indivíduos, tornando-os imortais contra as leis da espécie? Alterar os códigos
genéticos, criar seres vivos artificiais? Colocar em perigo a existência do
planeta?
Todas essas questões apontam para uma problemática antropológica e
filosoficamente nova, concernente à morte: todas as culturas, todas as
sociedades estiveram preocupadas com mortes presentes e passadas, com
cadáveres e antepassados; mas nossos pensadores começam a se preocupar
com a morte de nossos filhos, com a morte futura, com a Morte que estamos
programando e disseminando pelo planeta. Tal é a grande questão do nosso
tempo e qualquer teoria social, política e principalmente antropológica será
vã se não tentar respondê-la, se não colocar em destaque os mecanismos de
terror que permitem que esta Morte seja construída. E se não evidenciar que
diante dessa Morte a idéia tradicional de Revolução se tornou
demasiadamente fraca.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Referências bibliográficas
ALIHANGA, M. Rites de la mort au Gabon. In: GUIART, J. (Org.) Les
Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
ARIÈS, P. Histoire des Populations Françaises et de leurs Attitudes devant
la Vie depuis le XVIII ème Siècle. Paris: Self, 1948.
ARIÈS, P. L'Enfant et la Vie Familiale sous l'Ancien Régime. Paris: Seuil,
1973.
ARIÈS, P. Essais sur l'Histoire de la Mort en Occident: du Moyen Age à nos
jours. Paris: Seuil, 1975.
ARIÈS, P. L'Homme devant la Mort. Paris: Seuil, 1977.
ATTALI, J. L'Ordre Cannibale: vie et mort de la médecine. Paris: Grasset,
1979.
AUZELLE, R. Derhières Demeures. Paris: Imprimérie Mazarine, 1965.
BACONE, F. Della dignità e del progresso delle scienze. In: Opere
Filosofiche. Bari: Laterza, 1965. (em português F. Bacon).
BAECHLER, J. Les Suicides. Paris: Calman-Levy, 1975.
BALANDIER, G. Préface. In: HERTZ, R. Sociologie Religeuse et Folkore.
Paris: PUF, 1970.
BARÉ, J. F. Pouvoir des Vivants, Langage des Morts: idéologies sakalave.
Paris: Maspero, 1977.
BARTHES, R. Semiologia e Lingüística. Trad. Lygia Vassalo e Moacy
Cirne. Petrópolis: Vozes, 1971.
BARTHES, R. L'Empire des Signes. Genebra: Skira, 1976.
BASTIDE, R. A travers la civilisation. Echanges. Le sens de la mort (N.
especial), 98, nov. 1970.
BAUDRILLARD, J. O Sistema dos Objetos. Trad. Zulmira Ribeiro Tavares.
São Paulo: Perspectiva, 1973.
BAUDRILLARD, J. L'Echange Symbolique et la Mort. Paris: Gallimard,
1976.
BAUDRILLARD, J. Oublier Foucault. Paris: Galilée, 1977.
BAUDRILLARD, J. L'economia politica e la morte. In: CARAMORE, G.
(Org.) Luoghi e Oggetti della Morte. Perugia: Savelli, 1979.
BELMONT, N. Arnold Van Gennep: le créateur de l'ethnographie française.
Paris: Payot, 1974.
BENEDICT, R. Padrões de Cultura. Trad. Alberto Candeias. Lisboa: Livros
do Brasil, 1934.
BERNARD, P. L'alliance entre une sociéte et le monde (Prefaáio). In:
******ebook converter DEMO Watermarks*******
JAULIN, R. La Mort Sara. Paris, Ed. 10/18, 1971.
BLOCH, M. Placing the Dead. Londres-Nova York: Seminar Press, 1971.
CALDER, P. R. La ritualisation dans les relations internationales. In:
HUXLEY, J. (Org.) Le Comportement Rituel chez l'Homme et l'Animal.
Paris: Gallimard, 1971.
CAMUS, A. & KOESTLER, A. La Pena di Morte. Trad. Claudia Patrizi.
Roma: Newton Compton, 1972.
CARAMORE, G. (Org.) Luoghi e Oggetti della Morte. Perugia: Savelli,
1979.
CAZENEUVE, J. Lévi-Bruhl: sa vie, son oeuvre. Paris: PUF, 1963.
CAZENEUVE, J. Mauss. Paris: PUF, 1968.
CAZENEUVE, J. Sociologia del Rito. Trad. José Castelló. Buenos Aires:
Amorrortu, 1972.
CERTEAU, M. de. Scrivere l'innominabile. In: CARAMORE, G. (Org).
Luoghi e Oggetti della Morte. Perguia: Savelli, 1979.
CHARLOT, M. Vivre avec la Mort. Paris: Alain Moreau, 1976.
CHARRAS, M. Et le feu t'emportera... Bali: de la mort à l'ultime purification.
In: GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et
Mondes, 1979.
CHEMIN-BÄSSLER, H. La fête des morts chez les pames septentrionaux de
l'Etat de San Luis Potosi au Mexique. In: GUIART, J. (Org.) Les Hommes et
la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
CHORON, J. La Mort et la Pensée Occidentale. Trad. Monique Manin.
Paris: Payot, 1969.
CLARKE, R. La Course à la Mort ou la Technologie de la Guerre. Trad.
Georges Renard. Paris: Seuil, 1971.
CLASTRES, H. Les beaux-frères ennemis; à propos du cannibalisme
tupinambá. Nouvelle Revue de Psychanalyse. Destins du cannibalisme. (N.
especial), aut.: 71-82, 1972.
CLASTRES, P. Chronique des Indiens Guavaki. Paris: Plon, 1972.
CLASTRES, P. & SEBAG, L. Cannibalisme et mort chez les Guayakis.
Revista do Museu Paulista, 5(14): 174-81, 1963.
CROCKER, C. The Social Organisation of the Eastern Bororo, 1967. Tese
de doutorado, Harvard University.
CROCKER, C. Les reflexions du soi. In: Seminaire 'L'identité' (dirigido por
Claude LéviStrauss). Paris: Grasset, 1977.
CUNHA, M. C. C. Os Mortos e os Outros. São Paulo: Hucitec, 1978.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
DaMATTA, R. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do
dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
DORST, J. La Nature de-Naturée: pour une ecologie politique. Paris: Seuil,
1970.
DOUCET, L. La Foire aux Cadavres. Paris: Denoël, 1974.
DOUGLAS, M. Pollution. In: International Encyclopedia of the Social
Sciences, 12, 1968a.
DOUGLAS, M. The social control cognition: factors in joke perception. Man
(3): 361-7, 1968b.
DOUGLAS, M. Natural Symbols: explorations in cosmology. Londres:
Barrie and Rockliffe, 1970a.
DOUGLAS, M. Purity and Danger. Londres: Pellican Books, 1970b.
DUBOIS, C. Wintu ethnography. American Archeology and Anthropology,
36, 1935. (University of California Publications).
DUMAS, A. Le retour de la mort. Esprit, 455, mars, 1976.
DUMONT, R. L'Utopie ou la Mort. Paris: Seuil, 1973.
DURKHEIM, E. Les Formes Elémentaires de la Vie Religiuse. Paris: Felix
Alcan, 1912.
ERNY, P. L'Enfant et son Milieu en Afrique. Paris: Payot, 1972.
EVANS-PRITCHARD, E. E. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande.
Trad. Eduardo Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
FÉRAUD, M. & QUEROUIL, O. Les Territoires de la Mort. Paris: Le
Centurion, 1976.
FLETCHER, J. The Ethics of Genetic Control: ending reproductive roulette.
Nova York: Doubleday and Company, 1974.
FRIBOURG, J. Une conception espgnole du monde des morts. In: GUIART,
J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes,
1979.
FUCHS, W. Le Immagini della Morte nella Società Moderna: sopravvivenze
arcaiche e influenze attuali. Trad. Grazia Dore. Torino: Einaudi, 1974.
GALEANO, E. As Veias Abertas da América Latina. Trad. Galeno de
Freitas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
GARAUDY, R. Appel aux Vivants. Paris: Seuil, 1979.
GARDNER, R. & HEIDER, K. Gardens of War. Londres: Deutsch, 1969.
GASTAUD, H. Quelques remarques sur le culte du crane. In: MORIN, E &
PIATTELLIPALMARINI, M. (Orgs.) Pour une Anthropologie Fondamentle.
Paris: Seuil, 1974.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
GESELL, P. L'Enfant de 5 à 10 Ans. Paris: PUF, 1949.
GETTING, L. A. Halting the inflationary spiral of death. Air Force Space
Digest, Apr. 1963.
GODELIER, M. Une anthropologie economique est-elle possible? In:
MORIN, E. & PIATTELLI-PALMARINI, M. (Orgs.) Pour une
Anthropologie Fondamentale. Paris: Seuil, 1974.
GORER, G. Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain. Nova
York: Doubleday, 1965.
GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort: rituels funéraires à travers le
monde. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
HACKET, D. Health Maintenance in Industry. Chicago: Shaw, 1925.
HERTZ, R. Sociologie Religieuse et Folklore. Paris: PUF, 1970.
HUTTER, M. & SIKE, Y. Le chant du destin. In: GUIART, J. (Org.) Les
Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
HUXLEY, J. (Org.) Le Comportement Rituel chez l'Homme et l'Animal. Trad.
Paulette Vielhome. Paris: Gallimard, 1971.
ILLICH, I. Némésis Médicale: l'expropriation de la santé. Paris: Seuil, 1975.
JAMIN, J. & COULIBALY, N. V. A bout de souffle: la dette de la vie chez
les Senoufo. In: GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le
Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
JANKÉLÉVITCH, V. Philosophie Première. Paris: PUF, 1954.
JANKÉLÉVITCH, V. La Mort. Paris: Flamarion, 1977.
JAULIN, R. La Mort Sara. Paris: Ed. 10/18, 1974a.
JAULIN, R. La Paix Blanche. Paris: Ed. 10/18, 1974b.
JAULIN, R. Les Chemins du Vide. Paris: Christien Bourgeois, 1977.
JAULIN, R. L'Ethnocide. Paris. Ed. 10/18, 1979a.
JAULIN, R. Morbosità e economia ocidentale. In: CARAMORE, G. (Org.)
Luoghi e Oggetti della Morte. Perugia: Savelli, 1979b.
JUNG, K. Anima e Morte: sul rinascere. Trad. P. Santarcangeli e A. Vitolo.
Torino: Boringhieri, 1978.
KARSENTY, S. Quelques questions à propos de la culpabilité des survivants.
In: THOMAS, L.-V. (Org.) La Mort Aujour'hui. Paris: Anthopos, 1977.
KIENTZ, A. Comunicação de Massa: análise de conteúdo. Trad. Álvaro
Cabral. Rio de Janeiro: Eldorado, 1973.
KIM-CHI, N. La vieillesse, la mort et le Viet-nam d'autrefois, In: THOMAS,
L-V. (Org) La Mort Aujourd'hui. Paris, Anthropos, 1977.
KOUBI, J. Le malade, le mort et son double visible en pays toradje. In:
******ebook converter DEMO Watermarks*******
GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et
Mondes, 1979.
KÜBLER-ROSS, E. (Org.) La Mort: dernière étape de la croissance. Trad.
Pierre Maheu. Ottawa-Québec: Amérique Inc., 1977.
LANDSBERG, P. Essai sur l'Experience de Mort. Paris: Seuil, 1951.
LEACH, E. Critique de l'Anthropologie. Trad. Dan Sperber e Serge Thion.
Paris: PUF, 1968.
LEACH, E. Genesis as Myth and Other Essays. Londres: Cape, 1969a.
LEACH, E. Repensando a antropologia. In: LARAIA, R. B. (Org.)
Organização Social. Rio de Janeiro: Zahar, 1969b.
LEACH, E. Un Mundo en Explosión. Trad. José R. Llobera. Barcelona:
Anagrama, 1970.
LEBRUN, F. Les Hommes et la Mort en Anjou aux XVIIème et XVIIIème
Siècles. Paris: Flamarion, 1975.
LEOPOLDI, J. S. A linguagem social de um mito tenetehara. Revista de
Cultura Vozes, 67(2), 1973.
LEROI-GOURHAN, A. Le Geste et la Parole I: technique et langage. Paris:
Albin Michel, 1964.
LEROI-GOURHAN, A. Le Geste et la Parole II: la mémoire et les rythmes.
Paris: Albin Michel, 1965.
LE ROY LADURIE, E. Homme-animal, nautre-culture, les problèmes de
l'equilibre démograhique. In: MORIN, E. & PIATTELLI-PALMARINI, M.
(Orgs). Pour une Anthropologie Fondamentale. Paris: Seuil, 1974..
LÉVI-STRAUSS, C. Tristes Trópicos. Trad. Wilson Martins. São Paulo:
Anhembi, 1957.
LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia Estrutural. Trad. Eginardo Pires e C. S.
Katz. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1967a.
LÉVI-STRAUSS, C. Introdução à obra de Mauss. In: MENDONÇA, E. P.
(Org.) Estruturalismo: antologia de textos teóricos. Lisboa: Portugália,
1967b.
LIGOU, D. L'evolution des cimetières. Archives des Sciences Sociales de la
Religión, 39: 61-7, 1975.
LIGOU, D. La crémation. In: THOMAS, L-V.; ROUSSET, B. & THAO, T.
van. (Orgs.) La Mort Aujourd'hui. Paris, Anthropos, 1977.
MAERTENS, J. T. Le Jeu du Mort (ritologiques I): essai d'anthropologie des
inscriptions du cadáver. Paris: Aubier Montaigne, 1979.
MALLINOWSKI, B. Magic, Science and Religion and Other Essays. Nova
******ebook converter DEMO Watermarks*******
York: Anchor Books, 1954.
MARCUSE, H. L'idée de progress à la lumière de la psychanalyse. In:
Freudo-Marxisme et Sociologie de l'Aliénation. Paris: Ed. 10-18, 1976.
MAUKSCH, H. Le contexte organisationnel de la mort. In: KÜBLER-ROSS,
E. (Org.) La Mort: dernière étape de la croissance. Ottawa-Québec:
Amérique Inc., 1977.
MAUSS, M. Sociología y Antropología. Trad. Teresa R. N. Retrotello.
Madri: Technos, 1971.
MEADOWS et al. I Limiti dello Sviluppo. Milão: Mondatori, 1974.
MEILLASSOUX, C. Terrains et Théories. Paris: Anthropos, 1977.
MELLATTI, J. C. Ritos de uma Tribo Timbira. São Paulo: Ática, 1978.
MENAHEM, R. La Mort Apprivoisée. Paris: Universitaires, 1973.
MÉTRAUX, A. Les Incas. Paris: Seuil, 1962.
MITFORD, J. The American Way of Death. Nova York: Simon and Schuster,
1963.
MONFERIER, J. Le Suicide. Paris: Bordas, 1970.
MORIN, E. L'Homme et la Mort. Paris: Seuil, 1970.
MORIN, E. L'Esprit du Temps 2: nécrose. Paris: Bernard Grasset, 1975.
MORIN, E. & PIATTELLI-PALMARINI, M. (Orgs). Pour une
Anthropologie Fondamentale. Paris: Seuil, 1974.
MORON, P. Le Suicide. Paris: PUF, 1975.
MUSÉE de L'Homme. Rites de la mort. Catalogue de l'Exposition du
Laboratoire d'Ethnologie du Musée d'Histoire Naturelle. Dir. Jean Guiart.
Paris, 1979.
NIANGORAN-BOUAH, G. Le village aboune. Cahiers d'Études Africaines,
2, mai, 1960.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU). Études
Démographiques, n. 28. Nova York: 1958.
PANOFF, M. Bronislaw Mallinowski. Paris: Payot, 1972.
PERRIN, M. Il aura un bel enterrement: mort et funérailles guajiro. In:
GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et
Mondes, 1979.
RABEDIMY, J. F. Essai sur l'idéologie de la mort à Madagascar. In:
GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et
Mondes, 1979.
RAJAONARIMANANA, N. Achèvement des funérailles et offrandes de
linceuls. In: GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
RIBEIRO, D. As Américas e a Civilização. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1973.
RIBEYROL, M. Documents reccueillis dans des groupes bulgares et
macédoniens (1968-1974). In: GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort.
Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
RIVERS, W. H. The primitive conception of death. Hibbert Journal, 10,
1911-2.
RODRIGUES, J. C. Tabu do Corpo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1979.
SCHNEIDER, P. La Tentative de Suicide. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé,
1954.
SERRES, M. La thanatocratie. Critique, mars, 1972.
SOUSTELLE, G. L'indien mexicain et la mort: observation sur les rites
funéraires de quelques populations autochtones. In: GUIART, J. (Org.) Les
Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
SUDNOW, D. La Organisación Social de la Muerte. Trad. Giovanna von
Wiekhler. Buenos Aires: Tiempo Contemporaneo, 1971.
THIBAUT, O. La Maitrise de la Mort. Paris: Universitaires, 1975.
THIERRY, S. L'autre rive. In: GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort.
Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
THOMAS, L-V. Anthropologie de la Mort. Paris: Payot, 1976. THOMAS, L-
V. Mort et Pouvoir. Paris: Payot, 1978.
THOMAS, L-V. Civilizations et Divagations: mort, fantasmes et science
fiction. Paris: Payot, 1979.
THOMAS, L-V.; ROUSSET, B. & THAO, T. van (Orgs.) La Mort
Aujourd'hui. Paris: Anthropos, 1976.
THOURY, S. La dernière demeure de l'homme préhistorique. In: GUIART, J.
(Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
TOFFIN, G. Les rites funéraires des hautes castes hindouistes newar (Népal).
In: GUIART, J. (Org.) Les Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et
Mondes, 1979.
TOLSTOJ, L. N. La Morte di Ivan Ill'ic. Milão: Rizzoli, 1976.
TRUBETZKOY, J. Conduire celui qui part. In: GUIART, J. (Org.) Les
Hommes et la Mort. Paris: Le Sycomore/Objets et Mondes, 1979.
TURNER, V. The Forest of Symbols: aspects of Ndembu ritual. Ithaca, N.Y.:
Cornell University Press, 1970.
TURNER, V. O Processo Ritual. Trad. N. C. Castro. Petrópolis: Vozes,
******ebook converter DEMO Watermarks*******
1974.
URBAIN, J-D. La Societé de Conservation: étude sémiologique des
cimetières de l'Occident. Paris: Payot, 1978.
VAN GENNEP, A. Les Rites de Passage. Paris: Mouton, 1969.
VOVELLE, M. Mourir Autrefois: attitudes collectives devant la mort au
XVIIème et au XVIIIème siècles. Paris: Gallimard, 1974.
VOVELLE, M. Piété Baroque et Déchristianisation en Provence au
XVIIIème Siècle. Paris: Seuil, 1978.
ZIEGLER, J. Les Vivants et la Mort. Paris: Seuil, 1975.
******ebook converter DEMO Watermarks*******
Anda mungkin juga menyukai
- Oralidades e escritas no CandombléDokumen103 halamanOralidades e escritas no CandombléWania GrisostomoBelum ada peringkat
- Orientações Aos Pareceristas - Revista Brasileira de PsicologiaDokumen2 halamanOrientações Aos Pareceristas - Revista Brasileira de PsicologiaAvimar JuniorBelum ada peringkat
- A morte, a perda e as metamorfoses do euDokumen2 halamanA morte, a perda e as metamorfoses do euAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Claude Lévi-Strauss Por Eduardo Viveiros de CastroDokumen10 halamanClaude Lévi-Strauss Por Eduardo Viveiros de CastroGustavoPiraBelum ada peringkat
- As Tres Inteligencias Versao Correta DoDokumen1 halamanAs Tres Inteligencias Versao Correta DoAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Edital Fórum LaipvDokumen5 halamanEdital Fórum LaipvAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Met A Psicologia FreudDokumen31 halamanMet A Psicologia FreudCiça Vicente de AzevedoBelum ada peringkat
- Expediente - Revista Brasileira de PsicologiaDokumen3 halamanExpediente - Revista Brasileira de PsicologiaAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Thiago Naga Fuc Hire Visa DaDokumen219 halamanThiago Naga Fuc Hire Visa DaLrbAeiBelum ada peringkat
- O Olá Pessoal Hoje A Gente Vai FalarDokumen13 halamanO Olá Pessoal Hoje A Gente Vai FalarAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Compreensão Do Suicídio Na Visão de Três Correntes Psicológicas: Teoria Psicanalítica, Teoria Sistêmica e Existencial-FenomenológicaDokumen24 halamanCompreensão Do Suicídio Na Visão de Três Correntes Psicológicas: Teoria Psicanalítica, Teoria Sistêmica e Existencial-FenomenológicaMariane JacquesBelum ada peringkat
- Edição Especial - II PSINEP - Revista Brasileira de PsicologiaDokumen4 halamanEdição Especial - II PSINEP - Revista Brasileira de PsicologiaAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Estrutura Dados SIM CD-ROMDokumen7 halamanEstrutura Dados SIM CD-ROMAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Met A Psicologia FreudDokumen31 halamanMet A Psicologia FreudCiça Vicente de AzevedoBelum ada peringkat
- Frankl, Viktor Emil - Gonçalves, Francisco J - O Homem em Busca de Um Sentido-Lua de Papel (2012)Dokumen43 halamanFrankl, Viktor Emil - Gonçalves, Francisco J - O Homem em Busca de Um Sentido-Lua de Papel (2012)Raphael RamosBelum ada peringkat
- Principios Elementares de Filosofia - Georges PolitzerDokumen112 halamanPrincipios Elementares de Filosofia - Georges Politzerjalexandm100% (7)
- O Olá Pessoal Hoje A Gente Vai FalarDokumen13 halamanO Olá Pessoal Hoje A Gente Vai FalarAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Escala TempDokumen1 halamanEscala TempAvimar JuniorBelum ada peringkat
- IANNI, Octavio e Outros. Negro e o SocialismoDokumen86 halamanIANNI, Octavio e Outros. Negro e o Socialismoviviane.bitencourtBelum ada peringkat
- O Olá Pessoal Hoje A Gente Vai FalarDokumen16 halamanO Olá Pessoal Hoje A Gente Vai FalarAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Relatorio Inspecao Nacional Hospitais Psiquiatricos FINAL WEB PDFDokumen546 halamanRelatorio Inspecao Nacional Hospitais Psiquiatricos FINAL WEB PDFAvimar JuniorBelum ada peringkat
- ArtigoDokumen25 halamanArtigoAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Adolescência e Psicologia Sócio-HistóricaDokumen11 halamanAdolescência e Psicologia Sócio-HistóricaMauro MoreiraBelum ada peringkat
- TituloDokumen12 halamanTituloAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Manguebeat: música vanguardista no RecifeDokumen122 halamanManguebeat: música vanguardista no RecifeKeka LopesBelum ada peringkat
- Edital 664 - Abertura - Prof Efetivo - Fafich (Psicologia) - Dou 24-09-2019Dokumen4 halamanEdital 664 - Abertura - Prof Efetivo - Fafich (Psicologia) - Dou 24-09-2019Avimar JuniorBelum ada peringkat
- Esboço Programa 30-08-2019Dokumen3 halamanEsboço Programa 30-08-2019Avimar JuniorBelum ada peringkat
- Auto Mutilaçao CuttingDokumen2 halamanAuto Mutilaçao CuttingFlviaBelum ada peringkat
- Campanha Setembro AmareloDokumen2 halamanCampanha Setembro AmareloAvimar JuniorBelum ada peringkat
- Setembro Amarelo - 2019 - ProgramaçãoDokumen3 halamanSetembro Amarelo - 2019 - ProgramaçãoAvimar JuniorBelum ada peringkat
- História da multiplicação e divisão ao longo dos temposDokumen14 halamanHistória da multiplicação e divisão ao longo dos temposRodrigues Bonifácio SitoeBelum ada peringkat
- Catalogo ManutanDokumen250 halamanCatalogo ManutanAntonio SilvaBelum ada peringkat
- Medicina Legal PCMGDokumen44 halamanMedicina Legal PCMGGabriel OliveiraBelum ada peringkat
- Tabela de Valores de ProteseDokumen2 halamanTabela de Valores de ProteseJulio Cesar FredlerBelum ada peringkat
- ÉticaDokumen2 halamanÉticaPaulo Andrade II100% (1)
- Comlurb higieniza comunidades para combater o coronavírusDokumen96 halamanComlurb higieniza comunidades para combater o coronavírusPriscila PortelaBelum ada peringkat
- Turbinas A GasDokumen37 halamanTurbinas A GaswiredrawingBelum ada peringkat
- A História de Uma ÁrvoreDokumen10 halamanA História de Uma ÁrvoreValeria MartinsBelum ada peringkat
- São Cristóvão 3174B: Bom Sucesso Lavras Via IjaciDokumen7 halamanSão Cristóvão 3174B: Bom Sucesso Lavras Via IjaciJandir BritesBelum ada peringkat
- Higiene do sonoDokumen1 halamanHigiene do sonoFrann CostaBelum ada peringkat
- Guia prático de língua portuguesa para assessores e estagiáriosDokumen166 halamanGuia prático de língua portuguesa para assessores e estagiáriosSenafgv SenafgvBelum ada peringkat
- Modelagem plana masculina: camisa socialDokumen79 halamanModelagem plana masculina: camisa socialRafael Plata100% (4)
- Elementos de um trabalho científico: estrutura e normasDokumen3 halamanElementos de um trabalho científico: estrutura e normasAnifa Francisco caetanoBelum ada peringkat
- Controle Qualidade MedicamentosDokumen28 halamanControle Qualidade MedicamentosYoseph Abi100% (1)
- PORTUGUÊSDokumen3 halamanPORTUGUÊSEDUARDA SCHNEIDER DA SILVABelum ada peringkat
- Ossos RecreativosDokumen6 halamanOssos RecreativoslucasgoishBelum ada peringkat
- O Framework Da Coalizão de AdvocaciaDokumen19 halamanO Framework Da Coalizão de AdvocaciaIzzadora PorcoteBelum ada peringkat
- Rossano Cabral Lima - Somos Todos DesatentosDokumen185 halamanRossano Cabral Lima - Somos Todos DesatentosLuiz Ricardo Oliveira100% (1)
- FT Eucon 200 - 2016-04-27Dokumen3 halamanFT Eucon 200 - 2016-04-27Gilberto CoelhoBelum ada peringkat
- 19 Melhores Exercícios Com TRX (Treinamento Suspenso)Dokumen13 halaman19 Melhores Exercícios Com TRX (Treinamento Suspenso)Marcio De Souza RochaBelum ada peringkat
- Propagação Vegetativa de Espécies FlorestaisDokumen19 halamanPropagação Vegetativa de Espécies FlorestaisPedro LuizBelum ada peringkat
- PORTFÓLIO Adaptando Atividades em Sala de AulaDokumen2 halamanPORTFÓLIO Adaptando Atividades em Sala de AulaIrineu Pereira Campos HeleuterioBelum ada peringkat
- Prema Dhama Deva StotramDokumen13 halamanPrema Dhama Deva StotramMaria Celeste Camargo CasemiroBelum ada peringkat
- Avaliação Dos Erros Associados Ao Material de VidrosDokumen27 halamanAvaliação Dos Erros Associados Ao Material de VidrosLuana Aires67% (3)
- Manual Do Usuario Panasonic KX-TES32Dokumen172 halamanManual Do Usuario Panasonic KX-TES32cristiano.teltronicBelum ada peringkat
- Folha: 103: Assinado Digitalmente Via SIGED Decreto N.º 42.727 - 08/09/2020Dokumen9 halamanFolha: 103: Assinado Digitalmente Via SIGED Decreto N.º 42.727 - 08/09/2020thiagoBelum ada peringkat
- DetergenteDokumen7 halamanDetergenteMariBelum ada peringkat
- Lista de Códigos Da ICUDokumen2 halamanLista de Códigos Da ICUJoão Vitor NatalgiacomoBelum ada peringkat
- Educação socioemocional na BNCCDokumen28 halamanEducação socioemocional na BNCCsergioefisicaBelum ada peringkat
- Guia SPDA SFVDokumen31 halamanGuia SPDA SFVfabio100% (1)