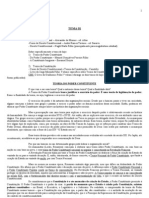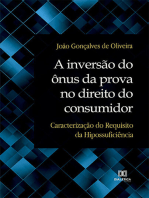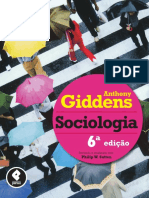Normas jurídicas, vigência e direito intertemporal no Direito Civil
Diunggah oleh
Eduardo ParreiraDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Normas jurídicas, vigência e direito intertemporal no Direito Civil
Diunggah oleh
Eduardo ParreiraHak Cipta:
Format Tersedia
EMERJ – CP I Direito Civil I
Tema I
Norma Jurídica. Diferenças entre norma jurídica e norma moral. Fontes da norma jurídica ou fontes do
direito. Vigência da norma jurídica. Repristinação. Vaccatio legis. Obrigatoriedade. A integração e
aplicação da lei segundo os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. Vigência temporal e
espacial da norma. Conflitos no espaço e no tempo. Disposições transitórias.
Notas de Aula
1. Vigência e Vigor das Normas Jurídicas
Antes de se analisar pontualmente a Lei de Introdução ao Código Civil, é
interessante se traçar uma diferença entre os termos vigência e vigor da norma. Vigência é
um critério temporal, pois é o momento em que a lei existe formalmente, desde sua
publicação até sua revogação. Vigor, por sua vez, é a capacidade de produzir efeitos, é
critério material, e não formal. Assim, uma norma que já foi revogada, quando produz
efeitos, se fala que tem vigor, mesmo não tendo vigência.
Assim, a LICC, no seu artigo 1°, foi técnica ao mencionar que a lei começa a
vigorar, e não entra em vigência, em quarenta e cinco dias. Veja:
“Artigo 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país
quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.
§ 1o Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando
admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada.
§ 2o A vigência das leis, que os Governos Estaduais elaborem por autorização do
Governo Federal, depende da aprovação deste e começa no prazo que a legislação
estadual fixar.
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto,
destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a
correr da nova publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.”
Outra consignação importantíssima acerca deste dispositivo é sobre a contagem do
prazo de quarenta e cinco dias: esta contagem, assim como qualquer contagem de prazos de
entrada em vigor, deve, para parte da doutrina, incluir o dia de início e incluir o dia final,
de acordo com a Lei Complementar 95/98, no artigo 8°, § 1°.
Vejamos o exemplo mais controvertido que há, o do Código Civil de 2002. Este
diploma foi sancionado e promulgado em 10/1/2002; a sua publicação ocorreu em
11/01/2002, sendo este o dies a quo de contagem do prazo. O artigo 2.044 do CC prevê:
“Artigo 2.044. Este Código entrará em vigor 1 (um) ano após a sua publicação.”
Há uma enorme discussão sobre a contagem deste prazo, havendo três correntes. A
primeira, majoritária, entende que deve ser aplicada a Lei Complementar 95/98, que trata
das normas para elaboração legislativa, no artigo 8°:
“Artigo 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a
contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a
cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena
repercussão.
Michell Nunes Midlej Maron 1
EMERJ – CP I Direito Civil I
§ 1o A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período
de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo,
entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
§ 2o As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta
lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial’”
Ocorre que o CC dispôs, no citado artigo 2.044, que o prazo é de um ano. Outra
discussão surge: este um ano é “trezentos e sessenta e cinco dias”, ou é até o dia
correspondente do ano seguinte? Segundo o artigo 132, § 3°, do próprio CC, assim se
configura:
“Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os
prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até
o seguinte dia útil.
§ 2o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
§ 4o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.”
Assim, o ano é até o dia correspondente do ano seguinte, e não trezentos e sessenta
e cinco dias. Desta forma, tendo o CC sido publicado em 11/1/2002, este entraria em vigor
em 12/1/2003, um ano após, incluídos o dia de início e o dia final, para esta corrente.
Em resumo: há um primeiro entendimento que defende o dia 11/1/2003 como termo
inicial do vigor do CC de 2002, argumentando não se aplicar o artigo 8° da LC 95/98,
porque a vaccatio do CC de 2002 deveria ser estabelecida em dias, e não em ano. Uma
segunda corrente também defende que o termo inicial é dia 11/1/2003, por entender que o
artigo 2.044 do CC deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 8° da LC 95/98,
devendo a referência a “um ano” ser lida como trezentos e sessenta e cinco dias – o mesmo
argumento da primeira corrente, portanto, só que construído de forma diferente. E uma
terceira corrente, minoritariíssima, defende que se aplica a LC 95/98, nos seus termos,
culminando no vigor em 12/1/2003.
O STJ, segundo corrente majoritária, entende que o CC entrou em vigor no dia
11/1/03, e não no dia 12.
2. Repristinação
Consiste na revogação da lei revogadora, quando, então, a lei original volta a viger.
A LICC permite a repristinação, desde que a lei final, revogadora da lei revogadora, fizer
expressa menção de que a lei inicial volta a ter vigência.
“Artigo 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência.”
Michell Nunes Midlej Maron 2
EMERJ – CP I Direito Civil I
Há de ser apontado um detalhe fundamental: quando a lei não é revogada, e sim
nulificada (inclusive mediante declaração de inconstitucionalidade), o que se dá é o efeito
repristinante, e não a repristinação: a lei anterior, revogada por aquela que foi nulificada,
vai voltar a ter vigência, pois a lei que a revogara, quando nulificada, simplesmente não
produziu efeitos quaisquer, inexistindo, inclusive, o efeito da revogação da lei original – é
como se nunca houvesse sido revogada (guardando a ressalva quanto à possível modulação
de efeitos da declaração de inconstitucionalidade).
É simples: na repristinação, há três diplomas envolvidos, um inicial, um outro que o
revoga, e um terceiro que revoga o segundo, que, se mencionar expressamente, faz com que
o primeiro volte a viger. No efeito repristinante, há apenas dois diplomas: um inicial, e um
que o revoga e que, posteriormente, é nulificado, declarado inconstitucional pelo STF. O
fundamento legal para o efeito repristinante é o artigo 11, § 2°, da Lei 9.868/99:
“Artigo 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar
em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a
parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações
à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o
procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo.
§ 1o A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito
ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.
§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso
existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.”
A norma fala em medida cautelar, mas a interpretação é extensiva para as decisões
finais de mérito das ações diretas do controle concentrado.
3. Direito Intertemporal
Vejamos, de início, uma questão bastante peculiar, a ser bem explicitada em um
exemplo: em 1990, entra em vigor o CDC; em 1991, pessoa celebra contrato de promessa
de compra e venda, em que fica estabelecida cláusula penal de dez por cento pela mora; em
1998, a Lei 9.298 alterou o artigo 52 do CDC, reduzindo o teto da multa para dois por
cento. Em 2008, ainda correndo as prestações do dito contrato, o devedor entra em mora de
uma das prestações. Qual será a multa a ser cobrada, dois ou dez por cento?
O STJ, enfrentando a questão, decidiu que é incidente a multa de dez por cento.
Veja: o raciocínio vem da leitura da CRFB, no artigo 5°, XXXVI, que prevê a
irretroatividade das leis, ou retroatividade excepcional:
“(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
(...)”
A retroatividade é um instituto que pode ser estudado em três graus: retroatividade
máxima, média e mínima. A retroatividade máxima e a média implicam na aplicação da lei
nova a fatos ocorridos antes da sua vigência. A máxima consiste na aplicação da lei nova
inclusive sobre direitos já incorporados ao patrimônio do indivíduo; a média, é a incidência
sobre o fato anterior, com exigibilidade ocorrida em momento posterior à nova lei. Na
doutrina, é incontroversa a inexistência da retroatividade máxima e média, no Brasil
Michell Nunes Midlej Maron 3
EMERJ – CP I Direito Civil I
A retroatividade mínima, por sua vez, é a que gera discussões sobre sua existência
ou não. Consiste na aplicação da lei nova a fatos posteriores a sua vigência, sendo a causa
do fato anterior à nova lei. Existem dois entendimentos quanto a esta possibilidade: o
primeiro, majoritário na doutrina cível, entende que a retroatividade mínima não ofende a
CRFB, por se tratar, em verdade, tecnicamente, de mera aplicação imediata da lei nova a
fatos que já estão sob sua égide. Esta teoria parte da distinção que Paul Roubier fazia entre
fatos pretéritos e fatos pendentes, sendo possível aplicar-se a lei nova a fatos pendentes.
A segunda corrente, da qual comunga o STF, tendo se manifestado assim na ADI
493, determina que a retroatividade mínima não deve ser aplicável, já que o artigo 5°,
XXXVI, da CRFB, não prevê qualquer restrição em relação aos graus de retroatividade. Se
uma lei nova é aplicada a um fato posterior a ela, mas indiretamente é ofendido um ato
jurídico perfeito que lhe serve de causa, ela será retroativa, e portanto inconstitucional. Por
isso, no exemplo dado, para o STF valeria a cláusula penal dos dez por cento,
privilegiando-se a causa, o contrato, ato jurídico perfeito (este entendimento também é o do
STJ).
Na ADI 493, o STF posicionou-se de forma claramente contrária à retroatividade
mínima, já que o artigo 5°, XXXVI da CRFB não prevê qualquer restrição em relação aos
graus de retroatividade tolerada ou tolerável. Se uma lei nova é aplicada ao fato posterior a
ela, mas indiretamente é ofendido um ato jurídico perfeito que serve de causa a este fato
posterior, ela será considerada retroativa, e por isso inconstitucional, em ofensa direta aos
limitadores do artigo 5°, XXXVI, da CRFB.
O artigo 2.035 do CC poderia suscitar questionamentos. Veja:
“Artigo 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes
da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas
no artigo 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos
preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes
determinada forma de execução.
Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem
pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social
da propriedade e dos contratos.”
Dali se depreende que o que ocorreu antes do novo CC submete-se ao CC de 1916,
mas seus efeitos são subjugados à lei de agora, ao CC de 2002. Para os civilistas, a
retroatividade em grau mínimo não deve ser chamada retroatividade, pois é mera aplicação
imediata da lei; para o STF, é retroatividade mínima, e é inconstitucional.
3.1. Alteração de Regime de Bens do Casamento
Questão que merece especial atenção é a inovação trazida no artigo 1.639, § 2°, do
CC:
“Artigo 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular,
quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.
§ 1o O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do
casamento.
§ 2o É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em
pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões
invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.”
Michell Nunes Midlej Maron 4
EMERJ – CP I Direito Civil I
Esta previsão não existia no CC de 1916. Por isso, uma questão surge: é aplicável
este § 2° a casamentos celebrados antes da sua vigência, ou seja, poderia o casal casado
antes de 2002 alterar o seu regime de bens? O STJ já se pronunciou a respeito: o artigo
2.039 estabelece:
“Artigo 2.039. O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código
Civil anterior, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, é o por ele estabelecido.”
O STJ vem decidindo ser possível a alteração, por uma aplicação imediata daquele
artigo 1.639, § 2°, do CC, tal como prevê o artigo 2.035 do CC, na segunda parte –
reconhecendo, portanto, a retroatividade mínima:
“Artigo 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes
da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas
no artigo 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos
preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes
determinada forma de execução.
(...)”
O artigo 2.039 não impede a aplicação imediata do artigo 1.639, § 2°, por ser uma
regra geral, aplicável a todos os regimes, só não sendo possível aplicar a casamentos
anteriores as regras específicas de cada um dos regimes de bens.
Atente-se, porém, que a alteração é exceção: a regra é a manutenção do regime. Para
se alterar, somente judicialmente, e mediante motivação bastante para tal. Como exemplo
de motivo hábil, o casamento que havia sido pactuado em separação obrigatória de bens,
em razão da incapacidade de um dos cônjuges, incapacidade esta que cessou: o regime
pode ser alterado, então.
Michell Nunes Midlej Maron 5
EMERJ – CP I Direito Civil I
Casos Concretos
Questão 1
Pastoril Agrícola S/A interpõe ação declaratória de inexistência de débito em face
do INSS, tempestivamente, insurgindo-se em relação à cobrança de contribuições
previdenciárias patronais posteriormente a 25.04.97, haja vista que nesta data foi
declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 8.870/94, que majorou ditas contribuições,
revogando o que antes estabelecia a Lei nº 8.212/91. Argumenta que o INSS pretende que,
a partir da data em que foi publicada a declaração de inconstitucionalidade, a autora
pague o valor definido na Lei nº 8.212/91, o que não se mostra lícito, haja vista que o
dispositivo que estabelecia a contribuição foi revogado, não sendo possível, pois, ocorrer a
sua repristinação, à vista de expressa disposição na Lei de Introdução ao Código Civil
(artigo 2º, § 3º). Assim, até que seja editada nova lei impondo a contribuição, descabe
qualquer cobrança. Como Juiz, como o aluno resolveria a questão?
Resposta à Questão 1
Não assiste razão à autora. A repristinação, de fato, só pode ocorrer de forma
expressa, sendo vedada a repristinação lógica, sem expressa menção na revogação. Ocorre
que a declaração de inconstitucionalidade não é revogação: tem efeitos nulificantes da lei
revogadora, que é extirpada do ordenamento, e por isso a lei anterior passa a ter vigência
novamente. A lógica é que se a lei era inconstitucional, em princípio jamais produziu
efeitos, inclusive o efeito de revogar a lei anterior. A isso denomina-se efeito repristinante
da declaração de inconstitucionalidade, e não repristinação propriamente dita.
Questão 2
O Condomínio Reality Shopping propôs ação de cobrança de cotas condominiais
em atraso, referente ao período de setembro de 2002 a março de 2003, em face de Jandira
Mendes.
Em contestação, insurge-se a Ré contra a cobrança de multa de 20%, sustentando
que o novo Código Civil, em seu artigo 1.336, parágrafo 1º estabeleceu a limitação da
multa em 2%, revogando disposição que permitia à Convenção Condominial estipular a
multa que lhe aprouvesse.
Decida a questão.
Resposta à Questão 2
Pela orientação do STJ, deve ser aplicada a multa de vinte por cento da convenção
aos atrasos de setembro de 2002 a janeiro de 2003, e a multa de dois por cento do artigo
1.336, § 1°, do CC, para os meses de fevereiro e março de 2003. O STJ entende que a multa
de condomínio deste artigo 1.336, § 1°, do CC de 2002, é aplicável para os atrasos
posteriores a 11/1/2003, admitindo portanto a retroatividade mínima. Para esta corte, o
artigo 12, § 3°, da Lei 4.591/64, que previa o limite de 20%, foi tacitamente revogado pelo
artigo 1.336, § 1°. Ocorre que o STJ se confunde, vez que mescla conceitos de vigência e
Michell Nunes Midlej Maron 6
EMERJ – CP I Direito Civil I
vigor: é certo e indiscutível que a lei foi revogada tacitamente, perdendo vigência, mas não
perdeu vigor, vez que alcança, para os efeitos, a previsão havida à época da causa – tendo
vigor, eficácia, portanto. Além disso, a natureza da convenção de condomínio, para o STJ,
cria obrigações renováveis periodicamente, permitindo a aplicação imediata da lei nova.
Para o STF, da mesma forma, tem razão, em parte, a Ré. As cotas condominiais de
fevereiro e março de 2003 são sujeitas ao Código Civil atual, que tem vigência desde 11 de
janeiro de 2003, mas as cotas de setembro a dezembro de 2002 ainda são sujeitas ao regime
do Código de 1916, posto que são atos jurídicos aperfeiçoados antes da vigência do novel
codex. Por isso, o pedido seria parcialmente procedente, vez que só se impõe a multa de
vinte por cento às parcelas anteriores ao novo CC.
Questão 3
O ordenamento jurídico possibilita a retroatividade da lei?
Resposta à Questão 3
Quando normas há que regulam o mesmo aspecto jurídico, a solução é buscada no
direito intertemporal: a regra está no artigo 6º da LICC.
O primeiro aspecto a ser considerado é o da irretroatividade da nova lei, ou seja, o
novo dispositivo tem efeito geral e imediato. Veja, porém, que esta irretroatividade não é
absoluta: a lei poderá retroagir, desde que nela conste tal possibilidade, e desde que não
aflija coisa julgada, direito adquirido e ato jurídico perfeito na vigência da lei antiga. A
irretroatividade também é preceito constitucional, pois é guia geral de todos os âmbitos do
direito, e não só dos direitos privados.
O nosso sistema, em verdade, é o da retroatividade mínima, quando a
irretroatividade se mitiga, mas não pela incursão sobre direito adquirido, coisa julgada ou
ato jurídico perfeito, inatingíveis: mitiga-se pois admite-se a inovação legal sobre os efeitos
que porventura se estendam desde o antigo dispositivo legal até o novo. Retroatividade
média seria a que atinge direito adquirido, e máxima a que pode atingir coisa julgada,
direito adquirido e ato jurídico perfeito. Vejamos os conceitos dos limites à retroação:
- Ato Jurídico Perfeito: É o ato que se fez completo, regular e acabado na vigência
do dispositivo anterior. Veja: o ato que foi perfeito (no sentido de perfazer) não pode
ser atingido pela nova lei, premiando-se a segurança jurídica. Note que os efeitos
dos atos que se estenderem após a entrada em vigor do novo dispositivo serão, sim,
regulados pela nova lei (artigo 2035, CC).
- Coisa Julgada: A sentença transitada em julgado, que adquiriu a qualidade de
imutabilidade material, não será modificada se incompatível com o novo teor legal.
- Direito Adquirido: Qualquer vantagem já incorporada ao patrimônio ou à
personalidade de alguém não pode ser retirada pela lei nova. Veja: se a fonte
daquele direito é idônea, e os requisitos para que este direito se tenha configurado
estão presentes, este considera-se adquirido, mas se não estão todos os requisitos
Michell Nunes Midlej Maron 7
EMERJ – CP I Direito Civil I
presentes, o direito considera-se em expectativa, ainda não adquirido – quando
poderá ser atingido pela nova lei.
Vejamos um exemplo: a redução da maioridade de 21 para 18 anos, tornou
automaticamente os maiores de 18 e menores de 21 em maiores de idade, não
podendo jamais os maiores de 18, à época da promulgação do NCC, alegar que
tinham direito adquirido a ser maiores somente aos 21 anos, pois este requisito – os
21 anos completos – estava ausente, sendo expectativa de direito, e não direito
adquirido. A título de ilustração, se fosse o contrário – a maioridade dilatada de 18
para 21 –, aqueles que houvessem completado os 18 anos antes da lei que postergou
para os 21, poderiam alegar o direito adquirido à maioridade com 18 anos – pois a
fonte do direito é idônea (CC antigo) e os requisitos à aquisição do direito à época
(18 anos) estavam presentes, não podendo a nova lei modificá-los.
Questão 4
JOÃO e MARIA, na condição de filhos de JOSÉ, morto em atropelamento ocorrido
em 1998, ingressaram em Juízo pleiteando o pagamento do seguro DPVAT, no montante de
quarenta salários mínimos. A ação foi ajuizada em 2004. A seguradora acionada apresenta
contestação argumentando que à época do falecimento estava em vigor a Lei nº 6.194/74,
que estabelecia para pagamento a necessidade de apresentação de prova da quitação do
seguro, o que não foi feito, aduzindo ainda que, em razão de não ter sido identificado o
veículo, a indenização, se devida, seria de somente vinte salários mínimos, como
expressamente previsto na lei então em vigor.
Em réplica, os autores asseveram que deve ser observada a lei atual, que exige
apenas a apresentação do atestado de óbito, registro de ocorrência e prova de condição de
dependente, sendo ainda que não cabe mais distinção entre veículos segurados ou não
segurados. Argumentam que, apesar de o fato ter ocorrido na vigência da lei nº 6.194/74,
deve ser aplicada a lei em vigor, a qual é mais benéfica, isso em razão do caráter social da
questão. Como Juiz, como você decidiria o processo?
Resposta à Questão 4
Infelizmente, tem razão a seguradora. Ocorre que tem vigência no Brasil o princípio
tempus regit actum, em que a lei que está em vigor deve ser observada, salvo se nova
previsão expressa sobre a retroação vier a integrar a nova lei que a substitui no
ordenamento. In casu, não há tal previsão, pelo quê a lei a ser observada, na solução
intertemporal do direito, é a da época de ocorrência do sinistro. O ato ensejador da
obrigação do seguro surgiu na época da vigência da Lei 6.194/74. Esta é a posição do STF
Nas apelações 2002.001.1539-3, e 2003.001.1642-1, o TJ/RJ decidiu em sentido
contrário, prestigiando a natureza da ordem pública da lei nova, que beneficia os
padecentes do sinistro com menos exigências.
Michell Nunes Midlej Maron 8
EMERJ – CP I Direito Civil I
Tema II
Situação e relação jurídica de Direito Privado: conceito e aspectos gerais. Direito Subjetivo. Conceito.
Classificação. Objeto. Direito Potestativo. Faculdade jurídica. Simples faculdade. Poder-Dever Jurídico.
Ônus.
Notas de Aula
1. Situação e Relação Jurídica
Relação jurídica é a relação social qualificada pela norma jurídica, que surgirá no
momento em que a relação se tornar relevante socialmente, por colocar em risco (se liberta
de normas) a harmonia e a tranqüilidade sociais. Esta relação pressupõe a existência de
pessoas, sujeitos ativo e passivo, que têm entre si o vínculo jurídico, em torno de um objeto.
Uma relação de amizade não é relação jurídica. É mera relação social, sem atenção
do Estado, sem tutela jurídica, pois não interfere na ordem social. Já a união homoafetiva é
um exemplo de relação jurídica: mesmo não sendo uma relação típica da lei, um instituto
reconhecido expressamente, esta merece atenção do Estado, na medida em que é
representativa na sociedade, e sua presença freqüente gera conflitos sociais que merecem
tutela estatal. Por isso, a tendência do ordenamento é reconhecer a tutela estatal sobre esta
relação, entendendo-a como relação jurídica.
Voltando ao conceito, são sujeitos da relação jurídica única e exclusivamente as
pessoas, jamais podendo haver relação jurídica entre pessoas e bens (ao contrário do que
chegou a apregoar a teoria realista da relação jurídica, veemente e eficazmente rechaçada
pela teoria personalista, hoje vigente). Os bens jurídicos são, sempre, objeto da relação. O
vínculo jurídico, por sua vez, é a especial atenção da lei, do ordenamento, à relação em
questão.
Situação jurídica, por sua vez, consiste em uma posição jurídica de vantagem que o
ordenamento jurídico concretiza, podendo ser unissubjetiva ou plurissubjetiva – no que já
difere da relação jurídica, sempre plurissubjetiva. O dever jurídico é uma imposição legal a
determinado sujeito, e que não cria uma relação jurídica, com isso. Como exemplo, os
deveres inerentes ao casamento1, previstos no artigo 1.566 do CC:
“Artigo 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.”
Vejamos um exemplo mais radical: a obrigação de “não matar” pode ser
considerada uma obrigação, tecnicamente? Na verdade, não: é um dever jurídico, pois a
obrigação exige a existência de sujeitos unidos pelo vínculo jurídico, e natureza patrimonial
– a imposição negativa do CP aos homicídios é um dever, e não uma obrigação, em sentido
técnico. A lei não cria obrigações, mas sim só deveres.
1
Há quem defenda que esta imposição de deveres, especialmente a de fidelidade, é inconstitucional, pois
representa intervenção excessiva do Estado na vida privada.
Michell Nunes Midlej Maron 9
EMERJ – CP I Direito Civil I
O CC acompanhou este raciocínio, pois no artigo 1° estabelece que “Toda pessoa é
capaz de direitos e deveres na ordem civil”, ao contrário do que previra o CC de 1916, ao
mencionar no extinto artigo 2° que “Todo homem é capaz de direitos e obrigações na
ordem civil”. A retirada da expressão “obrigação”, substituindo-a por “dever”, foi uma
opção técnica do legislador, pois toda obrigação é um dever, mas nem todo dever é uma
obrigação. Em toda obrigação, há o dever do sujeito passivo em realizar sua prestação.
Ocorre que pode haver dever desvinculado de qualquer relação obrigacional, por não ter
natureza patrimonial e ser imposto por lei.
1.1. Direito Subjetivo
É o direito de invocar uma faculdade, a qual decorre de um direito objetivo. Há três
correntes a disputar a conceituação do direito subjetivo. A primeira, denominada teoria da
vontade, ou psicológica, proveniente da Alemanha, defende que direito subjetivo consiste
num poder da vontade. Crítica a esta teoria seria que o absolutamente incapaz tem uma
vontade considerada irrelevante para o ordenamento jurídico, e, no entanto, titulariza
direitos subjetivos – o que seria uma incongruência conceitual insuperável.
A segunda corrente, capitaneada por Ihering, defende que o direito subjetivo é um
interesse juridicamente protegido, pelo quê seria denominada teoria do interesse. A ´´única
crítica a esta teoria é que não se poderia tutelar interesse arbitrário, e desprovido de uma
função.
O Brasil adotou a terceira corrente, que na verdade é uma teoria mista: o direito
subjetivo, no Brasil, consiste num poder da vontade para a satisfação de um interesse, ou
seja, uma faculdade que o ordenamento disponibiliza ao titular, permitindo que seja exigido
do sujeito passivo o cumprimento de um dever.
Assim, resta claro que o direito subjetivo cria uma relação jurídica: entre sujeito
ativo e passivo, surge uma obrigação a ser satisfeita pelo segundo ao primeiro, em atenção
a um direito subjetivo do primeiro.
Surge, então, uma questão a ser solucionada: os direitos subjetivos absolutos.
Tomemos um exemplo: o direito de propriedade, oponível erga omnes, tem por sujeito
ativo o proprietário, e por sujeito passivo toda a coletividade. Seria possível esta
vinculação, em uma relação jurídica, de todos os demais indivíduos? A doutrina majoritária
entende que não há qualquer óbice à formação desta relação jurídica, mas há tese que
defende não haver relação jurídica com sujeito passivo universal, tendo sido esta uma
solução doutrinária para algo insolúvel: como não havia como se identificar o sujeito
passivo, se colocou nesta posição todos os indivíduos. Críticas à parte, vige hoje,
praticamente pacífica, a possibilidade do sujeito passivo universal.
Em suma: direitos subjetivos absolutos – direitos reais e direitos da personalidade –,
têm por sujeito passivo a coletividade universal de pessoas, segundo a corrente
absolutamente majoritária. O dever do sujeito passivo é não violar o direito subjetivo em
questão. Para uma corrente insignificante, porém, não há relação jurídica com sujeito
passivo indeterminado, este devendo ser determinado ou determinável; para esta corrente, a
proteção jurídica que o legislador confere ao titular do direito absoluto é uma mera
situação jurídica, sem sujeito passivo, unissubjetiva. O fato de existir um dever jurídico
universal, de não violar o direito real ou os direitos da personalidade do sujeito ativo, não
Michell Nunes Midlej Maron 10
EMERJ – CP I Direito Civil I
faz da sociedade em geral sujeito passivo da relação, pois do contrário ela também seria
sujeito passivo em relações obrigacionais, já que todos devem respeitar o crédito alheio.
1.2. Direito Potestativo
Assim como o direito subjetivo, o direito potestativo cria uma relação jurídica. No
direito potestativo, o sujeito passivo se submete à vontade do titular, que pode interferir na
esfera jurídica alheia, para criar, modificar ou extinguir a relação jurídica. É a capacidade
de interferir na relação sem que o sujeito passivo possa fazer nada. No direito subjetivo, por
sua vez, há o dever imposto ao sujeito passivo em relação ao sujeito ativo, razão pela qual
pode haver a violação de um direito subjetivo, mas nunca poderá haver a violação de um
direito potestativo.
Um exemplo de direito potestativo seria o de anular, em sentido amplo: se há
qualquer motivo para anular qualquer negócio ou relação, não há nada que o sujeito passivo
possa fazer para impedir tal direito e se efetivar. Veja que a eventual necessidade de se
buscar a efetivação do direito por via judicial não desconfigura sua natureza de direito
potestativo, pois por vezes a auto-executoriedade é impossível. Como exemplo, a
revogação de um mandato, é direito potestativo auto-executável, sem necessidade da
intervenção do Judiciário, mas a separação litigiosa, extinguindo o casamento, é direito
potestativo que só se executa por via judicial.
1.3. Prescrição e Decadência
Há uma consideração inicial a ser consignada que resolve um problema anciente: o
da identificação da natureza de um prazo, se prescricional ou decadencial. No CC, todos os
prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206; o prazo que estiver previsto em
qualquer outro dispositivo, é prazo decadencial. Este é um bom exemplo de atenção à
diretriz da operabilidade, traçada por Miguel Reale na elaboração do CC de 2002, pois
acabou com discussões inócuas sobre este tema, ao menos quanto aos prazos previstos no
CC (restando a discussão apenas quanto aos prazos previstos fora do CC).
1.4. Situações Jurídicas Secundárias
A primeira é a simples faculdade, que consiste na simples possibilidade de ser
criada uma relação jurídica. Como exemplo, a faculdade de contratar, de testar, ou mesmo
de se casar. A faculdade jurídica, de outro lado, consiste em um elemento integrante do
direito subjetivo, pois é do âmago de um direito subjetivo a existência de uma faculdade
que o induza.
A segunda é o poder-dever: esta situação consiste na imposição de uma conduta que
beneficia terceiro, se realizada. Como exemplo, o poder familiar, que se bem cumprido,
promove benesse ao filho, a ele submetido.
Última situação é o ônus: consiste na imposição de uma conduta que, se realizada,
traz benefício ao praticante. Como exemplo, o ônus probatório: se o titular do ônus cumprir
a prerrogativa de provar, será ele próprio beneficiado pela conduta.
Michell Nunes Midlej Maron 11
EMERJ – CP I Direito Civil I
Casos Concretos
Questão 1
Direitos subjetivos e direitos potestativos:
a) Qual a diferença conceitual entre as duas categorias?
b) Um exemplo de cada.
c) Os direitos potestativos sujeitam-se à prescrição?
Resposta à Questão 1
a) Direitos subjetivos são aqueles que demandam a atuação de alguém para serem
implementados, não podendo ser efetivados pelo seu próprio titular. Se
desatendida a pretensão a sua efetivação, geram a lide, a ser solvida no
judiciário. Direitos potestativos, por sua vez, são aqueles que o próprio titular
tem como efetivar de per si, sem que seja necessária a atuação de nenhum ente
externo.
b) Exemplo de direito subjetivo é o direito a receber uma indenização. Direito
potestativo, o direito de anular, lato sensu.
c) Os direitos potestativos não estão sujeitos à prescrição, mas são caducáveis, vez
que a decadência pode operar efeitos se for previsto o prazo decadencial. Há
direitos potestativos que não se sujeitam a qualquer prazo, pelo quê são
imprescritíveis e incaducáveis.
Questão 2
O Código Civil estabelece alguma espécie de retroatividade?
Resposta à Questão 2
O artigo 2.035 do CC, na segunda parte, prevê a denominada retroatividade mínima,
que para alguns autores seria simples aplicação imediata da lei nova: não é considerada,
esta, pelos civilistas, como uma espécie de retroatividade, tecnicamente. A posição
majoritária da doutrina entende que não é, então, uma espécie de retroatividade. Para o
STF, entretanto, é de fato retroatividade, pois se a lei nova é aplicada a fatos posteriores a
seu vigor, mas indiretamente atinge a causa para o ato – como um contrato sendo a causa, e
suas parcelas o efeito –, será ela retroativa, pelo quê o STF não admite tal operação de
efeitos, tal retroatividade mínima, entendendo-a inconstitucional. A resposta seria, então,
não, sob a ótica civilista, mas sim, sob a ótica do STF (pelo quê é inconstitucional tal
incidência retroativa, quando ofende a causa que seja ato jurídico perfeito).
Questão 3
Michell Nunes Midlej Maron 12
EMERJ – CP I Direito Civil I
João adquiriu um veículo usado de Pedro, seu vizinho. Para tanto, celebraram um
contrato, no qual João, por pagar preço bem reduzido, abriu mão de pleitear o abatimento
do preço ou devolução do bem, caso o mesmo apresentasse grave defeito oculto.
Uma semana após a entrega, tal vício restou constatado.
João, então, baseando-se no artigo 442 do Novo Código Civil, ajuizou ação requerendo o
mencionado abatimento. Protestou pela produção de prova quanto à existência do defeito.
Pergunta-se:
1) Qual a natureza jurídica do direito exercido (objetivo, subjetivo, potestativo ou
faculdade jurídica)?
2) Supondo-se que na instrução processual tenha-se provado que o vício já existia
antes da aquisição e que tornava o bem impróprio ao uso, qual a solução que você
daria ao caso?
Resposta à Questão 3
1) O direito de pleitear o abatimento é direito subjetivo de João, na medida em que
demanda a prestação de seu contratante, não podendo por si só ser exercida. A
opção pela ação quanti minoris (abatimento), ao invés da ação redibitória
(devolução), porém, é direito potestativo do autor: a ele incumbe a escolha, sem
que a outra parte tenha influência.
2) De acordo com o ritmo probatório, se restar comprovado o pacto pela venda no
estado do veículo, não merece o abatimento, mesmo que haja o vício: João
adquiriu o bem já desonerado, por conta do vício possível (provável), tendo
aberto mão de seu direito. Não merece, portanto, o abatimento, pois é direito
disponível, mormente em se tratando de relação não consumerista, paritária
(disposição que não teria valor em relações de consumo ou contratos de adesão).
Tema III
Michell Nunes Midlej Maron 13
EMERJ – CP I Direito Civil I
Pessoa física ou natural: Início e fim da personalidade. Posição jurídica do nascituro: teoria natalista,
condicionalista e concepcionalista. Capacidade: de direito e de fato. Incapacidade de fato absoluta e
relativa. Representação, assistência e autorização. Legitimação.
Notas de Aula
1. Inicio e Fim da Personalidade Natural
É inominável a relevância da precisa estipulação do início e do fim da vida. A partir
do momento em que uma pessoa passa a existir, esta tem direitos e deveres, e no exato
momento em que morre, deixa de ter tais direitos e deveres.
O CC é expresso quanto a isso: a personalidade jurídica começa com o nascimento
com vida, e, como consectário, a capacidade jurídica começa também neste exato
momento, vez que é coincidente com a personalidade jurídica:
“Artigo 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a
lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.”
O nascimento com vida, então, é o marco do início da personalidade. A verificação
do nascimento com vida, em alguns casos, é dificultosa, pelo quê se aplicavam métodos
físicos para tal identificação, como o teste hidrostático de Galleno, consistente na imersão
do feto natimorto em um recipiente com água, para a aferição da entrada de ar nos pulmões:
se houvesse bolhas, significa que houve respiração, e portanto houve vida. Não havendo
bolhas, não respirou, e não houve vida. Hoje, a respiração não é mais o marco da vida, e
sim a verificação de uma atividade cardiovascular, respiratória e cerebral mínima.
Surge a primeira controvérsia quando se trata dos direitos que antecedem o
nascimento. Há três correntes acerca do nascituro: a concepcionalista, a natalista e a
condicionalista. Vejamo-las:
Teoria concepcionalista: Esta corrente se baseia na existência, no CC, de diversos
dispositivos que garantem direitos a quem, já concebido, ainda não nasceu. Como
exemplo, os artigos 542, 1.609, parágrafo único, e 1.779 do CC:
“Artigo 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante
legal.
“Artigo 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é
irrevogável e será feito:
(...)
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser
posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes.”
“Artigo 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a
mulher, e não tendo o poder familiar.
Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro.”
Se a lei garante todos estes direitos ao nascituro, perguntar-se-ia: existe
direito sem sujeito? Alguém pode titularizar direitos, sem ao menos ser “alguém”,
no teor da lei (sem capacidade jurídica)?
Michell Nunes Midlej Maron 14
EMERJ – CP I Direito Civil I
Segundo quem defende esta tese concepcionalista, o artigo 2° do CC
contradiz os demais artigos que garantem direitos ao nascituro, justamente por ser
impossível a titularização de direitos por quem não tem personalidade: se entendido
que só há personalidade após o nascimento, os direitos do nascituro são “direitos
sem sujeito”. Por isso, pretende que o artigo 2° seja interpretado sistematicamente,
havendo personalidade para o nascituro, o já concebido ainda não nascido.
Para esta corrente, então, a natureza jurídica do nascituro é de sujeito de
direito, vez que há direitos a si conferidos, definindo sua personalidade jurídica. O
STJ é concepcionalista.
Teoria natalista: Esta corrente simplesmente lê o artigo 2° do CC na sua
literalidade, tal como ele dispõe. Assim, a personalidade jurídica começa com o
nascimento com vida. Qualquer atributo anterior a este nascimento com vida –
aferido da forma que melhor a ciência entender – será mera expectativa de direito, e
não o direito em si.
Desta forma, os artigos 542, 1.609 e 1.779 do CC seriam meras previsões de
direitos potenciais, que podem ser frustrados na inocorrência do nascimento com
vida.
Teoria condicionalista: Esta corrente é intermediária entre as anteriormente citadas,
por assim dizer. É condicionalista por entender que os direitos do nascituro são
sujeitos a uma condição suspensiva: só se implementarão com a ocorrência do
evento futuro e incerto do nascimento com vida. Assim, o nascimento com vida é a
condição suspensiva dos direitos do nascituro.
Destarte, pelo quê é disposto no artigo 125 do CC, o direito do nascituro
ainda não é adquirido, enquanto não implementada a condição suspensiva, seu
nascimento com vida:
“Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,
enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.”
Veja que a diferença da teoria condicionalista em relação à teoria
concepcionalista é que, nesta última, o direito do nascituro é adquirido desde a
concepção; na condicionalista, só se torna adquirido no nascimento com vida.
Quanto aos efeitos e conseqüências, as teorias natalista e condicionalista
produzem resultados idênticos: sem o nascimento com vida, não há direitos, e
ponto. Fosse o nascimento considerado um termo, seria diferente: como se sabe, nas
obrigações sujeitas a termo, o direito é adquirido desde o início, no que difere da
condição.
Em que pese haver esta digressão, a teoria que prevalece, pelo amparo legal, é a
natalista, pois o artigo 2° do CC não é letra morta: é a vontade do legislador atribuir
personalidade apenas aos nascidos com vida.
Quanto ao fim da personalidade, este se dá na morte: com a morte se extingue a
personalidade. Juridicamente falando, há dois tipos de morte: a natural, ou real, e a
presumida. Vejamos.
Michell Nunes Midlej Maron 15
EMERJ – CP I Direito Civil I
1.1. Morte Real
A morte real ocorre quando a pessoa tem a parada das atividades tronco-encefálicas,
e que, enquanto não ocorrida, permite que a pessoa pratique, por intermédio de
representante, atos da vida civil (pois ainda há personalidade jurídica). É por conta do
conceito científico do momento da morte – fim da atividade cerebral – que discussões são
travadas em outras searas do direito, como a experimentação genética das células-tronco
embrionárias, ou a eutanásia, ou ainda o aborto de anencéfalo: em todos estes casos, se não
há atividade cerebral, não haveria vida, e por isso não haveria violação qualquer a bens
juridicamente tutelados nas atividades envolvendo tais objetos materiais.
Há uma espécie de morte real cuja confirmação depende de prova, não sendo aferida
diretamente no corpo da pessoa: o artigo 88 da Lei 6.015/63, Lei de Registros Públicos,
assim dispõe:
“Artigo 88. Poderão os Juízes togados admitir justificação para o assento de óbito
de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer
outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não
for possível encontrar-se o cadáver para exame.
Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento
em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do
artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. “
Assim, na ausência do cadáver em situações de catástrofe, há a morte real se
comprovada a presença do indivíduo no local do evento, sendo probabilíssimo seu óbito. A
prova pode se dar por qualquer meio possível em direito. Este é o procedimento de
justificação, e a morte, se comprovada, repita-se, é real, e não presumida.
1.2. Morte Presumida
A morte presumida, por sua vez, é trazida no artigo 7° do CC:
“Artigo 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado
até dois anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá
ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença
fixar a data provável do falecimento.”
Veja que não se confunde com a ausência, de forma alguma. O procedimento da
ausência, que será estudado adiante, é uma solução para aqueles desaparecidos sem
probabilidade imediata da morte, e na morte presumida, a grande probabilidade da morte é
um elemento fundamental. Os incisos são bem explícitos.
A sentença de morte presumida é declaratória: ela se destina a declarar a data do
óbito, para que o fim da personalidade opere seus efeitos.
1.3. Comoriência
A comoriência não é uma espécie de morte, e sim um critério de identificação do
exato momento de uma morte. O artigo 8°do CC dela trata. Veja:
Michell Nunes Midlej Maron 16
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 8o Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se
podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão
simultaneamente mortos.”
Este artigo traz uma presunção absoluta, com o fito de resolver problemas
sucessórios. Em ordenamentos alienígenas, a solução é outra: a presunção leva em conta a
condição etária das pessoas, como por exemplo, no sistema argentino, que presume que o
mais velho morreu antes do mais novo, ou o pai antes do filho. No Brasil, a comoriência se
instala, inafastável, quando não se pode provar, de forma alguma, que a morte foi diferida;
havendo prova da morte prévia de um dos indivíduos, não há comoriência.
2. Capacidade Jurídica e Capacidade de Fato
Capacidade jurídica é sinônimo de personalidade jurídica, mas não se confunde
jamais com capacidade de fato. A capacidade jurídica, assim como a personalidade, é a
possibilidade de toda pessoa em contrair deveres e haver direitos.
Qualquer pessoa pode haver direitos e deveres. Mas há uma exceção: a Lei 6.001/73
regulamenta a situação indígena, e os índios, por exceção, não contam com personalidade
jurídica para a vida em sociedade, por não existirem para a sociedade, formalmente; o
artigo 9° desta lei possibilita aos índios requerer a aquisição de personalidade jurídica.
Exceção à parte, qualquer pessoa tem personalidade (redundância proposital), pelo
quê um recém-nascido tem capacidade para haver direitos e deveres. A principal diferença
entre capacidade jurídica e capacidade de fato reside justamente na possibilidade de se
efetivar o direito por si só: capacidade jurídica é a capacidade de ser o sujeito ativo do
direito, ou passivo do dever, mas a capacidade de exercer pessoalmente o direito ou
cumprir o dever, independentemente de representação ou assistência, é a capacidade de
fato.
Há ainda que se diferençar capacidade de fato de legitimação. A capacidade de fato
é genérica, a pessoa que a detém tem genericamente a possibilidade de realizar os atos da
vida civil. Certos atos, porém, demandam uma capacidade específica, e esta nem sempre
está inclusa na capacidade de fato genérica; se a lei exige determinados requisitos para a
prática de um ato, determina que só há legitimação àqueles que preencherem tais requisitos.
Mesmo sendo capaz de fato, pode ocorrer de alguém não ser legitimado a determinado ato.
Como exemplo, o artigo 496 do CC:
“Artigo 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros
descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.
Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o
regime de bens for o da separação obrigatória.”
Assim, o ascendente tem capacidade de fato para alienar bens de seu acervo, mas
para alienar bens para seu descendente, é necessária a legitimação, que só será configurada
no preenchimento do requisito legal, qual seja, a anuência dos demais descendentes.
Genericamente, há capacidade de fato, mas especificamente, sem o consentimento, não há
legitimação. Um outro exemplo é a necessidade da outorga conjugal (antiga outorga
uxória), exigida quando da alienação dos bens imóveis por pessoas casadas.
Michell Nunes Midlej Maron 17
EMERJ – CP I Direito Civil I
2.1. Incapacidade
Não existe incapacidade jurídica de direito (à exceção dos índios), mas somente
incapacidade jurídica de fato. A capacidade de direito, como se viu, é indissociável da
personalidade, e só não tem capacidade de direito quem não tem personalidade – pelo quê
se conclui que absolutamente toda pessoa é capaz de direito.
A incapacidade é um instituto protetivo do incapaz. O individuo considerado
incapaz não pode ser imputado por seus atos, pois é pessoa em situação especial, em
condição especial. Tudo o que o envolva, o incapaz, é focado nele, e não nos demais
envolvidos. Um exemplo: poderão os avós pleitearem visitação? Veja que o direito ao
convívio é do menor, incapaz, e por seu interesse deve se orientar o direito: se for do
melhor interesse do incapaz, poderá haver a estipulação judicial do convívio.
A proteção, então, pode ser maior ou menor, e se trata, respectivamente, da
incapacidade absoluta ou relativa. Os artigos 3° e 4° do CC estabelecem que:
“Artigo 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida
civil:
I - os menores de dezesseis anos;
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos;
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.”
“Artigo 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental,
tenham o discernimento reduzido;
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;
IV - os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.”
As conseqüências de ser absoluta ou relativamente incapaz são diversas: o
absolutamente incapaz depende de representação para os atos da vida civil, enquanto o
relativamente incapaz demanda assistência. Outro exemplo é a prescrição: contra o
absolutamente incapaz não corre prescrição; contra o relativamente incapaz, sim (a favor
deles, corre sempre: se forem devedores, por exemplo).
Vejamos, então, as hipóteses relevantes da incapacidade:
- Menores de dezesseis anos: Os menores impúberes, como são chamados, não
podem praticar atos da vida civil, demandando representação absoluta.
Assim, como se explica a situação em que o menor de dezesseis anos realiza
atos ordinários e corriqueiros da vida civil, como a compra de bens consumíveis no
dia-a-dia? A compra e venda realizada pelo menor na padaria, por exemplo, seria
sempre nula? Veja que é um ato realizado por pessoa absolutamente incapaz, e
portanto seria nulo, segundo o artigo 166, I, do CC:
“Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
(...)”
Michell Nunes Midlej Maron 18
EMERJ – CP I Direito Civil I
A doutrina defende que há uma autorização implícita do representante, que
teria exercido a representação quando da autorização para a realização daquele
negócio. As teses mais modernas vão além: observam que, não havendo qualquer
prejuízo para nenhum dos envolvidos, não há razão para a nulificação – ao
contrário, a nulificação, ela sim, traria prejuízos ao incapaz e ao seu relacionando.
- Pessoas com discernimento reduzido por enfermidade ou deficiência mental: Se
trata da condição orgânica da insuficiência de desenvolvimento mental para a
prática dos atos. Esta condição de deficiência demanda reconhecimento judicial,
através da ação de interdição.
É na sentença de interdição que surge a maior controvérsia: é declaratória ou
constitutiva? Que ela tem um cunho declaratório é inegável, pois a incapacidade já
se instalara antes da sentença, sendo esta mera constatação do fato – e como tal, os
efeitos da sentença seriam ex tunc. Acontece que, após este entendimento inicial,
constatou-se que os efeitos de uma declaração ex tunc de incapacidade, pela
interdição, eram por demais devastadores – em especial para os terceiros de boa-fé
afetados. Por isso, a teoria do prejuízo tem aplicação, pois é mais vantajoso,
socialmente, manter os atos até então praticados. Assim, diz-se que a sentença de
interdição é declaratória em relação ao estado de incapacidade, mas é constitutiva
em relação aos efeitos da interdição.
A corrente que defende esta natureza de sentença menciona, como reforço da
tese, o artigo 92 da Lei 6.015/63:
“Artigo 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro
de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único
do artigo 33, declarando-se:
1º) data do registro;
2º) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e
residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o
casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado;
3º) data da sentença, nome e vara do Juiz que a proferiu;
4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador;
5º) nome do requerente da interdição e causa desta;
6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição;
7º) lugar onde está internado o interdito.”
Depreende-se, dali, que os efeitos da interdição serão produzidos somente a
partir do registro da sentença, pois é dali que há a publicidade da interdição. Até ali,
os atos praticados pelo interditado são plenamente válidos.
Há ainda a possibilidade de que o julgador module os efeitos da sentença de
declaração da interdição, tal como ocorre na sentença declaratória de
inconstitucionalidade. O juiz pode estabelecer momento pretérito em que se
considera incapaz o interditado, para fins de nulificar algum ato outrora praticado.
Em que pese ser uma situação contrária à segurança jurídica, é admitida pela
seguinte razão: pode haver ato praticado pelo interditado que lhe tenha sido muito
prejudicial, e só realizado por sua condição especial – pelo quê merece nulificação.
Michell Nunes Midlej Maron 19
EMERJ – CP I Direito Civil I
Também pode restar evidenciada a má-fé 2 do contratante, que não pode ficar
impune: será nulificado o negócio jurídico, com base na incapacidade
posteriormente declarada na interdição.
O artigo 181 do CC ainda traz outra previsão tutelar do incapaz que negociou:
“Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a
um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga.”
Ao individuo que faz um pagamento ao incapaz, incumbe o ônus da prova da
reversão do proveito desse pagamento: se o pagamento não reverteu para o incapaz, deverá
pagar novamente.
O artigo 928 do CC expressa outra defesa do incapaz:
“Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios
suficientes.
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não
terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.”
Este artigo se refere a qualquer incapaz, absoluta ou relativamente. Trata da
responsabilidade civil do incapaz, e estabelece a reconhecida responsabilidade civil
subsidiária dos incapazes, a ser estudada em tópico apropriado. Mesmo sendo assunto para
outras searas, vale a menção a um caso especial:
“Menor absolutamente incapaz, sem dar ciência, pega o carro do pai. Dirigindo,
para regularmente em um sinal vermelho, e, sem concorrer com nenhuma
circunstância, é abalroado por um outro motorista, que dirigia regularmente
documentado, mas com tremenda imperícia. O motorista do carro que abalroou o
menor ajuíza ação contra o pai deste. Como se resolve a responsabilidade?”
Veja que a responsabilidade do pai pelos atos do filho é objetiva, como estabelece o
artigo 933 do CC:
“Artigo 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda
que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros
ali referidos.”
Ocorre que, no caso em tela, há duas responsabilidades a serem delimitadas: a do
pai pelo filho – culpa in vigilandum –, e a do filho pelo fato danoso. Esta segunda, aferida
no acidente, é subjetiva3, e, no caso, resta clara a responsabilidade do terceiro, e não a do
2
Vale aqui consignar que o terceiro de boa-fé é também bastante protegido pelo CC. Vejamos um exemplo:
numa compra e venda simulada, ocultando doação, em que o adquirente (que é de fato donatário) aliena o
bem posteriormente a terceiro de boa-fé, como fica a situação deste terceiro, na nulificação da doação
mascarada? O STJ já se posicionou que a alienação ao terceiro de boa-fé não se anula, restando aos
prejudicados a pretensão indenizatória contra o doador. Assim prevê o artigo 167, § 2°, do CC: “ressalvam-se
os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado”.
3
Mesmo que haja quem entenda que o incapaz não pode agir culposamente, assim se desenha para a maior
corrente, pois não se pode prejudicar o incapaz com a sua responsabilização objetiva, vez que o instituto da
incapacidade, como dito, é protetivo do incapaz.
Michell Nunes Midlej Maron 20
EMERJ – CP I Direito Civil I
menor, pelos danos causados. O mero fato de o menor estar dirigindo sem habilitação não
deu causa ao dano, e sim a imperícia do terceiro: em verdade, o menor foi vítima. Por isso,
sequer se cogitará da responsabilidade do pai, pois a do menor restou elidida – a ação seria
julgada improcedente.
A incapacidade relativa, do artigo 4° do CC, por sua vez, tem lugar quando existe
algum discernimento, mas não completo, pelo quê a proteção é igualmente relativa, parcial.
Se o ato praticado com algum discernimento for praticado dolosamente, a fim de prejudicar
o contratante que celebra o negócio com o relativamente incapaz, não será tutelada a
incapacidade. Esta é a exegese do artigo 180 do CC:
“Artigo 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de
uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela
outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior.”
2.2. Curatela de Relativamente Incapazes
A curatela é a representação do relativamente incapaz. Há três artigos do CC que
merecem especial atenção:
“Artigo 1.772. Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III
e IV do artigo 1.767, o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento
mental do interdito, os limites da curatela, que poderão circunscrever-se às
restrições constantes do artigo 1.782.”
“Artigo 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para os atos da vida civil;
II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade;
III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;
IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;
V - os pródigos.”
“Artigo 1.782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar,
transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar,
em geral, os atos que não sejam de mera administração.”
O pródigo merece comentários. Este relativamente incapaz tem capacidade plena
para a maioria dos atos da vida civil, à exceção daqueles atos que envolvam disposição
patrimonial de qualquer natureza.
Veja que o fundamento para a interdição do pródigo, da legitimidade da família para
peticionar pela interdição, não é a dilapidação potencial do patrimônio a ser tornado em
herança: não se dá importância, hoje, à perspectiva futura de herança dos familiares; o que
fundamenta a interdição do pródigo é a periclitação da subsistência do próprio pródigo, vez
que ele é quem ficará com a gestão de seu patrimônio prejudicada. Lembre-se: o foco é
sempre no incapaz (inversão promovida pelo novo CC em relação ao diploma de 1916).
Também os ébrios merecem explicações. A incapacidade advinda da embriagues
habitual deve estar diretamente relacionada com a real impossibilidade de praticar os atos
da vida civil, pois se não for impossível a condução de suas atividades, não deve ser
considerado incapaz. Em geral, quando for incapaz, será sua curatela atinente somente aos
atos de reverberação patrimonial, assim como o pródigo.
Michell Nunes Midlej Maron 21
EMERJ – CP I Direito Civil I
2.3. Cessação da Incapacidade
A regra geral é que a incapacidade cessa quando cessa aquilo que a motiva. Na
incapacidade etária, o momento de cessação é a completitude dos dezoito anos, como
dispõe o caput do artigo 5° do CC – é a cessação cronológica da incapacidade de fato:
“Artigo 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz,
ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de
emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos
tenha economia própria.”
Há, contudo, as exceções do parágrafo único, que são referentes à emancipação:
- No inciso I, ocorre a emancipação voluntária, em que os pais autorizam ao menor
com dezesseis anos completos a cessação da incapacidade. Sobre esta emancipação,
vale dizer que se houver dissenso entre os pais, será suprido seu consentimento pelo
juiz, se for para o bem do incapaz (e não prevalecendo a vontade do pai, como o era
na vigência do antigo CC).
Cabe ressaltar que o artigo 932 do CC trata da responsabilidade civil por fato
de terceiro, e ali se enquadra a dos representantes pelos atos do incapaz:
“Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil:
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua
companhia;
(...)”
A emancipação voluntária é a única em que o artigo 932, I, continua vendo
plena aplicabilidade, pois do contrário a emancipação poderia se tornar meio para
cometimento de fraudes diversas.
Esta emancipação depende de registro para ter efeito.
- As demais hipóteses do artigo 5° são os eventos que induzem a emancipação legal.
Esta não demanda registro, pois o próprio evento que a acarreta tem publicidade, de
per si, como no casamento, que já é registrado.
Quanto ao exercício de emprego público efetivo, há uma controvérsia sobre
os cargos em comissão. A corrente majoritária defende que é necessária a
estabilidade, mas há corrente menor que entende que mesmo o cargo comissionado
emancipa, pois o menor que o recebe já se presume que tenha discernimento para
ser emancipado.
Michell Nunes Midlej Maron 22
EMERJ – CP I Direito Civil I
Também o custeio da própria subsistência é causa para a emancipação, e
quem tem tal possibilidade, não precisa dos pais para gerir sua vida civil.
Qualquer espécie de emancipação é irrevogável, dada a sua enorme gama de efeitos.
Contudo, pode ser anulada, uma vez que pode ter sido realizada com vícios de manifestação
de vontade, merecendo invalidação. Neste caso, da anulação, os atos do incapaz serão
convalidados, de acordo com a teoria do prejuízo, se nenhum dano for causado por sua
manutenção.
Casos Concretos
Questão 1
Michell Nunes Midlej Maron 23
EMERJ – CP I Direito Civil I
O nascituro de Joana figura como donatário de imóvel em escritura pública
celebrada em 2004 e devidamente registrada. Já é o mesmo titular do objeto do negócio
jurídico em questão, ou ainda não incorporou tal bem a seu patrimônio?
Resposta à Questão 1
Há três correntes acerca do nascituro, a concepcionalista, a natalista e a
condicionalista. Para a majoritária, natalista, o direito só se adquire com o nascimento com
vida, havendo apenas a expectativa de direito do nascituro. Assim, não tendo ainda
personalidade, nos termos do artigo 2° do CC, não pode, para a maior corrente, titularizar
direitos, pelo quê o bem ainda não incorpora seu patrimônio.
Questão 2
Caio vendeu um imóvel de sua propriedade a Tício. Dois anos após a venda, Lúcio,
filho de Caio, requereu a interdição do pai, em face de doença mental que o laudo pericial
considerou já existente à época daquele negócio jurídico, não obstante o comportamento
aparentemente normal do interditando.
Logo após o trânsito em julgado da sentença de interdição, Caio, representado por
Lúcio, propôs ação para declarar nula a venda feita a Tício. Defendeu-se Tício alegando
inexistir à época da venda, qualquer sinal de exteriorização da enfermidade mental de
Caio, sendo certo que tal fato ficou comprovado por meio do depoimento de testemunhas,
inclusive do médico da família do vendedor. Procede o pedido de Caio? Justifique.
Resposta à Questão 2
Não procede o pedido de Caio. A sentença declaratória da interdição é constitutiva
em relação aos efeitos da interdição, em regra. Assim, se à época, não havia prova do
indício da enfermidade, o terceiro de boa-fé não pode ser punido por negócio regularmente
realizado, ainda mais se restar comprovado que a venda reverteu em benefício do incapaz –
ou seja, não houve prejuízo para os envolvidos.
Questão 3
Ademir é funcionário público há mais de dez anos. Diariamente, faz uso de bebidas
alcoólicas. Todavia, comparece ao trabalho e exerce seu ofício com dedicação. Sua mulher,
insatisfeita pelos gastos elevados com as bebidas e pela falta de assistência moral de
Ademir aos filhos, ingressa em juízo em busca de sua interdição. Há amparo legal para a
concessão? Responda fundamentando sua decisão.
Resposta à Questão 3
Não há qualquer amparo para tal interdição. Os ébrios habituais são relativamente
incapazes, mas a configuração desta situação deve restar cabalmente constatada, o que não
Michell Nunes Midlej Maron 24
EMERJ – CP I Direito Civil I
parece ser o caso de Ademir. Não me parece que alguém que desempenha suas funções no
labor com presteza seja incapacitado ao ponto da interdição. É improcedente o pedido, pois
o ato de interdição é um ato de exceção, e não regra – não havendo causação de danos
comprovadamente à subsistência do suposto ébrio, não há que se falar em interdição.
Tema IV
Emancipação. Conceito. Tipos. Personalidade em sentido objetivo e subjetivo. Direitos da Personalidade:
afirmação como categoria autônoma de direito subjetivo. Despatrimonialização do direito civil à luz da
Michell Nunes Midlej Maron 25
EMERJ – CP I Direito Civil I
CF/88: Cláusula geral de proteção aos direitos da personalidade: artigo 1º, inc. III e artigo 3º, inc. III;
artigo 5º, caput, incs. IV, V, IX e X da Carta Magna. Formas de tutela.
Notas de Aula
1. Emancipação
A emancipação consiste na antecipação da aquisição da plena capacidade de fato,
antes da maioridade, que seria o marco cronológico usual. É uma impropriedade se falar em
“antecipação da maioridade”: o conceito de maioridade é estático, só sendo maior aquele
que completa dezoito anos, não havendo como se antecipar esta completitude; o que ocorre
é a antecipação do efeito que a maioridade, em regra, contempla – a capacidade de fato.
Mesmo já tendo sido abordado, aqui tem lugar o estudo amiúde do artigo 5° do CC:
“Artigo 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica
habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento
público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz,
ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de
emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos
tenha economia própria.”
O parágrafo único, em seus incisos, traz as hipóteses de emancipação. São elas a
emancipação voluntária, do inciso I, e a legal, dos demais incisos. Alguns autores
entendem que a emancipação por sentença, ocorrida nos termos da parte final do inciso I –
quando o menor está submetido à tutela, não havendo pais –, seria espécie autônoma, a
emancipação judicial, mas a maior parte da doutrina entende que é mera variação da
emancipação voluntária.
Importante consignação a ser feita é que o menor não tem direito subjetivo à
emancipação, na emancipação voluntária: não há como pretender judicialmente a sua
emancipação, pois não titulariza direito a emancipar-se. Nas hipóteses da emancipação
legal, se sua operação for frustrada por algum meio, aí, sim, há pretensão resistida, pois há
direito do menor em se emancipar.
1.1. Emancipação Voluntária
A emancipação voluntária é feita por instrumento público, e após a sua feitura no
cartório competente, é levada ao ofício de registro de pessoas naturais, quando então se
torna pública a capacidade plena do emancipado.
Se um dos pais deseja emancipar o filho, e o outro discorda, a emancipação não
poderá ser feita singularmente. O inciso I do artigo 5° do CC estabelece que a vontade de
ambos é imperativa, só sendo dispensado o consenso quando um dos pais não está presente,
ou não tem o poder familiar por qualquer motivo.
Michell Nunes Midlej Maron 26
EMERJ – CP I Direito Civil I
O juiz será compelido a solucionar a questão quando o dissenso se instala, sendo a
negativa de um submetida pelo outro ao judiciário. Esta negativa, se considerada
injustificada pelo juiz, poderá ser desconsiderada, dando-se a emancipação judicial. Veja o
que dispõe o artigo 1.631, parágrafo único, do CC:
“Artigo 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos
pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade.
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é
assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.”
Qualquer desacordo no exercício do poder familiar, em verdade, será solucionado
no judiciário, quando não puder ser resolvido no âmbito familiar – sempre tendo como
norte maior o interesse do incapaz.
Há responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados pelo menor emancipado
voluntariamente? Veja como o CC trata da responsabilidade civil do incapaz: o artigo 932
do CC, que trata da responsabilidade civil por fatos de terceiros 4, estabelece que a
responsabilidade, regra geral, é dos pais pelos atos dos filhos:
Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil:
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua
companhia;
(...)”
Veja que o pai que responde é aquele que tem consigo o poder de direção5, ou seja,
aquele que tem a imediata habilidade de intervir na conduta do filho. Não se confunde com
a guarda: o pai que, sem a guarda, tem a posse do menor durante a visitação, por exemplo,
está momentaneamente com o poder de direção, e por isso o que se passar neste ínterim ser-
lhe-á imputável.
Todavia, o artigo 928 do CC traz uma novidade: a responsabilidade subsidiária e
mitigada do menor por seus atos:
“Artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele
responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios
suficientes.
Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não
terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem.”
Veja, então, que assim já se desenha a situação: os pais respondem, em regra, e,
sendo impossível que estes façam, responderá o menor, com as devidas ressalvas
eqüitativas por sua condição especial. Mas exsurge o artigo 942, parágrafo único, do CC,
com a seguinte redação:
4
Sérgio Cavalieri entende que, em verdade, esta responsabilidade não se trata de responsabilidade por fato de
terceiro, mas sim pelo fato próprio, consistente na negligência que deixou o ato acontecer. Como exemplo, o
pai que mal educa seu filho, responde por sua má educação.
5
O poder de direção pode ser legitimamente transferido a outrem: assim ocorre com a entrega do filho à babá,
aos avós, ou à escola. Quem quer que receba a transferência legítima do poder de direção, será responsável
pelos atos do menor. Veja que a distância não representa transferência do poder de direção: se o pai deixa o
filho só em casa para ir trabalhar, ainda tem consigo o poder de direção.
Michell Nunes Midlej Maron 27
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem
ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as
pessoas designadas no artigo 932.”
Assim, este dispositivo prevê a solidariedade passiva entre os pais e o menor
causador do dano, aparentemente contrariando a sistemática da subsidiariedade estabelecida
pelo artigo 928 do CC. Considerando-se apenas o incapaz, em geral: seria aplicado o artigo
928 ou o 942, parágrafo único?
A doutrina assim resolve este impasse: o conflito aparente entre os artigos 932, I;
928; e 942, parágrafo único, todos do CC, é resolvido atribuindo-se ao menor uma
responsabilidade subsidiária, excepcionada apenas a hipótese em que o menor foi
emancipado voluntariamente, caso em que haverá solidariedade entre pais e filho. Em
suma, a responsabilidade do menor é subsidiária, havendo ou não emancipação (que se
houver, será apenas a legal), sendo solidária apenas quando há a sua emancipação, da forma
voluntária.
Este raciocínio é preventivo de fraudes que podem ser perpetradas através da
emancipação: pode, o pai, emancipar o filho voluntariamente, a fim de possibilitar a prática
de atos ilícitos, escorado na subsidiariedade da resposta imposta sobre o patrimônio do
menor. Esta é a posição do STJ, que parte da premissa que a emancipação foi feita no
intento da fraude, ou, ao menos, mal feita.
1.2. Emancipação Judicial
Esta hipótese tem lugar quando o menor não estiver subjugado ao poder familiar,
como visto. O legislador entende que, havendo tutela, o menor poderá requerer
emancipação, pelo quê será ouvido o tutor, e concedida ou não a emancipação ao menor.
Esta hipótese é emancipação voluntária, para a maior parte da doutrina, mas há
quem entenda que se trata de hipótese autônoma de emancipação.
1.3. Emancipação Legal
Os incisos II a V do artigo 5° do CC são casos de emancipação induzida pela lei.
Vejamos uma a uma.
O inciso II estabelece a emancipação por ocasião do casamento do menor. A idade
mínima de normalidade para ocorrência desta emancipação é de dezesseis anos, pela leitura
do artigo 1.517 do CC:
“Artigo 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se
autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não
atingida a maioridade civil.
Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no
parágrafo único do artigo 1.631.”
Há, contudo, casos excepcionais em que menores em idade pré-núbil, menores de
dezesseis, podem se casar, e com isso emancipar-se: são os casos do artigo 1.520 do CC:
Michell Nunes Midlej Maron 28
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 1.520. Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não
alcançou a idade núbil (artigo 1517), para evitar imposição ou cumprimento de
pena criminal ou em caso de gravidez.”
Se houver a separação judicial ou o divórcio, a emancipação não se altera,
persistindo incólume. Se houver nulificação do casamento, ao contrário, a emancipação se
desfaz, pois que feita em falsas bases, não podendo persistir como efeito válido de um ato
nulo – os efeitos da nulidade são ex tunc, ressalvando-se apenas, conforme leitura do artigo
1.561 do CC, os direitos do terceiro de boa-fé, e do próprio cônjuge de boa-fé:
“Artigo 1.561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos
os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os
efeitos até o dia da sentença anulatória.
§ 1o Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos
civis só a ele e aos filhos aproveitarão.
§ 2o Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus
efeitos civis só aos filhos aproveitarão.”
Assim, tendo o menor se casado com pessoa já casada – casamento nulo, portanto –,
ainda será emancipado se se casou de boa-fé.
Já quanto à anulação do casamento, fruto da anulabilidade, em regra produz efeitos
ex nunc, pelo quê a emancipação persistiria, com amparo no artigo 177 do CC. É a corrente
majoritária.
“Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se
pronuncia de ofício; só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente
aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade.”
Mas há uma segunda corrente, minoritária, que entende que tanto o ato nulo quanto
o anulável produzem efeitos ex tunc, estando a previsão da anulabilidade contida no artigo
182 do CC, e por isso a emancipação seria estornada:
“Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que
antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o
equivalente.”
O inciso II não se aplica à união estável: esta não tem o condão de emancipar, vez
que não exige a autorização dos pais para que o menor a realize – desprotegendo o incapaz.
O exercício de emprego público efetivo, previsto no inciso III, é hipótese em desuso,
pois a Lei 8.112/90, no artigo 5°, V, exige a maioridade para ocupar cargo público:
“Artigo 5o São requisitos básicos para investidura em cargo público:
(...)
V - a idade mínima de dezoito anos;
(...)”
O inciso IV prevê como causa de emancipação legal a colação de grau em curso de
ensino superior. Apesar de possível, é caso pouco factível.
O inciso V traz a emancipação “pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela
existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos
Michell Nunes Midlej Maron 29
EMERJ – CP I Direito Civil I
completos tenha economia própria”. Veja que “economia própria” é condição de prover o
próprio sustento, de forma consistente. Não é critério padrão, e sim casuístico, devendo
haver alguma solidez na sua renda.
Casos Concretos
Questão 1
Michell Nunes Midlej Maron 30
EMERJ – CP I Direito Civil I
Suponha que Aldo, com 16 anos de idade, deseja ser emancipado por seus pais.
Nessa situação e de acordo com a legislação civil vigente relativa à emancipação e à
família, julgue os itens em seguida:
a)Se apenas o pai de Aldo deseja emancipá-lo, essa emancipação terá efeito de
pleno direito, nos termos do CC vigente?
b)A hipótese de emancipação apresentada é classificada pela doutrina como
emancipação voluntária?
c)Caso Aldo case-se com Maria, de 17 anos de idade, tornar-se-á plenamente
capaz, apesar de não ter 18 anos de idade, o mesmo ocorrendo com ela?
d)Supondo que Aldo esteja concluindo a 3ª série do ensino médio, caso ele seja
aprovado no vestibular, será automaticamente emancipado?
e)Caso Aldo seja emancipado com a concordância de seus pais e queira se casar
após a emancipação, ainda assim deverá ter autorização deles?
Resposta à Questão 1
a) Não. Diferentemente do que ocorria no antigo CC de 1916, não se fala mais em
pátrio poder, e sim em poder familiar. Por isso, a anuência de ambos os pais é
necessária, e, em discordando um deles, a tutela judicial é supletiva.
b) Sim. Há a emancipação voluntária e a legal, decorrente de alguns eventos
emancipadores. Esta é voluntária.
c) Sim. A emancipação é um evento que não leva em consideração os terceiros
envolvidos – o outro cônjuge –, mas apenas o evento em si que levou à sua
indução.
d) Não. Apenas a conclusão do curso superior é causa.
e) Não mais, vez que será plenamente capaz para os atos da vida civil.
Questão 2
Em caso de perda através de amputação de membro em virtude de acidente de
responsabilidade de determinado condutor de automóvel que dirigia alcoolizado, é
acolhível pedido formulado por parte da vítima de recebimento de verbas em separado,
uma referente a dano moral e a outra a dano estético?
Resposta à Questão 2
Michell Nunes Midlej Maron 31
EMERJ – CP I Direito Civil I
Sim. O dano estético consiste em dano à imagem, à fisionomia da vítima. É um
misto entre o dano material causado à integridade física da pessoa, e dano moral causado à
sua identidade como pessoa. O STJ chama este desequilíbrio de enfeiamento.
É possível, em um só ato ilícito, se acarretar danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
A cumulação de reparação é autorizada pelo STJ (súmula 137). Em verdade, há uma nova
corrente do STJ que entende que há cabimento, até mesmo, de uma tríplice cumulação:
danos patrimoniais, extrapatrimoniais e estéticos. Esta moderna corrente entende que o
dano estético é uma modalidade autônoma das demais, mista daquelas, e por isso pode ser
cumulado.
Vale ressaltar que esta cumulação é posição moderna, recentemente aduzida ao
ordenamento, que sempre entendeu que o dano estético seria absorvido pelo dano moral.
Questão 3
A mãe de uma conhecida atriz de televisão, que foi assassinada, insurge-se em face
de imagens publicadas em jornal de grande circulação, extraídas de novela, nas quais sua
filha beijava o ator com quem contracenava, o qual veio a matá-la. Pretende o
recebimento de indenização por danos materiais e morais, ao argumento da utilização
indevida da imagem da filha, além da violação de sua honra, já que as imagens, no
contexto criado, levavam o leitor à impressão de que o assassino e sua vítima mantinham
na vida real um relacionamento amoroso. Em contestação, sustenta o jornal a
ilegitimidade ativa ad causam da mãe da falecida, sob o fundamento da
intransmissibilidade dos direitos envolventes. Decida a questão.
Resposta à Questão 3
Não assiste razão ao jornal. A invocação dos entes familiares mortos não significa
perpetuidade pós-morte dos direitos daqueles, tampouco a transmissão destes para os entes
sobreviventes. O que ocorre é a violação da própria honra, dos próprios direitos da
personalidade daquele sobrevivente, pela ofensa aos ancestrais. Por isso, a mãe tem toda a
legitimidade para reclamar a tutela jurisdicional.
Destarte, com base no artigo 20, parágrafo único, do CC, deve ser rejeitada a
preliminar de ilegitimidade, pois apesar da extinção da personalidade pela morte, sua
proteção subsiste em atenção aos familiares sobreviventes, que serão indiretamente
atingidos pela ofensa à memória da obituada.
Tema V
Michell Nunes Midlej Maron 32
EMERJ – CP I Direito Civil I
Direitos da personalidade no CC/02. Objeto. Características. Teoria adotada e análise dos artigos 11 a 21 do
Código Civil. Modalidades: Direito à vida, ao corpo, à honra, a imagem e intimidade.
Notas de Aula
1. Direitos da Personalidade
Este tema é uma novidade do CC de 2002, que é tratado nos artigos 11 a 21. A
proteção dos direitos da personalidade envolve o conceito de situação jurídica existencial,
em que há, só pelo fato de ser uma pessoa, toda uma gama de direitos e atributos a serem
respeitados.
Os direitos da personalidade, assim como os direitos fundamentais, são conquistas
evolucionistas do direito, provenientes da Revolução Francesa, que trazem ao direito
privados os conceitos limitadores do poder estatal. O fundamento deste instituto, como não
podia deixar de ser, é a dignidade da pessoa humana. Direito da personalidade não é,
entretanto, sinônimo de dignidade da pessoa humana, mas sim uma projeção do artigo 1°,
III, da CRFB, que apresenta a dignidade. Ou seja: dentro do conjunto de situações
necessárias ao pleno desenvolvimento do ser humano, inclui-se o direito à vida, à honra, ao
nome, à imagem, à palavra, ao corpo, a escritos, à intimidade e à vida privada 6, num rol
apenas exemplificativo de direitos da personalidade.
Assim, a dignidade da pessoa humana é um conceito muito mais amplo do que o de
direitos da personalidade. O conjunto de elementos que compõem a dignidade inclui
situações patrimoniais e extrapatrimoniais, enquanto a personalidade são direitos
exclusivamente extrapatrimoniais. Como exemplo, a propriedade, que é um direito
integrante da dignidade, mas não da personalidade.
1.1. Titularidade
A pessoa natural é titular óbvio dos direitos da personalidade, vez que
fundamentados na dignidade da pessoa humana. Há uma divergência doutrinária acerca da
titularização ou não de direitos da personalidade pela pessoa jurídica.
Há duas correntes na doutrina. A majoritária defende que a pessoa jurídica titulariza
alguns direitos da personalidade, como a honra, em seu aspecto objetivo. Neste sentido, a
jurisprudência a ampara, com a súmula 227 do STJ:
“Súmula 227, STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Se o dano moral é o avilte a direitos da personalidade, num simples silogismo se
entende que se a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, é porque tem os direitos que a ele
correspondem.
O artigo 52 do CC também é forte amparo para este entendimento:
“Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da
personalidade.”
6
Intimidade é mais abrangente do que vida privada. A intimidade é a manifestação da vida pessoal, e a vida
privada é a própria vida pessoal, no interior de sua casa. As pessoas públicas, por exemplo, só por serem
públicas, abrem mão de sua intimidade, mas não de sua vida privada.
Michell Nunes Midlej Maron 33
EMERJ – CP I Direito Civil I
A segunda tese, ainda minoritária, afirma que há total incompatibilidade dos direitos
da personalidade com a pessoa jurídica. Para isso, inclusive, se vale do mesmo artigo 52 do
CC como fundamento legal: entende que se a pessoa jurídica tivesse, de forma imanente, os
direitos da personalidade, não seria preciso um artigo especialmente dedicado a estabelecer
a aplicabilidade de tais direitos: esta regra de extensão apenas deixa claro que a pessoa
jurídica não tem direitos da personalidade, pelo quê os direitos das pessoas naturais são a
elas estendidos, por conveniência.
Para além disso, esta corrente refratária entende que a lógica empresarial da pessoa
jurídica é incompatível com um instituto de natureza extrapatrimonial, sendo o dano
causado a ela sempre de natureza material.
1.2. Características
A doutrina aponta uma enormidade de características, mas o CC, no artigo 11,
limita-se a dizer que são intransmissíveis e irrenunciáveis. Veja:
“Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade
são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação
voluntária.”
Além disso, a doutrina aduz: são direitos inatos, extrapatrimoniais, imprescritíveis e
coercitivos, dentre outras tantas características.
O fato de serem irrenunciáveis significa que o seu titular jamais deixará de sê-lo.
Não significa que o titular não possa deles dispor, temporariamente. Não se pode renunciar
aos direitos da personalidade, pois isso implicaria em deixar de ser titular do direito, mas
pode-se, no entanto, dispor relativamente dos direitos, e limitar, o seu titular, o exercício de
tais direitos, desde que esta disposição seja compatível com a ordem pública, a boa-fé e os
bons costumes, e que seja transitória.
O fato de serem intransmissíveis significa que os direitos da personalidade
desvanecem com a morte do seu titular. Ocorre que o novo CC, no artigo 12, parágrafo
único, e no artigo 20, parágrafo único, prevê que há legitimação para que outras pessoas
reclamem o avilte à personalidade de pessoa morta. Veja:
“Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas
em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida
prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou
colateral até o quarto grau.”
“Artigo 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra,
ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser
proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins
comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para
requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.”
Michell Nunes Midlej Maron 34
EMERJ – CP I Direito Civil I
O artigo 12 é a sede geral da tutela dos direitos da personalidade, e o 20 a sede dos
direitos manifestos na imagem e na sua projeção, como palavras e escritos (sendo regra
especial em relação à regra geral do artigo 12). No parágrafo único de ambos, se aduz a
legitimidade dos sobreviventes ali relacionados para postular reparação pela violação a
direitos da personalidade dos mortos. Isto significaria a transmissão dos direitos?
Sabendo-se como incontroverso que o morto não mais tem direitos da
personalidade, pois que cessada justamente a sua personalidade com a morte, o que se passa
é que a proteção a tais direitos subsiste até mesmo após a morte, pois pessoas ligadas
diretamente ao falecido serão atingidas pela ofensa a sua memória.
Vejamos uma questão concreta a fim de demonstrar esta relação: um preso é
queimado vivo, em rebelião dentro do presídio, vindo a óbito pelas queimaduras. Poderiam
seus descendentes pretender receber indenização por danos morais pela lesão ao seu direito
da personalidade, e também pela lesão ao direito da personalidade do morto?
Assim se resolve: pela violação à dignidade própria, é clara a pretensão
indenizatória da família, vez que a morte do pai é séria causa de danos morais. Quanto à
indenizabilidade pela violação à personalidade do morto é que a situação se demonstra
intrincada: por serem intransmissíveis, os direitos em debate já se extinguiam com a morte
do preso. Todavia, a sua violação se deu quando o preso estava vivo, ou seja, a violação se
deu quando os direitos existiam e eram oponíveis. Por isso, o eventual direito de crédito
compensatório surgiu antes da morte do indivíduo, e, mesmo cessando a personalidade, o
crédito já se constituíra: caberá pretensão à reparação pela família, vez que o que se está
transmitindo, pela saisine, não são os próprios direitos da personalidade do morto – posto
que são intransmissíveis –, mas sim o direito subjetivo ao crédito decorrente da violação a
estes direitos da personalidade, praticada em vida, e portanto transmissível por sucessão.
Resumindo, não se confunde o direito da personalidade com o direito subjetivo de
crédito, referente à compensação decorrente de sua violação, pois este segundo é
transmissível, por ter natureza patrimonial, não se extinguindo com a morte.
Casos Concretos
Michell Nunes Midlej Maron 35
EMERJ – CP I Direito Civil I
Questão 1
Alfa Engenharia S.A. obtém autorização municipal para a implantação de
loteamento, visando à construção de casas em área de reserva ambiental. O Ministério
Público ingressou com ação civil pública visando à suspensão da implantação do
loteamento, bem como à reparação dos danos causados ao meio ambiente, formulando
pedido de indenização por danos morais e materiais, estes consubstanciados nas despesas
para o reflorestamento da área. É fato incontroverso o dano provocado ao meio ambiente,
tendo sido irregular a autorização deferida pelo Poder Público municipal.
Pergunta-se: cabe reparação moral na presente situação? Responda de forma
fundamentada.
Resposta à Questão 1
Os danos morais teriam sido causados à coletividade, titular de fundo da ação civil
pública? Não vejo como poderia haver esta causação, vez que os pressupostos do dano
moral são personalíssimos, e por isso particularizáveis. Não creio ser possível a verificação
de tal dano moral, pelo quê não entendo cabível a reparação.
Na verdade, a questão se resume à existência ou não do dano moral coletivo.
Segundo o STJ, é inviável o dano moral coletivo: não é possível precisar os sentimentos
que comprovam o dano moral, como o vexame, a humilhação, a revolta, a dor ou a mágoa,
só sendo possível se houver a identificação de um sujeito atingido pela lesão a este bem
público de uso comum, o meio ambiente (o mesmo caso em direitos difusos quaisquer).
Vide, a respeito, REsp 598.281/MG.
Questão 2
Maria da Piedade, em ação de retificação de assento de registro civil, pleiteia a
alteração de seu prenome, para passar a chamar-se Maria Helena. A ação foi ajuizada
quando Maria estava com 23 anos, ao argumento de que há anos é conhecida como Maria
Helena e que, dentro de seu meio profissional (professora), seu nome a tem exposto ao
ridículo, sendo objeto de trocadilhos constrangedores e situações risíveis.
O MP manifesta-se reconhecendo que no pedido não há qualquer suspeita de má-
fé, ou ainda propósito fraudulento de prejuízo a terceiros. Todavia, opina pela
improcedência do pedido, por não estarem presentes os pressupostos legais que autorizam
a modificação do nome.
Decida a questão.
Resposta à Questão 2
O nome pertence à composição da identidade do indivíduo. Se este nome é capaz de
alterar a sua relação em sociedade, diante de situações que provoquem constrangimento ao
seu detentor, é possível sua alteração. Todavia, não me parece ser o caso. Nada há de jocoso
no nome da autora, pelo quê sua inconformidade com sua identidade parece preocupação
superficial, não merecendo provimento positivo.
Michell Nunes Midlej Maron 36
EMERJ – CP I Direito Civil I
No REsp 182.846, foi alterado um acórdão do TJ/RJ em que era reconhecida a
impossibilidade da alteração, no caso concreto, havendo ali discussão sobre a possibilidade
jurídica do pedido. Contudo, não subsiste tal questão: o artigo 57 da Lei 6.015/73 traz uma
regra geral para a alteração do nome, que será viável sempre que existir uma justificativa
plausível. Mas veja que a regra é a imutabilidade do nome, em nome do princípio da
segurança jurídica.
“Artigo 57 - Qualquer alteração posterior de nome, somente por exceção e
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença
do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandato e publicando-se a
alteração pela imprensa.”
Questão 3
Nave Materiais de Construção Ltda. ingressou com ação ordinária em face de
Telemar Norte Leste S.A., pedindo indenização por perdas e danos em razão de má
prestação de serviço telefônico.
A autora relatou que adquiriu duas linhas telefônicas em dezembro de 2005, para
melhor atender seus clientes. No final de janeiro de 2006, um dia após a instalação, as
linhas foram desligadas sem motivo, tendo sido pagas, mesmo assim, todas as contas da
taxa de assinatura.
Sustentou que sofreu prejuízos e lucros cessantes em seu negócio - entrega de
materiais de construção, porque precisava das duas linhas telefônicas para atender à
demanda. Pediu indenização por dano material e moral.
A Telemar contestou alegando que não houve demonstração de que a empresa teve
sua imagem e credibilidade abalada.
Na função de Juiz, como você resolveria a questão, referentemente ao pedido de
dano moral?
Resposta à Questão 3
Entendo presente o dano moral à autora. Isto porque a imagem da empresa é um dos
seus principais argumentos de mercado, sem o qual sua atuação fica drasticamente
prejudicada, causando esta violação moral à empresa. Mesmo sendo uma entidade abstrata,
de fato, a empresa conta ainda mais com sua imagem pública do que uma pessoa natural.
Em que pese a corrente refratária ao cabimento do dano moral à pessoa jurídica,
assim entende o STJ, na súmula 227: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Há de se ressaltar, porém, que o STJ tem entendimento de que o simples atraso na
instalação da linha telefônica não acarreta dano moral. Pode, sim, causar dano material ou
lucro cessante, mas mediante prova. É o que expõe no REsp 751.626/RJ.
Tema VI
Michell Nunes Midlej Maron 37
EMERJ – CP I Direito Civil I
Ausência: Conceito, efeitos e legitimação para o exercício da Curadoria. Proteção legal do patrimônio do
ausente. Declaração preliminar de ausência. Sucessão Provisória. Sucessão Definitiva. Efeitos. Retorno do
ausente nas diversas fases. Declaração de morte presumida sem declaração de ausência.
Notas de Aula
1. Ausência
Ausência difere de morte presumida. Dentro do instituto da ausência, há também a
morte presumida, como se verá, mas há, alheia à ausência, a morte presumida propriamente
dita (sem declaração da ausência).
A primeira questão a ser enfrentada é quanto à natureza da decisão judicial de
ausência: é declaratória ou constitutiva? Segundo o CC, em seus dispositivos sobre o tema,
a decisão tem natureza declaratória, pois a ausência não é a constituição de um novo estado,
e sim a declaração de uma situação que já se instalou para aquela pessoa.
A ausência, então, para adentrar no conceito, é o abandono do domicílio pela
pessoa, sem deixar qualquer rastro ou notícia, e sem constituir procurador ou representante
de qualquer sorte, que indiciem a sua intenção de retorno. Tem-se por domicílio, aqui, o
centro das atividades negociais do indivíduo. Veja os artigos 22 e 23 do CC:
“Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se
não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os
bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público,
declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador.”
“Artigo 23. Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, quando o
ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o
mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes.”
Quando a ausência se perpetua pelo prazo legal, será declarada a morte presumida
ao final, como se verá.
De outro lado, a morte presumida propriamente dita, por sua vez, consiste nas
situações que são referenciadas no artigo 7° do CC:
“Artigo 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado
até dois anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá
ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença
fixar a data provável do falecimento.”
Veja que não é necessária a declaração de ausência, pois a probabilidade de que a
morte real tenha ocorrido é deveras maior, nestes casos, que no mero desaparecimento,
ensejador da ausência. E o procedimento de ausência, como se verá, é enormemente
demorado. O procedimento de ausência envolve a declaração da ausência, a abertura da
sucessão provisória, em seguida a abertura da sucessão definitiva, e somente ao final a
declaração da morte presumida. Para a morte presumida propriamente dita, o procedimento
que se adota é o da justificação: há dilação probatória e, presente a probabilidade da morte,
estará declarada a morte presumida.
Michell Nunes Midlej Maron 38
EMERJ – CP I Direito Civil I
Este procedimento de justificação é previsto no artigo 88 da Lei 6.105/73:
“Artigo 88. Poderão os Juízes togados admitir justificação para o assento de óbito
de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer
outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não
for possível encontrar-se o cadáver para exame.
Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento
em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do
artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. “
Este artigo, de fato, é o dispositivo precedente ao próprio artigo 7° do CC, pois trata
justamente da morte provável, morte presumida sem declaração de ausência. Reconhecida a
morte, julgando procedente a justificação, o juiz determina a lavratura de um assento de
óbito, com a data da provável morte, que será o marco da abertura da sucessão definitiva do
de cujos.
No CC de 1916, o ausente era equiparado a pessoa relativamente incapaz, sendo-lhe
dada a curatela. Ocorre que o ausente não é incapaz, nem mesmo relativamente: suponha-se
que esteja vivo, ocupando outra esfera de convívio, outro centro negocial. Neste, terá toda a
capacidade para realizar atos quaisquer, não sendo, portanto, incapaz.
Mesmo tendo curatela a si designada, é capaz, só que está ausente de seus negócios
em determinado centro de convívio. O curador do ausente não supre nenhum tipo de
incapacidade, apenas existindo com o fito de agir em defesa dos interesses patrimoniais do
ausente. Como exemplo, o curador não pode promover uma ação negatória de paternidade
em nome do ausente, pois lhe falta legitimidade ad causam (para alguns faltando até
mesmo o interesse de agir) – a ação é de cunho pessoal, e o interesse do curador é
unicamente patrimonial.
Poderia, de outro lado, o curador dar seguimento a uma ação de negação de
paternidade em nome do ausente, por este iniciada quando presente? Duas correntes
disputam o tema: a primeira defende que não, devendo o processo ser extinto, pois esta
ação é de cunho personalíssimo – corrente minoritária; a segunda corrente defende que o
curador pode dar prosseguimento na ação, pois se o ausente já havia dado iniciativa à ação,
é esta sua vontade, estando manifestado o requisito da personalidade da ação. Esta é a
corrente majoritária.
1.1. Procedimentos da Ausência
1.1.1. Legitimidade para Requerer Declaração de Ausência e para Curatela
O artigo 22 do CC, já transcrito, determina a legitimidade para o requerimento da
ausência. Poderá requerê-la qualquer pessoa que tenha legitimo interesse de agir, ou mesmo
o MP. Assim, a legitimidade é bem ampla, não se confundindo em nada com a ordem da
nomeação do curador. Por isso, até mesmo um credor pode requerer a declaração de
ausência.
Declarada a ausência, o primeiro passo a ser dado pelo juiz é a arrecadação dos
bens do ausente, que nada mais é do que um arrolamento, uma enumeração daqueles bens.
Em seguida, nomeia o curador (vale dizer que a curatela tem natureza de múnus público).
O artigo 25 do CC especifica, de forma bem clara, quem pode ser curador do ausente:
Michell Nunes Midlej Maron 39
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente,
ou de fato por mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu
legítimo curador.
§ 1o Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos
descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o
cargo.
§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos.
§ 3o Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador.”
O companheiro, em união estável, poderia ser curador do companheiro ausente? A
doutrina majoritária defende que sim, desde que comprovada a união estável cabalmente,
em aplicação extensiva por conta da leitura civil-constitucional do instituto. Todavia, este
entendimento não é unânime, como tudo o mais que envolve a união estável.
1.1.2. Abertura da Sucessão Provisória
A sucessão provisória pode ser requerida quando decorrer o prazo de um ano desde
a arrecadação dos bens do declarado ausente, segundo o artigo 26 do CC:
“Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele
deixou representante ou procurador, em se passando três anos, poderão os
interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a
sucessão.”
Veja que há uma impropriedade legislativa neste dispositivo: ali consta que,
decorrido o prazo necessário desde a arrecadação dos bens, será facultado aos interessados
requerer que “se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão”. Ocorre que a
ausência já foi declarada, antes da arrecadação dos bens, e por isso não se a declara
novamente, nesta fase: apenas se abre a sucessão provisória.
Só têm legitimidade para requerer a abertura da sucessão provisória aqueles
interessados que estiverem previstos no artigo seguinte, o 27 do CC:
“Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram
interessados:
I - o cônjuge não separado judicialmente;
II - os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários;
III - os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte;
IV - os credores de obrigações vencidas e não pagas.”
Aberta a sucessão provisória, já se desenha o espólio, e se caracterizam os
herdeiros, legatários e credores. Os credores poderão, desde já, receber seus créditos, desde
que a dívida seja exigível, ou seja, desde que já esteja vencida – não sendo necessário
aguardar a sucessão definitiva –, podendo até demandar por sua cobrança, em havendo
resistência.
Já os herdeiros e legatários, estes não poderão haver a propriedade dos bens, pois a
sucessão provisória apenas os imite na posse7 dos bens. Os herdeiros necessários poderão
7
A posse conferida aos herdeiros é somente ad interdita, pois não há, claramente, o animus domini, vez que o
que confere a posse é a própria lei.
Michell Nunes Midlej Maron 40
EMERJ – CP I Direito Civil I
imitir-se na posse sem qualquer prestação de caução, qualquer garantia. Os demais, imitir-
se-ão na posse desde que haja o oferecimento de caução:
“Artigo 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão
garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos
quinhões respectivos.
§ 1o Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia
exigida neste artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob
a administração do curador, ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que preste
essa garantia.
§ 2o Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade
de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do
ausente.”
O herdeiro necessário, havendo a posse provisória dos bens, poderá o possuidor usar
e fruir do bem, mas não poderá dele dispor. Assim, se for um imóvel, por exemplo, poderá
ser alugado, e os alugueres, frutos, poderão ser livremente dispostos pelo possuidor.
Todavia, não poderá alienar o apartamento. Já o herdeiro comum, não necessário, havendo
a posse provisória do bem, poderá igualmente usar e fruir, mas a fruição é restrita: se aluga
o bem imóvel, por exemplo, poderá dispor apenas de metade dos alugueres, a outra metade
devendo ser aplicada em títulos públicos indicados pelo MP, a fim de ser resguardada para
o ausente, em caso de retorno:
“Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do
ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem; os
outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos,
segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério
Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente.
Parágrafo único. Se o ausente aparecer, e ficar provado que a ausência foi
voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e
rendimentos.”
Apenas os bens que correrem risco de deterioração poderão ser alienados, e o
produto da venda se sub-rogará na situação em que o bem estava, ou seja, será gravado,
sendo depositado em conta judicial. Os juros, renda do bem, seguem a mesma lógica dos
alugueres acima dados de exemplo.
Em suma, os bens não possuem qualquer mobilidade no curso da sucessão
provisória, não havendo qualquer dinâmica, à exceção da alienação autorizada
judicialmente para fim de evitar perecimento.
O ausente que retorna, durante o curso da sucessão provisória, haverá de volta os
bens no estado em que se encontrem.
1.1.3. Abertura da Sucessão Definitiva
Passados dez anos desde o trânsito em julgado da sucessão provisória, é facultado
aos interessados (os mesmos do artigo 27 do CC) requerer a abertura da sucessão definitiva:
Michell Nunes Midlej Maron 41
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 37. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a
abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão
definitiva e o levantamento das cauções prestadas.”
Aberta a sucessão definitiva, transfere-se a propriedade dos bens aos herdeiros e
legatários – é ali que ocorre a saisine –, mas a propriedade adquirida pelos sucessores é
resolúvel por um período de dez anos. Veja:
“Artigo 39. Regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão
definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão
só os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar,
ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens
alienados depois daquele tempo.
Parágrafo único. Se, nos dez anos a que se refere este artigo, o ausente não
regressar, e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens
arrecadados passarão ao domínio do Município ou do Distrito Federal, se
localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União,
quando situados em território federal.”
Veja que os sucessores, agora proprietários, podem dispor livremente da coisa,
aliená-la a seu critério, mas se a mantiverem, ou o produto de sua venda, serão compelidos
a devolvê-los ao ausente, acaso este retorne ao convívio dentro destes dez anos posteriores
à abertura da sucessão definitiva (vez que é propriedade resolúvel dos herdeiros e
legatários). O fato de a propriedade ser resolúvel significa que é condicionada a evento
futuro e incerto que, se implementado, resolve a propriedade: a condição resolutiva é o
retorno do ausente. Voltando o ausente, haverá para si os bens como se encontrem, ou o
produto de sua alienação, sub-rogado na situação dos bens (se os bens e seus produtos
inexistirem, nada haverá que se fazer, não havendo qualquer direito subjetivo do ausente à
restituição por parte do sucessor). Passados os dez anos desde a declaração da sucessão
definitiva, sem retorno do ausente, consolida-se, afinal, a propriedade dos sucessores.
Por fim, tem valor traçar um esquema gráfico a fim de consolidar a linha temporal
de todo o processo, desde a ausência até a consolidação da propriedade:
Um ano Dez anos Dez anos
Declaração Arrecadação Nomeação Sucessão Sucessão Propriedade plena
de ausência de bens de curador provisória definitiva dos sucessores
1.1.4. Presunção da Morte na Ausência
Como foi dito, em certo ponto do procedimento da ausência há a presunção da
morte. Este momento é exatamente quando ocorre a abertura da sucessão definitiva, ou
seja, só se presume a morte do ausente após, no mínimo, onze anos desde a arrecadação de
seus bens. Esta é a exegese do artigo 6° do CC:
“Artigo 6o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta,
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão
definitiva.”
Michell Nunes Midlej Maron 42
EMERJ – CP I Direito Civil I
Havendo a morte presumida, todos os efeitos da morte se operam, inclusive a
dissolução do casamento. O cônjuge sobrevivente poderá se casar novamente quando
presumir-se morto o ausente, ou seja, quando há a abertura da sucessão definitiva. Ocorre
que este prazo, como visto, é de no mínimo onze anos, pelo quê a solução mais prática,
para o cônjuge presente, que deseja se casar novamente, será a ação de divórcio direto, após
dois anos da separação de fato, que ocorre, logicamente, quando o outro cônjuge é ausente.
Há que se consignar que a união estável poderá, esta sim, se constituir antes da
sucessão definitiva ser aberta, ou seja, antes da ocorrência da morte presumida.
Casos Concretos
Questão 1
Em março de 1995, na comarca de Resende, João Carlos da Silva requereu a
declaração de ausência de Carmem Costa, sua companheira, desaparecida no mês
Michell Nunes Midlej Maron 43
EMERJ – CP I Direito Civil I
anterior, por ocasião de temporal que abateu sobre a região, quando fora surpreendida,
em seu veículo, por forte enxurrada e levada pela correnteza. A desaparecida possui
interesses e bens a gerir na comarca e fora dela. Requereu o companheiro que, decretada a
ausência, fosse nomeado curador. O juízo proferiu, no entanto, despacho nomeando como
curadora a mãe de Carmem, que subscreveu termo, a despeito da irresignação do
requerente.
Em virtude do reconhecimento do óbito da ausente, em ação de justificação
proposta por sua mãe, proferiu o Juízo sentença declarando cessada a curadoria, na forma
do artigo 1.162, II, do CPC, e determinou a imediata abertura do processo de sucessão.
Tempestivamente apela a ex-curadora, investindo contra a certeza da morte
proclamada na sentença já transitada em julgado, sob a alegação de ter sido afirmada
mediante prova precária.
Considerando os institutos da ausência, da sucessão provisória e da sucessão
definitiva e à luz do disposto no artigo 1.162 do CPC, agiu corretamente o juiz? Merece
ser provido o apelo da ex-curadora quanto à impugnação da certeza da morte de sua
filha? Fundamente.
Resposta à Questão 1
Veja que o companheiro requereu ausência, e a mãe abriu processo de justificação.
Aparenta, o caso, ser de fato causa suficiente à justificação, e não à ausência, pelo quê agiu
bem o juiz ao reconhecer e declarar o óbito da desaparecida.
Dito isso, veja que a impugnação da mãe é absolutamente contraditória à própria
ação de justificação por esta proposta, ou seja, é absolutamente impertinente, e não merece
acolhida, carente que é de interesse processual. Estando declarada a morte, não mais há que
se falar em curadoria, e sim em sucessão, já definitiva.
Este caso foi enfrentado na Apelação Cível 1998.001.0296-0
Questão 2
Edson, declarado ausente, ajuizou ação negatória de paternidade, representado por
seu curador, em face de sua filha Daniela, nascida na constância do casamento e
registrada pelo autor.
A inicial foi indeferida pela r. sentença de fls., fundada na ilegitimidade ativa.
Apela o autor sustentando que o artigo 1601, caput, do novo Código Civil, que
imputa privativamente ao marido "o direito de contestar a legitimidade dos filhos nascidos
de sua mulher" deve ser interpretado de forma ampla, pois se refere ao pai presente. De
outro lado, o p. único do mesmo dispositivo legal autoriza os herdeiros a sucederem o
marido na lide já iniciada, da mesma forma que o artigo 1.606, caput, do mesmo Codex,
permite que os herdeiros do menor prossigam com a lide investigatória. Entende serem
lacunas na lei que devem ser supridas pela interpretação, não sendo, no caso, ilegítima a
parte que representa os interesses do ausente.
Ademais, afirma que a mãe da ré, ex-mulher do ausente, admitiu que o apelante
não é o pai de sua filha, devendo, assim, ser preservada a verdade real, tendo em vista os
avanços biológicos a serviço da Justiça. Requer o provimento do recurso para determinar
o prosseguimento do feito.
Michell Nunes Midlej Maron 44
EMERJ – CP I Direito Civil I
Explique, fundamentadamente, se agiu corretamente o juiz.
Resposta à Questão 2
O juiz agiu com correção. A interpretação a ser conduzida do referido dispositivo
deve ser o mais restritiva possível, uma vez que a paternidade importa mormente aos
diretamente envolvidos. Estando ausente o pai, não é morto, pelo quê, apenas após a
constatação da morte, será possível aos herdeiros questionar a paternidade. Andou bem o
magistrado, pois o curador não tem legitimidade para a ação, e sim somente para
administração patrimonial – a impugnação da paternidade é direito personalíssimo.
Questão 3
Janaína, cônjuge e curadora dos bens de Fernando, desaparecido há mais de 15
anos, tendo sido declarada sua ausência e já aberta a sucessão definitiva deste, pretende
casar-se com Paulo, divorciado. Oriente-a.
Resposta à Questão 3
Estando clara a morte do ausente, a sociedade conjugal se desfaz, nos termos do
artigo 1.571, I, do CC, pelo quê a viúva tem ampla liberdade para casar-se novamente. Não
há quaisquer impedimentos ou causas suspensivas, bastando-lhe encetar novo procedimento
para o casamento com Paulo.
Tema VII
Pessoa Jurídica ou Coletiva I. Diferença entre Pessoa jurídica e Pessoa formal (Entes Despersonalizados).
Natureza jurídica da pessoa jurídica. Efeitos e controvérsias da personificação. Classificação na CF/88 e no
CC/02.
Notas de Aula
Michell Nunes Midlej Maron 45
EMERJ – CP I Direito Civil I
1. Pessoa Jurídica
O elemento subjetivo da relação jurídica é tanto a pessoa física como a jurídica.
A teoria inicialmente proposta para explicar a pessoa jurídica é a da ficção: para
esta, do ponto de vista conceitual, a pessoa jurídica nada mais é que uma criação abstrata do
direito, dedicada a favorecer a negociação em sociedade.
Ocorre que este conceito pouco explica, pelo quê tomou campo a teoria da
realidade, operando a leitura da pessoa jurídica como uma entidade real, com finalidade
institucional: é uma instituição real com uma finalidade, qual seja, contrair obrigações e
titularizar direitos.
Estabelecida a natureza jurídica da pessoa jurídica – instituição finalísticamente
criada no mundo real –, o segundo passo importante para se entender a pessoa jurídica foi
separar a figura dos instituidores desta pessoa dela própria. Isto foi feito pela teoria da
autonomia, em que a pessoa jurídica é completamente desligada das pessoas físicas que a
compõem, em análise conceitual.
A finalidade da pessoa jurídica é extremamente importante, tanto que faz parte de
seu registro, de seus atos constitutivos: o objeto da atividade da pessoa jurídica deve ser
previsto no ato constitutivo, contrato social ou estatuto, e a esta finalidade a pessoa jurídica
deve se ater, pois se dela extrapolar haverá o desvio de finalidade, vedado à pessoa jurídica
– é o princípio da especialidade. Assim, vê-se que a pessoa jurídica tem o campo de
atuação muito mais restrito do que as pessoas naturais, uma vez que estas podem se dedicar
a qualquer atividade lícita, e aquela só pode praticar atos dedicados à finalidade
consignada.
Assim, em síntese, a pessoa jurídica é uma instituição com finalidade delimitada, e é
autônoma em relação aos elementos humanos que a formam. Assim dispõe o artigo 47 do
CC:
“Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos
limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.”
Este dispositivo deixa claro que quem pratica o ato é a pessoa jurídica, embora
quem o faça, fisicamente, é o ser humano por trás da pessoa jurídica. A autonomia da
pessoa jurídica é a regra geral.
O artigo 44 do CC define quem são as possíveis pessoas jurídicas de direito privado
no ordenamento jurídico brasileiro:
“Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
IV - as organizações religiosas;
V - os partidos políticos.
(...)”
1.1. Pessoas Formais
Michell Nunes Midlej Maron 46
EMERJ – CP I Direito Civil I
Afora estas pessoas, há que se mencionar uma entidade híbrida, sem traços muito
claros, que são as chamadas pessoas formais, pessoas sui generis. São elas aquelas
previstas no artigo 12, III, V e IX, do CPC:
“Artigo 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
III - a massa falida, pelo síndico;
(...)
V - o espólio, pelo inventariante;
(...)
IX - o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.
(...)”
A natureza jurídica da massa falida, do espólio e do condomínio é de entes formais
que têm possibilidade de representação. São, segundo Caio Mário, “uma universalidade de
bens, representada ativa e passivamente, sem personalidade jurídica própria, não sendo,
portanto, uma pessoa jurídica”. Assim, qual seria a necessidade de que este artigo 12
previsse a representação de tais entes?
Esta representação se justifica pela necessidade eventual de que estes entes estejam
em juízo, pelo quê demandam representante. Gustavo Tepedino vai além: o que se passa é a
atribuição de capacidade jurídica e de fato a quem não é pessoa, para fins de,
temporariamente, adquirir direitos e contrair obrigações, e praticar atos da vida civil.
Veja que segundo esta leitura civil-constitucional, os entes formais poderiam, até
mesmo, praticar atos negociais por meio de seus representantes, e não apenas constar em
juízo. Poderia, portanto, um condomínio adquirir ou vender um bem em contrato de compra
e venda, desde que atendente a interesses específicos dos componentes humanos da
entidade formal. Repare que os negócios praticados, então, são limitados aos casos em que
atendem a finalidades específicas, à necessidade do ente, não podendo ser praticados
imotivada e livremente, devendo ser justificados para serem válidos (motivo este que não é
elemento integrante de negócios jurídicos regulares, como se verá adiante).
Para a leitura clássica, de Caio Mário, isso seria impossível, pois a representação se
dá tão-somente para a prática de atos processuais.
Ainda neste tema dos entes formais, deve-se mencionar a questão dos condomínios
de fato, que são aqueles que não contam com registro da sua convenção: esta existe, mas
não é registrada. Neste ente, ainda mais sui generis, as relações são ainda mais conturbadas.
Por exemplo, há reiterada discussão acerca da obrigatoriedade do pagamento das cotas
condominiais por quem não é subscrevente do ato constitutivo não registrado: se este ente
for considerado uma associação, não haveria a obrigatoriedade do pagamento, vez que
ninguém é obrigado a associar-se – seria inconstitucional esta cobrança coercitiva. De fato,
o que se tem entendido é que não há condomínio, aproximando-se o conceito da associação,
para os associados. Todavia, para sanear a questão das cotas condominiais, ao menos, o
TJ/RJ emitiu, sobre o tema, a súmula 79:
“Em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, as associações de
moradores podem exigir dos não-associados, em igualdade de condições com os
associados, que concorram para o custeio dos serviços por ela efetivamente
prestados, e que sejam do interesse comum dos moradores da localidade.”
Michell Nunes Midlej Maron 47
EMERJ – CP I Direito Civil I
Destarte, se tratando de serviços indivisíveis (segurança, iluminação, etc), mesmo
dos não associados é cobrável o rateio. Não viola a voluntariedade da associação – eles não
se associam –, mas concorrem para o rateio.
1.2. Personificação da Entidade Familiar
Outra questão que merece comentários é a da personificação da entidade familiar.
As pessoas jurídicas, como visto, são aquelas do artigo 44 do CC, e há também os já
mencionados entes formais; seria concebível, então, entender-se a entidade familiar como
uma pessoa jurídica? Alguns doutrinadores, dentre eles Caio Mário, cogitam da hipótese,
mas não a vêem com bons olhos. Vale a menção às palavras deste autor:
“Em torno da personificação do grupo familiar, tem havido intensa discussão
acadêmica, parecendo mesmo, a alguns, conveniente admiti-lo. Não obstante a
existência de um acervo patrimonial de um agrupamento de pessoas, falta a
individualidade e a unidade orgânica à família, para ser admitida como pessoa
jurídica.”
1.3. Desconsideração da Personalidade Jurídica
Voltando à abordagem da teoria da autonomia, se viu que a entidade é autônoma em
relação aos seus componentes humanos – esta é a regra. A exceção à autonomia é quando
há a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica.
Esta idéia, inicialmente, foi um tanto difícil de ser concebida: se a própria teoria da
autonomia foi de difícil deglutição, quebrar-se a autonomia parecia ainda mais
incompreensível, uma vez que se aparentava um retrocesso.
O dispositivo que primeiro substanciou o tema foi o 135 do CTN, que trata da
responsabilidade tributária:
“Artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Ali se encontra a desconsideração legal da personalidade, atribuindo-se
responsabilidade a pessoa diversa da jurídica, qual seja, a pessoa natural por trás de seus
atos. Esta foi a base do instituto.
A partir dali vieram, em ordem cronológica, os artigos 28 do CDC e 50 do CC:
“Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder,
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração.
§ 1° Vetado.
Michell Nunes Midlej Maron 48
EMERJ – CP I Direito Civil I
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas,
são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações
decorrentes deste código.
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.
“Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Importante se consignar, de plano, que a desconsideração da personalidade jurídica
é uma medida de extrema exceção. Para se desconsiderar a personalidade, são necessários
alguns elementos que fundamentem esta drástica solução, sendo o primeiro o mau uso da
autonomia da entidade jurídica. Este mau uso se consubstancia em qualquer daqueles fatos
constantes do artigo 50 do CC. Veja: as situações que ensejam a desconsideração da
personalidade jurídica nas relações paritárias são somente o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial.
Nas relações de consumo, observando-se o artigo 28 do CDC, são requisitos para a
desconsideração na relação consumerista: o abuso de direito, a teor do artigo 187 do CC; o
excesso de poder, que é a exacerbação, por um dos gestores, dos poderes que a pessoa
jurídica lhe concede; a infração da lei, que é a quebra direta de um dever legal, incluídos aí
os tributários; a prática de fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social,
requisito genérico de aferição casuística; ou havendo a falência, o estado de insolvência, ou
o encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
Há ainda, no mesmo artigo 28, a previsão extremamente ampla do § 5°: sempre que
for considerada obstáculo ao ressarcimento do consumidor, a personalidade jurídica poderá
ser desconsiderada. Esta é, de fato, uma carta branca dada ao juiz, que identificará, a seu
critério, o que é ou não obstáculo ao ressarcimento, merecendo a desconsideração.
Vale ressaltar que este artigo só é aplicável em relações de consumo (teoria maior da
desconsideração). Nas relações paritárias, aplica-se o disposto no artigo 50 do CC, que é
bem mais restrito (por isso chamada teoria menor da desconsideração).
Assim, em linhas gerais, para qualquer tipo de desconsideração se podem apontar
algumas características básicas: a excepcionalidade, pois é medida ultima ratio; a
tipicidade, vez que deve o caso se enquadrar na circunstância típica autorizativa do
instituto; e uma terceira característica, a especialidade.
A especialidade consiste na dedicação finalisticamente restrita do instituto. Veja: só
se vai operar o lift of the corporate veil quando necessário, para a satisfação de uma
situação específica, ou seja, será desconsiderada a personalidade jurídica especialmente
para se atender àquela finalidade. Atendida, se restaura a consideração da personalidade, ou
seja, volta a ser autônoma a pessoa jurídica.
É importante salientar um aspecto de ordem processual: realizada a desconsideração
da personalidade jurídica, o sócio alvejado será posto no pólo sem qualquer ressalva quanto
ao contraditório, pois já estava consciente da sua posição ab initio, quando do ajuizamento
da ação contra a pessoa jurídica – a desconsideração geralmente ocorre em sede de
Michell Nunes Midlej Maron 49
EMERJ – CP I Direito Civil I
execução. Estando em fase cognitiva, o processo segue somente em relação à pessoa
natural, excluindo-se a pessoa jurídica do pólo passivo.
1.3.1. Desconsideração Inversa
Esta modalidade consiste, grosso modo, em uma “consideração” da personalidade
jurídica da pessoa jurídica. Explica-se: certas pessoas, integrantes do corpo social ou
administradores, têm poder para atuar em nome da pessoa jurídica. Se, em sua vida pessoal,
se utilizarem da personalidade jurídica da pessoa jurídica com o objetivo de fraudar
qualquer instituto, poderá ser requerido que se atinja o patrimônio da pessoa jurídica, para
sanear os danos, e não o patrimônio da pessoa física (invertendo-se o instituto, portanto,
que em regra permite a invasão do patrimônio pessoal quando o obrigado é a empresa: aqui,
o obrigado é o sócio, e se invade o patrimônio da pessoa jurídica).
Veja um exemplo: um dos sócios, com o objetivo de fraudar credores pessoais,
transfere seu patrimônio para a pessoa jurídica da qual é gestor. Se configurada a fraude, o
credor pode requere a desconsideração inversa, a consideração da personalidade da pessoa
jurídica para que se atinja o patrimônio daquela pessoa jurídica, que está se prestando como
escudo para a fraude de um dos sócios.
1.4. Constituição e Extinção da Pessoa Jurídica
É claro que o “nascimento” da pessoa jurídica difere do da pessoa natural. O que
empresta personalidade jurídica à pessoa jurídica é o seu ato constitutivo, o contrato social
(para sociedades civis) ou estatuto (para fundações e associações).
Este ato constitutivo é o regulamento da pessoa jurídica, continente das regras pelas
quais esta vai funcionar. A pessoa natural, quando nasce, é capaz para quaisquer direitos, e
quando se torna capaz de fato, para quaisquer atos lícitos. A pessoa jurídica não: esta só
pode praticar os atos que estiverem determinados em seu ato constitutivo. Esta é uma
diferença fundamentalíssima entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas: estas têm
restrição a sua finalidade, enquanto aquelas são irrestritas (somente sob o óbice da licitude).
Assim, no ato constitutivo, a pessoa jurídica deve consignar seu objeto, seus
gestores, e sua dotação orçamentária para funcionamento. A partir da formulação do ato
constitutivo, já existe uma pessoa jurídica informal. A pessoa jurídica se torna formalmente
existente quando este ato for levado a registro.
Há, pois, dois momentos para se completar o nascimento da pessoa jurídica: o
primeiro é a formulação do ato constitutivo; em seguida, se formaliza o surgimento quando
se dá o registro de tal ato, momento em que há a publicidade daquele surgimento da
personalidade. Veja que já existe informalmente sem o registro, mas a existência legal,
quando pode praticar regularmente os atos da vida civil, surge no registro. Assim dispõe o
artigo 45 do CC:
“Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com
a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as
alterações por que passar o ato constitutivo.
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas
jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da
publicação de sua inscrição no registro.”
Michell Nunes Midlej Maron 50
EMERJ – CP I Direito Civil I
Da mesma forma, a extinção da pessoa jurídica também conta com duas etapas. O
artigo 51 do CC é a sede:
“Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização
para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.
§ 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua
dissolução.
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber, às
demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa
jurídica.”
A extinção então passa pelo encerramento das atividades, sendo o primeiro passo, e
a liquidação para quitação de dívidas, segundo e final passo. Liquidada, está extinta a
pessoa jurídica, qualquer que seja sua forma.
2. Sociedades Civis, Fundações e Associações
O próprio CC trata da diferenciação destas pessoas jurídicas. A fundação, segundo o
artigo 62, é uma dotação orçamentária com finalidade expressa, que devem ser religiosas,
morais, culturais ou assistencialistas:
“Artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou
testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e
declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos,
morais, culturais ou de assistência.”
O conceito de fundação, segundo Caio Mário, é a atribuição de personalidade
jurídica a um patrimônio, que a vontade humana destina a uma finalidade social. É um
pecúlio, ou um acervo de bens, que recebe da lei a faculdade de agir no mundo jurídico, e
de realizar as finalidades a que visou o seu instituidor.
A fundação, inclusive, é fiscalizada pelo MP – através da Curadoria de Fundações
–, pois a atuação do MP, como se sabe, é voltada para a atenção ao interesse público
primário, e a finalidade destas entidades fundacionais é dedicada ao interesse público. O
MP atua para certificar que a finalidade seja cumprida e a fim de que os incentivos fiscais –
isenções tributárias – não sejam concedidos em vão. Qualquer desvio da finalidade é
passível de intervenção do MP.
Já nisso se diferenciam das associações: em que pese a atividade das associações ser
também de interesse público, esta é dedicada ao benefício dos próprios associados, e não à
sociedade em geral. As associações, então, também não têm finalidade lucrativa, mas
diferem das fundações justamente por não se dedicarem à coletividade, e sim aos
associados.
É importante se consignar que a não finalidade lucrativa não proíbe que tenham
lucros: o que não pode é haver esta finalidade como escopo da atividade. Se lucro houver,
este deve reverter para a atividade fim da fundação ou associação, e não para a
Michell Nunes Midlej Maron 51
EMERJ – CP I Direito Civil I
remuneração dos associados ou diretores. As sociedades civis, ao contrário, podem ter fim
lucrativo, e podem remunerar os sócios e administradores.
A fundação precisa de autorização para se registrar, sendo sua constituição feita a
requerimento do MP, ou pelo instituidor, mediante escritura pública ou testamento. Como a
fundação se resume em um acervo de bens, é necessário que, na instituição, haja
transferência de propriedade para a sua pessoa jurídica, que se torna proprietária, no lugar
do instituidor.
Se a fundação não conta com bens suficientes para cumprir a finalidade, será
aplicável o previsto no artigo 63 do CC (princípio da incorporação):
“Art. 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados
serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação
que se proponha a fim igual ou semelhante.”
O princípio da incorporação vige também no caso de extinção da fundação, como
prega o artigo 69 do CC:
“Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a
fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou
qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio,
salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra
fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante.”
Assim, são princípios fundamentais das fundações a autonomia, pois é pessoa
jurídica; a finalidade, que é bem específica; a fiscalização, pelo MP, pois desenvolve
atividade de interesse público; e a incorporação.
3. Responsabilidade Civil da Pessoa Jurídica
A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público sofreu evoluções
tremendas, desde a total irresponsabilidade, que foi o primeiro momento – the king can do
no wrong –, até a atual responsabilidade objetiva, passando pela teoria subjetivista (o
Estado respondia por culpa dos seus agentes).
Hoje, para a responsabilidade Estatal, das pessoas jurídicas de direito público, a
CRFB prevê claramente a adesão à teoria objetivista, no artigo 37, § 6°:
“Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
(...)”
Ao trazer tal responsabilidade também para as concessionárias do serviço público, o
constituinte estendeu-a para pessoas jurídicas de direito privado. Entretanto, a regra geral
para as pessoas jurídicas de direito privado, excetuadas as que prestam serviços públicos, é
Michell Nunes Midlej Maron 52
EMERJ – CP I Direito Civil I
a responsabilidade subjetiva. Ocorre que o CDC prevê, como se sabe, a responsabilidade
objetiva para as relações sob sua égide, mas é exceção: a regra geral, para as relações não-
consumeristas, é a responsabilidade subjetiva, por culpa.
Entretanto, fato é que a maioria absoluta das relações de responsabilidade que
envolvem pessoas jurídicas é perpetrada em relações de consumo, pelo quê, na prática, a
maioria absoluta das relações é de responsabilidade objetiva. Daí a confusão dos que
tomam-na, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, por regra geral.
Porém vem o CC, posterior ao CDC, e traz inovação no artigo 927, parágrafo único:
a responsabilidade civil objetiva genérica. Veja:
“Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Sintetizando o tema, então, assim se desenha a responsabilidade civil da pessoa
jurídica:
- Se for de direito público, é sempre objetiva, nos termos do artigo 37 § 6° da
CRFB;
- Se for de direito privado, e se se tratar de prestadora de serviço público, também
será objetiva, de acordo com o mesmo dispositivo constitucional;
- Se for pessoa jurídica de direito privado em relação ordinária, paritária, a regra é a
responsabilidade subjetiva, conforme a regra do artigos 186, combinado com o
artigo 927, caput.
- Se se enquadrar no teor do artigo 927, parágrafo único, a responsabilidade é
excepcionalmente objetiva;
- Se for relação consumerista, a responsabilidade é objetiva, conforme o CDC.
Há que se diferençar também quanto à responsabilidade contratual e a aquiliana. A
diferença substancial quanto a estas responsabilidades está no tratamento dado pela lei na
composição: se for responsabilidade contratual, serão observados os artigos 389 e seguintes
do CC; se a responsabilidade é aquiliana, se observam os artigos já mencionados, a
depender de qual seja a espécie em questão.
Veja que a única diferença substancial entre responsabilidade contratual e a
extracontratual é a presença, na contratual, da presunção de culpa de quem descumpre a
obrigação. Na responsabilidade aquiliana, por não haver prévio vínculo contratual, não há
qualquer presunção de culpa do suposto obrigado, a não ser nas hipóteses da inversão
material do ônus da prova.
Esta inversão é ocorrida quando certos fatos, por sua própria natureza, impõem o
ônus probatório a quem ordinariamente não o teria. Veja: em um acidente de trânsito,
cumpre ao vitimado comprovar sua condição de vítima. Se a colisão foi por trás, entretanto,
Michell Nunes Midlej Maron 53
EMERJ – CP I Direito Civil I
cumpre ao que bateu comprovar que não vitimou o que estava parado, e não a este
comprovar que é vítima, como ocorre no ônus regular, do artigo 333, I, do CPC.
Casos Concretos
Questão 1
Michell Nunes Midlej Maron 54
EMERJ – CP I Direito Civil I
O condomínio, a massa falida e o espólio têm legitimidade negocial para celebrar
negócios jurídicos autônomos, tais como vg, compra e venda de bens móveis ou imóveis,
dação em pagamento, transações, doações e permutas? Se afirmativa a resposta, como
explicar o fato à luz da doutrina tradicional que não reconheceu a esses entes
personalidade jurídica, aceitando, tão-somente e com críticas, que apenas têm mera
capacidade processual para estar em juízo, ativa ou passivamente, sendo por isso
denominados "pessoas formais"?
Resposta à Questão 1
Segundo a corrente moderna, são pessoas formais, com capacidade não somente
para estar em juízo, mas também para contratar negócios jurídicos que sejam de interesse
da pessoa. Para a corrente clássica, sua existência sui generis serve tão somente para a
representação processual.
Questão 2
Ricardo, funcionário aposentado do Banco ABC S/A, propôs ação em face de
Banco BISCAIA S/A objetivando a prestação e serviços médico-hospitalares gratuitos.
Sustenta que o Banco ABC S/A patrocinou uma associação civil, que se destinava, dentre
outros objetivos, a prestar, gratuitamente, assistência médica, hospitalar, laboratorial e
odontológica a seus associados. Nessas condições, o Instituto Assistencial contratou a
prestação de serviços médicos e laboratoriais com a UNIMED para atender seus
associados residentes no Rio de Janeiro.
Ocorre que outro grupo adquiriu o controle acionário do banco ABC S/A e tratou
logo de retirar o patrocínio do plano assistencial.
Desta forma, requer, a final, a manutenção do plano, sustentando que o Instituto
Assistencial não fora extinto, devendo, portanto, manter as condições preexistentes.
Em contestação, sustenta o réu que o fato de ter adquirido o controle acionário do
banco ABC S/A não o condiciona a manter, graciosamente, determinado plano de saúde e
que o artigo 53, parágrafo único do Código Civil estabelece a inexistência de direitos e
obrigações recíprocos entre os associados em se tratando de associação civil sem fins
lucrativos.
Decida a questão.
Resposta à Questão 2
O benefício patrocinado pode ser considerado uma doação periódica, e como
liberalidade, não pode ser imposta ao doador. A liberalidade, por conceito, é graciosamente
concedida pelo doador, e não exigida deste. Por conta da alteração no controle societário,
em que pese a sucessão nas obrigações da antecedente, não há, per si, obrigação
propriamente dita em manter o benefício – assiste razão ao banco, por fundamentos
diversos dos propugnados. É a Apelação cível 2004.001.0076-9, do TJ/RJ.
Fosse o benefício custeado pelos próprios associados, e não patrocinado pelo Banco,
sua retirada só poderia ser, aí sim, decidida pelos associados.
Michell Nunes Midlej Maron 55
EMERJ – CP I Direito Civil I
Tema VIII
Pessoa Jurídica ou Coletiva II. Fundações: Conceito. Fases de elaboração e extinção. Capacidade de fato da
pessoa jurídica. Princípio da especialização. Teoria da aparência. A personalidade Judiciária. A
Michell Nunes Midlej Maron 56
EMERJ – CP I Direito Civil I
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e privado. Desconsideração da personalidade
jurídica no Código Civil e no CDC. Domicílio.
Notas de Aula
1. Princípios da Pessoa Jurídica
A pessoa jurídica, como visto, é uma realidade, que existe separadamente das
pessoas naturais que a formaram: é o princípio da autonomia. Conseqüência direta da
autonomia é a separação patrimonial, e por isso a autonomia pode ser maior ou menor,
dependendo da sua forma. Como exemplo, as sociedades em comandita simples, que
atribuem responsabilidade pessoal aos sócios, é praticamente inexistente na prática, pois
sua autonomia é mínima.
Como visto, o início da personalidade jurídica da pessoa jurídica se dá no registro
dos atos constitutivos, como explicita o artigo 45 do CC. É ali que surge a capacidade
jurídica, e, concomitantemente, a capacidade de fato da pessoa jurídica. Eis uma grande
diferença: a pessoa natural só adquire a capacidade de fato, em regra, na maioridade, e não
no nascimento com vida, quando há a capacidade jurídica e a personalidade.
A dissolução da pessoa jurídica é a sua “morte”, que como se viu, segue dois
momentos, conforme o já transcrito artigo 51 do CC.
Além de ter a capacidade de fato originária, desde o início de sua existência, há
ainda outra diferença referente à capacidade de fato da pessoa natural: sua capacidade fática
é específica, o que se denomina princípio da especialidade. No caso da pessoa física, a
capacidade de fato é genérica, ou seja, há legitimidade para a prática de todos os atos da
vida civil, em tese8. A pessoa jurídica, por sua vez, só poderá praticar atos civis delimitados
pelo seu objeto, pela sua finalidade, traçada expressamente nos atos constitutivos. Havendo
atos diversos dos que integram esta capacidade específica, há o chamado desvio de
finalidade.
O reverso da autonomia é a desconsideração da personalidade jurídica, já abordada.
As regras básicas da disregard of the legal entitie são a excepcionalidade e especialidade: a
regra é a autonomia, e por isso só se desconsidera excepcionalmente; e quando se
desconsidera, só se o faz para satisfazer a um determinado propósito específico, retornando
a considerar-se a personalidade em seguida, e por isso é especial, específica.
2. Responsabilidade Civil da Pessoa Jurídica de Direito Privado
Este tema já foi abordado, mas aqui se delimita e aprofunda quanto à
responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado.
As previsões para a responsabilidade extracontratual, aquiliana, são as mesmas já
mencionadas, advindas da combinação dos artigos 186 e 927 e seguintes, e, sendo relação
consumerista, os artigos 12, 14, e 18 do CDC.
Um artigo de grande importância para o tema é o 932, III, do CC:
“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
8
Há casos em que a capacidade de fato da pessoa natural fica reduzida, como na situação do pródigo, que é
incapaz para alguns atos patrimoniais.
Michell Nunes Midlej Maron 57
EMERJ – CP I Direito Civil I
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no
exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
(...)”
Aqui se identificaria como uma hipótese de responsabilidade por fato de terceiro,
mas há de ser feita uma diferenciação: se o empregado age em nome da empresa, nos usos
das atribuições do cargo (ainda que abusiva ou irregularmente), de qualquer forma, quem
está agindo é a empresa. Por isso, não se trata realmente de responsabilidade opor fato de
terceiro, pois a empresa estará respondendo por fato próprio: o empregado é a empresa
perante a sociedade. Não se fala em culpa in eligendo, como se falava antigamente: a
responsabilidade é objetiva, e o que fundamenta a responsabilidade, neste caso, é a previsão
do artigo 933 do CC:
“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que
não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali
referidos.”
Assim, basta que se comprove o vínculo de emprego, e estará comprovada a
responsabilidade da empresa empregadora.
3. Teoria da Aparência
Há dois artigos que consagram legalmente a teoria da aparência: o 309 e o 1.828,
ambos do CC:
“Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado
depois que não era credor.”
“Art. 1.828. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, não está
obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado a este o direito
de proceder contra quem o recebeu.”
A teoria da aparência existe para sanar situações de erro na prática de atos jurídicos,
resguardando, mais uma vez, a boa-fé. Veja que o artigo 309 do CC garante a validade do
pagamento àquele que, mesmo não sendo o real credor, se aparentava como tal, sendo
escusável o erro do devedor que o pagou de boa-fé. É a própria essência da teoria da
aparência: aparentemente, aquele que recebeu era o credor, e por isso se justifica o erro do
devedor, que será validado. A mesma lógica se repete na hipótese do artigo 1.828 do CC, só
que especificamente aplicada à sucessão, no caso do herdeiro putativo que paga o legado
corretamente ao legatário também aparente.
Dos exemplos já se colhem os elementos que tornam aplicável a teoria da aparência,
quais sejam: a boa-fé objetiva de quem está em erro; a escusabilidade, inevitabilidade do
erro; e a consideração dos parâmetros do homem médio.
Quanto à teoria do homem médio, requisito para a aplicação da teoria da aparência,
tem relação com a boa-fé objetiva: será identificada a conduta esperada em concreto, e não
em tese, o que significa que o homem médio é específico: não é considerada, aqui, a média
universal, e sim a média das pessoas que se enquadrem sob as mesmas características gerais
daquela pessoa que errou. Vale um exemplo: um advogado especialista em contratos que
paga a credor putativo, entendendo-o credor por interpretação errônea de um contrato, será
Michell Nunes Midlej Maron 58
EMERJ – CP I Direito Civil I
muito mais severamente exigido, com muito mais rigor será avaliada sua cautela, do que se
um leigo fizesse tal pagamento. Ainda que este advogado comprove sua inépcia no caso,
será considerado mal pagador, e não se aplicará a regra do artigo 309 do CC, pois dele se
espera, legitima e objetivamente, maior cautela naquele pagamento. Em verdade, a teoria
do homem médio serve como medida da escusabilidade do erro.
Um exemplo um pouco diferente: cliente de um restaurante entrega o carro a um
manobrista que, uniformizado com roupa do restaurante, na verdade era um fraudador,
sequer sendo funcionário do estabelecimento. Será o restaurante responsável pelo dano
material, em eventual ação judicial? Se se aplicar a teoria da aparência, será, pois estão
presentes todos os requisitos: a boa-fé; o erro escusável; e a conduta regular do homem
médio naquela situação. Mas veja que é situação com muitas nuances, podendo variar na
casuística a perspectiva dos elementos da aparência.
Outro exemplo recorrente na jurisprudência é a firma de um contrato com pessoa
que se apresenta representando a empresa, mas na verdade não tem poderes de
representação. Neste caso, não se pode exigir do homem médio que fique conferindo
instrumentos de mandato em todas as relações sociais, pelo quê se aplica a teoria da
aparência: o contrato será exigível da empresa.
Vale consolidar aqui um conceito da teoria da aparência: esta decorre de um ato
praticado pelo titular putativo de um direito, estando a outra parte de boa-fé objetiva, que
age em erro escusável (medido pelo parâmetro do homem médio), e tendo por
conseqüência a geração de efeitos jurídicos em relação ao verdadeiro titular do direito. Este
titular, mesmo não praticando nada, responderá como se houvesse praticado, e terá, por
óbvio, regresso contra o que se passou por si.
4. Domicílio da Pessoa Jurídica
Domicílio é o local onde a pessoa estabelece habitualmente suas relações jurídicas
rotineiras.
São conceitos diversos os de morada, residência e domicílio. Morada é o local onde
a pessoa natural é localizada, sem que haja vínculo temporal mais duradouro naquela
localização. Assim, a pessoa pode estabelecer morada em um hotel, em uma locação por
temporada, etc. Residência, por sua vez, é aquele local da pessoa natural se estabelece de
forma mais permanente, havendo vínculo temporal mais sólido. É o caso das casas de praia,
de campo, etc.
Já o domicílio da pessoa natural, por sua vez, é a residência com um elemento a
mais, subjetivo, qual seja, o ânimo definitivo. Veja:
“Art. 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua
residência com ânimo definitivo.”
A pessoa jurídica de direito privado, por sua vez, não institui morada, tampouco
residência, e o meio pelo qual institui domicílio é diferente do da pessoa natural, pois não
há este elemento “ânimo”. O meio pelo qual estabelece o domicílio é citado no artigo 75,
IV, do CC:
“Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
I - da União, o Distrito Federal;
Michell Nunes Midlej Maron 59
EMERJ – CP I Direito Civil I
II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;
III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas
diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou
atos constitutivos.
§ 1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada
um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
§ 2o Se a administração, ou diretoria, tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por
domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das
suas agências, o lugar do estabelecimento, sito no Brasil, a que ela corresponder.”
Assim, enquanto o domicílio da pessoa natural é formado por um elemento
subjetivo, o da pessoa jurídica demanda elemento objetivo, qual seja, a expressa
consignação no ato constitutivo, sendo domicílio a sede da diretoria.
A polêmica surge na pluralidade de domicílios. Para a pessoa natural, qualquer um
dos locais em que resida definitivamente será seu domicílio, e quantos o forem, provando-
se o ânimo com quaisquer meios possíveis:
“Art. 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde,
alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas.”
“Art. 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção manifesta
de o mudar.
Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às
municipalidades dos lugares, que deixa, e para onde vai, ou, se tais declarações não
fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem.”
Já para a pessoa jurídica, o próprio artigo 75 do CC, no § 1°, dita a regra: qualquer
estabelecimento é domicílio, para os atos ali praticados. Para atos que não sejam praticados
onde há estabelecimentos diversos da sede da diretoria, esta sede continua sendo o único
domicílio.
Ocorre que há também uma previsão na Lei 9.099/95 que diz respeito à pluralidade
de domicílios das pessoas jurídicas, no artigo 4°, especialmente no inciso I:
“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça
atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial,
agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de
dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto
no inciso I deste artigo.”
Veja que este inciso I do artigo 4° da Lei 9.099/95 é muito mais amplo do que a
previsão do CC, no artigo 75, § 1°. Se aplicável este critério para a pessoa jurídica que tem
diversos estabelecimentos, como um banco, será domicílio qualquer uma das agências, por
exemplo, pois em todas se desempenha a atividade. Se aplicado o § 1° do artigo 75, será
domicílio tão-somente a sede do banco, ou a agência em que se tem conta. Na aplicação do
dispositivo da Lei 9.099/95, a grande margem de discricionariedade na escolha do foro pelo
autor de uma ação, por exemplo, contra um banco, é criticada pela doutrina, pois feriria o
Michell Nunes Midlej Maron 60
EMERJ – CP I Direito Civil I
princípio do juiz natural: qualquer juízo poderia ser escolhido pelo autor, vez que qualquer
lugar será domicílio do réu, e por isso qualquer juízo será competente. Todavia, este artigo
é aplicado, valendo esta “escolha” do autor quanto ao domicílio do réu.
4.1. Espécies de Domicílio
Há duas espécies de domicílio aplicáveis à pessoa jurídica: o voluntário e o de
eleição. Para a pessoa jurídica, é domicílio voluntário aquele escolhido para sede da
diretoria, ou aquele que é feito constar no ato constitutivo, conforme artigo 75, IV, do CC.
O domicílio de eleição da pessoa jurídica é aquele estabelecido nas contratações
escritas, eleito pela pessoa jurídica em puntuação com o contratante – é o domicílio
contratual. É previsto no artigo 78 do CC:
“Art. 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde
se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes.”
Este artigo precisa ser combinado com o artigo 112, parágrafo único do CPC, que
dispõe:
“Art. 112. Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.
Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão,
pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de
domicílio do réu.”
Assim, nos contratos de adesão, há uma presunção de que haja imposição do foro,
que deixa de ser de eleição, pelo quê é nulo, inclusive sendo tal nulidade declarada de
ofício pelo juiz. O artigo 424 do CC também deve ser observado, neste aspecto:
“Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.”
O domicílio legal e o profissional, respectivamente dos artigos 76 e 72 do CC, são
atinentes exclusivamente à pessoa natural, pelo quê se dispensam comentários sobre eles,
neste tópico.
Casos Concretos
Questão 1
João da Silva moveu em face da empresa Factoring Dinheiro Rápido Ltda execução
fundada em título extrajudicial, requerendo a desconsideração de sua personalidade
jurídica para o fim de serem penhorados bens particulares de sócio majoritário, sob a
alegação de que a executada não possui bens que possam honrar a dívida e que está sendo
utilizada para a prática de atos fraudulentos. Alega, ainda, que fora criada de forma
Michell Nunes Midlej Maron 61
EMERJ – CP I Direito Civil I
fantasiosa, com a finalidade de captação de recursos financeiros no seio da sociedade,
causando enormes prejuízos a inúmeras pessoas.
O Juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por
entender que, apesar da evidência de que a executada estivesse em situação financeira
difícil, a simples insatisfação do crédito perante a pessoa jurídica não autoriza a sua
desconsideração, o que só seria possível em face da prova da utilização fraudulenta da
entidade por seu sócio majoritário, ônus que incumbia à executanda provar e não o fez.
À luz do disposto na norma dos artigos 50 do novo Código Civil e 28 do Código de
Defesa do Consumidor e, considerando, ainda, os entendimentos doutrinário e
jurisprudencial dominantes, agiu corretamente o juiz? Explique.
Resposta à Questão 1
Depende da leitura que se faça dos requisitos para a desconsideração. Ocorre que se
o entendimento do juiz for calcado exclusivamente na previsão do caput do artigo 28 do
CDC, está correta sua atitude; todavia, se estender o olhar para o § 5° do mesmo
dispositivo, poderá entender que a personalidade se enquadra sob a pecha de obstáculo, no
caso, ao ressarcimento do consumidor, pelo quê deveria ter realizado a desconsideração.
Mas como a regra geral é a excepcionalidade da desconsideração, o mero fato de
que a empresa não conta com patrimônio não representa, necessariamente, motivo para
desconsideração, pelo quê se aproxima, a resposta, mais da negativa à desconsideração do
que à efetivação desta.
Questão 2
PAPELARIA SANTO AMARO LTDA. ingressou com agravo de instrumento em face
de decisão que reconheceu sua revelia em processo movido por Tício. Argumenta que não
houve na hipótese sua regular citação. Sustenta que o ato citatório deveria recair sobre o
seu representante legal, consoante o estabelecido pelo artigo 12, inciso VI, do CPC, sendo
que na situação a citação recaiu em funcionário que atendia no balcão, que não deu
ciência ao representante legal da sociedade acerca do ocorrido. Diz ainda que se trata de
pequena sociedade e que nenhum motivo havia para que a citação não tivesse sido dirigida
ao seu representante legal.
Qual o entendimento do aluno a respeito?
Resposta à Questão 2
A citação é válida, pela mais simples aplicação da teoria da aparência. Citada a
pessoa jurídica naquele que aparenta ser seu representante, está cientificada do processo,
regularmente.
Questão 3
Michell Nunes Midlej Maron 62
EMERJ – CP I Direito Civil I
Pedro, em viagem a São Paulo, celebra contrato com renomada empresa nacional,
que tem ali sua matriz, além de filiais situadas em todo o território pátrio, cujo objeto é a
compra e venda de móveis residenciais. Contudo, Pedro, após receber os bens, insatisfeito
com a qualidade dos mesmos, nega-se a efetuar o pagamento, motivo pelo qual a referida
pessoa jurídica deduz pretensão indenizatória na Comarca de São Paulo em virtude da
existência de cláusula contratual fixadora do domicílio de eleição, informando, ainda, que
Pedro, servidor público federal, lotado na cidade de Campos/RJ, no momento da
celebração do referido negócio, forneceu endereço de vários lugares onde tinha residência,
fato que poderia inviabilizar o deslinde célere da questão. Em sua peça contestatória, o
réu informa que travou-se uma relação de consumo em virtude da celebração de tal
contrato, cujas cláusulas foram fixadas unilateralmente pelo fornecedor, motivo pelo qual
apresenta exceção de incompetência com base no artigo 94 do Código de Processo Civil.
Analisados os fatos, indaga-se:
a) qual o domicílio da pessoa jurídica?
b) e da pessoa física?
c) quais as espécies de domicílio?
d) a cláusula que fixou o domicílio de eleição, in casu, é válida?
e) a exceção de incompetência deve receber a chancela do Estado-Juiz?
Resposta à Questão 3
a) É o local da sede, ou de onde desenvolve suas atividades negociais:
“Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
(...)
IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas
diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou
atos constitutivos.
§ 1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada
um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
(...)”
b) Por ser Pedro servidor federal, seu domicílio é legal, necessário, nos termos do
artigo 76 do CC.
c) O domicílio é voluntário, exceto quando a lei determina domicílio obrigatório,
por alguma circunstância peculiar; domicílio laborativo, profissional, o ocupado
pelo agente em suas atividades laborativas; domicílio de eleição, facultado às
pessoas jurídicas; e há também o conceito de domicílio fictício, como o dos
caixeiros viajantes, ou dos andarilhos, ou dos moradores de rua.
d) Sim, em abstrato, conforme autoriza o já transcrito artigo 75, IV, do CC, mas in
casu, o contrato é de adesão, pelo quê se desconsideram cláusulas que não se
submeteram à puntuação – artigo 112, parágrafo único do CPC.
e) Deve ser acolhida, pela protetividade consumerista, e pela elisão da cláusula não
puntuada no contrato.
Michell Nunes Midlej Maron 63
EMERJ – CP I Direito Civil I
Tema IX
Dos bens e das coisas. Noção e importância jurídica do patrimônio. Universalidade de direito e de fato.
Divisão em classes. Bens móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e
coletivos. Bens principais e acessórios. Frutos. Produtos. Benfeitorias e Pertenças. Bens Públicos e Privados.
Bem de família. Lei nº 8009/90. Aspectos materiais.
Notas de Aula
1. Bens
Michell Nunes Midlej Maron 64
EMERJ – CP I Direito Civil I
Bem é tudo que pode proporcionar satisfação a alguma necessidade do ser humano.
É todo valor, material ou imaterial, que pode ser objeto de uma relação jurídica.
Há certos bens que não são objetos de relação jurídica, pois o falta o requisito da
ocupabilidade – são as coisas comuns, como o ar atmosférico, a água do mar, etc. Por não
poderem ser apropriadas, não pertencem a ninguém, e não são bens, economicamente
falando.
Há distinção a ser feita entre bens e coisas. O CC de 1916 não era preciso nessa
terminologia, o que foi corrigido no CC de 2002. Hoje, bem é gênero, e coisa é espécie, no
CC. Há duas correntes doutrinárias sobre esta terminologia: há quem diga que coisa é o
gênero, e bem é a espécie; e há quem acompanhe o CC, dispondo que bem é o gênero, e
coisa é apenas aquele bem corpóreo, que pode ser percebido pelos sentidos. Esta é a
orientação majoritária: bem compreende tudo o que pode ser objeto de direito,
independentemente do valor econômico – inclusive direitos –, e coisa abrange apenas as
utilidades patrimoniais, corpóreas.
As relações jurídicas podem ser objetivadas por direitos, ou seja, o direito que seja
transmissível pode ser objeto da relação jurídica. Afinal, são bens.
1.1. Patrimônio
Tradicionalmente, há duas concepções de patrimônio, a teoria personalista, ou
subjetiva, de Caio Mário, que entende que o patrimônio é a projeção econômica da
personalidade, não sendo possível dissociar ambas as idéias. Ambos são unos e indivisíveis.
Entretanto, a teoria subjetiva demonstrou-se superada diante de diversas situações
concretas, em que o patrimônio claramente se dissocia da personalidade. Por isso, a teoria
objetiva, de Orlando Gomes, tomou campo: para esta, o patrimônio não se vincula
necessariamente a uma pessoa, pois constitui, de fato, uma massa de bens vinculada a
determinado fim. É um complexo de direitos e obrigações vinculados a uma certa
finalidade.
Um dos fenômenos que explica a maior coerência da tese objetiva é o chamado
patrimônio de afetação. Na incorporação imobiliária, regulada na Lei 4.591/64, poder-se-á
apartar alguns bens do patrimônio do incorporador para que constituam o patrimônio de
afetação, fundo de reserva dedicado à garantia da construção. É, desde quando constituído,
um bloco patrimonial separado do patrimônio do incorporador, cuja finalidade não se
desvirtua nem mesmo se o incorporador entrar em processo de falência. E veja que é
completamente alheio à personalidade do incorporador, seja ele pessoa natural ou jurídica:
é uma espécie de patrimônio coletivo pertencente aos adquirentes da obra.
Outro exemplo são os patrimônios que se segmentam, como no caso dos
patrimônios pessoais dos cônjuges, que se comunicam faticamente ao patrimônio comum
conjugal, mas não juridicamente: cada um tem o seu patrimônio pessoal, e há o patrimônio
comum – não havendo a idéia de projeção da personalidade dos cônjuges sobre este.
Assim, para Luiz Edson Fachin, que coaduna-se na tese objetiva, a definição de
patrimônio envolve os direitos e obrigações apreciáveis economicamente, ficando excluídos
os direitos de família puros e os direitos da personalidade.
Pontes de Miranda, mais tecnicamente, identificou uma diferença fundamental.
Patrimônio, qualquer que seja a tese, é um conjunto de bens. Para Pontes de Miranda, na
verdade é um conjunto de direitos sobre aqueles bens: o objeto do patrimônio não se
Michell Nunes Midlej Maron 65
EMERJ – CP I Direito Civil I
restringe aos bens, mas sim ao direito que faz o dono titularizar aquele bem, pois todo e
qualquer bem é ligado a alguém por um direito correspondente (título de propriedade, posse
ad usucapionem, herança, etc)
1.2. Classificação dos Bens
Considerados em si mesmos, os bens podem ser:
Móveis ou imóveis: O artigo 79 do CC apresenta os bens imóveis:
“Artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.”
Tudo o que se imobilizar, então, além do que é naturalmente imóvel, será
considerado bem imóvel.
O CC de 1916 trazia uma outra categoria de bens imóveis, que não mais
subsiste no ordenamento: os bens imóveis por acessão intelectual. Esta categoria
deu lugar ao conceito de pertença, que será visto adiante, e o CJF, em enunciado da
Primeira Jornada de Direito Civil, o de número 11, assim se manifestou:
“Não persiste no novo sistema legislativo a categoria dos bens imóveis por acessão
intelectual, não obstante a expressão ‘tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente’, constante da parte final do artigo 79 do CC”.
Não é que as pertenças correspondam ao que era o conceito de acessão
intelectual, mas sim que suprem a necessidade de que este conceito ainda subsista.
Destarte, são imóveis por natureza aquilo que a própria o faz, e são imóveis por
acessão natural ou artificial tudo aquilo que adere ao imóvel por natureza.
O artigo 80 do CC traz duas hipóteses de bens considerados imóveis pela lei,
e não por constatação empírica:
“Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram;
II - o direito à sucessão aberta.
Esta ficção legal existe em função da importância dos bens ali tratados, pela
necessidade de se atribuir meio para sua negociação segura, o que se faz por
tramitação solene, pública. Quanto à sucessão aberta, o fato de ser imóvel por lei
determina, por exemplo, que para sua renúncia é necessária atenção à anuência do
cônjuge, se houver, nos termos do artigo 1.647, I, do CC:
“Artigo 1.647. Ressalvado o disposto no artigo 1.648, nenhum dos cônjuges pode,
sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
(...)”
O artigo 81 do CC ainda explica situações que poderiam suscitar dúvidas:
“Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis:
Michell Nunes Midlej Maron 66
EMERJ – CP I Direito Civil I
I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem
removidas para outro local;
II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se
reempregarem.”
Os bens móveis, por sua vez, são aqueles que podem ser movidos sem que
sua substância, valor ou utilidade se percam. Veja:
“Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção
por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.”
Assim, este é o critério fundamental para se identificar bens móveis: sua
mobilidade sem perda de economicidade, utilidade ou forma.
Há também os bens considerados móveis pela lei:
“Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais:
I - as energias que tenham valor econômico;
II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes;
III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.”
Situação interessante é a dos bens móveis por antecipação de uso. Consiste,
esta circunstância, nos bens que, por natureza, são imóveis, mas que se tornam
móveis pela especial destinação que receberão. Veja o artigo 95 do CC:
“Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos
podem ser objeto de negócio jurídico.”
A antecipação de uso é o seguinte: o bem ainda está, no momento da
transação, aderido ao imóvel, e por isso é considerado imóvel (uma plantação
qualquer, por exemplo). Se, no momento da compra e venda desta plantação, se
considerar sua condição in loco, será necessária a formalidade da compra e venda de
um bem imóvel, pois assim o bem está. Outrossim, considerando-se na venda o uso
que será dado ao bem vendido – extração, processamento e possível revenda –,
nota-se que pelo uso o bem é móvel, e assim não se impõem as formalidades de uma
compra e venda de bem imóvel. Um exemplo bem ilustrativo é o de uma casa que se
vende para demolição: fosse a casa vendida para ser ocupada como residência, seria
necessária a operação registral, pois seria um imóvel; por antecipação do uso,
constante do instrumento contratual, porém, se o destino da casa é a demolição, é
despiciendo o trâmite registral: considera-se a casa como bem móvel, pois assim
será seu uso. O STJ encampa esta tese:
“Venda de safra futura. Bens móveis por antecipação. A venda de frutos, de molde
a manifestar o intuito de separação do objeto da venda em relação ao solo a que se
adere, impõe a consideração de que tais coisas tenham sido, pela manifestação de
vontade das partes contratantes, antecipadamente mobilizadas. Se, no momento do
ajuizamento do feito, já havia sido realizada a colheita, tem-se como acertada a
decisão que nega aos frutos o caráter pendente. STJ, 3a t., AG.RG. 147406, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, 25.8.98, RT 762/210.”
Michell Nunes Midlej Maron 67
EMERJ – CP I Direito Civil I
Corpóreos ou incorpóreos: Os bens corpóreos são aqueles que têm uma existência
física, perceptível a todos os sentidos; incorpóreos são aqueles que têm existência
abstrata, ideal, e não física (como os direitos).
O que é mais relevante na classificação dos bens em corpóreos ou
incorpóreos é o modo de sua transmissão: se o bem for incorpóreo, a forma normal
de transmissão é a cessão, como na cessão de direitos; se for corpóreo, se dá por
compra e venda, doação, etc.
Fungíveis ou infungíveis: O artigo 85 do CC trata destas categorias de bens:
“Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma
espécie, qualidade e quantidade.”
A fungibilidade traz uma idéia de comparação, de relação: se o bem é
substituível por outro, sem perdas características, é fungível. Os infungíveis vêm
por exclusão: se não podem substituir-se, são infungíveis.
Na maioria absoluta dos casos – tanto que não há qualquer exemplo factível
do contrário –, os bens fungíveis são móveis, tanto que o artigo assim o diz.
Também os serviços podem ser considerados infungíveis: se somente um
indivíduo puder prestar o serviço, por suas exclusivas características (um cantor, por
exemplo), será este serviço infungível, obrigação de fazer infungível.
Consumíveis ou inconsumíveis: São consumíveis os bens que se degeneram já no
seu primeiro uso, ou seja, perdem ao menos alguma parcela significativa de sua
substancialidade ou economicidade quando usados. Ao contrário, inconsumíveis são
aqueles que admitem uso mais reiterado, sem que sua integridade seja atingida
significativamente.
Pode haver a constatação da consumibilidade jurídica: um bem que,
naturalmente, seja inconsumível, pode assumir caracteres de consumível quando
considerado em relação ao seu proprietário ou seu uso. Um exemplo: o livro é um
bem inconsumível, para o leitor; todavia, é considerado juridicamente consumível
para o livreiro, uma vez que para este é um dos itens de seu estoque, de seu acero
para negociação, e se consumirá no primeiro uso, qual seja, na primeira venda
deixará de existir como item de estoque – se consome no primeiro uso. Esta
consumibilidade jurídica está consignada na parte final do artigo 86 do CC:
“Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata
da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação.”
Há como se traçar uma relação entre fungibilidade e consumibilidade. Para
Caio Mário, a consumibilidade é atributo da própria coisa, independentemente de
qualquer idéia de relação; já a fungibilidade resulta de uma comparação que enseja a
possibilidade de sua substituição por outra da mesma espécie, qualidade e
quantidade. Mas, em regra, os bens consumíveis são fungíveis, havendo, por óbvio,
possibilidade de um bem consumível ser infungível (um vinho extremamente raro,
por exemplo).
Michell Nunes Midlej Maron 68
EMERJ – CP I Direito Civil I
Divisíveis ou indivisíveis: Segundo o artigo 87 do CC, são divisíveis aqueles bens
que podem ser fracionados sem perda da substância – critério físico –, e sem
diminuição do valor ou prejuízo da utilidade – critérios jurídico-econômicos.
Veja que, levado à risca o critério físico, todo e qualquer bem é divisível, vez
que até a partículas inferiores às subatômicas a ciência consegue fracionar a matéria.
Todavia, a perda da substância tem ligação com o conceito de utilidade e valor
econômico do bem. Um exemplo: um cavalo, se partido ao meio, deixa de ter sua
função econômica, pois não mais se presta às atividades que de um semovente se
espera. Veja:
“Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua
substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se
destinam.”
Singulares ou coletivos: Bens singulares são considerados em si mesmos como
tendo uma individualidade própria, sendo considerados independentemente dos
demais, mesmo se reunidos. O CC conceitua apenas os singulares, em contraposição
às universalidades:
“Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si,
independentemente dos demais.”
Os bens coletivos são aqueles conjunto de coisas singulares que, reunidas,
adquirem unidade comum, agregando-se num todo. Como exemplo, um boi
integrado ao rebanho; um livro integrado à biblioteca, etc.
O que muda não é a natureza do bem: é a forma de encará-lo. Um boi pode
ser considerado um bem singular, ou parte de um rebanho. O CC não se atém, por
isso, às coletividades de bens, vez que são critérios definidos na casuística.
Quanto às universalidades, entretanto, o CC é expresso:
“Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que,
pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária.
Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de
relações jurídicas próprias.
“Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de
uma pessoa, dotadas de valor econômico.”
Assim, a universalidade de fato é a que decorre da vontade do titular; a
universalidade de direito é a que decorre da lei. O que realmente difere
universalidade de fato e de direito é a relevância da vontade do particular: a herança,
qualquer que seja a vontade do seu autor ou do herdeiro, não deixa de ser uma
universalidade, e por isso é de direito. Uma coleção exposta à venda, porém, pode
ser considerada uma universalidade, ou ser vendida livro a livro.
O STJ tem recente decisão referente ao tema, em que considera o FGTS, a
conta geral do fundo, como uma universalidade de direito, titularizada por todos os
trabalhadores cotistas:
Michell Nunes Midlej Maron 69
EMERJ – CP I Direito Civil I
“STJ, ERESP 286.020, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,9.5.02, DJ 1.7.02. O
FGTS é uma universalidade de direito (CC, artigo 54, II) constituída pela
agregação dos saldos em contas vinculadas. Tais saldos, uma vez agregados,
perdem individualidade, tornando-se cotas ou frações ideais. Os trabalhadores,
donos das coisas agregadas, são cotistas (condôminos) do fundo. As sociedades
comerciais são, em última análise, fundos (universalidades corporativas) a que se
atribuiu personalidade jurídica. Os sócios de tais universalidades colocam-se, em
relação a elas, como titulares de cotas (ou ações), em tudo iguais às parcelas dos
trabalhadores no FGTS.”
Da mesma forma, a herança:
“A herança é uma universalidade, que não se confunde com o direito do co-titular
do patrimônio comum. REsp não conhecido. STJ, REsp. 93.456-PE, rel. Min. Ari
Pargendler”
Reciprocamente considerados, pr sua vez, os bens podem ser:
Principais ou acessórios: Principal é aquele bem quem existe de forma autônoma,
sendo considerado por si só como uma só individualidade. O bem acessório, por sua
vez, em que pese ter existência autônoma, tem ligação de dependência com o
principal, e por isso segue a sua sorte – é o princípio da gravitação jurídica, em que
o acessório segue o principal. Veja:
“Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente;
acessório, aquele cuja existência supõe a do principal.”
As categorias de bens acessórios, no CC, são as seguintes: acessões, naturais
ou industriais; frutos, naturais, industriais ou civis; produtos; e benfeitorias,
necessárias, úteis ou voluptuárias.
Há ainda que se tratar das pertenças, que são alvo de discussões doutrinárias
acerca da sua configuração em bem acessório ou não. Segundo o CC:
“Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se
destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.”
Assim, pertença (do latim pertinere) é aquilo que guarda algum vínculo de
dependência com o bem principal, mas a ele não se integra, apenas a ele se ligando
de forma duradoura. Como exemplo, o rádio de um carro, os móveis de uma casa,
ou mesmo uma linha telefônica ao imóvel. Para Silvio de Salvo Venosa, são
características das pertenças o vínculo intencional, material ou ideal, estabelecido
por quem faz uso da coisa, a serviço da utilidade do principal; o destino duradouro,
ou mesmo permanente (não apenas transitório) ligado à coisa principal; e a
formação de uma unidade econômico-social com a coisa principal.
A professora Maria Helena Diniz trata das pertenças traçando identidade do
conceito com aquela já mencionada acessão intelectual, que não mais subsiste no
ordenamento. Aqueles bens que eram considerados, antigamente, imóveis por
acessão intelectual, poderão hoje ser identificados como pertenças, mas não se
confundem, por isso, os conceitos. Como exemplo, os móveis de uma casa, que
Michell Nunes Midlej Maron 70
EMERJ – CP I Direito Civil I
antes eram imóveis por acessão intelectual e hoje são pertenças. As pertenças não
são, de forma alguma, imóveis, podendo ser objeto de negócios autônomos, pelo
quê os conceitos não se confundem jamais. As pertenças, em regra, sequer se
sujeitam à gravitação jurídica, a teor do artigo 94 do CC, pelo quê sequer são bens
acessórios (há divergências, que serão apontadas) – e os imóveis por acessão eram
acessórios. Veja:
“Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não
abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de
vontade, ou das circunstâncias do caso.”
O artigo 93 do CC, já transcrito, fala em “partes integrantes”. Como se
diferençar as partes integrantes das pertenças? Afinal, o que são partes integrantes?
Segundo Pontes de Miranda, partes integrantes são as partes concretas que entram
na unidade que faz a coisa. Podem ser essenciais, quando não podem ser separadas
sem que se deteriorem ou modifiquem economicamente a natureza da coisa que a
integram, e por isso não podem ser objeto de relações jurídicas distintas (como o
tecido usado na confecção do terno, ou as telhas e janelas da casa); e podem ser
não-essenciais, quando não estão irremediavelmente ligados à coisa, podendo ser
separados desta (como uma pedra preciosa em relação ao anel). Mesmo perdendo
valor, não será substancial.
Em suma, a pertença difere da parte integrante porque sem esta a coisa não
mais existe como deveria: um carro existe sem o aparelho de som (pertença), mas
não existe sem as rodas (partes integrantes).
Quanto à acessoriedade das pertenças em relação ao principal, há
divergências acerca da sua configuração ou não em bem acessório. Há três
correntes: a maioria entende que tanto as partes integrantes como as pertenças se
incluem na noção de acessórios, mesmo não se sujeitando à gravitação jurídica. A
segunda corrente, menor, entende que nem as partes integrantes, nem as pertenças,
são acessórios da coisa. E a posição intermediária, que diz que embora sejam
acessórios, partes integrantes e pertenças, estas últimas simplesmente não gravitam
em torno do principal: é conceitualmente acessória, mas com o efeito da
acessoriedade retirado pela lei.
Voltando à classificação dos bens acessórios, em acessões, frutos, produtos
ou benfeitorias, vejamos uma a uma:
- Acessões: Acessão é a incorporação de um bem por outro. Pode ser natural
ou artificial: a natural decorre de eventos da natureza, como fortuitos, sem
intervenção humana. Como exemplo, a aluvião (depósito de sedimentos
trazidos pelo fluxo hídrico), a avulsão (desprendimento violento de terras e
adesão a outras) ou a formação de ilhas. A acessão industrial, por sua vez,
decorre da atuação, do engenho humano, como a construção e a plantação,
que aderem ao principal.
- Frutos: Estes têm por característica a existência de um ciclo reprodutivo,
que torna sua retirada não extenuante ao principal. Podem ser naturais,
industriais ou civis: naturais são aqueles que não dependem da intervenção
Michell Nunes Midlej Maron 71
EMERJ – CP I Direito Civil I
humana para surgirem, como os frutos de uma árvore; os frutos industriais
são os que só existem em função da atuação humana, como a produção de
uma fábrica; e os frutos civis decorrem do uso econômico do principal, como
os juros ou os alugueres.
- Benfeitorias: Há, de plano, que se diferenciar das acessões: estas são
inovações, que se instalam no principal sem que nada houvesse; as
benfeitorias são atinentes a uma coisa anteriormente existente, que se quer
conservar, melhorar, ou aformosear.
Toda benfeitoria é artificial, fruto da atuação humana, e podem ser
necessárias, úteis ou voluptuárias. Veja:
“Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso
habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se
deteriore.”
Na prática, a classificação da benfeitoria é casuística, a depender do contexto
em que se fez a obra.
Quando considerados em relação às pessoas que são seus titulares, os bens se
classificam em públicos ou particulares:
Públicos ou particulares: Os artigos 98 e 99 do CC define os bens públicos, e, por
exclusão, os particulares:
“Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a
pessoa a que pertencerem.”
“Artigo 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal,
inclusive os de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os
bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado
estrutura de direito privado.”
O CJF, no enunciado 287 da Quarta Jornada de Direito Civil, contraria um
pouco a regra:
“O critério da classificação de bens indicado no artigo 98 do Código Civil não
exaure a enumeração dos bens públicos, podendo ainda ser classificado como tal o
bem pertencente a pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação
de serviço público.”
Michell Nunes Midlej Maron 72
EMERJ – CP I Direito Civil I
As três categorias apresentadas no artigo 99 dizem respeito mormente às
implicações em Direito Administrativo, pelo quê o estudo é melhor abordado
naquela matéria. Todavia, é importante se observar as regras sobre a alienação
destes bens, constantes dos artigos 100 e 101 do CC:
“Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são
inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei
determinar.”
“Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as
exigências da lei.”
O STJ abordou a matéria em um julgado de alto interesse:
“REsp. 2734-GO, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, 4.12.90. LOTEAMENTO
URBANO. Inalienabilidade dos ´espaços livres´. Inscrito o loteamento, sob a
vigência do DL 58/37, tornaram-se inalienáveis, a qualquer título, vias de
comunicação e os ´espaços livres´ constantes do memorial e da planta, dentre estes
o espaço destinado à construção da ´igreja´. Pela inalienabilidade, perdeu o
loteador a posse e o domínio de tais áreas, transferidas ao poder público. Nula,
destarte, posterior doação feita pelo loteador a determinada confissão religiosa, de
espaço livre já de domínio do município.”
Pelas regras dos loteamentos, assim que se abrem ruas ou espaços livres,
como praças, estas são consideradas bens públicos de uso comum. O loteador, ali,
alienou um desses espaços, e o STJ entendeu que aquela área era já da
municipalidade quando da alienação, pois já havia loteamento, e a área, desde então,
já era do Município.
1.3. Bem de Família
O bem de família pode ser legal ou voluntário. O bem de família voluntário,
constante do artigo 1.711 e seguintes do CC, é aquele que é instituído por ato do
proprietário, a fim de assegurar o direito de moradia da família. Veja:
“Artigo 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura
pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de
família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao
tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel
residencial estabelecida em lei especial.
Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por
testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de
ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.”
“Artigo 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural,
com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio
familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na
conservação do imóvel e no sustento da família.”
Michell Nunes Midlej Maron 73
EMERJ – CP I Direito Civil I
Inovação neste aspecto é a imposição do limite máximo de um terço do patrimônio
líquido do proprietário, o que não existia antes do novo CC. Isto é ligado à necessidade de
um mínimo existencial, mas sem fraudes.
Os valores mobiliários, potencialmente abrangidos pelo bem de família, também
são inovação, pois se entende que podem, estes, salvaguardar a sobrevida da família e a
conservação do bem.
O bem de família voluntário é inalienável e impenhorável, mas estes gravames
diferem dos impostos ao bem de família legal, da Lei 8.009/90. Isto porque o artigo 1.715
do CC traz a seguinte previsão:
“Artigo 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua
instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas
de condomínio.
Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo
existente será aplicado em outro prédio, como bem de família, ou em títulos da
dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem
outra solução, a critério do juiz.”
Assim, o bem de família convencional é isento perante as dívidas posteriores a sua
constituição, mas não perante as anteriores; o bem de família legal, como se verá, é
inatingível, quer por dívidas anteriores, quer por obrigações posteriores.
O bem de família legal, então, é definido no artigo 1° da Lei 8.009/90:
“Artigo 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas
nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se
assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos
os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a
casa, desde que quitados.”
O bem de família legal é instituído pelo próprio Estado, na forma desta lei. enquanto
o voluntário, para se constituir, necessita da celebração de um negócio jurídico específico
devidamente registrado, o bem de família involuntário, disposto na Lei 8.009/90, é
instituído independentemente de iniciativa da chefia familiar.
O que se discute, em diversas nuances, é o alcance desta instituição, ou seja, quais
bens estão ou não estão sujeitos a esta classificação. Como exemplo, recentemente o STJ
entendeu que até mesmo os solteiros se enquadram no conceito de família, a fim de ter seu
único bem imóvel – e, conseqüentemente, seu direito de moradia – protegido.
Na verdade, o bem de família é justamente um manifesto em busca da criação de
um patrimônio personalíssimo, garantista do mínimo subsistencial, e com isso da dignidade
da pessoa humana. Neste critério, do mínimo existencial, até mesmo televisores,
computadores, um de cada, são considerados, hoje, impenhoráveis. Assim, tudo que for
componente do imóvel, ou do mínimo existencial, se torna impenhorável (bom exemplo é a
vaga de garagem do apartamento).
O artigo 2° desta lei traz algumas ressalvas:
Michell Nunes Midlej Maron 74
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de
arte e adornos suntuosos.
Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens
móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do
locatário, observado o disposto neste artigo.”
Novamente, o que se vê é a primazia apenas do mínimo existencial. Quanto aos
veículos, é necessário se grifar que se for meio de trabalho, ainda será impenhorável (não
por força da Lei 8.009/90, mas sim pelo CPC): só é penhorável o veículo que seja
supérfluo.
Vale, para estabelecer uma conexão, transcrever os artigos pertinentes à
impenhorabilidade genérica, do CPC:
“Artigo 649. São absolutamente impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de
elevado valor;
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado
o disposto no § 3o deste artigo;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem
penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação
compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em
caderneta de poupança.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para a
aquisição do próprio bem.
§ 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora
para pagamento de prestação alimentícia.
§ 3o Vetado.”
“Artigo 650. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos
dos bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia.
Parágrafo único. Vetado.”
O artigo 4° da Lei 8.009/90 traz previsão que merece comentários:
“Artigo 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se
insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência
familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.
§ 1º Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a
impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda,
liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hipótese.
Michell Nunes Midlej Maron 75
EMERJ – CP I Direito Civil I
§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a
impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens
móveis, e, nos casos do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada
como pequena propriedade rural.”
Veja que o que se passa, na leitura do dispositivo, é uma proteção contra a fraude
contra credores. Porém, na realidade, a compra de um bem imóvel mais valioso pode ser
realizada, bastando para tanto se considerar impenhorável, naquele bem, o valor
correspondente ao imóvel antigo, e livre a parte excedente.
Casos Concretos
Questão 1
O fato de o único imóvel residencial vir a ser alugado o desnatura como bem de
família? Fundamente sua resposta.
Resposta à Questão 1
Não. A configuração do bem de família tem um único escopo, constitucional: a
proteção à efetivação do direito de moradia. Se o imóvel for alugado, não significa que este
direito, do proprietário, está por este sendo descartado: o bem de família ainda resta
Michell Nunes Midlej Maron 76
EMERJ – CP I Direito Civil I
configurado, pois a renda proveniente dos alugueres decerto se presta a que o proprietário
alugue, ele próprio, um outro imóvel, efetivando a moradia.
Assim se posiciona o STJ, entendendo que se a renda retorna em proveito da
família, está salvo o escopo do bem de família:
“REsp. 439.920, Min. Castro Filho, 11.11.2003. O fato de o único imóvel
residencial vir a ser alugado não o desnatura como bem de família, quando
comprovado que a renda auferida destina-se à subsistência da família”.
Questão 2
Em 1988, João vê seu único imóvel, onde reside com sua família, penhorado.
Contudo, ao alegar se tratar de bem de família, viu tal pretensão ser rechaçada em virtude
de não estar tal bem devidamente registrado para tal fim, nos moldes do artigo 73 do
Código Civil de 1916. Ao fim do ano de 1989, tal bem é vendido em hasta pública,
restando perfeita a arrematação. Com o advento da Lei 8.009/90, antes da extinção da
execução face ao pagamento da dívida com a quantia paga pelo arrematante, João
peticiona nos autos no sentido de que se declare nula a arrematação, aplicando-se para
tanto o artigo 6º da Lei 8.009/90. Analisados os fatos, pergunta-se:
a) Quais as espécies de bem de família em nosso ordenamento pátrio;
b) É nula a arrematação, tal como mencionado pelo executado? Explique.
Resposta à Questão 2
a) Há duas espécies de tal tipo de bem em nosso ordenamento: o voluntário, do
CC, e o legal, da Lei 8.009/90. A primeira espécie, para se constituir, necessita
da celebração de um negócio jurídico específico devidamente registrado,
enquanto o bem de família legal é naturalmente instituído, independente de
qualquer ato.
b) O artigo 6º da Lei 8.009/90 se aplica às hipóteses em que, mesmo havendo
penhora, será tal ato cancelado se recair sobre bem considerado impenhorável
nos moldes daquela lei. Há duas correntes sobre sua aplicabilidade: a primeira
entende que a penhora, uma vez realizada, seria ato jurídico perfeito, sendo,
neste prumo, inconstitucional aquele dispositivo. Inclusive, assim se
posicionou o STJ, através do enunciado n º 205 da sua súmula:
“A Lei 8.009/90 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência”.
A segunda corrente, gabarito, entende que a arrematação é ato
jurídico perfeito, motivo pelo qual não há de se aplicar o artigo 6º da Lei
8.009/90: a arrematação não é nula, vez que, tempus regit actum, a lei da
época, o CC de 1916, tem vigor, mesmo não tendo vigência.
Questão 3
Michell Nunes Midlej Maron 77
EMERJ – CP I Direito Civil I
O banco Alfa interpõe ação de execução em face de sociedade TINTURARIA
FAMÍLIA LTDA., tendo por base contrato de confissão de dívida, em que são fiadores
JOÃO E MARIA, sócios da indigitada sociedade. A ação é também dirigida aos fiadores.
Verificado o encerramento das atividades da sociedade comercial, requereu o banco a
penhora de imóvel de propriedade dos fiadores.
Efetivada a penhora, foram interpostos embargos de devedor, tendo sido pleiteado
o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, em razão da aplicação da Lei nº
8.009/90. Argumenta o exeqüente que não pode o imóvel ser enquadrado como bem de
família, já que os embargantes nele não residem, sendo que o imóvel é objeto de locação,
não restando atendido, pois, o disposto no artigo 1º da lei nº 8.009/90. Os embargantes
aduzem que efetivamente não residem no imóvel, residindo com a família de MARIA,
locando o imóvel para subsistência do casal, sendo o aluguel sua única fonte de renda.
Indaga-se: Como Juiz, como você resolveria a questão? Na hipótese, é ou não
impenhorável o imóvel?
Resposta à Questão 3
Reitera-se: a configuração do bem de família tem um único escopo, constitucional: a
proteção à efetivação do direito de moradia. Se o imóvel for alugado, não significa que este
direito, do proprietário, está por este sendo descartado: o bem de família ainda resta
configurado, pois a renda proveniente dos alugueres decerto se presta a que o proprietário
alugue, ele próprio, um outro imóvel, efetivando a moradia. Vide, a respeito:
“REsp 698.332, rel. Min. Luiz Fux, 28.6.05. Não se constitui em condicionante
imperiosa, para que se defina o imóvel como bem de família, que o grupo familiar
que o possui como única propriedade nele esteja residindo. Uma interpretação
sistêmica, e não literal, da Lei 8.009/90 leva a concluir que este é apenas uma das
características, dentre um conjunto de outras, que indica a situação de
imprescindibilidade do imóvel à própria sobrevivência da unidade familiar, de
modo que a sua locação não lhe afasta tal condição, desde que se comprove que tal
procedimento seja levado a efeito em benefício da própria sobrevivência da
família”.
Questão 4
Carlos celebrou, em 13 de fevereiro de 2000, contrato de locação com Marcos,
indicando como seu fiador, Bruno.
Em janeiro de 2003, Marcos propôs ação de cobrança em face de Carlos e Bruno,
tendo em vista a inadimplência com o pagamento dos alugueres.
Em contestação, sustenta Carlos, locatário, que não possui dinheiro para pagar a
dívida e também não possui bens a serem penhorados.
Por sua vez, Bruno, sustenta ser proprietário de apenas um imóvel - considerado
bem de família e, por isso, impenhorável - alegando, ainda, a inconstitucionalidade do
artigo 3º, inciso VIII, da Lei 8.009/90.
Em réplica, Marcos aduz que, o referido dispositivo é constitucional.
Decida a questão fundamentadamente, indicando os dispositivos legais pertinentes
ao caso.
Michell Nunes Midlej Maron 78
EMERJ – CP I Direito Civil I
Resposta à Questão 4
Quanto à questão dos fiadores, a perspectiva é que a fiança vincula todo o
patrimônio do fiador à dívida garantida. Entretanto, o bem de família, que se sabe
impenhorável, é uma instituição que suscita conflito ao ser posta diante da fiança. A última
posição do STF, porém, é de que há validade e constitucionalidade no artigo 3°, VII, da
citada lei: deve ser privilegiada a boa-fé do credor garantido sobre a proteção do bem de
família do fiador, vez que ao pactuar a fiança o fiador já sabia do risco a que se submetia: é
praticamente uma renúncia potencial ao direito de moradia, pelo fiador.
“Artigo 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução
civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...)
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.
(...)”
O questionamento a esse assunto ganha vulto quando se verifica que, na casuística,
o devedor principal terá proteção ao seu bem de família, e seu fiador não terá tal proteção –
a equidade, nesse caso, cai totalmente por terra.
Tema X
Fato jurídico em sentido amplo. Conceito e Classificação. Fatos naturais ordinários e extraordinários. Fatos
voluntários lícitos e ilícitos. Negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. A representação legal e
voluntária no negócio jurídico.
Notas de Aula
1. Fato Jurídico
Antes de tudo, tem valor um esquema gráfico para servir de ponto de partida.
Naturais
Michell Nunes Midlej Maron 79
EMERJ – CP I Direito Civil I
Ordinários
Extraordinários
Fato Ato Jurídico Stricto Sensu
Jurídico
Voluntários Ato Jurídico Lícito Negócio Jurídico
(ou humanos)
Ato Jurídico Ilícito Ato-fato Jurídico
Fato jurídico em sentido amplo é aquele evento que o ordenamento jurídico entende
relevante, em algum aspecto, e por isso o reconhece como merecedor de tutela. Isto porque
o ordenamento entende que são aptos a produzir efeitos, criar, modificar, conservar ou
extinguir direitos.
Assim, o conceito de fato jurídico em sentido amplo é o acontecimento, natural ou
humano, que é apto a adquirir, resguardar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Este é
o conceito tradicionalista. A doutrina mais moderna, entretanto, percebe que há fatos que
são relevantes ao ordenamento jurídico, mas que podem jamais produzir quaisquer efeitos.
Como exemplo, um testamento: este é um fato jurídico, na medida em que é relevante para
o ordenamento jurídico, mas pode jamais chegar a produzir efeitos, posto que o beneficiário
ali apontado pode vir a falecer antes do testador, ou pode haver a revogação, etc.
Assim, a doutrina moderna entende que é mais importante, para o conceito, não que
haja a produção de efeitos, mas sim que haja a potencialidade de produção de efeitos. Por
isso, para esta corrente, fato jurídico em sentido amplo é aquele acontecimento capaz de
adquirir, modificar, resguardar ou extinguir situações jurídicas concretas, tendo
potencialidade de produzir tais efeitos.
Como dito, o fato jurídico pode advir de um acontecimento natural ou de uma
conduta humana voluntária. Quando advém de um acontecimento natural, este pode ser um
acontecimento ordinário, daqueles esperados de situações de normalidade – como a morte
natural –, ou acontecimento extraordinário, que são aqueles que revelam-se de hipóteses
alheias à normalidade – como os eventos de força maior.
Quando os fatos jurídicos são originados de uma conduta humana voluntária, que
pode ser tanto comissiva quanto omissiva, geram atos ilícitos, provenientes de uma conduta
ilícita, que geram a obrigação de reparação, na esfera civil; ou atos lícitos, que geram os
atos jurídicos em sentido amplo, que são os atos humanos dedicados a alguma finalidade,
cujos efeitos ou são previstos na lei, ou estabelecidos pelas partes. Ato jurídico em sentido
amplo, por conceito, é toda declaração de vontade, individual ou coletiva, do particular ou
do Estado, destinada à produção de efeitos.
Estes atos jurídicos em sentido amplo se subdividem em atos jurídicos em sentido
estrito e negócios jurídicos. Em ambos, a manifestação de vontade existe, mas a
delimitação dos efeitos é que difere: nos atos jurídicos em sentido estrito a manifestação de
vontade forma o ato, mas os efeitos dessa declaração são previstos exclusivamente na lei.
como exemplo, o reconhecimento de um filho, ou a adoção. É a manifestação de vontade
obediente à lei, geradora de efeitos que nascem da própria lei.
Dentro dos atos jurídicos em sentido estrito, há os atos reais e as participações.
Como atos reais, temos aqueles que englobam toda manifestação de vontade individual, não
dirigida a quem quer que seja, e que produzem efeitos determinados por lei. São a absoluta
maioria, como a aceitação e renúncia da herança, a adoção, etc. Já as participações são
manifestações de vontade dirigidas a outra pessoa, como uma revogação de mandato, por
Michell Nunes Midlej Maron 80
EMERJ – CP I Direito Civil I
exemplo, ou as notificações extrajudiciais, etc. Vejamos os conceitos: os atos reais, ou
materiais, consistem na atuação humana baseada em uma vontade consciente, tendente a
produzir efeitos legalmente previstos; as participações são atos de mera comunicação,
dirigidos a determinados destinatários, sem qualquer conteúdo negocial (o interessado não
tem qualquer ingerência sobre a produção de efeitos).
Já nos negócios jurídicos, os efeitos do ato também são estabelecidos pelas partes, e
não somente pela lei. Há total ingerência dos relacionados na produção dos efeitos. As
partes decidem a feitura do ato, e os efeitos de sua produção. A doutrina tradicional se
limitava a dizer que as partes têm esta ingerência na produção dos efeitos, mas a doutrina
moderna vai um pouco além: o ordenamento jurídico tutela, também, os efeitos do negócio
jurídico, quer por se entender que é lícito, quer porque preenche todos os pressupostos de
existência, validade e eficácia o negócio, em sua feitura, e, mais ainda, para a função social
do negócio e a boa-fé objetiva (a qual cria deveres anexos ao negócio, que se verão melhor
adiante).
Vejamos os conceitos: negócio jurídico é toda declaração emitida de acordo com o
ordenamento legal, e geradora de efeitos jurídicos pretendidos. Esta é a definição clássica.
Para a corrente modernista, negócio jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração
de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos,
respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia, impostos pela norma jurídica
que sobre ele incide.
1.1. Classificações do Negócio Jurídico
A primeira classificação é em unilateral e bilateral, quanto à manifestação de
vontade. Para o unilateral, basta a manifestação de uma só pessoa para que se aperfeiçoe; o
bilateral, demanda pluralidade de manifestações no mesmo sentido, coincidentes sobre o
objeto principal da declaração. Exemplo de negócio jurídico unilateral é o testamento, que
se aperfeiçoa apenas com a vontade do testador (mesmo que só produza efeitos na aceitação
pelo herdeiro, mas aí já se está analisando o plano da eficácia, e não da existência).
Exemplo de bilateral, qualquer contrato.
Outra classificação é em onerosos ou gratuitos. Negócio jurídico oneroso é aquele
em que a vantagem patrimonial de uma parte corresponde também a uma obrigação – a
compra e venda é exemplo claro. O gratuito, ao contrário, implica apenas em uma só parte
havendo vantagens, sem qualquer obrigação a si imposta – a doação pura, por exemplo.
Classificação correlata é em bifrontes, que são onerosos ou gratuitos – como o contrato de
depósito –, ou neutros, que não são nem onerosos, nem gratuitos – como a constituição do
bem de família.
Os negócios jurídicos podem ser ainda inter vivos ou mortis causae, referentes, por
óbvio, ao momento em que se produzem os efeitos: se em vida, no primeiro caso; se após a
morte, no segundo.
Podem ser solenes ou não-solenes. Solene não é o que tem a mera forma
estabelecida na lei, como se pensa, mas sim aquele que tem a fórmula estabelecida na lei,
ou seja, o meio de se praticar o negócio, como no casamento. Se há liberdade de forma, por
óbvio há não-solenidade, mas pode haver forma prescrita sem que haja solenidade.
Pode ser principal ou acessório: o primeiro é autônomo, e o segundo gravita em
torno do primeiro.
Michell Nunes Midlej Maron 81
EMERJ – CP I Direito Civil I
O negócio jurídico ainda será de mera administração ou de disposição. O de
disposição é o que envolve alienação de bens, e o de mera administração envolve apenas a
administração geral dos bens, sem alienação.
1.2. Ato-Fato Jurídico
É o fato jurídico qualificado pela ação humana. Neste ato-fato, o ato humano é da
sua substância, mas não importa, para a norma, se houve ou não intenção de praticá-lo; o
que se ressalta é a conseqüência do ato, ou seja, o fato resultante do ato.
Trata-se de uma conduta humana, em que a vontade é desprezada, pois não se faz
relevante para o ordenamento jurídico. Os efeitos decorrem da lei ou da praxe social, pelo
quê são válidos, notadamente quando praticados por incapazes.
É justamente por não haver qualquer relevância da vontade que os atos-fatos
jurídicos podem ser praticados por incapazes. Veja: se o menor de dezesseis anos pratica
uma compra e venda na padaria, seria esta nula, não se enquadrasse exatamente nesta
categoria de ato-fato.
Dentro desta categoria, há uma subdivisão: o ato-fato real, ou material; o
indenizativo; e o caducificante. O real opera conseqüências irremovíveis, como a compra e
venda pelo menor.
Os atos-fatos reais são atos humanos dos quais resultam circunstâncias fáticas
irremovíveis.
O ato-fato indenizativo é aquela obrigação de reparação de danos resultante de ato
lícito: são os casos de indenização devida mesmo em caso de exclusão da ilicitude, como
no estado de necessidade, configurando desconsideração pela vontade do agente. São
situações em que, de um ato humano lícito, decorre prejuízo a terceiro, com correspondente
dever de indenizar.
O ato-fato caducificante, como o termo diz, induz a decadência de um direito
qualquer. Este ato-fato é a situação que, dependente de fatos humanos, constitui fato
jurídico cujos efeitos consistem em extinção de determinado direito, e, por conseqüência,
da pretensão, da ação, e da exceção dela decorrente, como ocorre na decadência ou
prescrição, independentemente de ato ilícito do titular.
1.3. Pressupostos de Existência, Validade e Eficácia do Negócio Jurídico
São pressupostos de existência: a vontade; o agente; o objeto; e a forma. A estes,
aderem os pressupostos de validade, quais sejam: a vontade deve ser livre e de boa-fé; o
agente tem que ser capaz; o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou
determinável; e a forma deve ser a prescrita ou não defesa em lei.
Os pressupostos de eficácia são a aptidão do negócio jurídico em produzir efeitos,
por si, ou submetidos aos elementos acessórios, quais seja, a condição, o termo ou o
encargo.
1.4. Representação
Michell Nunes Midlej Maron 82
EMERJ – CP I Direito Civil I
O agente pode atuar por si próprio, quando for plenamente capaz, ou por meio de
representante, quando a lei assim impuser ou o próprio agente determinar negocialmente
(mandato). O instituto da representação merece especial atenção.
O CC, nos artigos 115 e seguintes, trata da representação. O representante é aquele
que manifesta a sua própria vontade para, fazendo-o, obrigar o representado em algum
negócio jurídico perante terceiros, contraindo direitos e obrigações para o representado.
Veja que não manifesta a vontade do representado: a vontade é a sua própria, mas com
força obrigatória sobre o representado.
O poder que garante esta força obrigatória da vontade manifestada pelo
representante sobre o representado vem da lei. O poder de representação é legal, tanto nos
casos da representação legal, quando a representação é uma obrigação, como na
convencional, quando a representação é uma faculdade. A relação interna entre
representante e representado é chamada relação representativa.
São características da representação: a vontade de representar; a manifestação de
vontade do representante, e não do representado, nos atos externos; a aquisição de direitos e
obrigações pelo representado, e não pelo representante, nas relações externas; e o poder de
representação. Se estas características não estiverem presentes, não há a representação. Por
exemplo, o contrato de comissão, em que o agente comissionário pratica atos no mercado
em nome próprio, e depois os repassa ao comissionante para cumprimento – não é
representação.
Vejamos os conceitos: representação é o instituto pelo qual uma pessoa, o
representante, emite ou recebe manifestação de vontade negocial em nome e por conta de
outra pessoa, o representado, a fim de que os efeitos do negócio jurídico celebrado
repercutam na esfera jurídica desse último. Já o poder de representação é a faculdade ou
poder jurídico do representante, de produzir efeitos jurídicos na esfera jurídica do
representado, com resultados para este, mediante a conclusão de negócios jurídicos em seu
nome. A relação representativa, por último, é a relação interna entre representante e
representado, que decorre da lei ou do contrato (mandato).
Veja que o representado pode ser tanto uma pessoa natural como uma pessoa
jurídica. Nesta, entretanto, um dos sócios componentes do conselho deliberativo, por
exemplo, não é representante: quando atua, é a própria pessoa jurídica atuando, e por isso
não se configura a representação. Neste caso, a atuação do sócio, ou administrador, pela
empresa, como se esta fosse, é denominado de presentação.
Mesmo caso seria o dos presentantes das pessoas formais, como os síndicos do
condomínio ou da massa falida, e o inventariante do espólio, mas nestes se denomina de
representação imprópria.
Há ainda a representação aparente: se uma pessoa atua aos olhos de todos como se
fosse representante de alguém, sem o ser, em homenagem ao princípio da aparência e à
boa-fé objetiva, os seus atos de representação serão considerados válidos. O terceiro de
boa-fé não poderá ser prejudicado.
Como dito, a representação pode ser legal ou convencional, mas ambas têm como
autorizativo primário a lei, devendo ser lícitas. Ocorre que a representação legal é imposta
exclusivamente nos termos da lei, e se dedica aos absolutamente incapazes. A finalidade da
representação legal é protetiva, e por isso é assim também chamada – representação
protetiva. O representante legal pode praticar atos de gestão, de administração e de
aquisição de direitos, que importem sempre em benefícios para o incapaz. Aquilo que
Michell Nunes Midlej Maron 83
EMERJ – CP I Direito Civil I
porventura importar em ônus ou alienação de bens do incapaz, depende sempre de
autorização judicial, com intervenção obrigatória do Ministério Público.
A representação convencional se opera por contrato de mandato, e o instrumento é a
procuração. Nesta, o representante só pode agir nos limites do contrato, sob pena de
responder pessoalmente pela exacerbação dos atos ali permitidos. Não se admite
suprimento judicial de poderes não conferidos pelo representado na procuração.
Em ambas as hipóteses, na representação legal ou convencional, o representante
deve exibir aos terceiros com que transaciona a sua qualidade, como dispõe o artigo 118 do
CC:
“Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em
nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de,
não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem.”
Havendo conflito de interesses entre representante e representado, o ato pode ser
passível de anulação, por nulidade relativa, vez que pode ser ratificado. Mas a anulabilidade
só se instala se o terceiro tinha ciência do conflito, pelo quê estava de má-fé; não havendo a
ciência, o terceiro estava de boa-fé, e por isso não se pode anular o ato. Veja:
“Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de
interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de
quem com aquele tratou.
Parágrafo único. É de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do negócio ou da
cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação
prevista neste artigo.”
1.4.1. Auto-Contratação
Há que se tratar da auto-contratação. Pode ocorrer de o representante atuar como
parte contratante, em nome próprio, e também, simultaneamente, no mesmo negócio, atuar
como contratante em nome do representado, na qualidade de representante. É o chamado
contrato consigo mesmo. Pode, também, ocorrer de ser o representante de duas pessoas, e
manifestar-se por elas no contrato, dos dois lados contratantes. Em ambos os casos, de
auto-contratação, a prática é vedada pelo CC, que estabelece apenas duas exceções: quando
a lei o admitir, ou quando o representado o quiser.
“Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio
jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar
consigo mesmo.
Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o
negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido
subestabelecidos.”
Havendo a auto-contratação, o ato é anulável, e não nulo, comportando ratificação.
O prazo de anulação é o do artigo 179 do CC, de dois anos.
Um dos casos em que a lei permite a auto-contratação é o mandato em causa
própria:
“Artigo 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua
revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes,
Michell Nunes Midlej Maron 84
EMERJ – CP I Direito Civil I
ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os
bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.”
Casos Concretos
Questão 1
Alberto, menor impúbere, com onze (11) anos de idade, dirige-se sozinho à escola,
por meio de transporte Municipal, e também sozinho adquire livros educacionais e o
lanche escolar.
Tendo em vista tais fatos, aliás cotidianos, pode-se dizer que, por não estar presente
o representante legal do menor, estarão estes eivados de nulidades? E mais, qual a
natureza jurídica de tais eventos?
Resposta à Questão 1
Michell Nunes Midlej Maron 85
EMERJ – CP I Direito Civil I
Não. Veja que, ao pé-da-letra, seria este ato eivado de nulidade absoluta, pois
praticado por absolutamente incapaz. Todavia, a doutrina entende que estes atos são
previamente autorizados pelos pais, representantes, e que no momento da pré-autorização
se manifesta a representação necessária para que o ato jurídico tenha validade. A isto se
denomina, o que desenha a natureza jurídica destes eventos, ato-fato jurídico, que é uma
categoria em que não há qualquer relevância da vontade imediatamente manifestada pelo
incapaz.
Questão 2
Alberto reconhece voluntariamente como seu filho consangüíneo, recém nascido,
João, havido fora do casamento nos termos do artigo 1.609, inc. I, do CC/02, afirmando
expressamente que, se no futuro, João não se parecer fisicamente com ele, tal
reconhecimento se tornará ineficaz. Comente sobre a natureza de tal declaração e seus
efeitos.
Resposta à Questão 2
O reconhecimento é um ato jurídico em sentido estrito, e seus efeitos são apenas
aqueles determinados, exclusivamente, na lei. Assim, a condição imposta é considerada
ineficaz, pois foge à ingerência daquele que produz o ato de reconhecimento. Veja que, em
regra, a condição nula eiva de nulidade todo o ato, mas neste caso, como seria exatamente o
que se quer evitar, o legislador consignou expressamente, no artigo 1.613 do CC, esta
ineficácia, ao invés da nulidade:
“Artigo 1.613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de
reconhecimento do filho.”
Questão 3
Paulo constitui Mário o seu bastante procurador para a venda de seu veículo, já
que está de mudança para o exterior. Mário leva o veículo à oficina de um amigo e toma
conhecimento de que o auto apresenta defeito em seu motor, estando prestes a "bater
pino", necessitando de urgente retífica. Mário, mesmo assim, promove a alienação do
veículo a Carlos, não levando o fato ao conhecimento de Paulo. Dois meses após a venda
o veículo teve fundido o seu motor, descobrindo Carlos que Mário sabia do vício. Carlos
aciona Paulo requerendo o desfazimento do negócio, além de indenização por perdas e
danos. Como juiz, resolva a questão.
Resposta à Questão 3
Neste caso, há responsabilidade solidária entre mandante e mandatário, a teor do
artigo 149 do CC, pela omissão do mandatário:
“Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o
representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve; se,
porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá
solidariamente com ele por perdas e danos.”
Michell Nunes Midlej Maron 86
EMERJ – CP I Direito Civil I
Destarte, assiste razão a Carlos, uma vez que a procuração outorgada confere ao
representante a extensão da personalidade do representado. Por isso, se o mandatário não
exacerba os poderes da procuração – o que não fez –, o mandante é imputado pelo resultado
danoso, pois é como se ele próprio houvesse pactuado o contrato, apesar de a manifestação
de vontade ser a do mandatário.
Tema XI
Negócio Jurídico I: Teorias voluntarista e objetivista. Pressupostos. Elementos e requisitos essenciais à
existência, validade e eficácia. Reserva mental. A importância do silêncio na formação do negócio jurídico.
Interpretação teleológica e submissão ao princípio da boa-fé objetiva.
Notas de Aula
1. Negócio Jurídico
Fatos jurídico, como visto, é o termo genérico, sendo qualquer fato relevante ao
ordenamento. Ato jurídico é aquele acontecimento que depende da vontade do homem. Ser
ou não ato jurídico é a relevância, a repercussão no mundo jurídico.
Michell Nunes Midlej Maron 87
EMERJ – CP I Direito Civil I
O negócio jurídico é uma espécie do gênero ato jurídico, que decorre da
manifestação do sujeitos, e que tem também seus efeitos determinados pelas partes. E é
justamente nesta diferença que reside a grande separação dos atos jurídicos stricto sensu e
dos negócios jurídicos: enquanto nos primeiros a formação é emanada da vontade, mas os
efeitos são determinados pela lei, nos últimos tanto a formação quanto os efeitos são
determinados pela vontade.
Concentremo-nos no estudo dos negócios jurídicos, então. Contudo, antes de
adentrar a matéria, uma questão: existiria algum exemplo de negócio jurídico unilateral? A
resposta, clara, é que quanto à manifestação de vontades não, pois é imperativa, ao conceito
de negócio jurídico, a bilateralidade em relação às partes; porém, o negócio jurídico poderá
ser unilateral quanto à reciprocidade de obrigações entre as partes: é bilateral quando
ambas têm obrigações, e unilateral quando apenas uma contrai obrigações – a doação é
bilateral e unilateral, pois depende da dupla vontade, mas só gera obrigações ao doador.
Há que se falar, também antes de concentrar-se o estudo, no ato ilícito: é ato
jurídico, vez que é subespécie do fato jurídico, mas há corrente que defende que o ato ilícito
é ato autônomo, vez que seria contraditória a configuração de um ato antijurídico em
jurídico (corrente sem muita expressão).
1.1. Características
O negócio jurídico demanda autonomia da vontade e caráter negocial. O caráter
negocial diz respeito justamente à possibilidade de regular-se os efeitos.
Já a autonomia da vontade, hoje, merece atenção redobrada em sua leitura. Isto
porque, no direito moderno, há uma crescente gama de mitigações à autonomia, por conta
da necessidade que se percebe em equilibrar relações que nascem desequilibradas. No
CDC, assim se presume, entendendo-se que na relação de consumo a autonomia, de início,
não espelha um equilíbrio. Contudo, deve-se atentar para que este princípio é ainda a regra
geral, e a interferência compositória só se faz quando realmente se constatar o
desequilíbrio. Também os vícios de vontade mitigam, é claro, a autonomia, além da própria
função social do contrato.
Há, hoje, expressão doutrinária que classifica alguns pactos como contratos de
densidade social, que são aqueles que, por tal ser sua relevância para a sociedade em geral,
têm que ter ainda maior atenção à função social. Assim o são os contratos bancários, de
locação imobiliária, de seguros, etc: todos envolvem direitos fundamentais, e daí sua
densidade social, merecedora de especial tutela estatal.
Esta tutela, no entanto, não é exagerada. Até certo ponto, deve viger a autonomia da
vontade, pois do contrário a ingerência estatal será demasiada, acarretando prejuízos
sociais, mais do que benesses. Por exemplo, se a locação for demasiadamente abraçada pelo
Estado, em defesa do locatário, poderá haver escassez de bens à locação, pelo quê o direito
de moradia, que se quer resguardar, ficará ainda mais prejudicado. Assim, há princípios que
reduzem a autonomia da vontade, mas não subvertem-na como regra geral.
1.2. Elementos de Existência e Validade do Negócio Jurídico
Michell Nunes Midlej Maron 88
EMERJ – CP I Direito Civil I
São, como visto, elementos do negócio jurídicos os sujeitos, o objeto, a vontade e a
forma. O adjetivo que adere a tais elementos são pressupostos de validade, e não de
existência.
São sujeitos de direito as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, e, para parte da
doutrina, as pessoas formais, de cuja controvérsia já se tratou. O sujeito deve ser capaz, e
esta capacidade é de fato, e não jurídica.
O objeto tem por características básicas aquilo que o artigo 104 do CC estabelece: o
objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. É lícito por exclusão: quando
não for vedado pelo ordenamento, é permitido. A possibilidade do objeto tem duas facetas,
a possibilidade fática e a jurídica. Há possibilidade fática quando o objeto puder, pelas
normas da natureza, se concretizar; e há possibilidade jurídica quando o ordenamento não o
impeça, logicamente. Exemplo de impossibilidade fática é a venda de um terreno
subaquático; impossibilidade jurídica, a herança de pessoa viva (pacta corvina).
O objeto deve ainda ser determinado ou determinável: será determinado quando se
souber exatamente qual é o objeto, no momento da contratação; se o objeto vier a ser
posteriormente identificado, será determinável.
A vontade, o vínculo jurídico, se ausente, torna inexistente o negócio jurídico (como
qualquer ausência de elementos de existência). Já o vício na vontade afeta a validade do
negócio jurídico. Por isso, a vontade existindo, mas não sendo livre, o negócio existe, mas é
inválido. A diferença entre se considerar um negócio inexistente ou inválido é relevante:
não estando presente um pressuposto de existência, o que se dá é um nada jurídico – ao
contrário da invalidade, em que há um ato existente, que precisa ser nulificado ou anulado.
Entretanto, há uma discussão sobre o que se fazer quando o negócio jurídico
inexistente causa efeitos. Por exemplo, um contrato inexistente, jamais firmado, que enseja,
por qualquer motivo, a negativação de uma pessoa no serviço de proteção ao crédito: o que
fazer? Como é um nada jurídico, seria desnecessário, até mesmo paradoxal, se anular tal
negócio e retirar o nome do cadastro, mas como o efeito foi, deveras, produzido, é o que se
faz – mesmo sendo inexistente, é anulado. Assim, em termos práticos, não há diferença:
inválido ou inexistente, sempre será necessário um provimento jurisdicional para sanar a
situação. A diferença é meramente acadêmica.
O prazo prescricional é outro aspecto relevante: imagine-se um contrato celebrado
por pessoa absolutamente incapaz. Qual será o prazo prescricional para declarar a
inexistência deste ato (uma vez que este contrato, a rigor, é inexistente)? É simples: não há
prazo. Simplesmente, o provimento será declaratório da inexistência, pelo que é
imprescritível (assim como na declaração da nulidade absoluta). Já a nulidade relativa,
anulabilidade, é prescritível, e o prazo vai depender do caso.
Quanto à forma, em princípio, tem vigência o princípio da liberdade, mas há
algumas negociações que têm forma prescrita em lei, como a compra e venda de imóvel,
feita por escritura pública. Há, excepcionalmente, casos em que a lei não impõe a forma,
mas recomenda que uma determinada seja seguida, a fim de que haja benefícios desta. Por
exemplo, a Lei 8.245/91, que na combinação dos artigos 46 e 47 dispõe que se o locador de
imóvel residencial urbano fizer a locação apenas verbalmente, perde o direito à denúncia
vazia:
“Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta
meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado,
independentemente de notificação ou aviso.
Michell Nunes Midlej Maron 89
EMERJ – CP I Direito Civil I
(...)”
“Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a
trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente,
por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:
(...)”
Mas, reitere-se, a regra é a liberdade das formas, a teor do artigo 107 do CC:
“Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.”
As ressalvas mais comuns vêm logo nos artigos subseqüentes do CC:
“Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência,
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
“Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem
instrumento público, este é da substância do ato.”
O artigo 108 estabelece a formalidade legal, e o artigo 109 a formalidade
contratual. Esta última se divide em formalidade contratual essencial ou não essencial. O
objetivo da formalidade contratual é, basicamente, o incremento da garantia do contrato, e
quando assim o for, é formalidade não essencial. Outrossim, pode ser que os contratantes
queiram que a forma faça parte da própria formulação do negócio, passando a ser parte da
essência do mesmo, e se desrespeitada, é causa de invalidade, nulidade absoluta do
contrato. Se, na não essencial, a formalidade for desatendida, a conseqüência não é a
invalidade, mas sim a mera redução da garantia probatória do contrato, ou seja, pode afetar
apenas os efeitos do contrato.
1.3. Motivo do Negócio Jurídico, Reserva Mental e a Relevância do Silêncio
Dispõe o artigo 140 do CC:
“Artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso
como razão determinante.”
Veja, então, que assim como a forma não faz parte, em regra, da essência dos atos
jurídicos, o motivo também não o faz. Isto porque aquilo que impele o indivíduo,
intimamente, a realizar o contrato, não é relevante para o direito, salvo se esta motivação
que anima o agente vier a ser consignada expressamente no pacto.
Normalmente, a motivação implica em uma destinação, uma contratação finalistica
em relação àquele objeto, e se esta finalidade for frustrada, tendo sido consignada a
motivação, o negócio será invalidado. Vejamos um exemplo: compra-se uma casa a fim de
Michell Nunes Midlej Maron 90
EMERJ – CP I Direito Civil I
que esta se preste ao funcionamento de um bar, e esta destinação fica consignada no
contrato. Assim, esta motivação passou a ter relevância, e se o alvará para funcionamento
do bar porventura não for conseguido, o negócio é anulável. D’outrarte, se o comprador não
tivesse informado de sua motivação interna ao vendedor, este motivo seria absolutamente
irrelevante, e se não conseguida a licença de funcionamento, ainda assim o negócio não
seria anulável.
A reserva mental é um conceito correlato ao de motivo. Assim dispõe o artigo 110
do CC:
“Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a
reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha
conhecimento.”
Aqui se está tratando das motivações internas, subjetivas, do foro íntimo da pessoa.
Quando se contrata, se conta sempre com um motivo, interno, e a importância para o direito
daquilo que está no íntimo do indivíduo é o que se discute.
Como visto, o motivo é relevante apenas quando expresso, a teor do artigo 140 do
CC. A reserva mental, por sua vez, é externar algo diverso do que se tem em mente que se
está realizando – é, de certo modo, mentir.
A repercussão da reserva mental, do ato de externar posição diversa da intenção que
se tem em mente, para o direito, é a seguinte: em regra, tende a ser, o foro íntimo,
irrelevante para o ordenamento, mas há certos casos que a manifestação de vontade
diferente da interna gera, sim, repercussões severas no direito: é o caso do vício social da
simulação, qua acarreta nulidade absoluta.
A reserva mental se aproxima bastante da simulação, mas com uma diferença: na
simulação, se pretende, com a “mentira”, atingir terceiros; na reserva mental, a vítima do
dissenso é o próprio declaratário. Pela similaridade, parte da doutrina chega a denominar a
reserva mental de simulação unilateral.
Em síntese, pode-se conceituar, portanto, a reserva mental como uma simulação
unilateral em que o declarante manifesta ao declaratário vontade diversa da realmente
pretendida. Como conseqüência, segundo o artigo 110 do CC, será absolutamente
desconsiderada a reserva mental, a não ser que esta tenha sido levada ao conhecimento do
declaratário – quando, a rigor, deixa de ser meramente mental, passando a ser expressa, se
tornando uma simulação efetiva. Neste caso, havendo a exposição da reserva mental, a
jurisprudência diverge quanto aos efeitos: sendo simulação, é nulo o negócio jurídico
(corrente majoritária); para outra corrente, minoritária a manifestação de vontade será
insubsistente, pela leitura do artigo 110 do CC – se a manifestação subsiste, salvo se a
reserva mental for conhecida, sendo esta conhecida, não mais subsiste. Por isso, o negócio
seria inexistente, e não nulo, pois não há manifestação de vontade (carente de elemento de
existência, inexiste o negócio).
Bom exemplo seria o do casamento. Um dos consortes, estrangeiro, se casa com a
reserva mental de evitar uma deportação. Se o outro não sabe desta reserva, o casamento é
válido; se sabe, aproxima-se da simulação, pois há o casamento com motivação diversa da
expressa. Neste caso, a doutrina majoritária entende nulo, pois o efeito do vício deve ser
alvo do mesmo tratamento, em qualquer seara, mas há corrente menor que, interpretando o
artigo 110 do CC, entende que o caso é de inexistência, pois dali se depreende que a
Michell Nunes Midlej Maron 91
EMERJ – CP I Direito Civil I
vontade não existe (“não subsiste”). De qualquer forma, na prática, será declarada a
nulidade, pois esta, como visto, é a solução para casos de nulidade ou inexistência.
Há ainda que se abordar o silêncio como elemento da vontade. A ausência de
manifestação positiva ou negativa pode ser interpretada como manifestação de vontade?
Veja o que dispõe o artigo 111 do CC:
“Artigo 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o
autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.”
Assim, em regra o silêncio é ausência de manifestação de vontade, mas
excepcionalmente pode implicar em anuência. Um bom exemplo é a renovação do seguro,
que é feita automaticamente a cada fim do período. Silenciando-se em períodos
subseqüentes, se entende que aquele silencia se torna uma anuência. Mas a configuração é
sempre casuística.
O próprio CC, em certos casos, estabelece o significado do silêncio, quando a
interpretação não tem cabimento:
“Artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o
consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se
aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que
consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”
“Artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o
pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em trinta
dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.”
“Artigo 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não
a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a
declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo.”
2. Interpretação do Negócio Jurídico
O CC objetivou bastante aquilo que era subjetivo no antigo regime. O melhor
exemplo é a boa-fé: antes, a boa-fé subjetiva era a regra, ou seja, apenas se exigia que o
agente, contratante, estivesse em sua mente com intenção benéfica ao contratar. O CC,
objetivando a boa-fé, exige que o contratante tenha cumprido um padrão de conduta
correspondente ao bom andamento daquele negócio jurídico, o chamado standard jurídico,
objetivamente considerado. Se as partes cumprirem este padrão, estão de boa-fé; se não o
cumprirem, não estão. Simples assim.
Por óbvio, o standard jurídico de cada conduta é aferido na casuística, e não em
abstrato. O padrão que se exige em uma relação paritária é um, e em uma relação de
consumo, é outro.
Dito isso, se parte para a análise de duas teorias sobre a interpretação dos negócios
jurídicos: a voluntarista e a objetivista. O artigo 85 do CC de 1916 dizia que:
“Artigo 85. Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao
sentido literal da linguagem.”
Michell Nunes Midlej Maron 92
EMERJ – CP I Direito Civil I
Segundo este dispositivo, se depreende a maior importância dada à vontade do
contratante. No artigo correspondente, no novo CC, esta é a redação:
“Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”
Veja que há uma pequena diferença entre os textos. O termo “ nelas
consubstanciada” denota a tendência à objetivação das relações, a qual se faz sentir também
no campo da interpretação contratual. Mas mesmo assim, parece, à primeira vista, que o
legislador adotou a teoria voluntarista, ou subjetivista, ou ainda genética, da manifestação
da vontade, teoria que era claramente adotada na vigência do antigo CC.
Todavia, não o é. A teoria vigente é a objetivista, pois o termo “nelas
consubstanciada” exige que, para que a intenção tenha preponderância, deve ser perceptível
da expressa declaração. Por isso, acompanhando a evolução teórica do direito privado, o
artigo 112 é manifestação da teoria objetivista.
A objetivação do direito privado leva, inclusive, a uma alteração na leitura de alguns
conceitos, como a própria onerosidade excessiva, a teoria da imprevisão, que hoje é
constatada mais na simples ocorrência objetiva da disparidade pouco provável entre as
prestações, do que na capacidade das partes em prevê-las, subjetivamente.
2.1. Princípios de Interpretação
Há algumas normas expressas de interpretação dos negócios jurídicos, além do
artigo 112 do CC:
“Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
estritamente.”
Os contratos benéficos, que são os gratuitos, e a renúncia, se interpretam da forma
mais literal possível, uma vez que, em regra, são declarações que de algum modo
desfavorecem o declarante.
Vejamos um exemplo: se um amigo oferece carona gratuita a outro, e durante o
trajeto há um acidente, e o carona se machuca. Propõe, este, ação indenizatória contra o
motorista. Como se resolve? Veja que se se identificar a relação como um contrato gratuito
de transporte, como parte da doutrina o faz, será este interpretado restritivamente, em
função do artigo 114, a favor do motorista, combinando-se a redação deste com a do artigo
392 do CC:
“Artigo 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a
quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos
onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em
lei.”
Desta forma, o motorista só responderá se houver dolo, e não culpa (resguardada a
interpretação do STJ de que se se tratar de culpa grave – o equivalente civil do dolo
eventual penal –, há dolo, e não culpa). No caso concreto proposto, esta seria a solução:
havendo dolo, há responsabilidade; não havendo, a indenização não é devida pelo
motorista.
Michell Nunes Midlej Maron 93
EMERJ – CP I Direito Civil I
Todavia, grande parte da doutrina entende que não se trata, este caso, de um
contrato gratuito, e sim de um ato jurídico. Se assim o for, o fundamento de uma ação
indenizatória será a responsabilidade aquiliana, e não contratual, e assim sendo, os artigos
186 e 927 do CC prevêem que haja apenas culpa, e não dolo – pelo quê a responsabilidade
seria mais provável, posta a inexigibilidade de dolo.
Casos Concretos
Questão 1
Faça a distinção entre "negócio jurídico" e "ato jurídico em sentido estrito".
Resposta à Questão 1
Ato jurídico stricto sensu é aquele que, voluntário, tem seus efeitos previstos na lei.
Negócio jurídico é o ato que, também voluntário, tem seus efeitos previstos pelas partes –
nunca contra a lei, contudo.
Questão 2
Michell Nunes Midlej Maron 94
EMERJ – CP I Direito Civil I
João celebra na qualidade de transmitente vendedor negócio jurídico de compra e
venda imobiliária com Alberto, seu desafeto declarado, este na qualidade de adquirente
comprador apenas com a intenção de, no futuro e por espírito de emulação, requerer em
juízo a desconstituição de tal negócio sob a alegação de ausência de intuito negocial de
sua parte, o que tornaria a avença ineficaz. In casu, tal desconstituição é juridicamente
possível, sabendo-se que Alberto desconhecia a vontade real do vendedor?
Resposta à Questão 2
Aqui se trata da reserva mental, a qual não se expôs ao conhecimento do outro
contratante. Assim, segundo o teor do artigo 110 do CC, esta insubsiste, e o negócio gera
plenos efeitos. A desconstituição é impossível.
Questão 3
O que deve fazer o Julgador ao se deparar com uma ação em que a pretensão, de
caráter indenizatório, tem como causa de pedir um contrato celebrado por um alienado
mental, cuja interdição já foi decretada, sem que, contudo, estivesse devidamente
representado?
Resposta à Questão 3
Trata-se de negócio jurídico absolutamente nulo, nos termos do artigo 145, I, do
CC. Ademais, o vício é insanável, pelo quê a pretensão deverá ser julgada improcedente. O
TJ/RJ enfrentou a questão na Apelação Cível 1999.001.1264.
Tema XII
Negócio Jurídico II: Elementos naturais e acidentais. Condição: conceito, elementos, espécies e efeitos.
Condição voluntária e condição legal. Termo: conceito, elementos, espécies e efeitos. Prazos; Encargo:
conceito e suas aplicações práticas nos negócios jurídicos inter vivos e causa mortis. Distinção entre encargo
e condição. Efeitos.
Notas de Aula
1. Elementos de Eficácia do Negócio Jurídico
Para se tratar dos elementos do negócio jurídico, é importante se delinear os planos
de existência, validade e eficácia deste. O plano da existência, como se sabe, é composto
Michell Nunes Midlej Maron 95
EMERJ – CP I Direito Civil I
pelos elementos sem os quais o negócio não pode se concretizar, quais sejam, os agentes, o
objeto, a forma e a vontade.
No plano da validade, verificam-se as condições para que os elementos de
existência sejam considerados conformes com o ordenamento jurídico. Assim, liga-se ao
agente a qualidade de capaz e legítimo; ao objeto as qualidades de lícito, possível, e
determinado ou determinável; à forma, a qualidade de prescrita ou não defesa em lei; e à
vontade a qualidade de livre e de boa-fé. Havendo os elementos de validade, e não havendo
os requisitos negativos do artigo 166 do CC, o negócio será válido.
No plano da eficácia é que se inserem os elementos que serão estudados neste
tópico, a condição, o termo e o encargo: são os elementos acidentais do negócio jurídico.
De forma geral, ter eficácia é produzir efeitos, e para tanto o negócio jurídico não se
vincula, necessariamente, à existência e à validade: negócios há que, inválidos ou mesmo
legalmente inexistentes, produzem efeitos. Neste plano, há duas regras a serem observadas:
o negócio jurídico válido produz efeitos, em regra, ou seja, tem eficácia; e, a contrário
senso, o negócio jurídico inválido é ineficaz.
É importante se constatar que os efeitos que se nega ao negócio ineficaz são os
efeitos jurídicos, pois geralmente, havendo ou não eficácia jurídica, efeitos fáticos,
naturalísticos, são produzidos: a compra e venda do incapaz sem representação é ineficaz
juridicamente, mas pode ter efeitos oriundos da tradição eventualmente realizada.
Como dito, pode ocorrer de haver negócios jurídicos inválidos que sejam
juridicamente eficazes. Um exemplo: o casamento nulo produzirá efeitos para o cônjuge de
boa-fé e para os filhos. A nulidade relativa, que se suscitada, leva à invalidade, da mesma
forma pode ser convalidada, e o negócio será juridicamente eficaz.
Outrossim, pode acontecer justamente o contrário: pode haver negócio jurídico
válido e ineficaz. Isto ocorre quando, presentes os elementos de validade, há também os
citados elementos acidentais, que afastam a eficácia do negócio jurídico, por algum motivo.
O CC de 1916 denominava os negócios jurídicos sujeitos a condição, termo ou
encargo de negócios modais, pois escapavam à regra para se demonstrarem modalidades
diferenciadas de negócio. Os negócios não sujeitos a elementos acessórios eram
considerados puros. Hoje, a nomenclatura modal ainda é utilizada, mas apenas para a
modalidade de negócio jurídico sujeito a encargo; aqueles sujeitos aos demais elementos
acidentais são chamados impuros
Considerações feitas, vejamos os elementos acidentais do negócio jurídico,
incidentes sobre a eficácia.
1.1. Condição
Este elemento acidental está conceituado no artigo 121 do CC:
“Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da
vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e
incerto.”
A definição legislativa é bem precisa. A incerteza e o momento futuro são os
critérios identificadores mais relevantes da condição. Por isso, já surge uma questão: seria
possível incluir num negócio jurídico a vinculação dos efeitos a um evento que, incerto, não
seja futuro? Como exemplo, uma condicionante nestes termos: “dôo-te uma casa se
engravidares”, sendo que a pessoa já está grávida, mas nem ela nem o doador potencial têm
Michell Nunes Midlej Maron 96
EMERJ – CP I Direito Civil I
conhecimento disso. Seria condição válida? A maioria absoluta da doutrina, praticamente
unânime, entende que não, pois carece exatamente do requisito futuro, necessário ao
conceito de condição. Todavia, parcela ínfima da doutrina, com base na boa-fé, não entende
inválida esta cláusula, sendo apenas uma condição já implementada.
Veja que o legislador insere no conceito de condição a necessidade de que a
condição seja exclusivamente derivada da vontade das partes. Por isso, os eventos futuros e
incertos que são do próprio direito não caracterizam condição. Isto porque, de fato, o
negócio jurídico está sempre condicionado a alguma incerteza sobre sua eficácia. Por
exemplo, um contrato de compra e venda está faticamente condicionado à entrega do bem
pelo vendedor, que é uma condição natural do negócio, a fim de que haja eficácia. Todavia,
esta entrega não é condição, apesar de ser futura e incerta (pois pode ocorrer de não
entregar, quando há então o ilícito contratual). É que esta “condição” é imanente ao
negócio, à sua essência, não se confundindo com o instituto da condição, elemento
acidental servível apenas para subordinar a produção dos efeitos por vontade das partes.
1.1.1. Condição Suspensiva
Estando presente a condição suspensiva, o negócio não produz efeitos enquanto o
evento futuro e incerto não ocorrer. Veja que o negócio existe, é válido, mas é ineficaz
enquanto não se der o implemento da condição.
Um exemplo é a doação em contemplação de formatura: o pai se compromete a
doar um bem para o filho se este se graduar na faculdade. Até lá, não há entrega do bem,
pois a eficácia está suspensa.
1.1.2. Condição Resolutiva
Estando presente a condição resolutiva, o negócio existe, é válido, e é eficaz
enquanto a condição não se implementar. Consiste na condição que, implementada, retira
os efeitos que vinham sendo produzidos desde o aperfeiçoamento do negócio.
Exemplo menos óbvio do que os geralmente dados é a doação em contemplação do
casamento: é uma condição resolutiva, mesmo que possa parecer estranho. Isto porque
assim se dá a dinâmica: os noivos recebem, desde antes do casório, o bem doado, ou seja, a
doação está produzindo efeitos. Ocorre que se não se casarem, a doação perde eficácia, e o
bem deve ser devolvido. Veja, então, que se trata de condição resolutiva um evento
negativo, qual seja, o não se casar: o evento futuro e incerto não é o casamento, e sim o
não-casamento. Se o casamento não se der, resolve-se a doação.
1.1.3. Condições Inadmissíveis
O artigo 122 do CC trata genericamente das condições inadmissíveis em negócios
jurídicos:
“Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem
pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que
privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma
das partes.”
Michell Nunes Midlej Maron 97
EMERJ – CP I Direito Civil I
Assim, são inadmissíveis as condições ilícitas, incluindo-se neste conceito as que
contrariem a lei e as equiparadas, que contrariem os costumes ou a ordem pública; as
condições impossíveis, que não se podem implementar; e as puramente potestativas.
Condições impossíveis são aquelas irrealizáveis, que jamais poderão se
implementar.
Condições puramente potestativas são aquelas que derivam exclusivamente da
vontade de um dos pactuantes. Estas condições se desenham na forma de cláusulas do tipo
“se eu quiser”, “quando for do interesse do contratante”, etc. Por óbvio, são inadmissíveis
por causarem demasiado desequilíbrio na relação contratual, emprestando força
desproporcional à vontade de um dos contratantes em relação à vontade do outro. Contudo,
podem ser admitidas, excepcionalmente, quando estabelecidas em benefício da parte mais
onerada pelo negócio, pois assim não se tratam de desequilíbrio, mas sim de medida de
reequilíbrio da relação.
É importante não se confundir a condição potestativa com a puramente potestativa.
A condição puramente potestativa faz com que a eficácia do negócio decorra
exclusivamente da vontade de uma das partes, seno inválida, em regra. A condição
simplesmente potestativa, por sua vez, não é inválida, pois apesar de ser referente à vontade
de uma das parte, não decorre exclusivamente desta vontade. Por exemplo, ao se
condicionar uma doação à graduação em um curso, o ato de se formar depende da vontade
do donatário, mas não exclusivamente: há diversas outras implicações, que retiram o total
arbítrio do donatário sobre a eficácia – e por isso a condição é válida, apesar de ser
potestativa, pois depende da vontade de um dos contratantes, mas depende também de uma
série de outros elementos alheios a esta. Exemplo de condição absolutamente não
potestativa é a vinculação a um evento natural: “dôo-te um bem se chover amanhã”. Este
evento futuro e incerto não depende, em nada, da vontade de nenhuma das partes.
Havendo em um negócio jurídico a estipulação de uma condição inadmissível, o
resultado é o previsto nos artigos 123 e 124 do CC:
“Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados:
I - as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas;
II - as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita;
III - as condições incompreensíveis ou contraditórias.”
“Artigo 124. Têm-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas,
e as de não fazer coisa impossível.”
Em regra, então, invalida-se todo o negócio jurídico quando se notar consignada
condição proibida, nos termos do artigo 123 do CC. Assim, uma questão seria cabível: o
negócio jurídico celebrado com alguma condição inadmissível é nulo ou anulável?
Entende-se que seja nulo, pois se trata da nulidade absoluta do artigo 166, VII, segunda
parte, do CC:
“Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar
sanção.
(...)”
Como no caso não há cominação para a condição inválida, o negócio é nulo.
Michell Nunes Midlej Maron 98
EMERJ – CP I Direito Civil I
O artigo 124 do CC apresenta uma exceção que privilegia a lógica: se a condição for
impossível, e for suspensiva, o negócio é nulo, pois jamais poderá produzir efeitos, vez que
a condição jamais poderá se implementar; mas se a condição impossível for resolutiva,
significa que o negócio jamais deixará de produzir efeitos, e por isso apenas se considera
não escrita tal condição, o negócio produzindo os efeitos regularmente.
1.2. Termo
Este elemento acidental consiste em um evento futuro e certo, diferindo, assim, da
condição. São termos comumente apostos a morte, uma data futura, etc.
O termo pode ser inicial ou final da vigência dos efeitos, respectivamente dies a quo
e dies ad quem. O termo inicial, dies a quo, guarda relação com a condição suspensiva, no
que diz respeito ao início dos efeitos do negócio jurídico: enquanto não se implementa o
termo inicial, o negócio jurídico não produz seus efeitos. Da mesma forma, o termo final se
assemelha à condição resolutiva, pois quando ocorre determina a cessação dos efeitos que
vinham sendo produzidos.
Nada impede que sejam estabelecidos, em um mesmo negócio jurídico, termo
inicial e final: uma locação por determinado período futuro, como um aluguel para feriado,
é sujeita a termo inicial e final.
O período compreendido entre o termo inicial e o termo final é denominado prazo
de vigência do negócio jurídico. A contagem deste prazo, havendo ou não termo final
estabelecido, é da forma estabelecida no artigo 132 do CC:
“Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os
prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até
o seguinte dia útil.
§ 2o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
§ 4o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.”
Quanto aos feriados, em que esse haver diversas correntes para sua conceituação, a
que prevalece é a de que só se considera feriado aquele dia previsto em lei como tal,
aplicando-se por extensão ao domingo, pois é o dia de repouso semanal
constitucionalmente previsto.
1.2.1. Termo Certo e Incerto
O termo certo é aquele em que se sabe da sua ocorrência futura, e também se sabe
exatamente quando será esta ocorrência – uma data, por exemplo. O termo incerto, por sua
vez, apresenta certeza quanto a sua ocorrência, mas incerteza quanto ao momento em que
se passará – a morte, por exemplo.
1.3. Encargo
O encargo é tratado no CC em dois artigos, os quais não o conceituam, quais sejam,
o 136 e o 137:
Michell Nunes Midlej Maron 99
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo
quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como
condição suspensiva.”
“Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se
constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio
jurídico.”
De fato, a conceituação do encargo é questão controversa. Classicamente, sempre se
entendeu o encargo como uma restrição da liberalidade, uma diminuição de uma
liberalidade. Assim, o encargo é um elemento acidental que só pode estar presente em
negócios gratuitos.
Veja que, porém, o alcance desse conceito é que se apresenta problemático. Isto
porque aquilo que se pode entender por limitação à liberalidade pode, por vezes, se
confundir como contraprestação, retirando o caráter de gratuidade do negócio jurídico.
Vejamos um exemplo: se um doador doa um automóvel, será encargo a imposição de um
uso restrito àquele carro – está claramente limitada a liberalidade. Mas será encargo a
imposição da doação, pelo donatário, de algumas cestas básicas?
Na restrição ao uso do carro, está limitando-se o próprio direito relativo ao bem
doado, ao seu uso; no segundo caso, se está impondo restrição patrimonial incongruente
com o bem doado. Daí a dúvida.
Para quem entende que a restrição à liberalidade não deve ater-se apenas ao próprio
direito adquirido pela liberalidade, mas sim uma imposição qualquer de restrição, mínima,
ao patrimônio de direitos do recebedor da liberalidade, a doação de cestas básicas do
exemplo será encargo – corrente majoritária. Para quem entende que o encargo deve ser
restrição imposta estritamente ao direito proveniente da liberalidade, e não a qualquer
direito componente do patrimônio, a doação das cestas básicas é uma contraprestação,
configurando contrato oneroso (uma estipulação em favor de terceiros, no caso), e não
liberalidade com encargo. Esta corrente de entendimento é menor, porém.
Quanto aos efeitos do encargo, este tem caráter resolutivo, salvo quando, por
expressa menção das partes, for posto como condição suspensiva dos efeitos. Assim se
depreende do artigo 136 do CC, supratranscrito.
A exegese do artigo 137 do CC revela que o encargo ilícito ou impossível considera-
se não escrito, como regra geral, manutenindo-se o negócio. Mas se o encargo for
expressamente consignado como sendo o motivo pelo qual o próprio negócio jurídico foi
pactuado, se desconstitui todo o negócio, e não meramente se considera não escrito o
encargo – pois se torna, de fato, elemento essencial, e não acidental.
Veja que se o encargo tiver efeito de condição suspensiva, o que se passa quando for
ilícito ou impossível? Se na natureza de resolução, o encargo se considera não escrito, na
natureza de suspensivo, se aplica o artigo 123, I, por analogia – desconstitui-se todo o
negócio.
Michell Nunes Midlej Maron 100
EMERJ – CP I Direito Civil I
Casos Concretos
Questão 1
Quais os efeitos do direito condicional quando a condição resolutiva se verifica?
Resposta à Questão 1
O direito se extingue. Qualquer que seja o efeito sujeito à condição resolutiva, será
extinto quando do seu implemento, pois é exatamente este o efeito da resolução. A questão
intrincada, neste aspecto, é a que diz respeito à retroação da resolução do negócio: em
regra, retroagirá a resolução ao início da existência do negócio, mas, dependendo dos
efeitos produzidos durante a vigência, não há como se estornar tais resultados fáticos. Por
Michell Nunes Midlej Maron 101
EMERJ – CP I Direito Civil I
isso, os efeitos jurídicos serão também extintos, mas os efeitos fáticos que não puderem ser
resolvidos, serão mantidos, preservados em prol da segurança jurídica.
Nos contratos de trato continuado se tem um bom exemplo da mantença de efeitos:
suponha-se uma locação de imóvel residencial condicionada ao evento de formatura: se o
locatário se formar, está resolvida a locação, retroagindo ao início, mas os alugueres pagos
não serão devolvidos, pois são efeitos fáticos do contrato, que devem ser mantidos.
Retorna-se à condição de ausência de contrato, mas os efeitos fáticos do curso da eficácia
são mantidos (até mesmo a indenização de benfeitorias, por exemplo).
Questão 2
João transfere, via doação pura, direito de propriedade sobre imóvel para Pedro,
sendo certo que 02 (dois) anos após, este atenta contra a vida daquele, sem que, contudo
venha a falecer, motivo pelo qual João propõe ação com fulcro no artigo 557, I, do Código
Civil. Entretanto, durante o referido lapso temporal, Pedro alienou o imóvel para Celso.
Aplica-se "in casu," o disposto no artigo 128 do Código Civil? Justifique.
Resposta à Questão 2
O doador pode revogar a liberalidade por ingratidão (em ação revocatória
personalíssima), como dispõe o artigo 557 do CC. No caso, a ingratidão é a do inciso I:
“Artigo 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:
I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio
doloso contra ele;
(...)”
O terceiro, que recebeu o bem do donatário declarado ingrato, poderá sofrer os
efeitos da revogação da doação? Há, aqui, que se diferenciar a propriedade resolúvel da
propriedade ad tempus: a propriedade resolúvel consiste naquela que é sujeita a uma
cláusula resolutiva qualquer, condição que se implementada resolve a propriedade, e assim
sendo, o terceiro que adquirir do proprietário sujeito à condição resolutiva a esta estará
sujeito – perderá a coisa. Já a propriedade ad tempus, por sua vez, é sujeita a algum motivo
resolutivo superveniente, e não a uma condição preexistente. Como o motivo é
superveniente, o terceiro não é alcançado, pois não podia dele ter ciência.
Este é exatamente o caso: a causa superveniente que resolve o contrato de doação
foi a ingratidão, e a propriedade resolvida era ad tempus, não se aplicando a resolução do
artigo 128 do CC perante o terceiro, que ficará com o bem.
Questão 3
Quais os efeitos jurídicos em decorrência do descumprimento do encargo?
Resposta à Questão 3
O encargo pode ser em benefício do autor da liberalidade, ou em favor de terceiros.
Se for em benefício de terceiros, o máximo que este poderá fazer é exigir o seu
Michell Nunes Midlej Maron 102
EMERJ – CP I Direito Civil I
cumprimento. Se for em favor do próprio autor da liberalidade, poderá exigir o
cumprimento, ou revogar a liberalidade, à luz do artigo 555 do CC, por meio de ação
revocatória por inexecução do encargo (a qual se transmite aos herdeiros, ou mesmo ao
MP).
“Artigo 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por
inexecução do encargo.”
O autor da liberalidade pode também executar o encargo, no rito correspondente: se
o encargo consiste em um fazer, executa-se obrigação de fazer; se consiste em um dar,
executa-se obrigação de dar. Em verdade, três são os legitimados a executar o encargo: o
autor da liberalidade; o beneficiário do encargo; e o MP, quando o autor da liberalidade for
morto.
Tema XIII
Negócio Jurídico III: Dos defeitos do negócio jurídico. Teorias da vontade, da declaração, da
responsabilidade e da confiança. Erro-vício: Conceito, requisitos e espécie. Coação: Conceitos, requisitos e
espécies. Dolo: Conceito, requisitos e espécies.
Notas de Aula
1. Defeitos do Negócio Jurídico
Como já se viu, um dos elementos do negócio jurídico é a vontade, que deve ser
livre e de boa-fé. A vontade é livre quando não sofre influências alheias na sua formação.
Michell Nunes Midlej Maron 103
EMERJ – CP I Direito Civil I
A vontade humana tem dois momentos, um interno e um externo. Inicialmente, o
agente idealiza aquilo que quer, e posteriormente a manifesta. Em regra, o momento interno
e externo coincidem.
O problema está quando não há esta coincidência. Se o indivíduo idealiza uma
vontade, mas manifesta outra, há diversas implicações desta dissonância. Para solucionar
esta discrepância, várias teorias surgiram, e as veremos agora.
A primeira, a teoria da vontade, defende que, em havendo desconexão entre a
vontade interna e a declarada, deverá prevalecer a interna, aquilo que se desejou, e não
aquilo que se declarou. A segunda corrente, ao contrário, entende que prevalece a vontade
declarada – é a teoria da declaração. Veja que ambas as teorias entendem haver dois
momentos da vontade, o externo e o interno, e que em regra deve haver coincidência dos
dois.
Uma terceira e uma quarta correntes, a teoria da responsabilidade e a teoria da
confiança, representam evoluções das teorias da vontade e da declaração. A teoria da
responsabilidade parte da teoria da vontade, entendendo que deve prevalecer a vontade
interna, em regra, mas aduz que o agente é responsável por sua declaração: se a distorção
entre a vontade interna e a manifesta ocorre por culpa do agente, vai prevalecer, então, a
declaração. Já a teoria da confiança parte inicialmente da teoria da declaração, tendo por
regra a primazia da vontade manifesta sobre a vontade interna, mas defende que o motivo
desta primazia é que deve ser resguardada a expectativa gerada pela manifestação do
declarante sobre a mente dos declaratários. Mesmo por isso, a teoria da confiança deixa
claro que, havendo má-fé no declaratário, ou seja, havendo ciência deste de que a vontade
declarada não corresponde à vontade interna (ou havendo negligência em investigar esta
vontade, pois era potencial a ciência da incompatibilidade das vontades), prevalecerá a
vontade interna.
Veja que as correntes modernas são mais ponderadas, admitindo ora uma, ora outra
vontade prevalecente. A teoria abraçada pelo CC é a da confiança, de acordo com o artigo
112 em análise sistemática do diploma, mas em verdade há uma coexistência de todas as
teorias, na casuística.
Pois bem, voltando à vontade livre, esta é viciada, não-livre, quando o agente recebe
influências externas na sua formação, em qualquer momento. Será não-livre a vontade que
apresente algum vício no consentimento do agente, e tais vícios são o foco do estudo, daqui
em diante. Tais são: erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. No dolo e no erro, há
distanciamento da vontade interna e da externa por engano acerca do que se está
manifestando; na coação, o distanciamento vem por força de uma ameaça; no estado de
perigo e na lesão, o distanciamento ocorre por uma situação de necessidade.
A vontade pode ser inválida não por não ser livre, mas por ser eivada de má-fé:
assim ocorre quando se trata de vício social, a fraude contra credores e a simulação.
Nestes, a vontade não é contaminada por influências que a desconectem da declaração
efetivamente feita. A vontade exteriorizada corresponde exatamente à interna. O que se
passa é a má-fé dos manifestantes, que por meio da vontade livre, sem vícios de
consentimento, intentam a ludibriação de terceiros ou do meio social.
1.1. Erro
Michell Nunes Midlej Maron 104
EMERJ – CP I Direito Civil I
O erro consiste em uma má interpretação da realidade. O erro decorre da teoria da
vontade: o agente, provando que aquilo que declarou não era aquilo que realmente almejava
com a declaração, tendo manifestado apenas por estar em percepção errônea da realidade,
poderá invalidar o ato.
Como exemplo, o agente adquire um anel por crer, espontaneamente, se tratar de
anel de ouro, sendo que o anel era bijuteria. Esta compra e venda será anulada se restar
comprovada a intenção de comprar anel de ouro, demonstrando-se a incompatibilidade
entre a intenção de foro intimo e a vontade declarada.
O erro deve ser essencial. Veja: se a vontade sequer seria manifestada se a realidade
fosse corretamente interpretada, o negócio será invalido; mas se a vontade fosse
manifestada, mesmo sendo corretamente lida a realidade, só que em outras bases, o negócio
não é inválido. Veja:
“Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de
vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”
“Artigo 139. O erro é substancial quando:
I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma
das qualidades a ele essenciais;
II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a
declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;
III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único
ou principal do negócio jurídico.”
O artigo 138 do CC ainda apresenta outro requisito para configurar o erro: além de
ser substancial, deve a sua percepção ser captável pelo homem médio, ou não se reconhece
o erro.
As hipóteses em que se considera substancial o erro são praticamente exauridas no
artigo 139 do CC. O inciso I deste artigo merece comentários no que tange as qualidades
essenciais do objeto: veja que a qualidade é considerada essencial, causadora de erro,
quando não se presta ao negócio jurídico que se pactuou, e não em relação à sua imanência
ao objeto. Explique-se: não é erro quando não há determinada qualidade no objeto, que
deveria ser ordinariamente presente; neste caso, há o vício redibitório, defeito oculto da
própria coisa. O erro quanto às qualidades ocorre quando, inadvertidamente, o declarante
manifesta sua vontade crendo haver determinada qualidade no bem, mas esta não existe
naquele bem ordinariamente, não é a ele imanente. Como exemplo, querendo comprar um
cavalo mangalarga, o agente compra um quarto-de-milha, sendo que o mangalarga era
necessário para padrões de procriação. A qualidade que se achava inerente – ser mangalarga
– não atende à vontade do agente, pelo quê há erro – não havendo qualquer defeito no
objeto, porém. Se o cavalo fosse mesmo um mangalarga, mas estivesse com doença
incurável, seria caso de vício redibitório, e não erro quanto às qualidades essenciais.
O inciso III estabelece o erro de direito, pondo fim a grande discussão que havia na
vigência do antigo CC de 1916, sobre o cabimento ou não do erro de direito: é alegável,
mas não pode implicar em negação de vigência à lei. por exemplo, compra e venda
internacional, é feita sob determinada alíquota, mas há alteração na alíquota anterior à
pactuação do contrato, majorando-a em muito. Se o comprador, em erro, alegá-lo, poderá
anular o contrato, mas jamais poderá requerer que este contrato tenha vigência com a
Michell Nunes Midlej Maron 105
EMERJ – CP I Direito Civil I
alíquota anterior, pois estaria requerendo a criação de ordenamento particular para si,
negando vigência à lei tributária.
No artigo 140, o CC prevê o erro quanto ao motivo, ou quanto à pressuposição:
“Artigo 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso
como razão determinante.”
A pressuposição, o motivo, é o ânimo interno do agente, aquilo que o leva a
manifestar a vontade. Não se trata de reserva mental: é a motivação que, não inerente ao
negócio em si, leva o agente a praticá-lo. Como exemplo, a locação residencial pactuada
em imóvel próximo à faculdade pelo pai do estudante, crendo este que o filho foi aprovado
no vestibular, enquanto não foi: se não comunicou ao locador, expressamente, que este é o
motivo, não poderá ser alegado erro quanto ao motivo, pois não o fez expresso como razão
determinante do negócio.
O motivo não se confunde com a causa. O motivo é subjetivo, e a causa é objetiva, é
o porquê fático do negócio. No exemplo dado, o motivo foi a aprovação no vestibular, e a
causa foi a necessidade de moradia próxima à faculdade. Mas se por falso motivo pode-se
anular o negócio, igualmente por falsa causa.
Na vigência do CC de 1916, ainda se exigia que o erro fosse escusável, desculpável:
qualquer pessoa normal, diante daquela circunstância, provavelmente também erraria. Se
não fosse assim, se o erro fosse facilmente evitável pelo homem médio, não anularia a
declaração – é emanação da teoria da responsabilidade. Hoje, como dito, é expresso o
requisito da capacidade de percepção do erro pelo homem médio, no artigo 138 do CC: se o
erro for de fácil evitabilidade perante o homem médio, não será motivo para anulação – é o
potencial conhecimento do declarante e do declaratário.
Veja que ao declaratário também se impõe a necessidade de perceber o erro, se este
for potencialmente reconhecível. Se impõe, pela teoria da confiança, e da boa-fé objetiva,
que o declaratário investigue as intenções internas do declarante, a fim de promover o bom
negócio, e a declaração límpida de vontade daquele. Tendo investigado, e não tendo
encontrado o erro, este não poderá ser alegado posteriormente pelo declarante.
Resumindo, há três requisitos para a configuração do erro: que seja substancial; que
seja escusável, ou seja, inevitável; e que dele possa conhecer o declaratário. Sendo
presentes os três, está configurado o erro, e é anulável a declaração.
O CJF, em seu enunciado 12, considera dispensado o requisito da escusabilidade
para a configuração do erro, pois entende que a teoria da confiança substituiu este requisito.
Veja:
“Enunciado 12, CJF – Artigo 138: na sistemática do artigo 138, é irrelevante ser ou
não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança.”
Assim, é irrelevante, para esta corrente, que o erro seja inevitável para se configurar.
1.2. Dolo
O dolo é uma má interpretação da realidade induzida por alguém. Na verdade, é o
“erro induzido”, por assim dizer.
Para a maioria absoluta da doutrina, o dolo só se configura na existência de malícia
na conduta daquele que induz ao erro. Todavia, há uma corrente nova, minoritariíssima, que
Michell Nunes Midlej Maron 106
EMERJ – CP I Direito Civil I
entende que, por emanações da boa-fé objetiva, todo e qualquer negócio deve ser feito sob
um dever de conduzir-se zelosamente em prol da satisfação dos envolvidos, por todos que
guardem pertinência com o negócio.
Entenda: os deveres anexos advindos da boa-fé objetiva demandam que o sejam
prestadas as informações relevantes; que haja lealdade entre os contratantes; e que haja a
cooperação para o bom andamento do negócio. Por isso, mesmo sem a malícia, se há a
quebra de um desses deveres anexos, e com isso a parte oposta se prejudica, incorrendo em
erro induzido por aquela quebra, se configura o dolo – mesmo sem a malícia, repita-se. Por
isso, cria-se uma figura curiosa: o dolo, vício da vontade, configurado por culpa do indutor
– negligência quanto aos deveres da boa-fé objetiva. É tese interessante.
Veja que, prestada uma informação errada, por exemplo, há dolo, claramente; se a
arte deixa de prestar informação essencial, também há dolo; mas se a parte deixa de
comunicar a informação essencial por descuido, há culpa, sendo que para a corrente
clássica seria, quando muito erro; para esta corrente inédita, se configura o vício do dolo,
por descumprimento dos deveres anexos da boa-fé objetiva.
Elucubrações à parte, o CC parece estar com a maioria, pois o artigo 147 consigna o
termo “intencional”:
“Artigo 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das
partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui
omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”
O dolo pode ser essencial, substancial, ou acessório, acidental. O erro acidental não
tem, como visto, quaisquer efeitos jurídicos; o dolo acidental, por sua vez, produz:
“Artigo 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é
acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro
modo.”
Há que se diferenciar o dolo maléfico do dolo benéfico: o dolus bonus não é
considerado viciante da vontade, pois é o exagero esperado, aceito socialmente – como o
dolo do vendedor elogiando a coisa à venda. O dolus mallus, por sua vez, é o que se
considera danoso à vontade do agente, e que é capaz de desconstituir o negócio. São
parâmetros de aferição casuística, baseados na razoabilidade.
O dolo de terceiro é também capaz de anular o negócio, se aquele que se beneficia
do dolo sabe da sua prática, ou tinha ao menos potencial conhecimento da indução que
estava sendo perpetrada. O terceiro é aquele que não integra a relação negocial, mas que
atua induzindo o declarante à má percepção da realidade. Este terceiro deve, sim, de forma
unânime, ter malícia na indução ao erro. Os efeitos do dolo de terceiro são, além da
anulação, se o beneficiário sabe da prática do terceiro, as perdas e danos sobre este terceiro.
Se o beneficiário não podia saber do dolo, não se anula o negócio, mas subsistem as perdas
e danos perante o terceiro.
“Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a
parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso
contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as
perdas e danos da parte a quem ludibriou.”
A última modalidade de dolo é o dolo do representante:
Michell Nunes Midlej Maron 107
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o
representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve; se,
porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá
solidariamente com ele por perdas e danos.”
Se o dolo do representante for essencial, anula-se o negócio. O representado só
responde até o limite do seu benefício, se for representação legal. Se a representação for
convencional, por se entender que houve culpa in eligendo, responde o representado
solidariamente, pela integralidade.
1.3. Coação
Coação é a ameaça, que acarreta distanciamento entre a vontade declarada e a
vontade real do agente declarante. Há dois tipos de coação: a vis compulsiva e a vis
efectiva, respectivamente a coação física e a coação moral. Note-se que para o Direito
Penal, a coação é sempre moral, resistível ou não (pois a física elide a conduta, e não vicia
a vontade). Em Direito Civil, ocorre que a coação moral é a que se entende resistível, e a
física é a irresistível.
Assim, fica sendo este o critério adotado: coação física é a irresistível, e a moral é a
resistível. Sendo física, irresistível, a vontade se vê completamente elidida, e qualquer
negócio é inexistente; sendo moral, resistível, a vontade é viciada, e o negocio é anulável.
Os requisitos da coação moral, para que esta se configure e anule a declaração de
vontade, são:
- A ameaça de um mal atual ou iminente, tendo o ato sido praticado apenas com a
finalidade de afastar a ameaça.
- Seja um mal grave, do ponto de vista subjetivo, pois a coação tem que ser
suficiente para gerar fundado temor no agente, valendo-se para a análise da
gravidade as condições pessoais do vitimado:
“Artigo 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a
saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam
influir na gravidade dela.”
O simples temor reverencial não configura coação. Por isso, a figura do pai
para o filho, do pastor da igreja para o devoto, etc, não configuram, de per si,
coação (salvo se há maior ameaça do que a simples relação de obediência).
- O mal deve ser injusto, pois não se verifica coação na ameaça de se tomar alguma
providência lícita, justa, de direito. Por exemplo, a ameaça de um processo judicial
não é uma ameaça de mal injusto – é exercício normal de um direito.
- Deve haver prejuízo patrimonial. Não havendo qualquer prejuízo financeiro no
negócio praticado, não se configura a coação.
Michell Nunes Midlej Maron 108
EMERJ – CP I Direito Civil I
Há também a coação praticada por terceiros, e o seu tratamento é exatamente o
mesmo dispensado ao dolo por terceiros.
Casos Concretos
Questão 1
Maria, comerciante do ramo de Jóias, juntamente com duas amigas, Patrícia e
Cristina, dirige-se a uma loja especializada com intuito de adquirir um relógio de ouro e,
afoitamente, realiza a compra, percebendo, porém, posteriormente ser o bem adquirido de
aço, contudo, revestido da cor dourada. Tal aquisição contém vício de consentimento?
Discorra sobre eventual possibilidade por parte da compradora de desconstituir o negócio
jurídico em questão.
Michell Nunes Midlej Maron 109
EMERJ – CP I Direito Civil I
Resposta à Questão 1
Sim. O negócio é eivado de erro essencial, se a compra só foi realizada pelo
desconhecimento das características plenas do objeto. Não se trata de lesão, pois não se
mencionou a desproporção do preço pago em relação ao real valor do bem.
Comprovado o vício essencial na vontade, o negócio jurídico é anulável pela parte
lesada. Simples assim.
Questão 2
Considerando a possibilidade de existência de discrepância entre a vontade íntima
e aquela efetivamente declarada, quais as teorias a respeito? Qual delas foi agasalhada
pelo atual Código Civil? Qual o dispositivo legal que permite tal conclusão?
Resposta à Questão 2
As teorias a respeito são a da vontade, da declaração, da responsabilidade e da
confiança. A teoria que prepondera no CC, de acordo com a exegese do artigo 112 do CC, é
a da confiança, teoria objetivista:
“Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”
Questão 3
Maria recebe a visita de funcionário de concessionária de distribuição de energia
elétrica, o qual lhe informa da existência de erro no medidor de energia de sua residência,
que estaria registrando consumo abaixo daquilo efetivamente consumido. Convidada a
comparecer à sede da empresa, Maria até lá se dirige, celebrando contrato de
parcelamento de dívida pretérita, cujas prestações seriam consideradas nas contas a serem
futuramente emitidas, juntamente com o consumo mensal. Após, Maria ingressa com ação
procurando desconstituir a transação, ao argumento de que não poderia haver a cobrança
por consumo não registrado em momento apropriado, alegando ainda ter celebrado o
ajuste sob coação, tendo recebido ameaças de suspensão do fornecimento caso não agisse
daquela forma. Como Juiz, como você decidiria a questão?
Resposta à Questão 3
O negócio só pode ser anulado se comprovada a suposta coação, efetiva, capaz de
provocar temor significativo na suposta vítima. In casu, não o há. Para haver a coação, é
necessária injustiça no mal ameaçado: se a ameaça consiste na referência a se exercer
regularmente um direito, por mais grave que seja, não é um mal injusto. Como exemplo, a
ameaça de um credor em executar seu título não faz viciado o negócio jurídico porventura
pactuado pelo devedor por conta de tal pressão imposta. Não há anulabilidade do negócio
em tela, portanto.
Michell Nunes Midlej Maron 110
EMERJ – CP I Direito Civil I
Tema XIV
Negócio Jurídico IV: Defeitos. Fraudes contra credores: conceito, requisitos na alienação gratuita e onerosa
e efeitos. Lesão e Estado de Perigo: Conceito, requisitos, efeitos e diferenças entre figuras jurídicas
semelhantes.
Notas de Aula
1. Fraude Contra Credores
O patrimônio presente e futuro da pessoa é a garantia do cumprimento das
obrigações por esta contraídas. Diante disso, é natural que a lei se preocupe com a
Michell Nunes Midlej Maron 111
EMERJ – CP I Direito Civil I
preservação do patrimônio do devedor, pois é sobre este que incidirá a pretensão satisfativa
do credor.
Assim, em que pese a regra ser a livre disposição dos bens pelo proprietário, há
alguns limites a esta disponibilidade, justamente em atenção à preservação dos direitos
alheios garantidos pelo patrimônio de uma pessoa. Por isso, desde quando o devedor se
revele insolvente, ou em vias de insolvência, a lei arma o credor de mecanismos
preventivos de seu crédito, limitando a disposição de bens pelo devedor.
As hipóteses pelas quais o devedor pode reduzir seu patrimônio são a alienação de
bens, onerosa ou gratuita; a remissão de dívidas, pois se o devedor perdoa dívidas, seu
patrimônio deixará de ter acréscimo, o que poderá prejudicar o credor; o oferecimento de
garantias pelo devedor, de dívidas outras, pois a constituição de garantia sobre um bem
limita aos demais credores o acesso sobre o produto daquele bem; o pagamento antecipado
de dívidas ainda não vencidas a outros credores, pois controverte a sistemática de
pagamentos, a ordem de pagamentos, se evidenciada a insolvência.
Uma vez que o devedor esteja em insolvência, há a formação do concurso de
credores, havendo ordem a ser respeitada no pagamento dos créditos. Qualquer
desvirtuamento desta ordem, que vá impedir que credores que deveriam receber o façam, é
fraude contra credores.
Os elementos da fraude contra credores são dois, de acordo com a doutrina:
- Eventus damni: Consiste no fato danoso, capaz de reduzir o patrimônio do devedor
à insolvência, tornando impossível ao credor satisfazer seu crédito. É um elemento
objetivo, que se afere apenas com cálculos, e que deve estar sempre presente a fim
de se configurar a fraude.
- Consilium fraudis: Este elemento nem sempre estará presente, consistindo no
conluio entre alienante e adquirente, ou qualquer que seja o terceiro envolvido no
eventum damni. Todavia, a fraude pode ser caracterizada sem que haja comprovação
de conluio entre o devedor e o terceiro, bastando que o alienante esteja animado
pelo ímpeto fraudulento, ou que haja alguma presunção de fraude, como na
realização de negócios gratuitos.
Veja que pode haver o caso em que não haja ciência, pelo alienante, da sua
condição de insolvente, nem mesmo haja esta ciência por parte do adquirente do
bem no eventum damni (ou mesmo haja ciência por parte desse). Em qualquer caso,
ainda assim há a fraude.
Conforme se trate de negócio gratuito ou oneroso, o tratamento dado ao negócio de
que se suspeita fraude será diverso, como se verá. O primeiro artigo que trata da fraude
contra credores no CC é o 158:
“Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se
os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda
quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos
dos seus direitos.
§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.
§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a
anulação deles.”
Michell Nunes Midlej Maron 112
EMERJ – CP I Direito Civil I
A situação que ali se expressa apenas reflete o que a jurisprudência já aplicava
antes: é a aplicação de um princípio geral de direito, que determina que entre proteger
aquele que quer assegurar um ganho ou aquele que quer evitar um prejuízo, dá-se
preferência a quem está no limiar de um prejuízo.
A situação é a seguinte: o doador, mesmo de boa-fé, acaba por trazer prejuízo ao
credor, pois não terá, este, meios para evitar seu dano; aquele donatário, também de boa-fé,
apenas deixará de ganhar, não tendo perda efetiva. Por isso, anula-se o negócio.
Assim, nos negócios gratuitos, basta que haja o eventus damni, e estará configurada
a fraude contra credores, despicienda qualquer cogitação de má-fé do devedor.
Já nos negócios onerosos, a situação difere. Veja:
“Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor
insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida
do outro contratante.”
Sendo oneroso, se exige que o negócio seja feito havendo clara potencialidade de
haver ciência da insolvência do devedor por parte de seu adquirente. Isto porque a potencial
ciência da insolvência denota que a aquisição foi feita no mínimo de forma imprudente,
fazendo presumir que o adquirente não merece a proteção suplantadora da proteção que
merece o credor, salvo se restar comprovado que não havia como saber da insolvência do
alienante.
Assim fica claro que a desconstituição de um negócio gratuito por fraude contra
credores é muito mais facilmente feita do que de um negócio oneroso.
Na verdade, o modo como a fraude contra credores foi tratada no novo CC é
bastante criticado pela doutrina, pois poderia ter sido adotada metodologia mais moderna.
Ao invés de ser causa de anulação do negócio jurídico, outros ordenamentos a tratam como
elemento negativo da eficácia do negócio – no que se aproximaria da fraude à execução.
Seria, de fato, mais interessante que o negócio fosse considerado ineficaz perante o credor,
ao invés de anular o negócio.
Pelo ensejo, vale salientar a diferença entre fraude contra credores e fraude à
execução. A fraude conta credores não demanda que haja um processo judicial contra o
devedor para que seja verificada, bastando a mera constatação da insolvência deste; na
fraude à execução, é necessário que haja o curso de um processo contra o devedor, durante
o qual se perfaz o negócio em fraude. A fraude contra credores pode ser constatada a
qualquer tempo, por meio de ação própria; a fraude à execução é matéria argüida no curso
do processo, pelo autor contra réu, devedor. E, como dito, a fraude à execução não acarreta
nulidade do negócio, mas sim ineficácia perante o credor, que pode assim, por exemplo,
desconsiderar a venda e penhorar o imóvel objeto da fraude.
A ação que intenta reconhecimento da fraude contra credores é a revocatória, ou
pauliana. Os primeiro requisito para esta ação, então, é a existência de um crédito de
natureza quirografária (pois o credor com garantia real não está sujeito aos efeitos da
fraude, vez que o bem é dedicado a seu crédito). Contudo, pode haver parte excedente à
garantia real, e por esta parte o credor é quirografário, e, conseqüentemente, legitimado à
pauliana. E, sempre, somente os credores que já o eram à época em que a insolvência se
instalou têm legitimidade para a revocatória (§ 2° do artigo 158 do CC).
Segundo requisito é a insolvência do devedor, como visto, já anterior, ou alcançada
com a realização daquele negócio. O ônus da prova é invertido: quem deverá provas
Michell Nunes Midlej Maron 113
EMERJ – CP I Direito Civil I
solvência é o réu. Ademais, a insolvência deve perdurar por todo o processo: se porventura,
no curso, o devedor se tornar solvente, há perda superveniente do interesse de agir.
Há, como requisito especial para os negócios onerosos, a potencial ciência do
adquirente da situação de insolvência do alienante, a ser comprovada pelo autor da
pauliana, e presumida em alguns casos (adquirente é parente próximo, por exemplo).
Um aspecto a ser comentado é o da configuração do crédito: o que é considerado
crédito, a fim de instrumentalizar a pretensão revocatória? Há créditos que são claramente
constatados, como de títulos, de sentenças condenatórias, etc, mas há necessidade de
liquidez ou de exigibilidade do crédito para a propositura da ação pauliana? A doutrina
entende que não: mesmo o título não vencido é fundamento para a fraude contra credores
merecer anulação. O crédito tem que ser constituído anteriormente à insolvência, mas não
precisa ser líquido e exigível antes desta.
Vejamos outro caso: um contrato seria considerado um crédito para fins de
configuração de fraude contra credores? Por exemplo, um contrato de obra imobiliária: se o
credor da obra paga o preço, e percebe que a obra não será executada por estar se
desenhando a insolvência daquele empreiteiro, será este contrato uma dívida a fundamentar
a pauliana, em relação às alienações que aquele empreiteiro está realizando com terceiros?
Para esta situação, pare da doutrina entende que, mesmo o crédito não estando claramente
configurado, este é apto a configurar a dívida, podendo o credor ajuizar a pauliana em
relação aos atos de alienação do seu devedor (posição de Humberto Teodoro Jr.).
Pode ocorrer a situação em que se dão alienações sucessivas: o terceiro, que adquire
o bem do devedor insolvente de outrem, aliena o bem para um quarto indivíduo. Neste
caso, ainda será cabível a revocatória, nos termos do artigo 161 do CC, se estiver presente a
má-fé9:
“Artigo 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o
devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada
fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé.”
Há alguns aspectos processuais a serem abordados quanto à pauliana. O primeiro, a
legitimidade ativa ad causam, já foi abordado, sendo legitimado o credor com crédito
constituído antes da insolvência, mesmo que ainda não exigível ou líquido. Já a
legitimidade passiva ad causam é preenchida nas figuras do artigo 161 do CC, acima
transcrito, valendo mencionar que o termo “poderá” deve ser lido como “deverá”, sendo
incluídos em litisconsórcio passivo necessário todos aqueles que participaram, de alguma
forma, da fraude.
Também deve ser consignada especial menção à súmula 195 do STJ:
“Súmula 195, STJ: Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude
contra credores.”
Esta súmula significa que a fraude contra credores não pode se prestar como matéria
de defesa dos embargos de terceiros. Veja: um imóvel é vendido em fraude contra credores,
mas o adquirente não o registra. Um credor executa o alienante desta venda, e penhora o
bem, que ainda está em seu nome. O adquirente, que tem na verdade a propriedade do
9
O terceiro de boa-fé não é nunca prejudicado, à exceção da venda a non domino, que será vista em outro
estudo.
Michell Nunes Midlej Maron 114
EMERJ – CP I Direito Civil I
imóvel penhorado, interpõe embargos de terceiro contra aquela execução, em face do
exeqüente. O que a súmula diz que não cabe é a alegação, pelo exeqüente, de que a compra
e venda não registrada foi realizada em fraude contra credores, pois para tal alegação, que
culmina em anulação do negócio, é necessária a ação própria, a pauliana. Esta deverá ser
proposta pelo exeqüente, e correrá conexa aos embargos de terceiro.
O artigo 160 do CC apresenta hipótese de elisão, caso em que o bem fica
resguardado, e a discussão sobre a fraude concentrará seu escopo objetivo no valor sub-
rogado. Ao invés de pagar ao seu credor, devedor alheio, consigna o preço, e se ainda não
houver ação em curso, mas percebe a insolvência de seu credor, pode ajuizar ação de
consignação em pagamento. Até mesmo se a pauliana estiver sentenciada, inclusive
alcançado o trânsito, poderá ser feito o depósito, vez que o interesse não é, ultima ratio, a
desconstituição do negócio, e sim a recomposição do patrimônio do devedor em vias de
insolvência. Veja:
“Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o
preço e este for, aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em
juízo, com a citação de todos os interessados.
Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar
o preço que lhes corresponda ao valor real.”
O efeito da sentença da pauliana, quando procedente, é a arrecadação do bem
envolvido na alienação, seu retorno ao patrimônio do devedor, e sua colocação para
disponibilidade em concurso de credores. Assim dispõe o artigo 165 do CC:
“Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá
em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores.
Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos
preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará
somente na anulação da preferência ajustada.”
Se não há concurso, executará, o autor da pauliana, o bem arrecadado.
Como última ressalva, a insolvência declarada na pauliana, requisito para que haja a
procedência, não se configura em declaração judicial de insolvência civil, a qual deve ser
perquirida em ação específica de insolvência civil, rito similar ao falimentar.
2. Lesão e Estado de Perigo
Na lesão e no estado de perigo, o que ocorre é uma situação que coloca o agente sob
premente necessidade de conseguir um determinado bem da vida, fazendo com que este
manifeste sua vontade de modo que, fosse a situação um estado de normalidade, não o
faria. Afora o caso da inexperiência que acarreta a manifestação de vontade em negócio
demasiado oneroso, o que se dá é a situação de necessidade.
A diferença primordial entre a lesão e o estado de perigo é que na primeira se dá a
necessidade em relação a perigo físico, enquanto o perigo da lesão é relativo a danos
patrimoniais. Vejamos os artigos referentes:
Michell Nunes Midlej Maron 115
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela
outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o
juiz decidirá segundo as circunstâncias.”
“Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da
prestação oposta.
§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao
tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento
suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.”
É pela presença de influência externa, não propriamente dedicada a criar um
equívoco na manifestação de vontade, mas sim impelir a emissão de vontade não querida
pelo declarante, que a lesão e o estado de perigo não são considerados, por grande parte da
doutrina, propriamente vícios da vontade. A rigor, seriam também vícios sociais, assim
como a fraude contra credores e a simulação. Mas esta não é a posição majoritária.
O primeiro elemento do estado de perigo é a premente necessidade de salvar-se ou a
pessoa de importância10. O segundo é a gravidade do dano ameaçado, que deve ser,
também, atual ou iminente (danos passados ou de futuro incerto não configuram a urgência,
e não valem para caracterizar o estado de perigo). Outro requisito é o nexo de causalidade
entre a declaração e o perigo de dano se não há qualquer relação entre a declaração e o dano
que se teme, não há como se imputar ao perigo a celebração do negócio.
Veja que o perigo não precisa ser concreto: o perigo putativo, que existe apenas na
mente do agente, é suficiente para configurar o estado que vicia a declaração.
Impõe-se ainda que haja a ciência inequívoca, pelo beneficiário, do estado de perigo
pelo quê se encontra viciada a declaração: é o chamado dolo de aproveitamento. Se o
beneficiário desconhece que a declaração está sendo feita por força do estado de perigo,
não há como se anular o negócio. Na lesão, como se verá, não há este requisito, pelo quê é
outra diferença importante a ser apontada.
Como último requisito, ainda se exige, para a configuração do estado de perigo, que
haja a excessiva onerosidade da prestação. Do contrário, não haverá o aproveitamento, nem
prejuízo, e não há porque se anular. Esta proporção é casuística, devendo ser levados em
conta todos os detalhes do evento, inclusive a contraprestação assumida.
A ação que visa à desconstituição do negócio realizado em estado de perigo é a
anulatória. Ao contrário do que ocorre com a lesão, o legislador não estabeleceu
expressamente a possibilidade de se salvar o negócio, como o fez no § 2° do artigo 157 do
CC, para a lesão. Entretanto, a doutrina vem entendendo ser cabível, para o estado de
perigo, a aplicação analógica do citado § 2° da lesão, mantendo o negócio, desde que
equilibradas as prestações pela suplementação oferecida pela parte que se beneficiou do
estado periclitante. Supondo que não fosse assim, seriam geradas severas injustiças, vez
que, em regra, aquele que se valeu do estado de perigo forneceu uma contraprestação
qualquer, e por ela mereceria alguma recompensa. Se meramente anulado, não haverá
10
O artigo fala em “família”, mas este conceito tem sido bastante relativizado na casuística, chegando ao
patamar da pessoa de alta relevância, comprovada, para o declarante. Mesmo porque, se for um primo
distante, a importância de um grande amigo às vezes é mais apta a causar a necessidade. Para os entes mais
próximos, porém, presume-se o afeto.
Michell Nunes Midlej Maron 116
EMERJ – CP I Direito Civil I
qualquer prestação por parte daquele que alegou estado de perigo, tendo se locupletado
indevidamente. Assim, até mesmo a corrente que entende não ser possível o salvamento do
negócio pela suplementação analógica à da lesão, entende ser cabível uma ação de
locupletamento ilícito pela parte que prestou o auxílio ao que estava em estado de perigo11.
Quanto à lesão, é seu elemento objetivo a desproporção manifesta entre as
prestações recíprocas, capaz de gerar um lucro incompatível com a normal comutatividade
o contrato. Requisito de ordem subjetiva é a inexperiência ou premente necessidade em que
se encontre o declarante – não há plenas condições psicológicas daquele que pactua por
inexperiência, e não há livre vontade, mesmo sabendo da desproporção, daquele que pactua
por premente necessidade.
Na lesão, ao contrário do estado de perigo, não de exige o dolo de aproveitamento
por parte daquele que se beneficia com a desproporção. É desnecessário que haja o dolo,
sendo exigido apenas a desproporção em concreto, objetivamente aferida, ou o perigo, pois
é cediço que aquele que recebe a prestação majorada tem ciência da desproporção – e isto
basta para que seja anulável o negócio. Também de forma a diferenciar-se do estado de
perigo, como já abordado, o negócio pode ser mantido, se aquele que se beneficia da
desproporção oferece suplementação, ou equilibra as prestações de alguma forma,
diminuindo o preço, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Esta
proposta deve ser feita em sede de contestação da ação anulatória, sendo possível mesmo a
consignação em pagamento da quantia suplementar, se for o caso.
A lesão tem sede natural em contratos comutativos, enquanto o estado de perigo
pode ocorrer mesmo em atos unilaterais, como na promessa de recompensa; a lesão é
objetiva, como visto, independendo da percepção do dolo do contratante que se beneficia,
enquanto o estado de perigo é subjetivo, dependendo da ciência do perigo pelo beneficiário;
a lesão pode ocorrer da inexperiência, elemento ausente no estado de perigo; e a lesão
admite suplementação, expressamente, enquanto no estado de perigo (e só para parte da
doutrina) o cabimento é por analogia.
A Lei 1.521/51, dos crimes contra a economia popular, no seu artigo 4°, “b”, prevê
que a lesão é também um ilícito penal, além de ser causa anulatória do negócio,
consubstanciada na usura pecuniária:
“Artigo 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se
considerando:
(...)
b) obter, ou estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade,
inexperiência ou leviandade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto
do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de cinco mil a vinte mil
cruzeiros.”
Por esta previsão, por ser um ilícito penal, os civilistas sentiam-se compelidos a
entender que é imperiosa a sua classificação como ilícito civil, mesmo antes de existir
qualquer disciplina sobre a lesão no codex cível. O CDC, em 1990, solucionou esta
carência de regulamentação, estabelecendo no artigo 51 que:
11
O cabimento desta ação é outro argumento para a aplicação por analogia da redução proporcional, ao invés
da anulação, pois é até mesmo uma medida de economia processual.
Michell Nunes Midlej Maron 117
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso.
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo
a qualquer das partes.
(...)”
Veja que, então, surgiu a disciplina civil da lesão, que se consolidou para todo
direito privado, em 2002, com a previsão do artigo 157 do CC, já transcrito12.
O estado de perigo tem por exemplo mais clássico aquele em que, a pessoa se
afogando, promete ao barqueiro toda sua fortuna caso o salve; ou o doente que,
desesperado, promete ao médico quantia fabulosa para que este o salve; os pais que,
buscando amealhar recursos para pagar o resgate do filho seqüestrado, vendem bens por
preço muito inferior ao de mercado, etc. Exemplo de lesão é aquele em que o agente
celebra mútuo a taxas de juros altíssimas, a fim de haver o dinheiro por alguma necessidade
premente, de ordem patrimonial.
Casos Concretos
Questão 1
Caio aliena bem imóvel a Tício, em negócio que vem a ter decretada sua anulação
por fraude contra credores. Transitada em julgado a sentença, Júlio, credor, promove a
penhora do bem, levando-o à hasta pública. Realizada a primeira praça, sem licitante,
Tício deposita em juízo o preço da avaliação, mais as despesas processuais, pleiteando a
subsistência do negócio realizado com Caio. Como Juiz, como você resolveria a questão?
Resposta à Questão 1
12
Na verdade, como o projeto do CC é de 1975, estas previsões já existiam muito antes do CDC, que teve
apenas o mérito de copiá-las e trazê-las mais cedo ao ordenamento.
Michell Nunes Midlej Maron 118
EMERJ – CP I Direito Civil I
A questão se trata da possibilidade de elisão, que é a substituição do bem em que se
concentra a discussão da fraude pelo valor a este correspondente. O artigo 160 do CC
autoriza tal hipótese, e a doutrina entende que é cabível a qualquer tempo, mesmo após o
trânsito em julgado. O negócio deve subsistir, e a discussão da fraude ser elidida,
concentrando-se o direito do credor no valor depositado.
Assim se manifestou o STJ no REsp 53070.
Questão 2
Caio, industrial, gravemente enfermo, afirma a seu médico que pagará R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), se o mesmo obtiver remédio que poderá curá-lo, só
encontrado no mercado exterior. Obtido o remédio e a conseqüente cura, Caio consulta
advogado indagando se deve ou não realizar a manifestação de vontade acima
mencionada. Opine.
Resposta à Questão 2
A vontade é claramente viciada, vez que se trata da incidência do instituto do estado
de perigo: a grande desproporção entre o valor do medicamento e o preço cobrado, aliada
ao dolo de aproveitamento, é flagrante hipótese do vício, pois só pela premência de salvar-
se é que assim se manifestou o declarante. Por isso, não há que ser cumprida a obrigação
nestes termos, sendo anulável o negócio, ou, nos termos do § 2° do artigo 157, aplicado por
analogia, redutível o valor ao patamar razoável.
Questão 3
João de Souza propôs, perante o Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital,
ação de reparação de danos, pelo procedimento sumário, em face de Transportes Zona Sul
Ltda, postulando indenização por danos materiais e morais, em decorrência de
atropelamento por ônibus de propriedade da empresa ré, no qual o autor sofreu
amputação da perna direita.
Em contestação, o réu argüiu preliminar de extinção do processo sem julgamento
do mérito, fulcrada no artigo 267, VI, do CPC. Sustenta que, a fim de compor o conflito, as
partes transigiram, efetuando a empresa o pagamento ao autor da importância de R$
5.000,00, compreensiva de todos os danos por ele sofridos, direta ou indiretamente, em
conseqüência do acidente, dando o autor plena quitação para nada mais reclamar, a
qualquer tempo, em Juízo ou fora dele, pelo quê requer seja decretada a carência da ação
em face da transação havida entre as partes.
Em réplica, o autor alega ter sido firmada a transação somente cinco dias após o
acidente e, como pessoa humilde que é, não tinha condições de avaliar o seu conteúdo.
Aduz que, pelo seu valor irrisório, só pode valer como quitação até o valor que
efetivamente foi pago ao autor.
Decida a respeito, fundamentadamente.
Resposta à Questão 3
Michell Nunes Midlej Maron 119
EMERJ – CP I Direito Civil I
Há claramente o aproveitamento, pela empresa, das condições de humildade do
autor, maliciosamente induzindo-o a aceitar indenização ínfima diante dos danos padecidos
por este. O autor, premido pelas circunstâncias e também claramente inexperiente,
manifestou aceitação de acordo, consistindo na figura da lesão, vicio da vontade, em que o
agente aceita a prestação incompatível com a realidade por inexperiência. É anulável o
negócio jurídico da transação, sendo, então, inábil para impedir a propositura da ação.
Tema XV
Negócio Jurídico V: Ineficácia em sentido amplo. Inexistência, Invalidade e Ineficácia em sentido estrito.
Causas de nulidade e anulabilidade. Aproveitamento do negócio jurídico. Conversão do negócio nulo.
Notas de Aula
1. A Invalidade do Negócio Jurídico13
1.1. Considerações Gerais
13
Item 1 e subitens retirados de estudo do Prof. Nelson Rosenvald.
Michell Nunes Midlej Maron 120
EMERJ – CP I Direito Civil I
Dentro do plano da validade do negócio jurídico estão incluídas não apenas as
hipóteses de nulidades (artigos 166 e 167, CC), mas, também, as anulabilidades (artigo
171, CC). Por isso, tanto as nulidades quanto as anulabilidades são espécies do gênero
invalidade do negócio jurídico.
As invalidades dependem de expressa previsão legal, somente podendo estar
caracterizadas por expressa previsão normativa. De modo simples, é lícito afirmar que,
desatendidos os requisitos de validade (artigo 104, CC), o negócio jurídico será inválido e,
portanto, eivado de nulidade ou anulabilidade.
A nulidade viola interesses públicos, cuja proteção interessa a todos, à própria
pacificação social. A anulabilidade, por sua vez, é vício menos grave, comprometendo
interesses particulares, servindo esta distinção para fixar, desde logo, a legitimidade para
pleitear o reconhecimento da invalidade: em se tratando de nulidade, qualquer pessoa pode
suscitá-la e o magistrado pode conhecer de ofício; se, por outro turno, o caso é de
anulabilidade, somente o interessado poderá provocá-la.
Para a maioria da doutrina, a classificação entre nulidade absoluta e nulidade
relativa, abandonada pelo CC de 2002, equivale à atual distinção entre nulidade e
anulabilidade. A jurisprudência também usa os termos “nulidade absoluta” e “nulidade
relativa” como equivalentes à nulidade e anulabilidade (STJ, 4ª T., REsp. 246.824, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29.04.2002).
A invalidade classifica-se em: originária ou sucessiva (se nasceu, ou não, com o
próprio ato); total ou parcial (se compromete a totalidade do negócio ou somente parte
dele).
1.2. O Regime Jurídico das Nulidades
A nulidade (absoluta) decorre da violação a um dos requisitos de validade
estabelecidos pelo artigo 104 do CC.
O artigo 166 do CC resolve elencar as hipóteses de nulidade, disparando ser “nulo o
negócio jurídico quando”:
- Celebrado por pessoa absolutamente incapaz: as pessoas absolutamente incapazes
são as indicadas no artigo 3º CC. São desprovidas de capacidade de fato ou de
exercício por não reunirem as condições biopsíquicas necessárias ao discernimento,
devendo o ato ser realizado somente por meio do instituto da representação. Em tais
casos, como o do enfermo mental, é desnecessário o conhecimento da incapacidade,
pela outra parte, para acarretar a nulidade (STJ, 3ª T., REsp. 38.353, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 23.04.2001).
- For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto: o conceito de ilicitude,
indica-se em doutrina, não se restringe ao aspecto da pura legalidade, mas inclui a
questão da moralidade. Objeto ilícito é aquele contrário ao direito, portanto não
somente à lei, mas também aos bons costumes. Por isso, o objeto imoral, contrário
aos bons costumes, constitui igualmente objeto ilícito. A impossibilidade do objeto
refere-se, essencialmente, ao aspecto físico ou jurídico. Por impossibilidade física
do objeto compreende-se tudo o que o homem não pode realizar por suas próprias
forças, impedido pelas leis naturais. O aspecto jurídico, seja por determinação da lei
Michell Nunes Midlej Maron 121
EMERJ – CP I Direito Civil I
ou de disposição negocial. Indeterminável é o objeto que não pode ser determinado,
faltando no conteúdo da declaração os requisitos para tornar possível a prestação.
- O motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito: é preciso cuidado
para não confundir causa ilícita com motivo falso capaz de caracterizar erro (artigo
140, CC), viciando o ato negocial. Se o motivo não foi expresso como razão
determinante do negócio, não há que se falar em erro, pois este há de acontecer na
declaração de vontade e não nos motivos que a inspiram. Logo, o falso motivo só
caracterizará o erro, viciando o negócio, quando tiver sido expresso como causa
determinante do negócio. Já o motivo ilícito (artigo 166, III, CC) é aquele que se
transforma em razão absorvida pelas partes, em verdadeira condição do negócio. O
motivo, em regra, é irrelevante, salvo quando se constituir em razão determinante do
negócio (artigo 140, CC), de modo a integrar o conteúdo negocial. Será assim ilícita
“uma doação que tem, como razão determinante, e de comum acordo, a recompensa
de uma atividade ilícita”; “um contrato de locação cuja razão de ser seja a
exploração do meretrício”.
- Não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei
considere essencial para sua validade: assim a exigência, para certos atos, da
presença de testemunhas (artigos 1.864, II; 1.868, I; 1.876, §1º, CC); ou de
autorização judicial (artigo 1.748, CC) para a realização do negócio; artigo 108, CC.
- Tiver por objeto fraudar lei imperativa: o negócio in fraudem legis é o que foge da
incidência da norma jurídica ou das obrigações legais, sendo realizado sob forma
diferenciada. A nulidade por fraude é objetiva, não estando atrelada à intenção de
burlar o mandamento legal. Havendo contrariedade à lei, pouco interessa se o
declarante tinha, ou não, o propósito fraudatório. É o exemplo da doação feita à
concubina pelo homem casado e da fixação de cláusula penal (multa) em valor
superior ao do contrato (negócio principal), pois o artigo 412 do CC proíbe que o
valor da cláusula penal exceda o da obrigação principal.
- A lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção:
será nulo o ato que a lei taxativamente o declarar – é a denominada nulidade textual,
expressa ou cominada – ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção – é a nulidade
virtual ou não cominada – decorrente da violação de norma jurídica cogente, que
proíba ou que imponha determinada conduta humana, sendo omissa quanto à
nulidade e não definindo outra espécie de sanção para a sua transgressão. São
exemplos de nulidade declarada as previsões dos artigos 209; 489; 548; 549; 907;
1.900 e 1.959, do CC. E de nulidade virtual os artigo 286; 606; 621; 924; 1.863 e
2.038, CC.
Em virtude da gravidade do vício infringido, violado, considera o ordenamento
jurídico que o ato ou o negócio nulo não produza qualquer efeito jurídico, podendo,
inclusive, ser reconhecido como tal ex officio, pelo próprio juiz ou a requerimento do
interessado ou do Ministério Público, quando tenha de intervir (artigo 168, CC).
Michell Nunes Midlej Maron 122
EMERJ – CP I Direito Civil I
Como se trata de vício não convalidável, o negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (artigo 169, CC). A nulidade também
é considerada imprescritível por parte significativa da doutrina, devendo ser proposta uma
ação declaratória de nulidade que segue, regra geral, o rito ordinário. Para outros, a ação
declaratória de nulidade de fato seria imprescritível, mas a desconstituição dos efeitos do
ato jurídico nulo se sujeita ao prazo prescricional máximo (dez anos) do artigo 205: “Em
síntese: a imprescritibilidade dirige-se, apenas, à declaração de nulidade absoluta do ato,
não atingindo as eventuais pretensões condenatórias correspondentes” (Pablo Stolze).
Há entendimento diverso, defendendo a inexistência de direitos patrimoniais
imprescritíveis, pelo quê se aplicaria à declaração de nulidade o prazo prescricional geral de
dez anos do artigo 205 (Caio Mário).
A nulidade de qualquer negócio será reconhecida através de decisão judicial
meramente declaratória (limitando-se o magistrado a afirmar que não se produziu qualquer
efeito, sendo desnecessário desconstituir qualquer situação) e, por conseguinte,
imprescritível, produzindo efeitos ex tunc. Possui também efeitos contra todos, erga omnes,
diante da emergência da ordem pública.
O ato jurídico nulo pode surtir efeitos quanto a terceiros de boa-fé (por exemplo, o
casamento putativo).
1.3. O Regime Jurídico das Anulabilidades
Tratando-se de vícios de natureza privada, logicamente, o ato anulável admite a
confirmação, que pode ser expressa ou tácita, resguardando-se, por óbvio, os direitos de
terceiros. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade
expressa de mantê-lo (artigo 173, CC). Caso o devedor já tenha cumprido parte do negócio,
ciente do vício que o maculava, a confirmação expressa será dispensada (artigo 174, CC).
O ato ou negócio jurídico anulável produzirá efeitos até que lhe sobrevenha decisão
judicial, no sentido de impedir que continuem se produzindo. A anulabilidade, pois, é
reconhecida por meio de ação anulatória, ajuizada pelo interessado exclusivamente, cuja
natureza é, induvidosamente, constitutiva negativa (desconstitutiva), produzindo efeitos ex
tunc (retroativos), uma vez que, em conformidade com o artigo 182, CC, também na
anulação do negócio jurídico as partes deverão ser reconduzidas ao estado em que antes
dele se achavam.
Ademais, somente o interessado poderá suscitá-la, não sendo possível ao juiz
conhecê-la de ofício ou ao Parquet suscitá-la quando tiver de intervir no processo.
Em regra, o prazo (decadencial) para pleitear a anulação de negócio jurídico, nos
termos do artigo 178, é de quatro anos. Entretanto, quando a lei dispuser que determinado
ato é anulável sem estabelecer prazo para pleitear-lhe a anulação, considerar-se-á que o
prazo (decadencial) será de dois anos, contados a partir da data da conclusão do ato ou do
negócio jurídico (artigo 179, CC).
Cabe salientar, que tanto a sentença que reconhecer a nulidade quanto a sentença
que reconhecer a anulabilidade produzirão efeitos ex tunc, reconduzindo as partes ao status
quo ante.
O artigo 171 do CC dispõe sobre a anulabilidade, in verbis: “Além dos casos
expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico: I – por incapacidade
Michell Nunes Midlej Maron 123
EMERJ – CP I Direito Civil I
relativa do agente; II – por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e
fraude contra credores”.
1.4. O Princípio da Conservação dos Atos e Negócios Jurídicos
Não se deve olvidar, no estudo da invalidade do negócio jurídico, a necessária
homenagem e respeito ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, pelo qual
sempre que possível o negócio deve ser preservado. Aliás, não é por outro motivo que a Lei
Civil contempla os institutos da conversão substancial (artigo 170), da ratificação (artigo
172) e da redução (artigo 184).
A conversão substancial diz respeito à possibilidade de recategorização do negócio
nulo, aproveitando-se a manifestação de vontade para reconhecer outro negócio jurídico,
desde que respeitados seus requisitos formais.
A ratificação do negócio jurídico (também chamada de sanação ou convalidação
ou, ainda, como preferiu o legislador, confirmação), por seu turno, concerne à possibilidade
de as partes, por vontade expressa ou tácita, declararem aprovar um determinado negócio
ou ato anulável (inadmitida a confirmação do ato nulo, como desfecha o artigo 169 do CC).
Será expressa a confirmação quando, através de novo ato, que contém a substância
negocial, as partes afirmam a vontade de mantê-lo. De outra banda, será tácita a
convalidação quando, apesar de ciente da anulabilidade, a parte cumpre regularmente seu
conteúdo. É óbvio que somente as próprias partes poderão sanar o ato anulável, produzindo
efeitos ex tunc.
E finalmente, a redução do negócio jurídico, que pertine à nulidade parcial, tem
cabimento quando for admitida a separação das partes do negócio, permitindo a extirpação
da parte inválida do negócio, aproveitando-se a parte válida. Exemplo: anulável a fiança,
não se prejudica o contrato de locação no qual foi prestada.
1.5. Conversão Substancial do Negócio Jurídico
Admite a lei civil a conversão substancial dos negócios jurídicos, conforme
prescreve o artigo 170 do CC.
Vislumbra-se, nitidamente, em tais hipóteses o acolhimento do princípio da
conservação dos atos e negócios jurídicos (o velho e conhecido princípio da fungibilidade).
A conversão substancial é o meio jurídico, através do qual, respeitados certos
requisitos, transforma-se um negócio jurídico inválido absolutamente (nulo) em outro, com
o intuito de preservar a intenção das partes que declararam vontade.
Importante destacar que não se trata de medida de sanação de invalidade absoluta do
negócio jurídico (até porque a nulidade é insanável). Na verdade, não se convalida a
nulidade do negócio. Apenas aproveita-se a vontade declarada para a formação de um ato, a
princípio nulo, transformando-o em outro, para o qual concorrem os requisitos formais e
substanciais, sendo perfeitamente válido e eficaz. Também não se vincula a vontade das
partes, nem fica presumida a existência de outra figura negocial. Tão-somente autoriza-se o
aproveitamento (pelo juiz) da vontade emitida para a celebração de um negócio, que é nulo,
para que produza efeitos em outra espécie negocial, dês que a finalidade perseguida esteja
respeitada.
Michell Nunes Midlej Maron 124
EMERJ – CP I Direito Civil I
É possível, assim, perceber a conversão substancial como a medida pela qual,
considerando a nulidade de determinado ato ou negócio, aproveitam-se seus elementos
presentes para admiti-lo como outro ato ou negócio jurídico.
Por óbvio, a conversão pertine, com exclusividade, aos negócios jurídicos nulos,
uma vez que os anuláveis podem ser convalidados pela simples aplicação da teoria do
aproveitamento.
É correta, de qualquer forma, a assertiva de Bernardes de Mello, admitindo também
a conversão do negócio anulável, naquelas hipóteses em que não seja possível a sua
ratificação, como nos casos de anulabilidade por incapacidade relativa do agente.
Exemplos: uma nota promissória nula emitida poderá ser aproveitada como
confissão de dívida, se presentes os requisitos mínimos desta figura, respeitando a vontade
do declarante. Ilustrando ainda: a doação mortis causa nula pode ser aproveitada como
legado e a compra e venda nula admite a substituição em promessa de compra e venda, se
presentes os requisitos básicos deste ato.
No entanto, a admissibilidade da conversão substancial submete-se ao
preenchimento de determinadas condições, configurando verdadeiros pressupostos de
admissão do instituto.
Assim, exige-se a presença dos seguintes elementos: a) elemento de natureza
objetiva, consistente na possibilidade de aproveitamento (pois na conversão não se cria
novo suporte fático); b) elemento de natureza subjetiva, relacionado à intenção dos
declarantes dirigida a obter a recategorização jurídica do negócio nulo. Enfim, diz respeito
o segundo elemento à vontade dos declarantes na ocorrência do resultado prático decorrente
da conversão. Se não desejam, impossível falar em aproveitamento.
Não é por outro motivo que o enunciado 13 CJF da I Jornada de Direito Civil
concluiu: “O aspecto objetivo da conversão requer a existência do suporte fático no negócio
a converter-se”.
Além dos citados pressupostos, fala-se ainda, não sem razão, na necessidade de
respeito a um terceiro elemento caracterizado pela observância dos requisitos essenciais da
subsistência e forma do ato a que se pretende converter. Ou seja, o ato que se pretende obter
deve estar acobertado pela presença de seus elementos formais e substanciais.
A conversão, tratando-se de aproveitamento de ato nulo, clama reconhecimento
judicial, se presentes os seus pressupostos. Somente o juiz, portanto, pode declarar o
aproveitamento da vontade manifestada em negócio nulo. A legitimidade para reclamar a
sua admissibilidade é tanto das partes, quanto dos terceiros interessados, não podendo
apenas, por evidente ser invocada por quem deu causa à nulidade, nem tampouco conhecida
ex officio.
Não se pode confundir a conversão substancial do negócio jurídico com a conversão
legal, admitida, expressamente, pela própria norma jurídica. São aquelas hipóteses em que
o próprio texto legal determina o aproveitamento de determinado negócio inválido em
outro. Lembre-se da norma do artigo 431 do CC.
2. Inexistência, Invalidade e Ineficácia do Negócio Jurídico
Já se abordou a estrutura dos negócios jurídicos, em seus elementos essenciais e
acidentais. Há negócios que têm, além dos elementos essenciais gerais – partes, objeto,
forma e vontade –, elementos essenciais específicos: na compra e venda, por exemplo, o
Michell Nunes Midlej Maron 125
EMERJ – CP I Direito Civil I
preço é um elemento específico, ligado ao objeto vendido, mas diverso deste. Os elementos
acidentais, como já visto, são a condição, o termo e o encargo, e estes afetam o plano da
eficácia.
Os requisitos gerais de validade são aquilo que dá a roupagem aos elementos, como
a capacidade, em relação às partes, a licitude em relação ao objeto, e a liberdade em relação
à vontade. Há também requisitos específicos, como na compra e venda de imóvel locado: a
preempção, que deve ser dada ao locatário, é um requisito específico de validade deste
negócio, tal como no assentimento dos demais descendentes, na compra e venda de
ascendente para descendente.
Assim, para existir, o negócio precisa dos elementos estruturais, as partes, o objeto,
a forma e a vontade, e dos elementos específicos que porventura existam; mas para ser
válido, depende da presença dos requisitos gerais, quais sejam, os atributos dos elementos,
e específicos, como o assentimento dos descendentes, no exemplo dado.
O plano da eficácia, por sua vez, diz respeito à produção de efeitos. Em regra, o
negócio existente e válido é eficaz, mas se for sua eficácia subordinada a algum elemento
acidental, será eficaz se preenchido este elemento, nos moldes previstos. Assim, se há
condição suspensiva, por exemplo, o ato é existente e válido, mas é ineficaz enquanto não
se implementar a condição.
A invalidade, então, é gênero, do qual são espécies a nulidade e a anulabilidade, de
acordo com a gravidade do vício. A gradação da gravidade é uma escolha legislativa, pelo
quê o ato é nulo ou anulável sempre de acordo com a lei. A lógica adotada, em regra, é que
os vícios sujeitos à nulidade violam preceitos de ordem pública, enquanto aqueles que
sujeitam o ato à anulabilidade violam preceitos de ordem privada. Pode-se dizer, com isso,
que a nulidade traduz vício mais grave que o da anulabilidade.
É fato que a causa da nulidade ou anulabilidade é verificada no momento da
celebração do negócio, ou da declaração da vontade. Os efeitos da nulidade e da
anulabilidade só diferem até o momento em que se opera a invalidação do negócio; após a
efetiva invalidação, por nulidade ou anulabilidade, o fato é que se desconstitui o ato
anulado.
Para a verificação da nulidade, não se exige a comprovação de qualquer prejuízo. O
ato é inválido pela infringência à norma de ordem pública, objetivamente, e não se aplica,
como em processo, o princípio pas de nullitè sans grief.
A nulidade demanda declaração judicial para operar a desconstituição do negócio.
Todavia, não precisa de um processo específico de anulação, podendo ser incidental a outro
rito, e até mesmo de ofício. Já a anulabilidade demanda ação específica de anulação,
mesmo que ação declaratória incidental, não podendo ser declarada incidentalmente. Veja
que a nulidade reconhecida integra a fundamentação da sentença, não fazendo, portanto,
coisa julgada: para que a nulidade seja alcançada pela coisa julgada, deve haver sua
inclusão no dispositivo, e para tanto, aí sim, é necessária ação anulatória, mesmo para a
nulidade – ação que pode ser incidental, ou oriunda do direito de ação, como na
reconvenção, ou no pedido contraposto, mas nunca em sede de contestação (posição
controvertida por pequena pare da doutrina, porém).
“Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por
qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.
Michell Nunes Midlej Maron 126
EMERJ – CP I Direito Civil I
Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer
do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo
permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.”
O negócio nulo não é suscetível de convalescimento, pois como a norma que ofende
é de ordem pública, não há como sanar a nulidade. A nulidade também não é sujeita à
prescrição, pois a sua produção de efeitos é por declaração, e as ações declaratórias não são
prescritíveis. O que pode ser prescrito, porém, é o efeito patrimonial eventualmente
existente, proveniente da nulidade. O ato anulável, por sua vez, convalesce pela sanação do
vício, pela confirmação do ato, ou mesmo pelo decurso do tempo, sendo sujeito assim à
prescrição.
Os efeitos da declaração de nulidade são ex tunc, retroagindo à data da feitura do
ato. A anulabilidade, por sua vez, permitiria a produção de efeitos até a data da anulação.
Estas afirmações, clássicas, não mais correspondem ao entendimento majoritário da
matéria. Isto porque o ato nulo produz, sim, efeitos, em muitos casos. Os efeitos da
anulabilidade são ex nunc, a partir do trânsito em julgado (mas com efeitos da anulação
desde a prolação a sentença).
2.1. Conversão
Embora o negócio nulo não possa se convalidar, ou ser confirmado, poderá ser
convertido. A conversão é a alteração da própria natureza do ato, em atenção à intenção das
partes na manutenção do ato, desde que haja os requisitos de validade para cumprir a
perfeição o negócio em que se converterá o que era nulo.
Veja um exemplo: a compra e venda de imóvel, que exigia escritura pública, foi
feita em instrumento particular. É negócio nulo por vício da forma. Se as partes quiserem
aproveitar o negócio, poder-se-á converter tal negócio para uma promessa de compra e
venda, que não exige forma de escritura pública. Veja que não está sendo convalidado o ato,
pois para a compra e venda do imóvel é imperativa a forma pública, mas como todos os
requisitos da promessa estão presentes, será feita a conversão, se assim quiserem os
contratantes.
2.2. Anulabilidade x Nulidade
Vale aqui, a fim de esquematizar o conhecimento, traçar um quadro comparativo
entre a nulidade e a anulabilidade:
Nulidade Anulabilidade
Infringência a preceito de ordem pública Infringência a preceito de ordem privada
(interesses coletivos) (interesses particulares)
Não precisa de ação específica para seu Necessidade de ação específica para seu
reconhecimento reconhecimento
Michell Nunes Midlej Maron 127
EMERJ – CP I Direito Civil I
Âmbito amplo de questionamento (artigo Âmbito de questionamento restrito
168 do CC)
Nulidade declarada com efeitos ex tunc Anulação por sentença constitutiva
(desconstitutiva), com efeitos ex nunc
Não se admite a conversão do negócio Há possibilidade de conversão
Imprescritível Sujeita-se a prazo decadencial
Casos Concretos
Questão 1
Transportes Estrela de Ouro Ltda. ingressou com ação de cobrança em face do
município de Morretes/PR, o qual tinha por objeto um cheque prescrito, dado pela
Municipalidade em contraprestação pela realização de serviços de transportes de
estudantes da rede pública. Em contestação, alega a Fazenda Pública que não cabe o
referido pagamento, haja vista a inexistência de contrato escrito, tal como determina a Lei
de Licitações, bem assim a falta do necessário empenho para a realização de despesa
Michell Nunes Midlej Maron 128
EMERJ – CP I Direito Civil I
pública. Argumenta ainda que o contrato verbal é nulo de pleno direito, e, nessas
circunstâncias, não pode produzir qualquer efeito, não havendo cabimento, portanto, para
a cobrança, sendo que a autora foi imprudente em prestar o serviço sem a formalização da
relação jurídica. Como Juiz, como você resolveria a questão?
Resposta à Questão 1
De fato, há formalidade a ser seguida, posto que a lei impôs a forma escrita para a
celebração daquele negócio jurídico, pelo quê há a nulidade do negócio. A forma, quando
prevista, se descumprida, afeta o plano da validade do negócio jurídico, e este é o caso: o
negócio é nulo.
Todavia, o serviço foi prestado. A assertiva de que o ato nulo não produz efeitos não
é correta, pos a equidade nas relações jurídicas impõe que a municipalidade não se valha da
sua própria torpeza, e locuplete-se ilicitamente à conta da autora. Por isso, há de ser cabível
a cobrança do título – o cheque deve ser pago. Vide REsp 545.471-PR.
Questão 2
MARIA, passando por difícil situação financeira, contrata empréstimo com JOÃO,
no valor de R$ 10.000,00, a ser pago através de vinte parcelas mensais de R$ 1.000,00,
tendo sido emitidas as respectivas notas promissórias. Três meses após, MARIA ingressa
em Juízo pleiteando o reconhecimento de nulidade do contrato de mútuo, ao argumento de
que houve infringência ao Decreto nº 22.626/33, requerendo ainda que seja declarada a
inexistência de qualquer débito.
JOÃO contesta o feito sustentando que não mais está em vigor o indigitado decreto,
devendo ser respeitado o que restou contratado, aduzindo ainda que MARIA agiu de má-fé,
pois desde a celebração do mútuo já tencionava não cumprir o contrato. Como Juiz, qual a
solução que você daria à questão?
Resposta à Questão 2
É clara a violação das normas atinentes pelos juros impostos por João. Como pessoa
natural, não entidade financeira, a taxa de juros limítrofe é a de 1% ao mês, pelo quê está
claramente configurada a nulidade, in casu, tendo João se valido da necessidade em que se
via Maria. O negócio é nulo por infringência a norma de ordem pública. Entretanto, o
negócio não será simplesmente desconstituído, e sim reduzido ao patamar de correção e
equilíbrio nas prestações, na forma do artigo 157, § 2°, do CC. Vide apelação cível
2004.001.1264-6.
Questão 3
Os proprietários das coberturas do Condomínio Flores do Campo (apartamentos
901 e 902) ingressaram com ação declaratória de nulidade de assembléia condominial
realizada em 1972, insurgindo-se em razão da alteração da convenção quanto ao rateio
das despesas condominiais, tendo sido deliberada a sua majoração para os proprietários
das coberturas. Aduzem ser nula a referida disposição, ante a falta de consentimento
Michell Nunes Midlej Maron 129
EMERJ – CP I Direito Civil I
unânime dos condôminos, necessário na situação, por força de cláusula estabelecida na
própria convenção. Informam que adquiriram as unidades bem após a realização da
mencionada assembléia, razão pela qual somente recentemente é que tiveram
conhecimento da indigitada alteração. Sustentam que, como se trata de ato nulo, não há de
que falar em prescrição ou decadência. Em contestação, argumenta o condomínio que o
desrespeito à norma da convenção não consubstancia nulidade, já que não houve
vulneração de preceito de ordem pública. Aduz ainda que a Lei nº 4.591/64 estabelece
para a situação o quorum mínimo de 2/3 do total das frações ideais, o que foi respeitado.
Assim, não se trata de situação de nulidade, tendo ocorrido, já há muito, a decadência do
direito reclamado.
Como Juiz, resolva a questão, de forma fundamentada.
Resposta à Questão 3
Primeiramente, fica claro que houve, de fato, infringência à convenção, o que é
causa de anulabilidade, vez que é instrumento de ordem privada. Fosse causa de nulidade,
não seria prescritível, mas como é causa de anulabilidade, já se operou, in casu, a
decadência. Assiste razão ao condomínio. Vide REsp 196.312.
Tema XVI
Negócio Jurídico VI: Invalidade. Negócio simulado e dissimulado. Simulação. Conceito, requisitos e efeitos.
Simulação objetiva e subjetiva. Simulação absoluta e relativa. Simulação maliciosa e inocente. Diferença
entre simulação e fraude à lei.
Notas de Aula
1. Simulação
Michell Nunes Midlej Maron 130
EMERJ – CP I Direito Civil I
Diferentemente dos vícios de consentimento, neste vício social, assim como na
fraude contra credores, não há desconexão entre as vontades interna e manifesta. O que
ocorre é a influência da negociação perante terceiros, mas sem que haja, de qualquer forma,
influências indevidas nas vontades dos declarantes.
Assim, a vontade é livre, mas é dedicada a realizar ato jurídico diverso, na forma, do
que o que se está realmente praticando, com o fito de prejudicar alguém. Na fraude contra
credores, o prejudicado é o credor; na simulação, um terceiro qualquer, a depender da
espécie de ato simulado.
A simulação já existia no CC de 1916, tendo sido sempre conceituada como uma
declaração enganosa de vontade. Este conceito pode gerar uma certa confusão entre a
simulação e o dolo, mas a diferença básica é que, no dolo, a declaração enganosa é dirigida
a ludibriar o declaratário, ou seja, o engano vem do pactuante do negócio (ou de terceiros)
sobre a vontade do declaratário, que fica viciada. Na simulação, a declaração enganosa não
se dirige a um dos celebrantes, e sim a enganar terceiros, ou a sociedade como um todo, a
fim de prejudicar estes que foram enganados.
A reserva mental pode se aproximar da simulação, quando se percebe que foi
comunicada ao declaratário do negócio jurídico a real vontade dissimulada pelo negócio.
Veja: a reserva mental é justamente o intento de foro íntimo do declarante, e se este intento
for escondido da outra parte, não produz qualquer efeito; mas se a reserva mental for de
conhecimento do outro relacionando, significa que este tem ciência de que o negócio que
está sendo pactuado não é aquilo que realmente intentam. Por isso a previsão do artigo 110
do CC:
“Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a
reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha
conhecimento.”
Assim, havendo ciência da reserva mental que se presta a dissimular o negócio, este
será nulo, como se simulação fosse.
Mesmo que o legislador não tenha conceituado a simulação, ao menos tentou
exaurir as hipóteses em que esta pode ocorrer, no § 1° do artigo 167 do CC. Mesmo não
sendo rol exaustivo, é praticamente exauriente das possibilidades fáticas de simulação:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.”
Algumas considerações devem ser feitas. Nos negócios simulados, a prova da
simulação, às vezes, é bastante difícil àquele que a alega, principalmente em se
considerando a limitação do artigo 227 do CC:
Michell Nunes Midlej Maron 131
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se
admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário
mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados.
Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova
testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.”
Ocorre que na maior parte das vezes a prova testemunhal é a única de que dispõe o
prejudicado pela simulação, especialmente pelo fato de que o negócio simulado, em regra, é
formalmente perfeito. Não sendo esta prova exclusivamente testemunhal admissível, pelo
valor do negócio ser superior ao ali previsto, será impossível a produção de provas, gerando
a improcedência da ação, e, na casuística, favorecendo aqueles que simularam o negócio.
Por isso, a jurisprudência vem admitindo que, exclusivamente nas alegações de simulação,
a prova exclusivamente testemunhal poderá ser admitida.
No inciso I do artigo 167, § 1°, do CC, está a simulação quanto às pessoas
envolvidas, fazendo constar no negócio pessoa que, em verdade, nada tem a ver com a
relação, apenas estando ali para afastar a figura do real envolvido. É o famigerado
“laranja”, o “testa-de-ferro”.
O inciso II é o mais abrangente, que acaba por açambarcar a maior parte das
simulações realizadas na prática. É a simulação referente a elementos do negócio, fazendo
constar informações não condizentes com a realidade. Como exemplo, em uma compra e
venda, faz-se constar preço menor do que o realmente pago, a fim de se burlar a tributação
ali incidente.
O inciso III também merece algumas explicações. A data que se apõe, a fim de
simular o negócio, é a de constituição da obrigação, e não a eventual pós-datação para a
exigibilidade da obrigação, como se faz nos cheques “pré-datados”. Por isso, estes cheques
não são simulação, são mera modalidade negocial em que se posterga a data de pagamento,
nada mais. A data de constituição é a do negócio, nada havendo de simulacro nessa pós-
datação.
Veja que é possível haver a simulação também em negócios unilaterais. Nada
impede que possa o declarante manifestar vontade simulada, fazendo constar, como
exemplo, em uma promessa de recompensa, um valor diverso do realmente contemplado ao
evento que será premiado, também a fim de burlar a tributação.
1.1. Classificações da Simulação
1.1.1. Simulação Maliciosa ou Inocente
A simulação pode ser maliciosa ou inocente. É maliciosa, odiosa, aquela que visa a
prejudicar alguém, frustrar algum direito alheio. A inocente não tem este escopo de frustrar
nenhum direito, prejudicar ninguém.
Michell Nunes Midlej Maron 132
EMERJ – CP I Direito Civil I
Exemplo mais comum de simulação inocente seria o do pai que, desejando agilizar
a obtenção dos seus bens pelos filhos, quando de sua morte, realiza em vida doações para
estes, sem desrespeitar a partilha legítima devida a cada um. Veja que o escopo desta
simulação é até mesmo louvável, qual seja, evitar o processo sucessório que atravancaria o
Judiciário, não prejudicando ninguém – mas é simulação, pois não espelha a realidade, qual
seja, de que os bens estão ainda sob domínio do pai.
A maliciosa, por sua vez, é a mais comum, infelizmente, servindo justamente como
meio de prejudicar terceiros ou a sociedade. Exemplo claro é o da doação à concubina, em
que se simula compra e venda, a fim de frustrar a vedação.
Surge uma questão: no antigo CC de 1916, o artigo 103 dizia que a simulação
inocente não era defeito, não se nulificando o negócio. Veja:
“Art. 103. A simulação não se considerará defeito em qualquer dos casos do artigo
antecedente, quando não houver intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar
disposição de lei.”
Ocorre que o CC de 2002 não repetiu a admissão expressa da simulação inocente.
Por isso, surgiram duas correntes sobre sua admissão: a primeira diz que, mesmo não tendo
sido repetido o dispositivo, o ordenamento privado admite a simulação maliciosa, pois esta
não é proibida – esta é a corrente menor; a segunda corrente, majoritária, defende que se o
CC diz que qualquer simulação é causa de nulidade, não mais excepcionando a simulação
inocente, é porque esta também é vedada, sendo nulo o negócio simulado, quer seja esta
maliciosa ou inocente.
Veja que a corrente minoritária calca sua razão no entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, pas de nullitè sans grief; contudo, deixa de considerar que, mesmo
que no momento de celebração não haja prejuízo, pode ocorrer prejuízo superveniente –
pelo quê a simulação inocente é, sim, causa de nulidade.
1.1.2. Simulação Absoluta ou Relativa
A simulação absoluta consiste naquela em que não se opera qualquer alteração no
mundo dos fatos, ou seja, nada ocorreu na realidade: o negócio só existe “no papel”. Como
exemplo uma compra e venda simulada que, na verdade, jamais ocorreu: o proprietário
vendedor jamais deixou, na prática, no mundo dos fatos, de ser proprietário. A simulação
absoluta não visa a encobrir um fato que realmente existiu, fazendo-o aparentar outro fato
qualquer.
Já na simulação relativa, também chamada de dissimulação, há alteração no plano
fático, há uma operação qualquer no mundo dos fatos que está sendo encoberta por um
negócio simulado. Um exemplo é a compra e venda de um bem que é dissimulada em
doação: no papel, é uma doação, mas no mundo dos fatos ocorreu uma doação.
Esta classificação em simulação absoluta ou dissimulação acarreta o seguinte efeito,
decorrente da própria terminologia usada no artigo 167 do CC de 2002, já transcrito: a
simulação, qualquer que seja – inocente ou maliciosa, causa nulidade, mas a dissimulação
não causa nulidade, se o negócio obnubilado for válido na essência e na forma.
Explicando: se o negócio for simulado, ou seja, não existe alteração no mundo dos
fatos, há nulidade. Se for simulação relativa, dissimulação, o negócio que obscurece aquele
que foi realmente praticado no mundo real será desconsiderado, mantendo-se o que foi
Michell Nunes Midlej Maron 133
EMERJ – CP I Direito Civil I
praticado, se este for essencial e formalmente válido; se o negócio real, que foi oculto pela
dissimulação, for inválido, aí então se nulifica toda a relação.
No exemplo da compra e veda dissimulando a doação, se esta doação for válida,
nada impede que seja mantida, desconsiderando-se a roupagem de compra e venda. O CJF,
no enunciado 293, assim se posicionou:
“Enunciado 293, CJF – Art. 167. Na simulação relativa, o aproveitamento do
negócio jurídico dissimulado não decorre tão-somente do afastamento do negócio
jurídico simulado, mas do necessário preenchimento de todos os requisitos
substanciais e formais de validade daquele.”
Veja que há de ser analisada, a validade do negócio dissimulado, o realmente
praticado, perante todas as hipóteses do ordenamento. Como exemplo, a dissimulação feita
em doação à concubina, mascarada de compra e venda: nulificada a compra e venda, a
doação não poderá ser mantida, pois o artigo 550 do CC veda-a, e mesmo sendo ali exposta
como anulável, será nula, pois é sistematicamente inválida, perante a lógica do
ordenamento (pois se se passassem os dois anos de decadência ali previstos, um negócio
simulado e inválido estaria convalidado, o que é inadmissível):
“Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo
outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida
a sociedade conjugal.”
1.2. “Alegação Interna” da Simulação
Na simulação, ambos os envolvidos estão cientes da máscara com que se está
recobrindo o negócio realmente praticado. Seria possível que uma das partes suscite a
simulação contra o outro?
A regra geral de direito é que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O CC
de 1916 dispunha expressamente que esta alegação era impossível:
“Art. 104. Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros ou infringir preceito de
lei, nada poderão alegar, ou requerer os contraentes em juízo quanto à simulação do
ato, em litígio de um contra o outro, ou contra terceiros. ”
O novel codex civilista não repetiu a vedação expressa. Por isso, surgiram três
posições na doutrina a disputar o tema: a primeira entende que vige, irrestrita, a regra de
que o torpe não pode se valer da própria torpeza; a segunda defende que é possível a
alegação, desde que se trate de simulação inocente – posição do STJ; e a terceira entende
que não há qualquer óbice à alegação de um contra o outro – posição do CJF, pelo quê
emitiu o enunciado 294:
“Enunciado 294, CJF – Arts. 167 e 168. Sendo a simulação uma causa de nulidade
do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra.”
1.3. Distinção entre Simulação e Fraude à Lei
O artigo 166, VI, do CC, estabelece esta nova figura, a nulidade por fraude a lei
imperativa. Veja:
Michell Nunes Midlej Maron 134
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
(...)
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
(...)”
Esta previsão poderia se confundir com a simulação, confusão que é, de fato, feita
por parte da doutrina. Todavia, não é a melhor interpretação. A simulação espelha
declaração de vontade que não é a real, ou seja, faz a vontade aparentar algo que não foi
realmente o que se realizou. Na fraude à lei, a vontade não é simulada: o que se manifesta é
exatamente o que ocorre, mas o que está sendo realizado é contrário à lei imperativa sobre
o assunto. Não há qualquer finalidade na prática do negócio, senão a fraude à lei.
Vejamos um exemplo: empresa quer importar maquinário, sendo que não tem,esta
empresa, qualquer benefício quanto ao imposto de importação. A fim de burlar a tributação,
esta empresa solicita a uma empresa conhecida, que tem o benefício, realize a importação, e
posteriormente lhe revenda o bem. Veja que não houve simulação – realmente a empresa
que importou efetuou a compra e venda internacional –, mas o negócio teve por fim
unicamente a fraude à lei imperativa da tributação, pois o bem importado não servia em
nada à empresa que o importou. Há nulidade, com base no artigo 166, VII, do CC, e não
simulação.
Casos Concretos
Questão 1
Mário, casado, celebra contrato de compra e venda com sua amante, falsificando a
assinatura de sua esposa para o fim de obtenção da outorga uxória, contrato este simulado
para encobrir na verdade doação à concubina, vedada pelo artigo 550 do Código Civil.
Com o término do concubinato, referido imóvel vem a ser alienado a Tício, que não sabia
Michell Nunes Midlej Maron 135
EMERJ – CP I Direito Civil I
das circunstâncias em que ocorrera a anterior alienação. Um ano após a ruptura da
sociedade conjugal e partilha do patrimônio, a ex-esposa de Mário e os filhos ingressam
com ação declaratória de nulidade em face de Mário, sua ex-amante e Tício, pretendendo
o desfazimento do negócio, com o retorno do imóvel para o patrimônio do ex-casal, a fim
de que o bem seja objeto de sobrepartilha. Tício contesta o feito argumentando estar de
boa-fé. Os autores aduzem que tal aspecto se mostra desinfluente, eis que o negócio
simulado é nulo, sendo que o negócio oculto também não é válido na substância, razão
pela qual procede a pretensão deduzida. Como Juiz, de que forma o aluno enfrentaria a
questão?
Resposta à Questão 1
O que se passou aqui foi a dissimulação, simulação relativa, da doação pela compra
e venda. Assim sendo, segundo o artigo 167 do CC, somente subsistirá o evento
obscurecido, a doação, se este for válido, em sua essência e forma. Ocorre que a doação à
concubina é vedada expressamente no artigo 550 do CC.
A compra e venda, por óbvio, é nula, vez que é simulação, mas o negócio
dissimulado in casu, a doação, não é nula, e sim anulável. Por isso, se se entender que,
mesmo sob simulação, continua sendo anulável a doação, esta será sujeita ao prazo
decadencial de dois anos, contados do fim da sociedade conjugal. Por isso, a maior corrente
entende que a doação dissimulada à concubina não pode se manter, sendo também nula.
Resolvido isso, a análise se dedica à situação do terceiro de boa-fé. A boa-fé não se
pode punir. Por isso, em que pese a simulação, o bem não poderá retornar ao patrimônio
para se incluir na sobrepartilha; será, entretanto, o alienante, o ex-marido, obrigado pela
indenização à cônjuge no valor do imóvel que lhe incumbiria na partilha, mas a seqüela não
mais se opera.
Questão 2
Dalgiza ajuizou ação de desconstituição de negócio jurídico em face de Luiz.
Alegou que obteve empréstimo com o demandado, através de mútuo celebrado em outubro
de 2001, com cobrança de juros usurários, para investir dinheiro na fazenda que
mantinha. Como garantia do empréstimo, o demandado exigiu que fosse celebrado, na
mesma data, um contrato simulado de parceria pecuária, como forma de "esquentar o
dinheiro", praxe conhecida como vaca-papel ou boi-papel, pelo qual a autora se obrigaria
a cuidar das vacas de cortes pertencentes ao demandado, que na verdade não existiam, e
devolvê-las após o prazo de 12 meses. Assim, considerando que houve simulação, requer a
desconstituição do contrato de parceria agrícola, para se declarar a existência de contrato
de mútuo.
Luiz ofereceu contestação. Nesta peça, alegou impossibilidade jurídica do pedido
com base no artigo 104 do código civil então vigente, pois "ninguém pode vir a juízo para
alegar a própria torpeza", já que a demandante admite ter celebrado contrato de mútuo
sob a roupagem de "parceria agrícola", que lhe foi favorável até o momento que não pode
mais resgatar as prestações a que se obrigou; falta de interesse na medida que pela lei
civil a simulação é causa de nulidade, que opera de pleno direito e deve ser pronunciada
pelo juiz de ofício, não justificando propositura de ação para este fim.
Michell Nunes Midlej Maron 136
EMERJ – CP I Direito Civil I
No mérito nega a simulação ao argumento que não houve prova alguma de ardil ou
de expediente astucioso, nem tampouco intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar
disposição de lei.
Discorra acerca da pretensão da autora, tanto das preliminares como da matéria
alegada no mérito da contestação.
Resposta à Questão 2
Na hipótese, a melhor doutrina sempre entendeu que a alegação da simulação de um
dos comparsas contra o outro, em juízo, é possível, mesmo na época em que o CC de 1916
previa expressamente, no seu artigo 104, vedação a esta alegação. Hoje, com a não
repetição da vedação no novo CC, a questão fica ainda mais clara. Assim, não tem
procedência a preliminar, e menos ainda a questão meritória suscitada, vez que é direito
potestativo intentar a nulificação em ação própria.
Questão 3
Politec Investimentos e Participações LTDA ajuizou ação ordinária, com o
propósito de ver decretada a nulidade de escritura pública de compra e venda. Sustenta
que João Matos, na qualidade de procurador da empresa autora, substabeleceu os poderes
recebidos, em relação a um imóvel de propriedade daquela, localizado em Ipanema, a
Antonio Vieira, conforme instrumento público de substabelecimento lavrado em 05 de
agosto de 2003, perante o 10º Ofício de Notas, anexado aos autos.
Por sua vez, no dia seguinte, 06 de agosto de 2003, o novo procurador vende o
apartamento a João Matos, conforme escritura pública anexada aos autos.
Em contestação, João alega que o negócio foi realizado em virtude de reembolso de
dívida trabalhista.
Pergunta-se: Qual o fundamento legal para a anulação do contrato?
Resposta à Questão 3
É certo que, ao conferir o mandato, o mandante não estabeleceu que este pudesse
alienar para si mesmo, como o fez por via transversa. Assim, a alienação é sem efeito,
retornando o bem ao patrimônio do mandante. Veja:
“Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio
jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar
consigo mesmo.
Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o
negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido
subestabelecidos.”
Havendo a auto-contratação, o ato é anulável, e não nulo, comportando ratificação.
O prazo de anulação é o do artigo 179 do CC, de dois anos.
Michell Nunes Midlej Maron 137
EMERJ – CP I Direito Civil I
Tema XVII
Ato ilícito em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Cláusulas gerais. Abuso de Direito. Teorias
conceituais. Natureza jurídica e elementos. Efeitos. Excludentes da ilicitude: Estado de Necessidade.
Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal e o respectivo reflexo no Dever de indenizar.
Notas de Aula
1. Ato Ilícito
Michell Nunes Midlej Maron 138
EMERJ – CP I Direito Civil I
O conceito de ato ilícito é um dos mais abrangentes do direito, havendo
manifestações no Direito Civil, Penal e Administrativo. Não há, de fato, como se apontar
diferenças substanciais entre os ilícitos civil e penal; o que se dá é uma escolha do
legislador de quais merecem a tutela criminal, e quais dela prescindem, contentando-se com
a civil.
O direito, como um todo, se baseia em regras de convivência, e a infração destas
regras pode configurar o ilícito, e o ilícito civil é ocorrido quando se dá a infração do dever
jurídico. O dever jurídico pode advir da lei ou da vontade das partes, e por isso se
diferencia o ato ilícito em contratual ou extracontratual (responsabilidade aquiliana).
Há, então, uma cláusula geral de responsabilidade subjetiva no artigo 186 do CC:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.”
Esta cláusula geral convive em plena harmonia com outra cláusula geral, vigente
para as atividades que representem risco costumeiro, que é a da responsabilidade objetiva
genérica, do artigo 927, parágrafo único, do CC:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Vejamos, então, antes de tudo, o conceito de culpa.
1.1. Culpa
A culpa trata-se de um fato avaliado negativamente em relação a parâmetros
objetivos de diligência. Segundo o STJ, “deve o juiz definir previamente qual a regra de
cuidado que deveria ter sido obedecida pelo agente naquelas circunstâncias”.
A culpa está intimamente relacionada com o conceito de ilicitude; geralmente,
quando se fala em ilicitude, se associa diretamente à culpa, ao passo que na
responsabilidade objetiva, muitas vezes, há responsabilidade até mesmo por atos lícitos,
como na responsabilidade civil do Estado.
São elementos da culpa a antijuridicidade, que é a objetiva violação de uma norma
jurídica pré-existente; e a imputabilidade, que é a capacidade de entender e querer, ou seja,
discernimento para entender o caráter antijurídico dos atos danosos praticados.
A ilicitude e a antijuridicidade, segundo a maior doutrina, são sinônimos. Todavia,
há corrente que defende que há diferenças: a ilicitude é mais ampla do que a
antijuridicidade, pois exige, além da violação da norma pré-existente, a presença da culpa
ou do dolo.
1.2. Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil vem sofrendo uma releitura no novo CC. O centro das
atenções do instituto, hoje, é a vítima: o objetivo é sempre se restabelecer a posição da
Michell Nunes Midlej Maron 139
EMERJ – CP I Direito Civil I
vítima ao que de melhor justiça. Por isso é que há a já mencionada visão unitária da
responsabilidade civil, com a coexistência de suas duas fontes, culpa e risco, cada qual
correspondente a uma cláusula geral, respectivamente, nos artigos 186 e 927, parágrafo
único, do CC. Não há primazia de uma forma de responsabilidade sobre outra – coexistem
perfeitamente. É verdade que, na prática, muitas hipóteses são dadas à responsabilidade
objetiva, mas ainda há grande parte de responsabilidade civil objetiva, pelo quê é falsa a
afirmação de que a responsabilidade subjetiva perdeu importância no Brasil.
No Brasil, hoje há um movimento de “repersonalização” do direito, termo este de
Luiz Edson Fachin. Este é o movimento que o direito privado passa a sofrer, rediscutindo-
se os valores que o sistema colocou no centro e na periferia. O direito dedica-se hoje muito
mais a proteger a pessoa concreta, e não um ser abstrato, ideal, em tese. A cláusula geral da
dignidade da pessoa humana, como base de todos os valores existenciais, é a maior
reverberação desta dinâmica personalizante – e o dano moral, avilte aos direitos da
personalidade14, é a maior conseqüência já admitida do direito repersonalizado.
1.3. Abuso de Direito
O artigo 187 do CC estipula que:
“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.”
O uso do direito de forma opressiva, contrária ao seu escopo, é o abuso do direito, e
a lei o trata como ato ilícito. O instituto tem origem no direito de vizinhança: os leading
cases, na França, são relações de vizinhança, em que um vizinho elevou o muro para tapar
a iluminação sobre a piscina do outro, e um desviou o curso da água, que passava por seu
prédio, a fim de que não alcançasse a propriedade do outro. São atos aparentemente
possíveis, pois que o exercício da sua propriedade seria livre, mas pelo seu escopo, são
abusos do direito de propriedade – e portanto ilícitos.
Inicialmente, a visão era meramente subjetiva, ou psicológica, do abuso de direito:
além de provar o dano, deveria ser provada a intenção de prejudicar o outro, e também que
nada de bom viria para si do ato supostamente abusivo. Hoje, o critério que melhor exprime
a conceituação do abuso de direito é o critério do maior prejuízo social: mais vale permitir
a reparação do dano causado pelo exercício de um direito do que proteger este direito, que
em tese é detido pelo seu titular. O STJ se pronunciou neste sentido:
“RESP. 164.391-RJ, 28.6.99. Responsabilidade civil. Empregada doméstica.
Suspeita de furto. Trancamento no apartamento. Queda do edifício. Suspeita de
suicídio. Irrelevância. Exercício regular de direito. Inocorrência. Uso imoderado do
meio.”
A apreensão da empregada em casa, até que solucionado o suposto furto, não é
exercício regular do direito dos patrões. Este exercício é um abuso do direito oriundo da
relação de trabalho.
14
Por isso que se sabe que o dano moral não é a dor, o vexame, o sofrimento psicológico: estas são
conseqüências do dano moral. Este é, em verdade, a violação dos direitos da personalidade, notadamente a
dignidade da pessoa humana.
Michell Nunes Midlej Maron 140
EMERJ – CP I Direito Civil I
Segundo Heloísa Carpena, “exercer legitimamente um direito não é apenas ater-se à
sua estrutura formal, mas sim cumprir o fundamento axiológico-normativo que constitui
esse mesmo direito e justifica o seu reconhecimento pelo ordenamento, aferindo a validade
do seu exercício”. Esta definição remonta à função social do direito, que é expressa em
diversos âmbitos, como na propriedade, nos contratos, etc.
Historicamente, há duas teorias sobre o abuso de direito, a subjetiva e a objetiva. A
teoria subjetiva atenta ao aspecto intencional, ao propósito de prejudicar, daquele que se
vale abusivamente de um direito. Para esta, são elementos do abuso a intenção de
prejudicar e a aparência de direito. Esta corrente também atine à idéia de fim social.
A teoria objetiva, de outro lado, entende que o abuso está no uso anormal ou
antifuncional do direito. Basta que se excedam os seus limites, sem cogitar-se de elementos
psicológicos, para se configurar o abuso. Esta corrente é a majoritária, tendo por seguidores
Clóvis Bevilácqua e Silvio Rodrigues, dentre outros.
A maior polêmica acerca do abuso de direito reside justamente em sua autonomia
quanto à ilicitude: seria realmente o abuso de direito necessariamente um ato ilícito?
A primeira corrente entende que o abuso de direito é, sim, um ato ilícito. Mesmo
que não haja nenhum tipo de ofensa frontal a direito alheio, nem violação direta de norma
jurídica qualquer, aquela conduta, respaldada em lei, fere-lhe o espírito, a mens legis. Na
primeira corrente estão Pontes de Miranda, Carvalho Santos, Caio Mário, Carlos Roberto
Gonçalves, Sérgio Cavalieri, e o próprio artigo 187 do CC: o abuso de direito é uma espécie
de ato ilícito.
De outro lado, há quem defenda, modernamente, que o abuso de direito é um ato
lícito, pois não há obrigação normativa específica a ser cumprida, e por isso não há
comportamento contrário a nenhum dever jurídico, vez que não existe tal dever para o
detentor do direito. O que se passa é a inconformidade com as cláusulas gerais
estabelecidas no codex, cláusulas estas que não impõem deveres específicos a serem
seguidos. Nesta segunda corrente, estão Cunha de Sá, Pedro Baptista Martins, Gustavo
Tepedino e Heloísa Carpena: não há ilicitude na ausência de específica obrigação
normativa.
O principal argumento desta segunda corrente, no entanto, é o seguinte: se se
considerar o abuso de direito como um ilícito, na verdade se estará retrocedendo para a
culpa, sendo que hoje é pacífica a preponderância da tese objetiva, isenta de culpa, do
abuso de direito.
1.3.1. Critérios Limítrofes do Direito e de seu Abuso
O parâmetro mais claro para se identificar se o exercício do direito é regular ou
abusivo é, sem dúvida, a boa-fé: é o critério para a definição dos limites para o titular do
direito, que, numa conduta razoavelmente legítima, vai além do que seria razoável esperar.
O STJ, no REsp. 250.523-SP, 18.12.2000, assim se posicionou, dizendo que “Banco que
apropria valores depositados na conta-corrente do devedor, destinados ao pagamento dos
salários dos empregados, está cometendo abuso de direito.”.
Outro tipo de conduta abusiva é a negativa de entrega de documentos a aluno
inadimplente pela escola, mas hoje esta conduta é expressamente vedada em lei.
O caso mais emblemático sobre os parâmetros é o do resguardo, em relações reais,
do terceiro de boa-fé:
Michell Nunes Midlej Maron 141
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Resp. 239.557, 2.5.2000 (concepção que daria origem à súmula 308 do STJ)
Promessa de compra e venda. Embargos de terceiros. Hipoteca. SFH. A garantia
hipotecária do financiamento concedido pelo SFH para a construção de imóveis
não atinge o terceiro adquirente da unidade”.
“Súmula 308, STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro,
anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel.”
Veja que se criou, ali, uma exceção à oponibilidade erga omnes e à seqüela dos
direitos reais de garantia, por se entender que, neste caso, se trata de abuso de direito do
financiador, que sabe da implicação que terá sobre o mutuário, que em nada concorreu para
a inadimplência do incorporador.
O artigo 1.228 do CC, no § 2°, no entanto, se apresenta incongruente com a
orientação objetiva do abuso de direito. Veja:
“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
(...)
§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.
(...)”
Veja que este § 2° se curva ao subjetivismo, e portanto contraria toda a lógica do
instituto. Esta previsão é atribuída a erro no processo de revisão legislativa do CC, quando
de sua composição.
1.4. Responsabilidade Civil Objetiva Genérica
A já citada cláusula geral do artigo 927, parágrafo único, do CC, estabelece a
responsabilidade objetiva por atividades de risco. Veja:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
Sobre este dispositivo, o CJF emitiu o enunciado 38, da I Jornada:
“Enunciado 38, CJF – Art. 927: a responsabilidade fundada no risco da atividade,
como prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do novo Código
Civil, configura-se quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do
dano causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos demais membros da
coletividade.”
A grande polêmica reside no alcance real do termo “atividade”, empregado pelo
legislador na redação do parágrafo único do artigo 927 do CC. Para alguns autores, esta
expressão seria vinculada a atividade econômica ou profissional, pela necessidade da
Michell Nunes Midlej Maron 142
EMERJ – CP I Direito Civil I
habitualidade na prática da conduta arriscada. Só que esta interpretação é criativa: a lei não
fala em “atividade econômica”, mas somente em “atividade”.
Uma segunda corrente, moderna, e ainda minoritária, entende que como a lei não
restringe expressamente à atividade econômica, não se pode limitar a responsabilização
objetiva do risco a estas atividades, sob pena de se restringir onde a lei não o fez. Deve ser
feita, então, uma leitura ontológica do dispositivo, pela qual toda atividade, de qualquer
natureza, que envolva a criação reiterada de um risco, será objetivamente responsabilizada.
A diferença é a aplicação, para esta segunda corrente, da teoria do risco criado, e não do
risco proveito, adotada pela primeira corrente. O CDC adota esta tese, do risco criado,
unindo-se a esta corrente. São desta tese Caio Mário e José Acir Lessa Giordani
A tese da segunda corrente foi recentemente acolhida em caso de acidente de
trânsito, na apelação cível 2007.001.38201, da 12ª CC do TJ/RJ, relatada pelo Des. Siro
Darlan. Neste caso, se tratava de um motociclista não profissional que, por sua reiterada
conduta arriscada no trânsito, veio a atropelar pessoa – imputou-se-lhe a responsabilidade
objetiva, com fulcro na teoria do risco criado, amparada na segunda tese (e, doravante,
amparando-a como precedente jurisprudencial relevante).
2. Excludentes da Ilicitude
São excludentes da ilicitude o estado de necessidade, a legitima defesa, o estrito
cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, segundo o artigo 188 do CC:
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido;
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de
remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do
indispensável para a remoção do perigo.”
Ocorrendo um destes eventos, a lei, apesar do dano causado, apesar da conduta
voluntária a causar o dano, tem por excluída a ilicitude. Isto porque, nestas circunstâncias,
outra conduta do agente não é exigível. Vejamos um a um.
2.1. Estado de Necessidade
Alocado no inciso II do artigo 188 do CC, o estado de necessidade é a circunstância
em que uma pessoa precisa causar mal a outrem, para evitar que seja o mal causado a si
própria.
É o clássico conflito de interesses: para preservar o bem ou a coisa própria, o
indivíduo opta por sacrificar o alheio. Como exemplo, o motorista que joga seu carro sobre
um muro, a fim de evitar colisão frontal com outro veículo. Justifica-se o mal causado a
outrem no tocante à deterioração ou destruição da coisa alheia para evitar danos à pessoa.
Para Massimo Bianca, o estado de necessidade é qualificado pela vantagem que o
autor do fato obtém ao salvar o seu direito, que deve prevalecer, no balanceamento entre o
direito lesado e o direito salvo. Isto significa uma ponderação de qual é o valor jurídico
Michell Nunes Midlej Maron 143
EMERJ – CP I Direito Civil I
mais relevante naquele momento. No exemplo, seria mais relevante a vida do motorista ou
o muro? É óbvio que pende para a vida. Todavia, o estado de necessidade não afasta o
dever de indenizar, mesmo tornando lícita a conduta. Veja:
“Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188,
não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que
sofreram.”
“Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de
terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância
que tiver ressarcido ao lesado.
Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se
causou o dano (art. 188, inciso I).”
Há duas correntes sobre a indenizabilidade do dano causado em estado de
necessidade. A primeira, de Carlos Roberto Gonçalves, Venosa e Wilson Melo da Silva,
entende que a obrigação de indenizar constituiria verdadeiro paradoxo, pois a solução dos
artigos 929 e 930 do CC estaria em contradição com o artigo 188, II do CC. Estes autores
defendem uma responsabilização limitada do autor do fato que deu causa ao estado de
necessidade. É, de fato, uma contradição legislativa, mas esta corrente é minoritária
(contando, porém, com acórdãos no TJ/SP).
A segunda corrente, de Caio Mário, Stolze e Pamplona, Cavalieri, Aguiar Dias, Luiz
Roldão, Antunes Varela e Almeida Costa, defende que a pessoa lesada ou o dono da coisa
destruída só não fará jus à indenização se, por culpa, tiver provocado o perigo (solução do
artigo 929 do CC). Esta é a corrente preponderante.
A regra, então, é que aquele que padece o dano causado por alguém em estado de
necessidade terá direito a ser indenizado, salvo se ele próprio causou o perigo ensejador do
estado de necessidade. O STJ a ela se filia, como se pode ler no seguinte julgado:
“Resp. 234.263-RJ. 14..2.2000 Responsabilidade civil. Transporte coletivo.
Assalto. Estado de necessidade. Responde pelo resultado danoso a empresa cujo
motorista pratica a ação em estado de necessidade, sob coação do assaltante,
deixando a porta aberta do veículo que mantém em movimento, do que decorre a
queda do passageiro. Recurso não conhecido.”
2.1.1. Estado de Necessidade e Fato de Terceiro
A distinção está no nexo causal. No estado de necessidade, a conduta do agente,
embora lícita, é a causa direta e imediata do ilícito. No fato de terceiro, essa causa direta é a
conduta exclusiva de outrem.
Assim, o fato de terceiro se presta a quebrar o nexo causal entre a conduta danosa e
a conduta que se analisa: será responsabilizado o terceiro, imputado pelo fato.
O STJ assim se manifestou:
“REsp. 81.631-SP, Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Causa do evento.
Veículo arremessado contra outro. O motorista do veículo simplesmente
arremessado contra outrem não tem sua conduta inserida na relação causal e por
isso não responde pelos danos causados, devendo ser a ação indenizatória dirigida
diretamente contra quem, culposamente, causou o primeiro abalroamento.
Diferente é a situação do motorista que, em estado de necessidade, para se salvar de
Michell Nunes Midlej Maron 144
EMERJ – CP I Direito Civil I
perigo posto por outrem, vem a causar o choque com terceiro. Nesse caso, ele
responde, com direito de regresso contra o culpado.”
Ocorre que esta quebra do nexo causal poderia, ainda, ser interpretada como a
simples ausência de conduta pelo motorista que teve o veículo abalroado e atirado contra a
vítima. Como se sabe, a conduta demanda voluntariedade, um agir, comissivo ou omissivo,
e neste caso o que foi abalroado simplesmente não agiu – pode-se dizer, “foi agido”. Por
isso, ou não há conduta a ser analisada, ou se entender que há, o fato a ser imputado é do
terceiro que abalroou.
Aqui vale a menção às teorias da identificação da causalidade, do nexo causal. A
teoria das equivalência dos antecedentes, conditio sine qua non, que significa que toda
causa que se apresente relacionada com o resultado danoso é causa. Esta teoria, entretanto,
tem cedido espaço para a causalidade adequada, que consiste na seleção, dentre as causas
que se apresentam, daquela que mais se adequa à ocorrência do resultado. Hoje, Gustavo
Tepedino defende ainda uma outra teoria, da causalidade direta e imediata, que diz
encontrar fundo legal no artigo 403 do CC:
“Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só
incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato,
sem prejuízo do disposto na lei processual.”
Esta expressão “direto e imediato” ensejaria a criação da nova teoria, mas, em
verdade, nada mais é do que uma outra nomenclatura para a causalidade adequada, com a
diferença de que não se considera temporalmente a ocorrência dos fatos. Este estudo terá
sede própria em momento oportuno.
2.2. Legítima Defesa
Este instituto não conta com um conceito legal, tomando-se por empréstimo a
definição do Direito Penal: é o rechaço a uma agressão a si perpetrada, de forma moderada
e proporcional ao ataque. Seus requisitos, segundo Carlos Roberto Gonçalves e Sérgio
Cavalieri, são: a agressão injusta, ou seja, contrária ao direito, por parte de outrem; que a
ameaça de dano seja atual ou iminente; que a reação seja proporcional à agressão.
Embora quem pratique o ato danoso em estado de necessidade seja obrigado a
reparar o dano causado, o mesmo não ocorre na legítima defesa, nem no exercício regular
de direito ou no estrito cumprimento de dever legal.
Há algumas situações que, mesmo suscitando semelhanças, não se confundem com
a legítima defesa, como o erro na execução (aberratio ictus): se, por engano ou erro de
pontaria, terceira pessoa (ou algo de valor) for atingida, por aquele que está se defendendo
legitimamente de uma agressão, o agente, que se defendia, deve reparar o dano, mas terá
ação regressiva contra o agressor, que o levou a efetivar aquele dano.
A legítima defesa putativa igualmente não isenta o autor da obrigação de indenizar.
Mesmo excluindo a ilicitude, ainda há dever de indenizar. Segundo Stolze e Pamplona, esta
não exclui a ilicitude da conduta, embora interfira na culpabilidade penal.
2.3. Estrito Cumprimento do Dever Legal
Michell Nunes Midlej Maron 145
EMERJ – CP I Direito Civil I
Segundo José Frederico Marques, “o dever cumprido representa valor predominante
em relação ao interesse lesado”. Assim, a atuação em cumprimento ao que o ordenamento
jurídico o compele a fazer não poderá ser causa de responsabilidade por danos dali
oriundos.
Por isso, se for caso de estrito cumprimento do dever legal de um servidor público,
por exemplo, este não terá responsabilidade, mas nada impede que o lesado acione o Estado
pela sua responsabilidade objetiva.
Há um acórdão do TJ/SP, na apelação cível 404.130-7, que alumia bem o critério de
aferição deste instituto. Diz seu relator que:
“Ainda que verídicas as assertivas no sentido de que a radiopatrulha dirigia-se a um
determinado local para ajudar no cerco a bandidos que fugiam a pé, pela linha do
trem, é evidente que não poderia seu motorista conduzir a viatura, em diligência
oficial, em velocidade que pudesse ser comparada àqueles outros que, a trabalho ou
a passeio, circulam pelas vias públicas. Tal circunstância exigia velocidade mais
enérgica. Tão-só essa circunstância afasta a alegação de velocidade incompatível.
Era ela perfeitamente compatível com a realidade do que ocorria.”
Ocorre, porém, que o estrito cumprimento do dever legal não está sob a égide
textual do artigo 188 do CC. Por isso, o que se defende é que se apliquem analogicamente
as mesmas regras do estado de necessidade, mas não quanto à responsabilidade em
indenizar, que não existirá.
2.4. Exercício Regular do Direito
Uma vez que o direito detido por seu titular seja exercido em respeito a todos os
limites a que se submeta, como à boa-fé, à função social, e os próprios limites intrínsecos
de cada direito, o dano dali causado não pode ser imputado. Há um princípio geral que
dispõe que “quem usa direito seu não causa prejuízo a ninguém”, que aqui se aplica à
perfeição.
A jurisprudência, entretanto, tem se debatido na análise de alguns eventos que
envolvem as chamadas ofendículas, ou ofensáculas, que são aquelas prevenções que
potencialmente geram danos (cacos de vidro no muro, cerca eletrificada). Veja que só serão,
estes meios de defesa, exercício regular de direito se seu uso for moderado, e se há
advertência sobre seu uso, a fim de que outros se precavejam de sofrer danos por estes
causados.
A respeito do exercício regular do direit, vide o seguinte julgado do STJ:
“Age em exercício regular de direito o banco que se recusa a pagar cheque com
irregularidade no endosso, não se podendo imputar à instituição financeira, pela
devolução de cheque com esse vício. STJ, REsp. 304.192-SP.”
Michell Nunes Midlej Maron 146
EMERJ – CP I Direito Civil I
Casos Concretos
Questão 1
Nelson eleva o muro de sua propriedade residencial, situada em bairro nobre o Rio
de Janeiro, de 15 metros para 30 metros sem que haja nenhuma necessidade prática para
tanto, sob a alegação de que, sendo dono do respectivo imóvel, pode fazê-lo sem restrições.
Ademais, a elevação antes mencionada não fere nenhuma Lei Municipal. Ocorre que, na
hipótese em questão, tal elevação produziu a eliminação da luz solar sobre a piscina do
seu vizinho, Rezende, seu antigo desafeto.
Indaga-se:
A obra realizada por Nelson representa ato ilícito em sentido subjetivo? De
qualquer modo tem Rezende pretensão cabível à restituição da situação anterior?
Resposta à Questão 1
Michell Nunes Midlej Maron 147
EMERJ – CP I Direito Civil I
Na vigência do CC de 1916, a leitura contrario sensu do artigo 160, I, do antigo CC,
o abuso de direito, especialmente quando o agente exercitava seu direito com espírito de
emulação, representava uma das hipóteses de ato ilícito em sentido subjetivo, conforme o
artigo 159 do CC 1916.
Modernamente, porém, a melhor doutrina, a par do artigo 927, caput do CC de
2002, ao interpretar o artigo 187 do mesmo diploma, vem afirmando, como no enunciado
37 da I Jornada de Direito Civil do CJF, que “a responsabilidade civil decorrente do abuso
do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.
Assim sendo, a obra realizada por Nelson é abusiva, fere a finalidade econômico-
social do seu direito de propriedade, bem como o espírito deste, embora, em tese, esteja
respaldada na lei, na forma do artigo 1.228, caput, do CC. Trata-se, pois, de ato ilícito
objetivo, sendo cabível a pretensão demolitória de Rezende, e/ou perdas e danos, conforme
dispõem os artigos 187 e 1.228, § 2º, CC.
Questão 2
João, dirigindo seu automóvel na sua mão de direção e de maneira regular,
deparou-se com um ônibus que vinha à sua frente e, para evitar a iminente colisão,
estancou abruptamente desviando o veículo sobre a calçada, no entanto atingindo Tereza
ferindo-a gravemente. Nesta hipótese, réu em ação indenizatória ajuizada pela vítima,
João defende-se requerendo a improcedência do pedido alegando ter agido em estado de
necessidade. Terá o mesmo êxito em sua manifestação?
Resposta à Questão 2
Quando alguém age em estado de necessidade a fim de salvar a outrem ou seu
patrimônio de situação de perigo iminente, por ele não provocado, e, por tal motivo, causa
prejuízo a outrem, embora o estado de necessidade seja excludente de ilicitude em relação à
conduta do agente, persiste o dever legal de indenizar a vítima, independentemente de
culpa, por razão de equidade (artigo 188, II , e parágrafo único, c/c artigo 929 e 930, caput
do CC), permitindo o legislador a propositura de ação de regresso em face daquele
verdadeiramente causador de tal situação. Deste modo, o pedido de Tereza deve ser julgado
procedente, permitindo-se a João o exercício do direito regressivo reparatório em face do
condutor do aludido ônibus e da empresa proprietária deste (artigo 37, § 6º da CRFB; artigo
932, III e 933 do CC; e artigo 17 do CDC).
Questão 3
Mévio encontrava-se na calçada quando Tício teve seu carro abalroado por Mário,
o que fez com que o veículo de Tício fosse projetado sobre a calçada, ferindo Mévio. Mário
evadiu-se do local. Mévio ingressa com ação indenizatória em face de Tício, informando
corretamente a dinâmica do acidente, aduzindo que não houve como encontrar Mário para
que este também ocupasse o pólo passivo da ação. Sustenta a responsabilidade de Tício
pelo fato de ser o proprietário da coisa que causou o dano, havendo a possibilidade de este
se ressarcir frente a Mário.
Michell Nunes Midlej Maron 148
EMERJ – CP I Direito Civil I
Como Juiz, enfrente a questão.
Resposta à Questão 3
Absolutamente improcedente. Tício não agiu em momento algum, não há sequer
conduta sua a ser apreciada: ele – seu veículo – foi alvo de força externa irresistível, e por
isso não causou o dano, e sim foi igualmente vítima de Mário. Não se lhe imputa qualquer
responsabilidade.
Pode-se entender, também, que há o fato de terceiro, a quebrar o nexo de
causalidade entre a conduta em berlinda e a do real causador do dano. Assim o fez o TJ/RJ,
na apelação cível 2004.001.0405-5, da 1ª Câmara Cível, de 21.09.2004:
“Responsabilidade civil. Pedestre que se encontrava juntamente com outros na
calçada quando foi atropelada por veículo desgovernado (...) Teoria da causalidade
adequada. Fato exclusivo do veículo do terceiro que, provocando colisão com o
auto atropelador, motivou diretamente o acidente. Ausência de culpa do
Réu/Apelado e do nexo de causalidade.”
Tema XVIII
Prescrição e Decadência I: Prescrição. Fundamento. Conceito. Teorias. Causas preclusivas: impedimento,
suspensão e interrupção da prescrição.
Notas de Aula
1. Prescrição
Como já se mencionou, o CC orientou-se por três grandes diretrizes, a eticidade, a
socialidade e a operabilidade. E foi em atenção à diretriz da operabilidade que o legislador
do codex privado optou por apresentar uma separação legal entre os prazos prescricionais e
os decadenciais. Destarte, nos artigos 205 e 206 do CC, são presentes os prazos
prescricionais; em todos os demais artigos do CC que apresentam prazos, se trata de prazo
decadencial.
Michell Nunes Midlej Maron 149
EMERJ – CP I Direito Civil I
“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo
menor.”
“Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo
no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o
prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é
citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou
da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros
e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;
IV - a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a
formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da
assembléia que aprovar o laudo;
V - a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os
liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da
sociedade.
§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data
em que se vencerem.
§ 3o Em três anos:
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;
II - a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou
vitalícias;
III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias,
pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;
V - a pretensão de reparação civil;
VI - a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé,
correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição;
VII - a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do
estatuto, contado o prazo:
a) para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima;
b) para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço
referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou
assembléia geral que dela deva tomar conhecimento;
c) para os liquidantes, da primeira assembléia semestral posterior à violação;
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do
vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no
caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
§ 4o Em quatro anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das
contas.
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular;
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais,
curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos
serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;
III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.”
Michell Nunes Midlej Maron 150
EMERJ – CP I Direito Civil I
Esta orientação só vale para o CC. Nos demais diplomas legais, os prazos que não
são identificados devem ter sua natureza revelada pelo intérprete.
Outra questão que deve ser desde logo enfrentada é a que diz respeito ao
fundamento da prescrição. Antes do CC, o direito privado era tratado pelas Ordenações, e lá
havia regra expressa que estabelecia que a prescrição era uma punição ao credor inerte.
Esta idéia, ilógica na raiz (pois resguarda o inadimplente e impõe punição ao credor que
apenas se quedou inerte).
O fundamento, hoje, é muito mais coerente: a prescrição é um meio de garantir a
estabilidade nas relações jurídicas, e, em última análise, a segurança jurídica. Se a
pretensão não se extinguisse com o tempo, estariam eternizadas as potenciais lides, os
potenciais conflitos por direitos violados.
A prescrição permite, durante o prazo previsto em lei, o surgimento de uma lide, que
existe em estado potencial durante tal prazo. Com a consumação da prescrição, não se pune
o credor: apenas se garante a estabilização da relação jurídica. Gustavo Tepedino, no
entanto, defende que há, de fato, um caráter de punição na prescrição, reprovando-se a
conduta daquele credor que quedou-se inerte com a perda do poder de pretender tal crédito.
Ainda outra questão a ser discutida é a nomenclatura prescrição aquisitiva, que se
utiliza comumente para designar a usucapião. O legislador jamais se utiliza desse termo, e
mais, diz que a prescrição é assunto da parte geral, enquanto a usucapião é da parte especial
do CC. Em alguns ordenamentos, como o francês e o argentino, o legislador regula a
prescrição genericamente, e dentro do tema trata das duas modalidades, o que seria anda
mais um argumento contra a nomenclatura ser aplicável no Brasil.
Há ainda mais um argumento: o artigo 1.244 do CC estabelece que:
“Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das
causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se
aplicam à usucapião.”
Se a usucapião fosse uma modalidade de prescrição, seria dispensável uma regra
que estende a ela os institutos naturais da prescrição: já lhe seriam naturalmente aplicáveis.
Mesmo assim, a maior parte da doutrina entende ser perfeitamente cabível nomear a
usucapião de prescrição aquisitiva.
1.1. Teorias Conceituais
A primeira corrente, de Clóvis Bevillácqua e Silvio Rodrigues, defende que a
prescrição é a perda do direito de ação. Ocorre que quem assim defende desconsidera a
evolução do conceito do direito de ação, do processo civil. Da primeira teoria da ação,
teoria imanentista, passando pela teoria da ação em concreto, pela teoria da ação em
abstrato, da ação como direito potestativo, até chegar à teoria hoje reinante, a teoria
eclética da ação. Nesta última, o direito de ação é um direito subjetivo, autônomo, abstrato
e incondicionado, direito de obter do estado a entrega da prestação jurisdicional,
consubstanciada em uma sentença (que sequer precisa ser de mérito).
Hoje, portanto, simplesmente não existe hipótese alguma de perda do direito de
ação. Um exemplo esdrúxulo de perda do direito de ação seria a não recepção, pelo
distribuidor, pois o Estado estaria se recusando a realizar a prestação jurisdicional. Nem
mesmo a perempção, pois há sentença extintiva sem resolução do mérito.
Michell Nunes Midlej Maron 151
EMERJ – CP I Direito Civil I
A segunda corrente, defendida por Caio Mário, defende que a prescrição é a perda
do próprio direito subjetivo. Esta teoria é adotada no direito italiano, mas até mesmo por lá
é refutada por parte da doutrina. Assim fosse, e a própria estrutura do direito subjetivo, do
débito e da responsabilidade, ficaria comprometida, por esta corrente. Veja: se a prescrição
extingue o direito subjetivo, a renúncia à prescrição, feita pelo devedor, teria o poder de
ressuscitar tal direito, o que se demonstra irascível. A outra crítica que se faz é que, se for o
pagamento da dívida prescrita realizado de forma espontânea, em tese, este pagamento seria
indevido, já que o credor não mais tem direito subjetivo ao crédito – estando autorizada,
como conseqüência, a repetição de indébito. Ocorre que o artigo 882 do CC veda a
repetição, neste caso, reconhecendo, portanto, que ainda subsiste o direito subjetivo de
crédito relativo à dívida prescrita:
“Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou
cumprir obrigação judicialmente inexigível.”
Para a terceira corrente, teoria alemã, adotada pelo CC de 2002, a prescrição gera a
perda da pretensão ou exigibilidade do direito subjetivo pela inércia do seu titular, dentro
do prazo pré-estabelecido em lei, cujo termo inicial ocorre com a lesão ao direito subjetivo.
Mas deve haver uma explicação mais profunda deste conceito: o que é perder a
pretensão? Segundo Barbosa Moreira, Gustavo Tepedino, Pontes de Miranda, etc, a perda
da pretensão não é um efeito automático da prescrição. O que se cria com a prescrição é
uma exceção, no sentido de defesa, do devedor perante o credor, que o devedor passa a
poder opor ao credor, paralisando a eficácia da pretensão. A prescrição cria o direito de
extinguir a pretensão (pelo quê alguns chegam a dizer que ela própria, prescrição, é um
direito potestativo).
Os civilistas, por conta da adoção da teoria moderna pelo CC, da perda da
pretensão, têm criticado a prescrição de ofício, introduzida pela Lei 11.280/06, porque esta
defesa é uma faculdade do devedor, que envolve um direito disponível deste, não havendo
qualquer razão para a substituição, pelo juiz, da vontade do interessado, verificando-a ex
officio. A justificativa, para esta Lei 11.280, consiste no princípio processual da celeridade,
mas isso vem em detrimento de toda a lógica do instituto.
Os processualistas têm defendido que deve, o juiz, respeitar o contraditório antes de
pronunciar a prescrição, até porque pode haver uma causa suspensiva, interruptiva ou
obstativa da prescrição que ele desconhece, e só pelo contraditório ficará exposta. Além
disso, a prescrição de ofício faria impossível a possibilidade de renúncia à prescrição, caso
o réu não fosse ouvido.
2. Decadência
A decadência consiste na perda do próprio direito potestativo, pelo seu não exercício
dentro de um prazo estabelecido em lei – decadência legal –, ou previsto pela vontade das
partes – decadência convencional –, tendo por termo inicial o próprio momento em que
nasce o direito potestativo.
Veja que há a diferença inicial clara entre esta e a prescrição: aqui, não há qualquer
lesão a determinar o início do prazo, tendo este o dies a quo exatamente no nascimento do
próprio direito potestativo. Na prescrição, o prazo começa a correr da data em que houve a
lesão ao direito subjetivo.
Michell Nunes Midlej Maron 152
EMERJ – CP I Direito Civil I
Casos Concretos
Questão 1
O ordenamento jurídico permite a prescrição intercorrente?
Resposta à Questão 1
Lato sensu, o ordenamento permite, havendo no Direito Penal, no Direito do
Trabalho, e na Execução Fiscal. Em Direito Civil, especificamente, há um só caso: o artigo
202 do CC, no seu parágrafo único, prevê que a prescrição recomeça a correr do ato em que
a interrompeu, ou do último ato para a interromper:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-
se-á:
Michell Nunes Midlej Maron 153
EMERJ – CP I Direito Civil I
(...)
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”
Entretanto, será a partir do termo judicial que foi praticado que se reiniciará o curso
do prazo prescricional, e não do ato da parte. Quando o autor, intimado pessoalmente de
decisão, fica inerte pelo tempo prescricional, até o momento da sentença, se a sentença for
anterior ao fim do prazo, o processo é extinto sem resolução do mérito, por inércia do autor;
se é posterior ao fim do prazo, a extinção é com resolução do mérito, calcada na prescrição.
O pressuposto da prescrição é o binômio inércia e tempo, podendo a inércia ocorrer
antes de se provocar a jurisdição, não-exercício da pretensão, ou incidentalmente, pela
paralisação do processo, que é o abandono da pretensão pelo seu titular. A lógica é que, se
no curso do processo, se queda inerte, incidentalmente estará o autor abrindo mão de sua
pretensão – configurando a exceção da prescrição a favor do réu (REsp 670.299, 855.264, e
853.371, e apelação cível 2005.001.5228-2, TJ/RJ).
No artigo 40 da LEP, há previsão expressa da prescrição intercorrente, que será
também pronunciada de ofício.
Questão 2
Um pai vendeu imóvel de sua propriedade a "A", um de seus dois filhos, em
fevereiro de 2003, sem obter anuência do filho "B". A escritura transcreveu-se no RGI.
Em abril de 2005, "B" alega que o pai e o irmão praticaram ato ilícito e requer a
nulidade do negócio, com a devolução do imóvel à herança do pai, agora falecido.
Defende-se "A", alegando:
a) que está extinto o direito alegado pelo autor.
b) que o negócio foi entabulado na semana anterior à celebração, em reunião do
pai com os dois filhos, e assim ocorreu concordância do ora insurgente.
Diante do caso concreto, responda as seguintes questões:
a) Estabeleça a diferença conceitual, em síntese, entre prescrição e decadência.
b) Se a venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais sujeita-
se, em tese, a prescrição ou a decadência? Por quê?
c) Se a concordância verbal atenderia à exigência do CC, 496? Por quê?
d) Caso não exprima concordância, a venda seria nula ou anulável? Por quê?
e) Se, inválida a compra e venda, "A" teria adquirido o domicílio com base no
usucapião ordinário? Por quê?
Resposta à Questão 2
a) A prescrição consiste na perda da possibilidade de se exigir o comportamento de
alguém, ou seja: é a perda da pretensão à exigência de um direito subjetivo.
Somente são sujeitos à prescrição os direitos subjetivos relativos e patrimoniais; os
absolutos e os pessoais são imprescritíveis. A decadência, por sua vez, consiste na
perda do direito potestativo, ou seja, do próprio direito de haver a faculdade jurídica
Michell Nunes Midlej Maron 154
EMERJ – CP I Direito Civil I
que se detinha. Decorrido o prazo decadencial, não pode mais o titular do direito
potestativo exercê-lo.
A prescrição é um instituto de direito privado, pois somente se impõe contra
os que sejam obrigados pelo direito subjetivo (o que ficou controvertido após a
prescrição de ofício, hoje prevista). A decadência, ao contrário, é instituto de direito
público, vez que não se limita a um obrigado direto pelo direito, mas sim ao próprio
titular, e só a ele: o exercício do direito potestativo depende somente de seu titular,
mas produz efeitos sobre todos os que estejam sob seu raio de afecção – por isso o
interesse na decadência é público.
b) Sujeita-se à decadência, pois o direito de anular, genericamente, é um direito
potestativo, apenas precisando de intervenção do Judiciário para fazer valer o estado
de sujeição em que se encontra a parte oposta.
Discutia-se no CC de 1916 se este ato, venda de ascendente a descendente
sem anuência dos demais, era nulo ou anulável. O STF falava em nulidade,
enquanto o STJ defendia a anulabilidade, pela natureza privada e disponível do
direito envolvido. O artigo 496 do CC acolheu o entendimento de que é anulável, e
não nulo, mas não estabeleceu prazo. Neste caso, em que o ato anulável não conta
com prazo previsto, aplica-se o decadencial geral de dois anos, previsto no artigo
189 do CC.
A súmula 494 do STF, anterior ao CC de 2002, pouco técnica (vez que falava
inclusive em prazo prescricional), assim previa: “A ação para anular venda de
ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em vinte anos,
contados da data do ato, revogada a súmula 152”. Esta súmula não tem efeitos, hoje,
a não ser que se esteja analisando ato praticado à época da vigência do CC de 1916,
quando a ultratividade do diploma ressuscita a interpretação e aplicação da súmula.
c) A anuência a ser prestada no ato deve observar a mesma forma exigida para o
negócio principal, de acordo com o artigo 220 do CC:
“Art. 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato,
provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio
instrumento.”
Supondo que o imóvel seja de valor superior a trinta salários-mínimos, se
impõe a escritura pública para sua alienação, e portanto também se impõe a
escritura pública à anuência. Como in casu a suposta anuência foi verbal, não em
valor.
A título de curiosidade, a Lei 9.514/97, no artigo 38, permite a celebração de
compra e venda por instrumento particular, no caso excepcional ali previsto. Fosse o
caso, a anuência ou autorização também poderia ser formulada em ato particular.
d) Anulável, por expressa menção legal no artigo 496 do CC, e porque pode
desinteressar aos herdeiros a impugnação do negócio.
e) Veja que há justo título, boa-fé e posse mansa, e, em tese, estando comprovados
os requisitos, esta posse é ad usucapionem, podendo haver a aquisição. Contudo, in
Michell Nunes Midlej Maron 155
EMERJ – CP I Direito Civil I
casu, simplesmente não correu o prazo aquisitivo, que é de cinco anos – não há
usucapião.
Repare que, entre pai e filho menor, há uma causa suspensiva ou impeditiva
do curso da prescrição, do artigo 197, II do CC, termo que se aplica à usucapião, na
forma do artigo 1.244 do CC. Assim, se for filho menor, não corre o prazo, mas esta
consideração não é relevante no caso.
Tema XIX
Prescrição e Decadência II: Prazos de prescrição no Código Civil. Contagem do prazo da prescrição
iniciada sob o império do Código de 16. Decadência. Conceito e diferenças em relação à prescrição quanto à
essência e eficácia.
Notas de Aula
1. Distinção entre Prescrição e Decadência
A primeira distinção é a topográfica, no CC, em que todos os artigos que previrem
prazos e não forem o 205 ou o 206, o prazo é de decadência.
Já as diferenças teóricas são as seguintes:
Michell Nunes Midlej Maron 156
EMERJ – CP I Direito Civil I
- Quanto à natureza do direito envolvido, prescrição é prazo para reclamar lesão a
direito subjetivo, enquanto decadência é prazo para exercer direito potestativo. O
direito subjetivo está sujeito à violação, pois o sujeito passivo tem um dever jurídico
a cumprir, e se não o cumpre, está violado o direito do sujeito ativo. O direito
potestativo não pode ser lesado, não está sujeito a violação, vez que não há dever
jurídico a ser cumprido pelo sujeito passivo, e sim um estado de sujeição por parte
desse ao direito do sujeito ativo.
- O prazo de prescrição admite renúncia, que pode ser expressa ou tácita, conforme
o artigo 191 do CC:
“Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo
feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a
renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a
prescrição.”
Para haver renúncia, há dois requisitos: o não prejuízo a terceiros 15, e a
consumação do prazo prescricional, a fim de se evitar renúncia antecipada (o que
decerto se tornaria praxe em contratos de adesão, por exemplo). É necessária a
consumação do prazo, pois se a renúncia for prévia ao termo final do prazo
prescricional, não há prescrição ainda a ser renunciada – se estará renunciando a
coisa que ainda não existe.
A decadência convencional, criada pelas partes, trata de um direito
disponível, pois só sobre direitos disponíveis podem as partes convencionar. Assim,
para a decadência convencional, assim como para a prescrição, é possível a
renúncia. Contudo, a decadência legal é irrenunciável, e sua ocorrência é nula,
nulidade textual.
- A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pelo interessado,
conforme o artigo 193 do CC:
“Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte
a quem aproveita.”
Surge uma questão: nos embargos infringentes, pode ser alegada a
prescrição, não tendo esta sido alegada antes? Os embargos infringentes, o voto
vencido é o limite para a discussão, ou seja, só pode haver mérito discutido a
matéria “empatada” pelo voto vencido, junto à sentença de primeiro grau, conta os
argumentos dos votos vencedores. Se naquele voto vencido não estiver empatada a
questão da prescrição, esta não poderia ser argüida nos embargos infringentes.
Contudo, com a entrada da prescrição de ofício, esta discussão caiu por terra:
mesmo neste caso, de forma inaugural, poderá ser alegada a prescrição.
E em recursos excepcionais, pode ser alegada a prescrição de forma
inaugural, sem prequestionamento? Seguindo a mesma lógica, a prescrição se
tornou matéria de ordem pública, conhecível de ofício, e por isso não depende de
15
A renúncia à prescrição pode acabar prejudicando credores, pois faz exigível o débito que estaria prescrito,
e por isso não pode ser feita, quando configurar-se fraude contra credores – daí esta previsão neste artigo do
não prejuízo de terceiros.
Michell Nunes Midlej Maron 157
EMERJ – CP I Direito Civil I
prequestionamento para ser alegada. Todavia, a questão gera controvérsia, estando o
STJ dividido quanto a sua possibilidade: para as Turmas de direito privado do STJ
(terceira, quarta e quinta Turmas), conforme REsp 850.991, não é possível a
alegação inaugural da prescrição em recursos excepcionais, pois a CRFB cria a
competência do STJ, no seu artigo 105, para apreciar questões que tenham sido
decididas em única ou última instância, sendo incompetente para conhecer matéria
ali inaugurada. Este entendimento, que impede o conhecimento do STJ neste caso,
esquece que a pronúncia da prescrição, hoje, é um dever do judiciário, pelo quê a
sentença ou acórdão que a ignora, se transitada, pode ser alvo de uma ação
rescisória, por direta violação à lei.
Para as Turmas de direito público do STJ, juntamente com toda a corrente
processualista, entretanto, é permitido o reconhecimento da prescrição a qualquer
tempo, não demandando o prequestionamento para tanto, nos recursos excepcionais,
pois como dito a prescrição é questão de ordem pública, hoje. No entanto, criam um
óbice: o recurso excepcional não poderá ser admitido única e exclusivamente pelo
fundamento da prescrição, devendo a admissibilidade ser feita por um outro motivo
qualquer, a gerar o efeito devolutivo amplo, que possibilita o conhecimento de
qualquer matéria de ordem pública – quando então a prescrição será conhecível
(AgR em Ag 817.251, e REsp 855.525).
- A prescrição, hoje, é declarada de ofício; o prazo de decadência legal deve ser
pronunciado de ofício, mas o prazo de decadência convencional depende de
provocação para ser reconhecido (o que é uma incongruência, vez que deveria
acompanhar a prescrição, que também trata de direito indisponível)
- O prazo prescricional pode ser suspenso, interrompido ou obstado, nas hipóteses dos
artigos 197, 198 199 e 202 do CC; a decadência não se interrompe nem se suspende,
havendo duas exceções: o CDC, no artigo 26, § 2°, estabelece que a decadência se
interrompe em suas hipóteses:
“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação
caduca em:
(...)
§ 2° Obstam a decadência:
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o
fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve
ser transmitida de forma inequívoca;
II - (Vetado).
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.”
E o CC, no artigo 208, que remete ao artigo 198, I, estabelece que a decadência não
corre contra o absolutamente incapaz:
“Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.”
“Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3o;
(...)”
Michell Nunes Midlej Maron 158
EMERJ – CP I Direito Civil I
Casos Concretos
Questão 1
Tércio ajuizou ação de execução de alugueres em face de Tício, tendo por objeto o
período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2001, quando ocorreu a desocupação do
imóvel. A ação foi ajuizada em 05 de janeiro de 2004. Citado, Tício interpôs exceção de
pré-executividade suscitando a prescrição da pretensão, ao argumento de que o prazo
prescricional em tela é de três anos, consoante o disposto no artigo 206, §3º, inciso I, do
CC. Você, como juiz, acolheria ou não a prescrição? Qual o fundamento?
Resposta à Questão 1
O fato se passa na vigência do CC de 1916, e a prestação mais antiga data de janeiro
de 2001. Até a entrada em vigor do CC de 2002, 11 de janeiro de 2003, decorreram dois
Michell Nunes Midlej Maron 159
EMERJ – CP I Direito Civil I
anos, sendo que o prazo prescricional, à época, era de cinco anos, consoante o artigo 178 do
antigo CC:
“Art. 178. Prescreve:
(...)
§ 10. Em 5 (cinco) anos:
(...)
IV - Os alugueres de prédio rústico ou urbano;
(...)”
Como se passou menos da metade, o prazo que deve ser contado é o atualmente
previsto, mesmo reduzido (pois é de três anos), conforme impõe o artigo 2.028 do CC atual:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e
se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do
tempo estabelecido na lei revogada.”
Entenda: todas as prestações venceram há menos de dois anos e meio, ou seja,
menos da metade do prazo previsto no CC de 1916, na data da entrada em vigor do CC de
2002. Pelo artigo 2.028 do CC, deve ser aplicado neste caso o prazo novo, de três anos,
revisto no artigo 206, § 3°, I:
“Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;
(...”
Ademais, o STJ já decidiu, e é posição pacífica, que o prazo novo deve ser contado
desde a entrada em vigor do CC de 2002, 11/1/2003, e não da data da ocorrência do fato
violador do direito subjetivo. In casu, o prazo termina em 11/1/2006. Como o ajuizamento
da execução foi antes da prescrição, o prazo se interrompeu, segundo o artigo 202, I, do
CC, e por isso a alegação de prescrição não deve ser acolhida.
Questão 2
Francisco da Silva efetuou, na Nacional Seguros S/A, o seguro do seu veículo que,
no mês seguinte, foi furtado em frente a sua residência e, tendo postulado o pagamento na
seguradora, não logrou êxito.
Dessa forma, promoveu ação ordinária em face da empresa, pleiteando a sua
condenação no valor correspondente ao preço de mercado do veículo, juros, sucumbência,
além de verba indenizatória correspondente ao aluguel de automóvel similar ao de sua
propriedade, desde o furto até o efetivo pagamento.
Em sua defesa, argüiu a seguradora preliminar prescricional, sob a alegação de ter
sido a ação proposta dois anos e meio após o termo inicial do prazo prescricional, não
sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. No mérito, aduz haver
descumprimento de condição contratual a ensejar a improcedência do pedido.
Decida a questão da prescrição, dando os fundamentos de fato e de direito
aplicáveis à espécie, analisando-os sob à égide do CDC e do novo Código Civil.
Michell Nunes Midlej Maron 160
EMERJ – CP I Direito Civil I
Resposta à Questão 2
Na relação de seguro, o prazo prescricional é de um ano para a pretensão do
segurado em haver da seguradora seu benefício, e vice-versa, nos termos do artigo 206, §
1°, II, do CC:
“Art. 206. Prescreve:
§ 1o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o
prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é
citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou
da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;
(...)”
Se o seguro gerar uma pretensão do beneficiário contra a seguradora, ou do terceiro
prejudicado, no caso de seguro obrigatório (DPVAT), o prazo é elevado a três anos,
conforme o artigo 206, § 3°, IX, do CC:
“Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no
caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
(...)”
No caso proposto, sendo verdadeiros os fatos alegados na defesa, o prazo a ser
observado é de um ano, pois é exatamente a situação do artigo 206, § 1°, II, “b”, do CC.
Destarte, a prescrição ocorreu, e deve ser acolhida.
Veja que não se trata de responsabilidade civil por fato do serviço, e sim do caso
específico previsto, pelo quê não se aplica o artigo 27 do CDC, igualmente.
“Artigo 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se
a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
Fosse considerado o caso um acidente de consumo, decorrente de ausência de
segurança no serviço da seguradora, seria aplicado o prazo deste artigo 27 do codex
consumerista. Veja que há corrente doutrinária que entende que este seria o caso,
defendendo que a falta de pagamento do benefício ao segurado é, em verdade, um fato do
serviço do seguro, pelo quê seria regida a situação pelo CDC.
Ocorre que há um detalhe no caso: há, além da violação contratual, que merece
tutela pelo CC, o fato danoso alegado pelo requerente na alegação de danos materiais,
consubstanciados no pedido de pagamento do aluguel de carro pelo período indisponível.
Estes danos podem ser considerados fato do serviço, pelo quê se submeteriam ao CDC –
não estando prescrito o prazo para sua exigibilidade, somente destes alugueis, portanto.
Michell Nunes Midlej Maron 161
EMERJ – CP I Direito Civil I
Em síntese: não se confunde o pagamento da prestação, objeto do contrato de
seguro, com o pagamento de danos materiais e morais decorrentes do fato do serviço. O
primeiro segue a regra do CC; os danos oriundos do fato sujeitam-se ao CDC.
Questão 3
Tício foi atropelado em janeiro de 1990 por coletivo de Transportes Ômega Ltda.,
tendo ingressado com ação de indenização por perdas e danos em janeiro de 2004. Em
sede de contestação, suscitou a ré preliminar de mérito - prescrição - sob duplo
fundamento a) ação, tendo sido ajuizada na vigência do Novo Código Civil, obedeceria ao
disposto no artigo 206, §3º, inciso V, do CC; b) quando muito, aplicar-se-ia o prazo
estabelecido no artigo 27 da Lei nº 8078/90, estando irremediavelmente prescrito o direito
de ação. Decida a questão.
Resposta à Questão 3
Não ocorreu a prescrição. De 1990 a 2003, entrada em vigência do novo CC,
correram treze anos, mais da metade do prazo anteriormente previsto para esta prescrição,
que era de vinte anos. Tendo sido reduzido, como o foi, e tendo sido corrida mais da metade
do prazo, seguindo-se a regra do artigo 2.028 do CC, vai ser aplicável o prazo da lei
anterior. Aplicando-se o prazo antigo, a prescrição vintenária, tem-se que a prescrição só
ocorrerá em 2010, e por isso ainda não se operou.
Quanto à alegação da aplicabilidade do artigo 27 do CDC, menos razão ainda
assiste à contestante, pois a relação não é consumerista. E mesmo que o fosse, o diálogo das
fontes determinaria que fosse aplicável a regra mais benéfica à parte hipossuficiente, sendo
ainda assim a vintenária.
Michell Nunes Midlej Maron 162
Anda mungkin juga menyukai
- Direito Administrativo IDokumen177 halamanDireito Administrativo IEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Suspensão da exigibilidade do crédito tributárioDokumen133 halamanSuspensão da exigibilidade do crédito tributárioEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Remédios constitucionais e suas característicasDokumen138 halamanRemédios constitucionais e suas característicasEduardo Parreira100% (1)
- Direito das Obrigações: conceitos e estrutura da relação obrigacionalDokumen125 halamanDireito das Obrigações: conceitos e estrutura da relação obrigacionalEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito Processual Penal IVDokumen157 halamanDireito Processual Penal IVEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito Penal IIIDokumen115 halamanDireito Penal IIIEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Normas constitucionais: classificações e eficáciaDokumen151 halamanNormas constitucionais: classificações e eficáciaEduardo Parreira100% (1)
- 4.2 - Direito Empresarial IDokumen140 halaman4.2 - Direito Empresarial Imonimelo31Belum ada peringkat
- Serviços públicos: conceito, classificação e princípiosDokumen97 halamanServiços públicos: conceito, classificação e princípiosEduardo Parreira100% (1)
- CONSTITUCIONAL EmerjDokumen50 halamanCONSTITUCIONAL EmerjSarah Rocha100% (1)
- Processos de execução penal e progressão de regimeDokumen79 halamanProcessos de execução penal e progressão de regimeEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito Empresarial - Teoria da Empresa e FigurasDokumen139 halamanDireito Empresarial - Teoria da Empresa e FigurasMarciafjesusBelum ada peringkat
- Direito Penal IIDokumen167 halamanDireito Penal IIEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Sociologia do Direito e Teorias de Marx e TocquevilleDokumen32 halamanSociologia do Direito e Teorias de Marx e TocquevilleCarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- Caderno de Direito Civil CPI ADokumen179 halamanCaderno de Direito Civil CPI AClara RodriguesBelum ada peringkat
- Declaração de inconstitucionalidade de lei estadual que destinava percentual de custas judiciais a associaçõesDokumen115 halamanDeclaração de inconstitucionalidade de lei estadual que destinava percentual de custas judiciais a associaçõesEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Caso Concreto EMERJ - Tributário CP IDokumen1 halamanCaso Concreto EMERJ - Tributário CP IBárbara Soares100% (1)
- Caderno Constitucional CP3 V.finalDokumen188 halamanCaderno Constitucional CP3 V.finalCarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- Direito Administrativo IDokumen183 halamanDireito Administrativo IEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito Empresarial IIIDokumen155 halamanDireito Empresarial IIIRenato SilvaBelum ada peringkat
- Direito Administrativo VDokumen65 halamanDireito Administrativo VEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito Processual Civil IIDokumen205 halamanDireito Processual Civil IIEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito TributárioDokumen305 halamanDireito TributárioCarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- Homicídio - Considerações gerais e aspectos controvertidosDokumen286 halamanHomicídio - Considerações gerais e aspectos controvertidosEduardo Parreira100% (1)
- EMERJ Caderno Processo Penal CP IIIDokumen260 halamanEMERJ Caderno Processo Penal CP IIILucas Prado50% (2)
- Direito Civil CPIIDokumen75 halamanDireito Civil CPIICarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- Registro de candidatura e pesquisa eleitoralDokumen58 halamanRegistro de candidatura e pesquisa eleitoralDiego100% (1)
- Direito tributário penal: evasão, elisão e fraude fiscalDokumen130 halamanDireito tributário penal: evasão, elisão e fraude fiscalEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito Tributário IDokumen157 halamanDireito Tributário IEduardo Parreira100% (2)
- Direito Civil IIIDokumen281 halamanDireito Civil IIIEduardo Parreira100% (4)
- Direito Civil VDokumen184 halamanDireito Civil VEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Processo de execução e fases do processo sincréticoDokumen204 halamanProcesso de execução e fases do processo sincréticoEduardo Parreira100% (1)
- Tributos e Impostos: Conceitos, Classificações e Questões ControvertidasDokumen198 halamanTributos e Impostos: Conceitos, Classificações e Questões ControvertidasEduardo Parreira100% (1)
- Temas 06 e 07Dokumen5 halamanTemas 06 e 07Gabriela BoechatBelum ada peringkat
- Caso 5 Feito Pessoa Jurídica Ou ColetivaDokumen4 halamanCaso 5 Feito Pessoa Jurídica Ou ColetivaCecília PaivaBelum ada peringkat
- Caderno Etica Final CpiiiDokumen56 halamanCaderno Etica Final CpiiiDiego Guimarães100% (1)
- Direito Constitucional VDokumen158 halamanDireito Constitucional VEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Sistema Tributário Nacional e execução fiscal de IPVA não pagoDokumen1 halamanSistema Tributário Nacional e execução fiscal de IPVA não pagoBárbara SoaresBelum ada peringkat
- Direito Tributário V - Temas I e IIDokumen17 halamanDireito Tributário V - Temas I e IIzciceroBelum ada peringkat
- Extinção de obrigações e novas formas de pagamentoDokumen4 halamanExtinção de obrigações e novas formas de pagamentoIsabelaBelum ada peringkat
- Caso Feito 6Dokumen2 halamanCaso Feito 6Cecília PaivaBelum ada peringkat
- Direito Administrativo: Limitações à propriedade e função socialDokumen179 halamanDireito Administrativo: Limitações à propriedade e função socialCarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- Direito Processual Civil IIIDokumen163 halamanDireito Processual Civil IIIEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito AmbientalDokumen140 halamanDireito AmbientalEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Direito Penal PrincípiosDokumen144 halamanDireito Penal PrincípiosEduardo Parreira100% (3)
- Casos Concretos Direito Empresarial CPIVDokumen55 halamanCasos Concretos Direito Empresarial CPIVElke MBelum ada peringkat
- Constitucional EMERJDokumen48 halamanConstitucional EMERJMarcele BatistaBelum ada peringkat
- Jurisdição e suas característicasDokumen204 halamanJurisdição e suas característicasEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Caderno Empresarial CP3 V.finalDokumen253 halamanCaderno Empresarial CP3 V.finalCarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- Relação obrigacional e conceitos fundamentaisDokumen70 halamanRelação obrigacional e conceitos fundamentaisCarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- DIREITO PENAL - Princípios da lesividade e da insignificânciaDokumen6 halamanDIREITO PENAL - Princípios da lesividade e da insignificânciaSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURABelum ada peringkat
- Direito Civil IVDokumen180 halamanDireito Civil IVEduardo Parreira100% (1)
- Direitos Fundamentais no Direito CivilDokumen239 halamanDireitos Fundamentais no Direito CivilClara RodriguesBelum ada peringkat
- Direito Penal: Teoria da Pena e Fins da Sanção PenalDokumen268 halamanDireito Penal: Teoria da Pena e Fins da Sanção PenalCarlos Eduardo Medeiros de CarvalhoBelum ada peringkat
- Direito Civil IIIDokumen51 halamanDireito Civil IIISimone SouzaBelum ada peringkat
- Gabarito Emerj CP I A Direito Constitucional Temas 11Dokumen7 halamanGabarito Emerj CP I A Direito Constitucional Temas 11Emerj EstherBelum ada peringkat
- A inversão do ônus da prova no direito do consumidor: caracterização do Requisito da HipossuficiênciaDari EverandA inversão do ônus da prova no direito do consumidor: caracterização do Requisito da HipossuficiênciaBelum ada peringkat
- Lições Esquematizadas de Introdução ao Estudo do Direito - 6ª ED.: Teoria, esquemas analíticos e exercícios de fixaçãoDari EverandLições Esquematizadas de Introdução ao Estudo do Direito - 6ª ED.: Teoria, esquemas analíticos e exercícios de fixaçãoBelum ada peringkat
- A flexibilização do procedimento pelo juiz: Teoria geral a partir do direito portuguêsDari EverandA flexibilização do procedimento pelo juiz: Teoria geral a partir do direito portuguêsBelum ada peringkat
- Apf9845 - Introducao A AntropologiaDokumen3 halamanApf9845 - Introducao A AntropologiaEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Cemitério de Elefantes (Trevisan Dalton)Dokumen141 halamanCemitério de Elefantes (Trevisan Dalton)Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Calendário PPGA 2022Dokumen1 halamanCalendário PPGA 2022Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Modelo de Desnaturlização de Leitura Linear GEERTZDokumen1 halamanModelo de Desnaturlização de Leitura Linear GEERTZEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Quadro de Horários 2022.1Dokumen1 halamanQuadro de Horários 2022.1Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Apresentação Do Seminário - Descrição Densa de Clifford GeertzDokumen20 halamanApresentação Do Seminário - Descrição Densa de Clifford GeertzEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Unidades Tabela Vacinas 3 Adulto 20-59-Anos 01Dokumen1 halamanUnidades Tabela Vacinas 3 Adulto 20-59-Anos 01Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Chamada 07 2022 Anexo II Oficio Indicacao Representante InstitucionalDokumen1 halamanChamada 07 2022 Anexo II Oficio Indicacao Representante InstitucionalEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Corpo, Violência e Saúde: A Produção Da VítimaDokumen15 halamanCorpo, Violência e Saúde: A Produção Da VítimaCaroline CruzBelum ada peringkat
- Alteridade e solicitude segundo Paul RicoeurDokumen8 halamanAlteridade e solicitude segundo Paul RicoeurEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Chamada - 07 - 2022 - Anexo I - Formulario Projeto Institucional de PesquisaDokumen4 halamanChamada - 07 - 2022 - Anexo I - Formulario Projeto Institucional de PesquisaEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Tradução Texto de Monica HeintzDokumen14 halamanTradução Texto de Monica HeintzEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- UFF Antropologia MétodosDokumen8 halamanUFF Antropologia MétodosEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- BoletoBradesco 06042022 232228Dokumen1 halamanBoletoBradesco 06042022 232228Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Plano de AulaDokumen1 halamanPlano de AulaEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Currículo Lattes Agosto 2021Dokumen4 halamanCurrículo Lattes Agosto 2021Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Programa - Laudos Antropológicos - As Dimensões Éticas Da Pesquisa CientíficaDokumen5 halamanPrograma - Laudos Antropológicos - As Dimensões Éticas Da Pesquisa CientíficaEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Fassin Introduction - Tradução EletronicaDokumen17 halamanFassin Introduction - Tradução EletronicaEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- DeclaraçãoDokumen1 halamanDeclaraçãoEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Programa CronogramaDokumen5 halamanPrograma CronogramaEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Quadro de Horários 2021.2Dokumen2 halamanQuadro de Horários 2021.2Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Projeto Sistema Prevenção IncêndioDokumen3 halamanProjeto Sistema Prevenção IncêndioEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Z Final EmailDokumen1 halamanZ Final EmailEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Horários de disciplinas do PPG em Antropologia UFF 2021.2Dokumen1 halamanHorários de disciplinas do PPG em Antropologia UFF 2021.2Eduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Bloqueios Ao Andamento Dos Processos e Propostas de Solução OPJ PTDokumen26 halamanBloqueios Ao Andamento Dos Processos e Propostas de Solução OPJ PTEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Bach Are IsDokumen180 halamanBach Are IsFrater PotensBelum ada peringkat
- Grerj Incial Inventário Sr. Amiltom MassotDokumen1 halamanGrerj Incial Inventário Sr. Amiltom MassotEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- 323 - MBC PDFDokumen2 halaman323 - MBC PDFEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- DeclaraçãoDokumen1 halamanDeclaraçãoEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- 1 - PANOFSKY, Erwin. Renascimento e Renascimentos Na Arte PDFDokumen47 halaman1 - PANOFSKY, Erwin. Renascimento e Renascimentos Na Arte PDFEduardo ParreiraBelum ada peringkat
- Avaliação Da 1 Unidade 2 ADokumen2 halamanAvaliação Da 1 Unidade 2 AJaneMirandaVenturaBelum ada peringkat
- Literatura e Aformação Do Leitor - Bordoni FichamentoDokumen10 halamanLiteratura e Aformação Do Leitor - Bordoni FichamentoAnonymous Syhm81TgraBelum ada peringkat
- Introdução à EstatísticaDokumen8 halamanIntrodução à EstatísticaFanny Aymara RealBelum ada peringkat
- Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde PDFDokumen21 halamanClassificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde PDFPâmella Ferreira100% (1)
- ENC 1 - TEXTO 4 TRADUÇÃO - BUILDING THEORY ABOUT THEORY BUILDING - En.ptDokumen22 halamanENC 1 - TEXTO 4 TRADUÇÃO - BUILDING THEORY ABOUT THEORY BUILDING - En.ptJéssicaNascimentoBelum ada peringkat
- ATIVIDADES EXTRAS DE LITERATURA-RomantismoDokumen5 halamanATIVIDADES EXTRAS DE LITERATURA-RomantismoRaika BarretoBelum ada peringkat
- Contrato de Prestação de Serviços de AcademiaDokumen5 halamanContrato de Prestação de Serviços de AcademiaFellippe Dossi De Biasi92% (13)
- Análise de texto sobre o Modernismo brasileiroDokumen4 halamanAnálise de texto sobre o Modernismo brasileiroEduardo SouzaBelum ada peringkat
- CânticoDokumen73 halamanCânticoPaulus RamalloBelum ada peringkat
- Curriculum Vitae MARADokumen3 halamanCurriculum Vitae MARAjlabartaBelum ada peringkat
- Livro o Envelhecimento Ativo e Seus FundamentosDokumen535 halamanLivro o Envelhecimento Ativo e Seus FundamentosBruna Ortiz100% (1)
- Ementário Das Disciplinas Do Curso de DireitoDokumen75 halamanEmentário Das Disciplinas Do Curso de DireitoMarcos100% (1)
- SociologiaDokumen14 halamanSociologiaSamuelBelum ada peringkat
- Machado de Assis - Médico É Remédio PDFDokumen4 halamanMachado de Assis - Médico É Remédio PDFGuilherme Cavalcanti ArrudaBelum ada peringkat
- O Processo Licitatório e o Pregão Como Forma de Inovação No Direito AdministrativoDokumen58 halamanO Processo Licitatório e o Pregão Como Forma de Inovação No Direito AdministrativoDesiréeFurlandeFariaBelum ada peringkat
- Márcia Bezerra (Artigo - Sempre Quando Passa Alguma Coisa, Deixa Rastro. Um Breve Ensaio Sobre o Patrimonio Arqueológico e Povos Indígenas) PDFDokumen11 halamanMárcia Bezerra (Artigo - Sempre Quando Passa Alguma Coisa, Deixa Rastro. Um Breve Ensaio Sobre o Patrimonio Arqueológico e Povos Indígenas) PDFMarianaBelum ada peringkat
- Uti NeonatalDokumen11 halamanUti NeonatalFábio LumertzBelum ada peringkat
- Livro - Conselho Escolar, Gestão Democrática e Escolha Do DiretorDokumen66 halamanLivro - Conselho Escolar, Gestão Democrática e Escolha Do DiretorLuzi LimaBelum ada peringkat
- ESTRATAGEMA 30 SchopenhauerDokumen4 halamanESTRATAGEMA 30 SchopenhauerladyamnesiaBelum ada peringkat
- A Reforma Psiquiátrica No SUS e A Luta Por Uma Sociedade Sem Manocômios PDFDokumen13 halamanA Reforma Psiquiátrica No SUS e A Luta Por Uma Sociedade Sem Manocômios PDFRosangela Esteves MullerBelum ada peringkat
- O que é a FilosofiaDokumen17 halamanO que é a FilosofiamonikinhadoreaBelum ada peringkat
- Redação BitcoinDokumen2 halamanRedação BitcoinLetícia AlcântaraBelum ada peringkat
- Waltz, o Homem, o Estado e A GuerraDokumen4 halamanWaltz, o Homem, o Estado e A Guerravive_rio50% (2)
- 100750-Prática Textual em Língua PortuguesaDokumen5 halaman100750-Prática Textual em Língua PortuguesaEsdras RufoBelum ada peringkat
- A Memória de Criança em As Pequenas Memórias, de José Saramago.Dokumen13 halamanA Memória de Criança em As Pequenas Memórias, de José Saramago.Daniel Vecchio AlvesBelum ada peringkat
- Grande Hotel Ouro Preto - AnáliseDokumen15 halamanGrande Hotel Ouro Preto - AnáliseDanilo AlvesBelum ada peringkat
- Manual Padrao de Entrega ChevroletDokumen48 halamanManual Padrao de Entrega ChevroletAmanda20142014100% (5)
- Cuidado humanizado do idosoDokumen25 halamanCuidado humanizado do idosoWesley SalomãoBelum ada peringkat
- Aceite na letra de câmbio e ações cambiais e de locupletamentoDokumen4 halamanAceite na letra de câmbio e ações cambiais e de locupletamentoLuís EduardoBelum ada peringkat