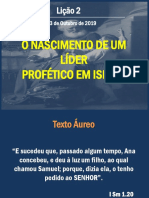Entrevista Com Érico
Diunggah oleh
thi_abras8030Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Entrevista Com Érico
Diunggah oleh
thi_abras8030Hak Cipta:
Format Tersedia
ENTREVISTA COM ÉRICO NOGUEIRA
O fugaz enquanto fugaz
Estréia de Érico Nogueira, O livro de Scardanelli romanceia a idéia de
que ao poeta é inevitável a hesitação entre a naturalidade do
sentimento e a artificialidade da expressão
Por Ronald Robson
Não tivéssemos o Drummond de Claro Enigma (1951) e as duas obras
magnas de Bruno Tolentino, O Mundo Como Idéia (2002) e A Imitação
do Amanhecer (2006), e nos seria bem maior o espanto que causa O
livro de Scardanelli (2008), volume de estréia do jovem poeta paulista
Érico Nogueira. Raríssimas vezes se fez no Brasil poesia com tal
envergadura formal a partir de aspirações – em um debate de idéias
típico de “poetas-críticos” – que desmentem a imaturidade que
geralmente se pode imputar a um escritor de 30 anos.
Para tomar uma referência amplamente conhecida, Fernando Pessoa
(o próprio, o ortônimo) talvez tenha sido o poeta lusófono que mais se
impôs o exercício da poesia como uma constante tensão entre
“interioridade” e “exterioridade”, entre o dizer genuíno de um “eu” e
a observação – exterior, severa – das técnicas de que ele se utilizará
para tanto. E, se em um Pessoa tal tensão é sombra costumeira mas
secundária, em Érico Nogueira ela se fez tema, aspiração e impasse
desejável. Já no primeiro poema do livro vemos Érico a dar precisa e
bela expressão a esse jogo de duplicidades que energiza a alma de
Scardanelli, a voz que fala no livro: “A hora lúcida de cara dupla”.
Divide-se a obra em três partes. “Livro de Horas” é a primeira delas,
uma seqüência de 23 poemas, todos eles sendo “traduções”
heterodoxas realizadas por Érico dos poemas que o poeta alemão
Friedrich Hoelderlin (1770-1843), na velhice e já louco, escreveu sob o
pseudônimo de Scardanelli. Disse tradução, mas aqui a palavra
conota apenas uma espécie de deliberado plágio formal: pois o que
Érico fez foi preencher com conteúdo completamente outro a
estrutura métrica e rítmica dos poemas originais – e nada mais.
São poemas muito suaves, como que pensados à voz baixa, a
advertirem sobre a fatalidade irreversível do tempo – coisa, aliás, bem
expressa em “O Selo”: “Se tal é a morte, é tal também a vida: / quem
vai ditoso, mas se esvai na lida, / é como se em lida só passasse: / a
vida amarra, a morte é desenlace”. São poemas de versos
geralmente decassílabos, distribuídos com ou sem rima no mais das
vezes em quadras paragrafadas ou não, simplicidade essa que mais
uma vez nos faz lembrar daqueles versos de Bilac: “Porque a Beleza,
gêmea da Verdade, / Arte pura, inimiga do artifício, / É a força e a
graça na simplicidade”.
A segunda seção do livro, “Cancioneiro Inglês ou de Sandra Gama”, é
uma tentativa de romancear, ao longo de 24 sonetos ingleses, todos
os dilemas de um Bildungsroman (“romance de formação”), uma
autobiografia interior do embate de Érico Nogueira com seu mote da
“sinceridade despersonalizada”. Tais sonetos possuem uma
progressão curiosa, a dar a impressão de que, tateando, aos poucos,
Scardanelli rompe um ceticismo da expressão, alcança alguma graça
ao despreocupar-se com o modo pelo qual diz o que quer dizer, e
novamente recua à divisa inicial, dizendo “Cansei-me da empolada
elocução / e de chorar quem eu não conheci”, o que leva a pensar
que não há, para o poeta, solução quanto a isto. Merece destaque o
soneto de número 16, no qual encontra perfeita expressão a desgraça
de Scardanelli a amar uma imaginária e fingida Sandra Gama:
“apenas, entre alguém e seu retrato, / para meu dano, preteri
alguém”.
Já a última seção do livro, “Caderno de Exercícios”, é a mais vária no
que concerne a formas poéticas, nela se encontrando até poderosos
experimentos sintáticos como os dos versos de “Quatro estudos
neoclássicos”: “Se amanhece, e / desenha-se a / montanha. / Se
súbito um / estalo e / beijo e / sol. / Planou, / pousou no / lago a /
folha. / A faísca luziu. // (Agora sombra.)” Além dos temas das seções
anteriores – a fugacidade do tempo, da beleza, e a difícil busca do
artificialismo sincero –, Érico Nogueira ainda incorpora, nesta última
seção, um nada irrelevante imagismo – não apenas contemplativo,
mas reflexivo –, tanto no poema supracitado, bem como em “Dois
hálitos” e em “Selene e a omoplata”.
Resta, agora, apenas anotar que “O livro de Scardanelli” carrega, ao
fim, um ótimo ensaio do poeta, tradutor e crítico literário Carlos Felipe
Moisés sobre a poética de Érico Nogueira. E, sobre este último, devo
dizer que o único demérito de sua estréia literária é aquele já
observado por Ângelo Monteiro na orelha do volume: a “ênfase na
paródia e na ironia”. No entanto, não é isso exatamente um defeito:
talvez fosse um terreno a ser inevitavelmente cruzado para que se
cumprisse o trajeto que Érico se impôs – a essa altura da história da
literatura, fazer poesia que imploda o realismo personalista…
ENTREVISTA
Há um intenso desassossego em seu livro, o qual parece se
dar por conta dos dois pólos entre os quais o autor transita: o
desejo de verdadeiramente dizer algo que lhe é próprio, e a
ciência de que, para fazê-lo, ele não pode apenas pôr a nu
seus sentimentos, já que isso seria falsificar a poesia com
uma impossível “naturalidade”. Como este embate, este
“tema”, se tornou claro para você?
É difícil dizer. Desde que, aos quinze, dezesseis anos, eu “descobri”
minha vocação de poeta, amar a poesia era, para mim, amar a
técnica da poesia, amar o desafio de, ao mesmo tempo, dizer o que
me desse na telha e obedecer à severa disciplina da forma. Comecei
com Bilac e Guilherme de Almeida, e logo encontrei João Cabral, cuja
opção pelo caminho “mais difícil”, como diz em certo poema, sempre
me fascinou. A poesia, para mim, sempre foi essa coisa “oblíqua e
dissimulada”, coisa que só aceita o pessoal, por incrível que pareça,
por meio da despersonalização. Daí o meu amor incondicional aos
clássicos greco-latinos, cuja poesia, tão cheia de prescrições,
convenções e regras de toda a sorte, não deixa, por isso, de ser muito
particular.
A necessidade de comunicar um determinado estado de alma
verídico, e, de outra ponta, a necessidade de comunicá-lo
através de uma forma artificial, algo fingida, ensaiada: você
acredita que nenhum poeta possa fugir a isso?
Acredito. A linguagem comum, espontânea e utilitária que é, não é
capaz de veicular certas experiências, de dizer o que deve ser dito e
ninguém diz. Ela é frouxa. É disforme. É inexata. De modo que
falsifica, necessariamente, aquilo que veicula. A poesia, porém, que é
linguagem concentrada em grau máximo, pode chegar a dizer o que,
a cada vez, espera por ser dito. Mas tem um preço a pagar: seu
caráter artificial – ou “artístico”, palavras de mesma raiz. O poeta não
pode fugir desta contradição. Na verdade, é dela que ele vive.
Por que Hoelderlin como uma referência tão central? Por
exemplo, por que não buscar os mesmos instrumentos na
lírica de um Horácio, poeta por quem você tem tanto apreço e
a quem você não deixa de dever em termos de aspiração?
Eis aí outra questão complicada. Eu diria que é o fado. Ou a ocasião,
sei lá, que sempre faz o ladrão, não é mesmo? O que sei é que a
poesia de Horácio, como você bem notou, é realmente uma
“aspiração” ou modelo da minha, sobretudo pelo padrão de qualidade
técnica que sempre me impus. Já minha relação com Hoelderlin é
outra: como são misteriosos, como são ousados, como são profundos
os seus versos! Uma profundidade bem alemã, bem fora de moda
hoje, é verdade, a que a loucura do poeta não deixou de dar um
toque de tragédia grega… Vivi momentos de extrema tensão, de
completa inautenticidade. Quase de loucura: a figura de Hoelderlin,
portanto, se impôs naturalmente à minha sensibilidade.
De imediato, seus poemas chamam atenção pela precisão
formal, o acabamento impecável, a tão sugestiva alternância
entre decassílabos e alexandrinos, por exemplo. Você poderia
apontar que poetas lhe deram uma boa lição de “engenharia
de versos”?
Todos os poetas que lemos nos dão lições de poesia, de engenharia
poética – seja do que se deve fazer, seja do que se deve evitar. Não
obstante, há alguns cujas lições são mais evidentes, estão
escancaradas nos seus poemas, e podem ser seguidas sem medo
pelo neófito. Olavo Bilac e Guilherme de Almeida, por exemplo,
poetas que já citei, são versejadores exímios, cujos ensinamentos me
foram muito úteis. João Cabral também foi muito importante para
mim, embora – como é igualmente o caso de Bruno Tolentino – seja
perigoso segui-lo com demasiada paixão. Petrarca, Camões e
Góngora são ótimos professores. Eu diria que é o trio de ferro das
línguas neolatinas: aprenda com eles, e você terá uma técnica
segura.
No início do “Cancioneiro Inglês ou de Sandra Gama”, você
brinca com a idéia de que tudo sobre tudo já foi dito. Aquele
diletantismo de desculpar-se por não fazer boa poesia com o
argumento de que muito de bom já se fez seria tão somente
preguiça?
Preguiça e canalhice. A poesia é um dom, evidentemente, mas é
também, e sobretudo, trabalho, esforço. Quando comecei, eu já
pressentia que o caminho não seria fácil: teria de aprender muitas
línguas estrangeiras; teria de escrever obsessivamente; teria de me
dedicar por completo. Minha obrigação, no limite, é ler tudo, é saber
tudo sobre todos os aspectos da “profissão”: não é assim com o bom
advogado, o bom médico, o bom professor? Eu odeio o diletantismo –
que é a desculpa dos fracos e dos invejosos. É claro que dar uma
nova contribuição à poesia é hoje mais difícil do que há cem anos
atrás: a última geração está obrigada a saber mais do que aquela que
a precedeu, pelo simples fato de que tem de se haver com uma
tradição que inclui esta sua antecessora… Ora, mas este não é
também o caso de todas as atividades humanas?
Em um poema da série “O espólio de Horácio”, você escreve:
“Eu sei, amigo: dá no mesmo / jogar-se na torre ou na
fogueira, / se logo seremos sombra e pó; / porém é só na torre
que aprendemos / como o bronze se forja em fogo exato, /
como pôr sangue em taças inquebráveis”. Tudo isso leva à
intuição de que você se empenha em tratar
o fugaz enquanto fugazem sua poesia, sem falsificá-lo. Ou
não?
Sem dúvida. Eu tenho uma pequena teoria sobre a formação dos
cânones, sobre como as gerações escolhem os poetas dignos de
glória: a sabedoria acumulada da tradição separa o joio do trigo
utilizando um critério “simples” de verdade ou falsidade. Atingido um
patamar de excelência artesanal, o poeta que vai figurar no cânon
será aquele que, em sua obra, disse tão-somente a verdade. Que não
mentiu, a despeito da ficção, do fingimento que está no cerne da sua
arte. E a primeira verdade, e a mais evidente de todas, é a
fugacidade da vida, a vaidade de tudo, a morte.
Há alguma peculiaridade, em seu modo de escrever, elaborar
um poema, que você considere digna de nota?
O melhor texto que li sobre o processo de criação poética é ainda o
velho “Poésie et pensée abstraite”, de Valéry. Depois que uma
inquietação, portanto, ou um desequilíbrio, se instalou em mim,
aguçando a minha inteligência e a minha sensibilidade, eu procuro
depurar esta “energia” – a conhecida inspiração – não diretamente
por meio da escrita, mas, antes que isto aconteça, lendo e meditando
um poema qualquer. Goethe, Leopardi, Yeats – pode ser qualquer um
dos meus queridos. Desse modo, eu sintonizo as minhas forças na
“estação” de um grande autor antes de tocar a minha música. É
sempre assim que faço – ou quase sempre.
São muito raros, no Brasil, poetas que escrevam poesia de
tensão de idéias, de conceitos, e que o façam de forma não
forçada. Parece que seu livro, seguindo de perto “O mundo
como Idéia”, do Bruno Tolentino, supre parte dessa carência.
Outra coisa rara por aqui é poesia de fôlego épico, coisa que
foi minimamente remediada por Gerardo Mello Mourão em
“Invenção do Mar”. Você apontaria alguma outra lacuna na
poesia brasileira que consideraria pouco honrosa?
Não gosto de generalizações. Mas me parece que o modernismo de
22 infectou a poesia brasileira com o vírus da espontaneidade, do
apreço extremado pelo quotidiano, pelo popular, pelo epidérmico,
pelo social. É uma poesia geralmente leviana, que busca justificar
essas falhas ostentando uma orgulhosa – e postiça – “brasilidade”. É
este caráter panfletário, em suma, há já algum tempo muito comum
na poesia brasileira, que julgo ser a sua principal deficiência.
Anda mungkin juga menyukai
- A Mobilização para A Terceira Guerra MundialDokumen3 halamanA Mobilização para A Terceira Guerra Mundialthi_abras8030Belum ada peringkat
- A Violação Da LinguagemDokumen4 halamanA Violação Da Linguagemthi_abras8030Belum ada peringkat
- As Velhas Piadas Soviéticas Se Tornam A Nova Realidade AmericanaDokumen2 halamanAs Velhas Piadas Soviéticas Se Tornam A Nova Realidade Americanathi_abras8030Belum ada peringkat
- Fugindo Da FilosofiaDokumen3 halamanFugindo Da Filosofiathi_abras8030Belum ada peringkat
- GreenwaldDokumen2 halamanGreenwaldthi_abras8030Belum ada peringkat
- Direitista À ForçaDokumen2 halamanDireitista À Forçathi_abras8030Belum ada peringkat
- A Vingança de AristótelesDokumen2 halamanA Vingança de Aristótelesthi_abras8030Belum ada peringkat
- A UniversidadeDokumen3 halamanA Universidadethi_abras8030Belum ada peringkat
- Da Mediocridade ObrigatóriaDokumen2 halamanDa Mediocridade Obrigatóriathi_abras8030Belum ada peringkat
- As massas, o Estado e o poder em Ortega y GassetDokumen5 halamanAs massas, o Estado e o poder em Ortega y Gassetthi_abras8030Belum ada peringkat
- A Universidade Mackenzie Critica A Teologia Da Missão IntegralDokumen4 halamanA Universidade Mackenzie Critica A Teologia Da Missão Integralthi_abras8030Belum ada peringkat
- Cientistas SériosDokumen2 halamanCientistas Sériosthi_abras8030Belum ada peringkat
- Alguns Traços Da Mente RevolucionáriaDokumen2 halamanAlguns Traços Da Mente Revolucionáriathi_abras8030Belum ada peringkat
- Falsos RelativistasDokumen2 halamanFalsos Relativistasthi_abras8030Belum ada peringkat
- Cálculo da taxa de câmbio do dólar cupom limpoDokumen1 halamanCálculo da taxa de câmbio do dólar cupom limpothi_abras8030Belum ada peringkat
- A Casca e A BananaDokumen2 halamanA Casca e A Bananathi_abras8030Belum ada peringkat
- Operações EspeciaisDokumen4 halamanOperações Especiaisthi_abras8030Belum ada peringkat
- Debatedores BrasileirosDokumen3 halamanDebatedores Brasileirosthi_abras8030Belum ada peringkat
- Curva DolarDokumen38 halamanCurva Dolarthi_abras8030Belum ada peringkat
- Doutrina Deus 171 174 RJRDokumen4 halamanDoutrina Deus 171 174 RJRthi_abras8030Belum ada peringkat
- Sistema Financeiro Nacional PDFDokumen24 halamanSistema Financeiro Nacional PDFthi_abras8030Belum ada peringkat
- Liturgia VespertinaDokumen1 halamanLiturgia Vespertinathi_abras8030Belum ada peringkat
- O Sentido Da Ressurreição de Jesus Cristo Na Escatologia de Jürgen MoltmannDokumen17 halamanO Sentido Da Ressurreição de Jesus Cristo Na Escatologia de Jürgen Moltmannthi_abras8030Belum ada peringkat
- Ens - MF I 171s - Aula 05 SFNDokumen5 halamanEns - MF I 171s - Aula 05 SFNroxanedddBelum ada peringkat
- Sistema Financeiro NacionalDokumen25 halamanSistema Financeiro NacionalRaphael Braga Leal De Paula FreitasBelum ada peringkat
- Prefacio Salterio Escoces Puritanos PDFDokumen2 halamanPrefacio Salterio Escoces Puritanos PDFthi_abras8030Belum ada peringkat
- Material Agro Digital Final PDFDokumen118 halamanMaterial Agro Digital Final PDFthi_abras8030Belum ada peringkat
- Guia de Estudos Da CFW SumarioDokumen1 halamanGuia de Estudos Da CFW Sumariothi_abras8030Belum ada peringkat
- Guia de Estudos da Confissão de Fé de WestminsterDokumen2 halamanGuia de Estudos da Confissão de Fé de Westminsterthi_abras8030100% (1)
- Prova 7 AnoDokumen5 halamanProva 7 AnoCarlos Alberto Saucedo LeguizamonBelum ada peringkat
- Os Axiomas de ZuriqueDokumen3 halamanOs Axiomas de ZuriqueLeandro Paiao Macedo Leandro100% (1)
- As Primeiras CivilizaçõesDokumen4 halamanAs Primeiras CivilizaçõesProf. Elicio LimaBelum ada peringkat
- Esboços para SermãoDokumen4 halamanEsboços para Sermãoabenoadopordeus100% (2)
- Performance e Geração 80Dokumen295 halamanPerformance e Geração 80QualquerBelum ada peringkat
- HADDAD, em Defesa Do SocialismoDokumen68 halamanHADDAD, em Defesa Do SocialismoGilson Xavier de Azevedo100% (1)
- Mestrado em Engenharia Elétrica UEL Pré-ProjetoDokumen2 halamanMestrado em Engenharia Elétrica UEL Pré-ProjetoThais SantosBelum ada peringkat
- BOURDIEU Economia Das Trocas SimbólicasDokumen8 halamanBOURDIEU Economia Das Trocas SimbólicasSarita ErthalBelum ada peringkat
- UNICESUMARDokumen19 halamanUNICESUMARCláudia Balbino Emerson Puerari100% (1)
- Ação de Anulação de Exclusão de SócioDokumen7 halamanAção de Anulação de Exclusão de SócioFlávia Prado100% (2)
- Proteção de Sistemas Elétricos de PotênciaDokumen6 halamanProteção de Sistemas Elétricos de PotênciaÂngelo MarcílioBelum ada peringkat
- Abordagens da complexidade de Edgar Morin no programa de pós-graduaçãoDokumen8 halamanAbordagens da complexidade de Edgar Morin no programa de pós-graduaçãoMarcelo CabralBelum ada peringkat
- Estatuto Do Centro de Umbanda Este VaiDokumen2 halamanEstatuto Do Centro de Umbanda Este Vaidarckbok100% (1)
- Trabalho Grupo ReclamaçõesDokumen15 halamanTrabalho Grupo Reclamaçõescascaoduda50% (2)
- Para Que Lado A Bailarina Gira - Suzana Herculano-Houzel - Neurociências - Mente - CérebroDokumen3 halamanPara Que Lado A Bailarina Gira - Suzana Herculano-Houzel - Neurociências - Mente - CérebroMaxNelBelum ada peringkat
- Introdução às notas naturais e acidentais no ukuleleDokumen3 halamanIntrodução às notas naturais e acidentais no ukuleleJuan FernandesBelum ada peringkat
- O Nascimento de Um LiderDokumen19 halamanO Nascimento de Um LiderLeonardo CabralBelum ada peringkat
- Apocalipse X Mateus 24 e 25Dokumen4 halamanApocalipse X Mateus 24 e 25Mateus RaulBelum ada peringkat
- O Que É Que Deus Avisa em Joel, Capítulo 2, Versículo 28?Dokumen4 halamanO Que É Que Deus Avisa em Joel, Capítulo 2, Versículo 28?Divinismo100% (2)
- AnõesDokumen3 halamanAnõesVictor GonçalvesBelum ada peringkat
- Em Busca de Números PrimosDokumen2 halamanEm Busca de Números PrimosAndré AbramczukBelum ada peringkat
- Asme B-31 (1) .8 - PortuguesDokumen282 halamanAsme B-31 (1) .8 - PortuguesFabio FontamBelum ada peringkat
- Código de conduta APCEDokumen4 halamanCódigo de conduta APCEACGLBelum ada peringkat
- Bingo Matemático 2Dokumen6 halamanBingo Matemático 2Lucimar Andrade0% (1)
- Cinetica AngularDokumen23 halamanCinetica AngularAnderson FerroBemBelum ada peringkat
- E Book Psicologia Da Saúde Teoria e IntervençãoDokumen238 halamanE Book Psicologia Da Saúde Teoria e IntervençãoLeonardo Aranda de MattosBelum ada peringkat
- Redefinindo a direitaDokumen668 halamanRedefinindo a direitaLucas Fernando100% (1)
- Código de Ética Dos Profissionais de EFDokumen7 halamanCódigo de Ética Dos Profissionais de EFJunior HocamaBelum ada peringkat
- Curso NUBE sobre falar em públicoDokumen3 halamanCurso NUBE sobre falar em públicoGabriela Stancanelli PegassiniBelum ada peringkat
- Prova2 Uern 2011Dokumen24 halamanProva2 Uern 2011Maria AndradeBelum ada peringkat