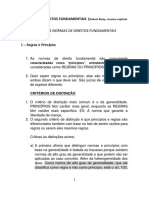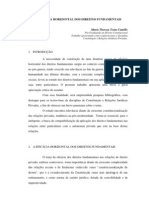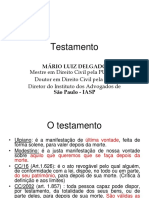Levando Os Direitos A Sério - Notas e Trechos
Diunggah oleh
CarlaRMNascimento100%(1)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
1K tayangan31 halamanO documento resume a teoria geral do direito proposta por Ronald Dworkin em seu livro "Levando os Direitos a Sério". Dworkin critica a teoria dominante do direito na época, que combinava positivismo jurídico e utilitarismo. Ele defende uma teoria que enfatiza os direitos individuais e que deve ser tanto normativa quanto conceitual.
Deskripsi Asli:
Judul Asli
LEVANDO OS DIREITOS A SÉRIO - NOTAS E TRECHOS
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniO documento resume a teoria geral do direito proposta por Ronald Dworkin em seu livro "Levando os Direitos a Sério". Dworkin critica a teoria dominante do direito na época, que combinava positivismo jurídico e utilitarismo. Ele defende uma teoria que enfatiza os direitos individuais e que deve ser tanto normativa quanto conceitual.
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
100%(1)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
1K tayangan31 halamanLevando Os Direitos A Sério - Notas e Trechos
Diunggah oleh
CarlaRMNascimentoO documento resume a teoria geral do direito proposta por Ronald Dworkin em seu livro "Levando os Direitos a Sério". Dworkin critica a teoria dominante do direito na época, que combinava positivismo jurídico e utilitarismo. Ele defende uma teoria que enfatiza os direitos individuais e que deve ser tanto normativa quanto conceitual.
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 31
LEVANDO OS DIREITOS A SÉRIO
Ronald Dworkin
- observações e indagações exclusivamente minhas estão em
vermelho
- o livro é, na verdade, uma TEORIA GERAL DO DIREITO,
estabelecida por Dworkin
O livro foi escrito numa época em que se
discutia intensamente o que é o direito, quem deve
obedecê-lo e quando. Nesse período, o liberalismo
– que antes era uma unanimidade - perdia sua
força: os mais velhos responsabilizavam-no pela
permissividade; os mais jovens, pela rigidez, pela
injustiça econômica e pela guerra do Vietnã.
Dworkin defende uma teoria liberal do direito.
Contudo, critica profundamente uma teoria que se
considera liberal, tão popular e influente que
chega a ser a teoria dominante do direito – a
teoria de Jeremy Bentham (Benthamiana), que
prevalece na Inglaterra e nos Estados Unidos
(Bentham viveu de 1748 a 1832; filósofo e jurista
inglês, juntamente com John Stuart Mill e James
Mill, difundiu o utilitarismo, teoria ética que
responde todas as questões acerca do que fazer, do
que admirar e de como viver, em termos da
maximização da utilidade e da felicidade). Trata-
se de uma teoria que une Positivismo Jurídico e
Utilitarismo. Neste sentido, é uma teoria sobre o
que é o direito (ou seja, estuda quais são as
condições necessárias para que uma proposição
jurídica seja verdadeira para o direito – parte
conceitual da teoria) – e aí está o Positivismo
Jurídico, que, para Dworkin, identifica o direito
com as regras emanadas de instituições sociais
específicas e nada mais do que isso. E trata-se
também de uma teoria sobre o que o direito deve
ser e como as instituições jurídicas por ele
estabelecidas deveriam se comportar (parte
normativa da teoria) – aí residindo a faceta
utilitarista dessa teoria, sustentando que “o
direito e suas instituições devem estar a serviço
do bem-estar geral e tão-somente isso”.
Essa teoria dominante, formada pela fusão de
Positivismo Jurídico e Utilitarismo, deriva da
filosofia Jeremy Bentham.
Dworkin esclarece que dará ênfase a uma idéia
que também faz parte da tradição liberal, mas que
está ausente tanto no positivismo jurídico quanto
no utilitarismo: a velha idéia dos direitos
humanos individuais.
Para Dworkin, uma teoria geral do direito
precisa ser, ao mesmo tempo, normativa e
conceitual. Sua parte normativa (como o direito
‘deve ser’) abrangeria uma teoria da legislação,
da decisão judicial e da observância da lei (e
obrigar o seu cumprimento).
Por sua vez, a teoria da legislação abrange
uma teoria da legitimidade – para definir em quais
circunstâncias se está autorizado a fazer leis – e
uma teoria da justiça legislativa – que define o
tipo de leis que se está autorizado/obrigado a
fazer.
A teoria da decisão judicial contém uma teoria
da controvérsia, que estabelecerá os parâmetros a
ser utilizados pelo juiz para decidir os casos
jurídicos difíceis; e uma teoria da jurisdição,
que estudaria quando e por que a decisão dos casos
difíceis estaria nas mãos do juiz (e não do
legislador ou de outras instituições). É o caso,
por exemplo, da prestação de medicamentos pelo
Estado. Quando caberia ao juiz determinar essa
prestação e quando ela estaria na esfera de
discricionariedade do Poder Executivo? É o que a
teoria da jurisdição deve responder.
Por fim, a teoria da observância à lei deve
discutir e distinguir, de um lado, a teoria do
respeito à lei, para estudar a natureza do dever
do cidadão de obedecer à lei e até onde vai esse
dever, os limites dessa imposição; e de outro lado
deve alcançar uma teoria da execução da lei, que
discernirá os objetivos da aplicação da lei e da
eventual punição nela estabelecida, bem como
descreverá como a lei (e o legislador) deve atuar
reagir às diferentes categorias de crimes e
infrações.
É claro que uma teoria geral do direito também
incluirá assuntos que não pertencem a nenhuma
dessas categorias; ao mesmo tempo, um mesmo
assunto poderá pertencer a mais de um tópico.
A questão politicamente sensível do
constitucionalismo diz respeito à teoria de
legitimidade: por que os representantes eleitos
pela maioria não poderiam estar habilitados, em
qualquer circunstância, a sancionar leis que lhes
parecessem equânimes e eficientes? Contudo, uma
questão conexa se constitui em problema não mais
para essa parte normativa da teoria do direito,
mas para a parte conceitual. Consiste em saber se
os princípios mais fundamentais da Constituição,
que definem o modo de fazer as leis e a
competência para fazê-las, podem ser considerados
como partes integrantes do direito.
Se os princípios políticos inscritos na
Constituição fazem parte do direito, a
prerrogativa dos juízes para decidir o que a
Constituição determina fica confirmada. Se esses
princípios fazem parte do direito, apesar do fato
de não serem produtos de decisão social ou
política deliberada, significa que seriam direitos
naturais, o que é um argumento em favor das
restrições impostas constitucionalmente ao poder
da maioria.
Além disso, uma teoria geral do direito terá
muitas ligações com outras áreas da filosofia. A
teoria normativa do direito irá assentar-se em uma
teoria moral e política mais geral, que poderá
depender de teorias filosóficas sobre a natureza
humana ou a objetividade da moral. Já a parte
conceitual fará uso da filosofia da linguagem e,
portanto, também da lógica e da metafísica.
BENTHAM foi o último filósofo anglo-americano
a propor uma teoria do direito que é geral, no
sentido dado ao termo por Dworkin (ou seja, que
aborda as questões normativas e as questões
conceituais, tal como destrinchadas no livro).
Pode-se encontrar na obra de Bentham uma parte
conceitual e uma parte normativa de uma teoria
geral do direito, e na parte normativa, teorias
bem definidas da legitimidade, da justiça
legislativa, da jurisdição e da controvérsia,
todas adequadamente articuladas por uma teoria
política e moral utilitarista e uma teoria
metafísica empiricista mais geral. Mesmo
desenvolvida e aprimorada por diversos autores, a
teoria do direito que prevalece das universidades
inglesas e dos Estados Unidos continua sendo uma
teoria benthamiana.
A parte conceitual de sua teoria – o
positivismo jurídico – foi bastante aperfeiçoada,
especialmente por H.L.A. Hart, que tem a mais
influente versão do positivismo atual. Exatamente
essa versão é a criticada por Dworkin.
A parte normativa da teoria de Bentham também
foi muito aprimorada mediante a utilização da
análise econômica na teoria do direito. Esta
análise fornece padrões para identificar e medir o
bem-estar dos indivíduos que compõe uma comunidade
(embora a natureza desses padrões seja matéria de
muita discussão – pergunto eu: o direito deve ou
não deve se preocupar com isso – com a felicidade
e o bem-estar geral? Se deve, não estaria
invadindo demasiadamente uma esfera de liberdade
individual que sempre, mesmo naqueles que não
possuem meios para buscar sua própria felicidade,
deve ser preservada? Se não, não estaria gerando
injustiça social, simplesmente preservando a ordem
das coisas e o status quo?), e sustenta que as
questões normativas de uma teoria da legitimidade,
da justiça legislativa, da jurisdição e da
controvérsia, da observância da lei e da sua
execução, todas, portanto, devem ser resolvidas
mediante a suposição de que as instituições
jurídicas compõem um sistema cujo objetivo geral é
a promoção do mais elevado bem-estar médio para
esses indivíduos. É isso mesmo? Essa teoria
normativa geral enfatiza aquilo que as versões
anteriores do utilitarismo frequentemente
negligenciavam: este objetivo geral do Direito –
de promover o mais elevado bem-estar médio para os
indivíduos – é alcançado com maior segurança
atribuindo-se cada tipo de questão, num caso
difícil, à instituição efetivamente competente, de
acordo com alguma teoria da competência
institucional, em vez de supor que todas as
instituições são igualmente capazes de calcular o
impacto de uma decisão política particular sobre o
bem-estar geral (ver The Legal Process, de Hart e
Sachs).
Neste passo, o utilitarismo econômico, que tem
viés individualista, fixa o objetivo do bem-estar
médio geral como o padrão de justiça para a
legislação. Define esse bem-estar geral como uma
função do bem-estar de indivíduos distintos e se
opõe firmemente à idéia de que uma comunidade,
como uma ‘entidade’ separada de seus indivíduos,
tenha algum interesse ou prerrogativa
independente. Não concordo com isso, pensando num
contexto internacional, de autonomia dos povos e
objetivos de cada comunidade nas relações entre
Estados e dos Estados com seus cidadãos, reunidos
em comunidades distintas. A par disso, o
positivismo jurídico pressupõe que o direito é
criado por práticas sociais ou decisões
institucionais explícitas (legislativo,
judiciário). Rejeita a ideia (mais romântica e
obscura, por não ter sido nunca demonstrada) de
que a legislação pode ser produto de uma vontade
geral ou da vontade de uma pessoa jurídica
(contrato social).
Essa teoria dominante é criticada por diversas
formas de coletivismo, como era de se esperar (já
que o indivíduo é compreendido como o centro e o
parâmetro de tudo), mas também por ser
racionalista. Com efeito, em sua parte conceitual
ela ensina que o direito é produto de decisões
deliberadas e intencionais, tomadas por pessoas
que planejam, por meio dessas decisões, mudar a
comunidade com base na obediência geral às regras
criadas por suas decisões. Em sua parte normativa,
recomenda decisões baseadas em tais planos e,
portanto, pressupõe que todos os que ocupam cargos
públicos possuem a habilitação, o conhecimento e a
virtude necessários para tomarem tais decisões de
maneira eficiente em condições de considerável
incerteza, em meio a comunidades extremamente
complexas (e consequentemente casos extremamente
difíceis).
Alguns dos que criticam o individualismo e o
racionalismo da teoria dominante representam a
chamada “esquerda”. A esquerda acredita que é o
formalismo do positivismo jurídico que impede os
tribunais de aplicar uma justiça substantiva, que
seria mais densa e solaparia as políticas sociais
conservadoras adotadas pelo governo (executivo e
legislativo), forçando-os a adotar uma concepção
mais fraca de justiça, a justiça meramente
processual, que promoveria o conservadorismo
social. Para a esquerda, ainda, o utilitarismo
econômico também é injusto nas suas conseqüências,
que perpetuaria a pobreza como um instrumento para
a eficiência e que seria deficiente na sua teoria
da natureza humana, por conceber os indivíduos
como átomos auto-interessados da sociedade, em vez
de seres inerentemente sociais, com um sentido de
comunidade que é parte essencial de seu próprio
sentido de identidade. É verdade, temos esse senso
social, mas será que o Estado e a Sociedade têm de
agir como ‘pais’ dos indivíduos, como se eles, a
partir da garantia de uma igualdade de condições
no ponto de partida, não tivessem o direito de
buscar aquilo que lhe apetece, mesmo que isso
signifique ser pobre ou não fazer nada para manter
o próprio sustento. Não podemos nos apegar à
‘ética capitalista’ de ver todos como seres
produtivos. Haverá os que não desejam produzir
nada, não desejam trabalhar ou tirar seu sustento
e previdência, e nem por isso podemos interferir e
dizer que esse indivíduo deve ser assim ou assado
(mais conseqüecialista, mais previdente ou o que
seja). Nem se pode interferir também para lhe
conferir esse sustento que ele mesmo não busca,
sob pena de produzirmos injustiças com os demais,
criarmos privilégios e desrespeitarmos o
desenvolvimento de cada um de acordo com seu livre
arbítrio. Deve-se pensar, inclusive, na
rediscussão do direito de herança, por exemplo, ao
menos a partir de um certo patamar que supere a
igualdade de oportunidades na origem. O problema é
que a sociedade é viciada e algumas atividades
sempre gerarão acúmulo de riquezas para uns e
falta de sustento para outros. Isso é o que deve
ser combatido, e as políticas de transferência de
recursos devem sempre ter essa finalidade, de
redistribuição das riquezas de acordo com o que
cada um merece, pelo que faz em sociedade (“dar a
cada um o que é seu” neste sentido de retribuir
corretamente o trabalho, os esforços individuais).
De outro lado, contudo, estão os críticos
ligados à direita política (por exemplo, Hayek –
Law, Liberty and Legislation), que seguem a
filosofia de Edmund Burke, recentemente
popularizado na teoria política norte-americana.
A direita (americana) acredita que o
verdadeiro direito de uma comunidade não é
constituído apenas pelas decisões deliberadas dos
poderes constituídos, como prega o positivismo
jurídico, mas também pela moral costumeira difusa,
que exerce uma grande influência sobre essas
decisões que geram as normas jurídicas (mas o fato
de influenciar não torna a moral uma regra
impositiva, seria um ‘imperativo categórico’ ou um
guia de atuação do indivíduo em sociedade).
Acredita também que o utilitarismo econômico é
irrecuperavelmente otimista, ao insistir que as
decisões deliberadas contrárias à moral
convencional podem aumentar o bem-estar da
comunidade (com efeito, levam a uma insurgência e
insatisfação de muitos no seio da sociedade,
gerando uma situação de instabilidade e um
sentimento inegável de injustiça por parte de
muitos. Mas o que é justiça, afinal? Será que
temos um conceito só do que ela seja? E, se temos
vários, como alcançá-la em todas as acepções?).
Argumentam, com Burke, que as regras mais
apropriadas para promover o bem-estar de uma
comunidade emergem apenas da experiência dessa
mesma comunidade, razão pela qual é preciso
confiar mais na cultura social estabelecida do que
na “engenharia social” dos utilitaristas, que
supõem saber mais do que a própria história.
Contudo, nem esquerda nem direita põem em
dúvida uma das características específicas da
teoria dominante: o fato de ela rejeitar a idéia
de que os indivíduos podem ter direitos anteriores
aos direitos criados através da legislação
explícita, oponíveis ao próprio Estado. Direita e
esquerda são unânimes em condenar a teoria
dominante em razão da sua preocupação excessiva
com o destino dos indivíduos enquanto indivíduos
(é uma preocupação que eu tenho também...). A
idéia dos direitos individuais no sentido forte em
que tal idéia é defendida neste livro, não passa,
tanto para esquerda quanto para direita, de um
caso grave da doença que acomete a teoria
dominante, que seria essa busca da satisfação
pessoal dos indivíduos.
A teoria dominante rejeita essa idéia de
direitos individuais mais fortes.
De seu lado, o positivismo jurídico rejeita a
idéia de que os direitos jurídicos possam
preexistir a qualquer forma de legislação, porque,
para essa teoria, o direito decorre da legislação,
esta é sua única fonte. Noutras palavras, rejeita
a idéia de que indivíduos ou grupos possam ter, em
um processo judicial, outros direitos além
daqueles expressamente determinados pelo
ordenamento jurídico positivo (coleção de regras
explícitas que formam a totalidade do direito de
uma comunidade).
Por sua vez, o utilitarismo econômico rejeita
a idéia de que os direitos políticos possam
preexistir aos direitos jurídicos, isto é, que os
cidadãos possuam outra justificativa para criticar
uma decisão diversa da alegação de que ela não
atende ao bem-estar geral.
Com efeito, a teoria dominante se opõe à
existência de direitos naturais em razão,
principalmente, de uma idéia patrocinada por
Bentham: os direitos naturais não têm lugar em uma
metafísica empírica de respeito. Os liberais
desconfiam do ‘luxo’ ontológico e acreditam ser
uma fraqueza fundamental das várias formas de
coletivismo (críticos do individualismo) o fato de
que elas se apóiem em entidades fantasmagóricas -
como vontades coletivas ou espíritos nacionais –
e, por essa razão, eles são hostis a qualquer
teoria do direito natural que pareça basear-se em
entidades igualmente suspeitas.
Mas a idéia de direitos individuais que estes
ensaios defendem não pressupõe nenhuma forma
fantasmagórica. Na verdade, essa idéia não possui
uma natureza metafísica distinta das idéias
principais da teoria dominante do direito. Ela é,
de fato, parasitária da idéia dominante do
utilitarismo: a idéia de um objetivo coletivo da
comunidade como um todo.
Para Dworkin, os direitos individuais são
trunfos políticos que os indivíduos detêm. Quando
o objetivo comum não configura justificativa
suficiente para negar-lhes aquilo que desejam ter
ou fazer, ou quando não há uma justificativa
suficiente para lhes impor alguma perda ou dano,
os indivíduos podem lançar mão de seus direitos
individuais.
Essa caracterização de direito é formal, pois
não indica quais direitos as pessoas têm nem
garante que de fato elas tenham algum. Também não
pressupõe uma característica metafísica especial
para esses direitos. Por isso a teoria defendida
nos ensaios de Dworkin se diferencia das teorias
anteriores, que se apóiam em tal suposição. (acho
isso excessivamente formalista, pois não resguarda
qualquer substância, qualquer conteúdo aos
direitos dos indivíduos, mas vejamos o que ele vai
propor).
Para distinguir os tipos de direitos que os
indivíduos possuem, Dworkin estabelece definições
para cada tipo de direito (v. vocabulário no
capítulo que trata dos Casos Difíceis – cap. 4).
As mais importantes são as que distinguem as duas
formas de direitos políticos, quais sejam:
1) direitos preferenciais: aqueles que,
considerados abstratamente, devem prevalecer sobre
as decisões tomadas pela comunidade ou sociedade
como um todo;
2) direitos institucionais: mais específicos,
que prevalecem apenas contra decisões de uma
instituição específica do Estado.
Os direitos jurídicos seria uma das espécies
de direito político, enquadrando-se nos direitos
institucionais, por conferir o direito a uma
decisão de um órgão jurisdicional, no exercício da
função judicante.
Partindo dessas definições, o positivismo
jurídico confere aos indivíduos apenas direitos
jurídicos, criados por decisões políticas ou
práticas sociais expressas. Essa teoria é
criticada por Dworkin nos capítulos 2 e 3, que a
entende como uma teoria conceitual do direito
inadequada. O capítulo 4 sugere uma teoria
conceitual alternativa do direito, provando que os
indivíduos podem ter outros direitos jurídicos
além daqueles criados por decisão ou prática
expressa, como direitos ao reconhecimento judicial
de suas prerrogativas, mesmo nos casos difíceis,
quando não existem decisões judiciais ou práticas
sociais inequívocas, que exijam uma decisão em
favor de uma ou de outra parte, necessariamente.
De acordo com Dworkin, o capítulo 4 traz um
argumento que estabelece uma ponte entre a parte
conceitual e a parte normativa da teoria
alternativa por ele proposta. Oferece, ainda, uma
teoria normativa da decisão judicial que distingue
os argumentos de princípio dos argumentos de
política, defendendo a compatibilidade das
decisões judiciais baseadas em argumentos de
princípio com a democracia.
No capítulo 5, Dworkin aplica essa ‘teoria
normativa da atribuição judicial de direitos’ aos
casos centrais e politicamente importantes do
ajuizamento constitucional de direitos. Utiliza
sua teoria para criticar o debate entre o chamado
ATIVISMO e o chamado COMEDIMENTO em direito
constitucional, defendendo a justeza da revisão
judicial limitada a argumentos de princípio, mesmo
nos casos politicamente controversos (casos
difíceis).
No capítulo 6, Dworkin discute os fundamentos
de uma teoria dos direitos legislativos. Argumenta
(com base em Rawls e sua teoria da justiça) que
nossas intuições sobre a justiça pressupõem que as
pessoas têm direitos e que um desses direitos é o
mais fundamental e, por isso mesmo, axiomático.
Trata-se do direito à igualdade ou direito à igual
consideração e respeito (vocabulário de Dworkin
para sua teoria geral do direito, que traduz o
princípio de que as pessoas têm o direito de ser
tratadas como iguais perante a lei e que as leis
não podem ser constituídas de maneira que coloque
pessoas em desvantagem por qualquer razão
irrelevante ou arbitrária, o que seria
insultante).
Dworkin traz, ainda, uma teoria normativa da
observância à lei (capítulos 7 e 8). Assim,
examina os casos em que os direitos legislativos
dos indivíduos estão em discussão e analisa as
conseqüências que derivam do fato de se admitir
que os indivíduos têm alguns direitos legislativos
distintos de seus direitos e anteriores a estes,
sem defender qualquer conjunto específico de
direitos individuais. Assim, sua teoria não se
baseia em quaisquer pressupostos sobre a natureza
dos direitos preferenciais e legislativos que as
pessoas possuem de fato. Com isto, oferece uma
teoria de obediência à lei mesmo sob condições de
incerteza e controvérsia a propósito dos direitos
que as pessoas de fato possuem. Os casos de
incerteza e controvérsia sobre os direitos
jurídicos são analisados, abordando ainda duas
questões importantes, embora quase sempre
negligenciadas: 1ª) quais são os direitos
preferenciais e as responsabilidades de um cidadão
quando seus direitos constitucionais são incertos,
mas ele acredita sinceramente que o governo não
tem direito de forçá-lo a fazer algo que considera
errado; 2ª) quais são as responsabilidades das
autoridades públicas que acreditam que este
cidadão está errado, embora ele seja sincero em
sua convicção a respeito do que a lei estabelece.
Dworkin analisa, ainda, de que modo a
concepção de igualdade como direito à consideração
e ao respeito pode ser usada para interpretar o
princípio da igualdade perante a lei, bem como a
compatibilidade desta concepção com a prática
politicamente controversa denominada discriminação
compensatória.
Nos ensaios finais, Dworkin examina as
reivindicações antagônicas de outro direito também
considerado por muitos filósofos políticos como o
mais fundamental dos direitos políticos: o direito
à liberdade, que em geral é considerado um ‘rival’
do direito à igualdade e, às vezes, até mesmo
incompatível com este. Para Dworkin, não existe um
direito à liberdade e a própria idéia desse
direito é confusa. Considera que os indivíduos têm
direito a certas liberdades específicas, como o
direito a decisões morais pessoais, ou o direito
às liberdades descritas no Bill of Rights (nome
dado às 10 primeiras emendas à constituição
americana, promulgadas em 1791). Para Dworkin,
contudo, esses direitos são derivados do direito à
igualdade, e não de um direito mais abstrato à
liberdade enquanto tal. Daí porque conclui que o
individualismo (que valoriza as liberdades
individuais) não é um ‘inimigo’ da liberdade.
Os ensaios do livro fornecem a estrutura
central da teoria geral do direito de Dworkin.
Contudo, cada ensaio foi escrito separadamente,
embora sempre tendo em vista a construção de sua
teoria do direito.
Não faz parte dessa teoria, segundo o próprio
Dworkin, afirmar a existência de um procedimento
mecânico que revele quais direitos políticos,
preferenciais ou jurídicos um indivíduo possui. Ao
contrário, seus ensaios sempre enfatizam o fato de
que existem casos difíceis, tanto na política como
no direito, nos quais juristas criteriosos
divergirão em sua conclusão acerca dos direitos, e
nenhum deles disporá de qualquer argumento que
necessariamente se sobreponha ou convença ao outro
(podemos conviver com essa incerteza? Acho que o
ser humano sempre quer algo definitivo, uma
resposta segura e exata, que não combina com a
transitoriedade de sua existência e a complexidade
de sua vida em sociedade). Daí porque Dworkin
rejeita a posição filosófica geral de que nenhuma
proposição pode ser considerada verdadeira se não
existir um procedimento que demonstre sua
veracidade, de tal modo que qualquer pessoa
racional se convença de que é verdadeira. Para
Dworkin, quando essa filosofia se aplica a
argumentos sobre direitos, ela não funciona. Por
isso considera importante que toda teoria política
reconheça que muitas reivindicações de direitos,
inclusive algumas muito importantes, não são
demonstráveis, ocasião em que deve fornecer
princípios que orientem as decisões oficiais
quando os direitos forem controversos (e a razão
possa estar de qualquer lado).
No capítulo 12, Dworkin fornece um argumento
em favor do reconhecimento de certos direitos
preferenciais e institucionais específicos.
Contudo, os direitos ali descritos e o método
utilizado para defendê-lo não excluem outros
direitos nem outros métodos de argumentação. Sua
teoria geral do direito admite a existência de
tipos diferentes de argumentos, cada um deles
suficiente para explicar por que um objetivo
coletivo (que costuma justificar as decisões
políticas) não justifica determinada desvantagem
imposta a um indivíduo.
De todo modo, Dworkin sugere uma forma
preferencial de argumentação em favor dos direitos
políticos, que consiste na derivação de direitos
particulares a partir do direito abstrato à
igualdade (igual consideração e respeito). Tais
direitos serão fundamentais e axiomáticos. Assim,
no capítulo 6 ele demonstra que um conhecido
argumento em favor dos direitos econômicos do
grupo mais desfavorecido pode ser derivado desse
direito abstrato (é meio óbvio, até), e um
argumento diferente poderia gerar, a partir dessa
mesma fonte, os conhecidos direitos civis (também
me parece óbvio).
Para Dworkin, o direito à consideração e
respeito é mais fundamental que os outros
direitos, pois a própria idéia de um objetivo
coletivo poderia ser derivada desse direito
fundamental. Assim, ele não pode ser considerado,
como os demais direitos, como ‘trunfos’ diante dos
objetivos coletivos, pois ele é a fonte tanto da
autoridade geral dos objetivos coletivos quanto
das restrições especiais a essa autoridade,
justificando direitos mais particulares.
Para chegar a essa conclusão, é preciso
demonstrar como a mesma concepção de igual
consideração que justifica as transações
características dos objetivos econômicos coletivos
também justifica a isenção para os que mais sofrem
por causa dessas transações. Nesse ponto, é
necessária uma concepção dos níveis de
necessidade, de modo a demonstrar que, se igual
consideração justifica as transações
compensatórias das necessidades de maior urgência,
ela não permite o sacrifício dessas necessidades
de maior urgência, nem mesmo em nome de uma
satisfação mais plena de necessidades menos
urgentes. (isso também é muito óbvio, não?)
CAPÍTULO 1 – TEORIA DO DIREITO
Quando um aplicador do direito argumenta em
favor de uma causa, aconselha seus clientes ou
redige projetos de lei para atender objetivos
sociais específicos, eles se vêem diante de
problemas técnicos, pois existe um acordo geral
entre os membros de sua profissão quanto ao tipo
de argumento ou de prova que é considerado
relevante. Porém, às vezes, os problemas não são
técnicos nem há um consenso geral quanto ao modo
de proceder. Um exemplo é problema o ético, que se
revela quando um jurista se pergunta, não se uma
lei particular tem eficácia, mas se é equânime. A
controvérsia também pode redundar na discussão
sobre o que são princípios e o que significa
aplicá-los. Não há uma resposta clara para
controvérsias conceituais como essas, pois elas
extrapolam as técnicas costumeiras dos juristas na
prática do direito.
Essas questões recalcitrantes são justamente
as de que trata a teoria do direito. Contudo, o
que caracteriza essas questões controversas é
justamente o fato de não haver acordo a respeito
da natureza, do tipo de controvérsia que elas são
e de quais técnicas de estudo elas exigem. Por
esta razão, os cursos de teoria do direito variam
extremamente no tocante aos métodos que empregam.
E o método escolhido influencia a própria escolha
dos temas particulares que serão objeto de análise
– embora essa escolha também seja influenciada por
modismos intelectuais e assuntos de interesse
público.
MUITO INTERESSANTE!
Exemplo: até pouco tempo atrás, ninguém
estudava a questão de saber se os homens têm a
obrigação moral de obedecer à lei, tema hoje em
lugar proeminente nos cursos de teoria geral do
direito.
Até recentemente, a teoria do direito
privilegiava uma ‘abordagem profissional” – ou
seja, as questões problemáticas, impassíveis de
exame através das técnicas jurídicas comuns, eram
analisadas apenas nos aspectos que podiam ser
resolvidos com tais técnicas, ignorando o resto.
Essa abordagem profissional significa que, numa
dada questão ou caso concreto, os juristas são
treinados para 1) analisar as leis escritas e
decisões judiciais, daí extraindo uma doutrina
jurídica; 2) analisar as situações factuais
complexas e resumir os fatos essenciais; 3) pensar
de modo ‘tático’, para o fim de conceber leis e
instituições jurídicas que produzirão as mudanças
sociais específicas, anteriormente decididas
(raciocínio por indução?). Essa abordagem
profissional pretendia ser uma ‘evolução’ da
‘doutrina legal’, mas produziu apenas uma ilusão
de progresso, por deixar intocadas as questões de
princípio que existem no direito, estas sim
genuinamente importantes, para Dworkin.
Com efeito, em meados do século XX, a teoria
do direito era ensinada, na Inglaterra, a partir
de manuais como Salmon on Jurisprudence ou Paton
on Jurisprudence. A maior parte desses textos
dedicava-se ao que denominavam teoria analítica do
direito, cuidadosamente separada e distinta da
‘teoria ética do direito’ – que trataria do estudo
do que deve ser o direito.
Por teoria analítica do direito entendia-se a
elaboração cuidadosa do significado de
determinados termos (como ‘infração legal’,
‘posse’, ‘propriedade’, ‘negligência’, ‘lei’),
considerados fundamentais para o Direito, e não
apenas para este ou aquele ramo da doutrina
jurídica. Esses conceitos são problemáticos, pois
os aplicadores do direito os empregam mesmo sem
conhecer ou considerar seu real e exato
significado.
Os manuais ingleses, usados no estudo da
Teoria do Direito, estudavam esses conceitos não
pela elucidação do seu sentido na linguagem comum,
ordinária, mas sim utilizando de métodos
doutrinários convencionais (como a jurisprudência
e as leis escritas) que revelariam seu significado
especificamente jurídico. Assim, estudavam os
votos e pareceres dos juízes e estudiosos e deles
extraíam sínteses das regras e doutrinas jurídicas
em que esses “conceitos problemáticos”
apareceriam. Contudo, não estabeleciam a relação
dessas regras com os múltiplos juízos não-
jurídicos, conclusões que o leigo tira sobre o que
sejam infrações legais, posse, etc.
Contudo, se refletirmos por que se debate
tanto sobre esses conceitos, veremos que essa
ênfase na análise jurídica dos mesmos não tem
qualquer razão de ser! Com efeito, a preocupação
com o conceito, por exemplo, de infração legal,
não se dá por desconhecimento de como os tribunais
empregam esse termo, ou de quais sejam as regras
que determinam quais são as infrações legais, mas
sim para analisar as leis (criticando-as ou
justificando-as), com base em um conceito não
jurídico de infração penal. O jurista acredita que
é moralmente errado punir alguém por infração que
não deveria existir e, por isso, deseja saber se a
lei ofende esse princípio moral ao considerar, por
exemplo, um empregador responsável por aquilo que
seu empregado faz, ou ao considerar um motorista
negligente responsável (culposamente) pela morte
de um homem que atropelou, embora a lesão causada
tenha sido leve e a vítima só tenha morrido por
ser hemofílica. Embora conheça muito bem esses
fatos da doutrina jurídica, o jurista não sabe ao
certo se esses fatos colidem com o princípio que
os rege. Indaga-se, sem saber ao certo a resposta:
o erro atribuído a um homem, por fato cometido por
outra pessoa sob sua responsabilidade, é (pode ser
considerado) uma lesão a um direito? E quando o
dano resultante de um ato não era previsível, há a
prática de uma infração? Essas questões dependem
de uma análise do conceito moral de infração, e
não do conceito legal, que o jurista já
compreende. Contudo, a abordagem doutrinária da
teoria do direito sempre se debruçou sobre o
conceito legal, e não sobre o uso moral do
conceito, que sempre foi ignorado pelos manuais
ingleses de teoria do direito.
Nos Estados Unidos, o estudo da teoria do
direito tem antecedentes ainda mais complexos. A
teoria norte-americana do direito dedicou-se, em
grande parte, a um tema que a teoria inglesa
negligenciava: como os tribunais decidem as ações
judiciais difíceis ou controversas? Com efeito, os
tribunais dos Estados Unidos desempenharam um
papel mais amplo que os tribunais ingleses na
reformatação e adaptação do direito do século XIX
às necessidades da industrialização. Por sua vez,
a Constituição dos Estados Unidos transformou em
jurídicos problemas que, na Inglaterra, eram
apenas políticos. Por exemplo, enquanto na
Inglaterra a legislação sobre salários era um
problema político, nos Estados Unidos era também
um tema constitucional. Com isto, o espectro de
atuação dos tribunais era maior, tornando
necessário o estudo das decisões por eles tomadas
e sua justificação jurídica, se possível. Esse
estudo era ainda mais urgente e necessário quando
os tribunais pareciam estar criando direito novo
e, pior, politicamente controverso, em vez de
simplesmente dizer o direito, aplicar o direito,
conforme exigia a teoria jurídica ortodoxa.
No início do século XX, JOHN GRAY e, depois,
OLIVER WENDELL HOLMES publicaram estudos céticos
sobre o processo judicial, desmascarando a
doutrina ortodoxa, segundo a qual os juízes
deveriam apenas aplicar as regras existentes, sem
criar direitos novos. Essa abordagem cética
cresceu nos anos 20 e 30, transformando-se no
poderoso movimento intelectual chamado realismo
legal, segundo o qual a teoria ortodoxa fracassara
por ter tentado descrever o que os juízes fazem
concentrando-se, apenas, nas regras que eles
MENCIONAM nas suas decisões, o que seria um erro,
pois, na verdade, os juízes tomam suas decisões de
acordo com suas próprias preferências políticas ou
morais e, então, escolhem uma regra jurídica
apropriada como uma racionalização. Os realistas
exigiam uma abordagem ‘científica’ que se fixasse
naquilo que os juízes fazem - e não no que eles
dizem fazer - e no real impacto que suas decisões
têm sobre a comunidade mais ampla.
Assim, a linha principal da teoria do direito
norte-americana seguiu essa exigência de realismo
e evitou a abordagem doutrinária dos textos
ingleses. Enfatizou, assim, a os fatos (sua
reunião e organização pelos juristas) e as táticas
para a mudança social.
A ênfase nos fatos se transformou no que
Roscoe Pound, de Harvard, chamou de “teoria
sociológica do direito”, entendida como um estudo
criterioso das instituições jurídicas como
processos sociais. Assim, essa teoria entendia o
juiz não como um oráculo de doutrina, mas como um
ser humano que responde a diferentes tipos de
estímulos sociais e pessoais. Embora alguns
juristas, como Jerome Frank e o próprio Pound,
tenham tentado realizar esse estudo dos resultados
dos processos sociais, depararam-se com as
dificuldades de se descrever instituições
complexas de um modo que não seja introspectivo ou
limitado, especialmente por causa da ausência de
material estatístico necessário para tanto. Com
isso, a teoria sociológica do direito se tornou
domínio dos sociólogos.
Já a ênfase nas táticas teve um efeito mais
duradouro nas faculdades de direito, especialmente
em Yale (Myres McDougal e Harold Lasswell) e em
Harvard (Lon L. Fuller, Henry Hart e Albert
Sachs). Todos eles insistiram (cada um a seu modo)
na importância de se considerar o direito como um
instrumento capaz de conduzir a certos objetivos
amplos e tentaram responder, instrumentalmente, a
questões relativas ao processo judicial,
perguntando quais soluções melhor promoveriam
aqueles objetivos.
Contudo, para Dworkin, tanto a ênfase nos
fatos como a ênfase nas táticas (estratégias)
distorceram a teoria do direito tal qual a
abordagem doutrinária inglesa o fizera, pois
também eliminaram as questões relacionadas com
princípios morais, que formam o núcleo do direito.
Com efeito, percebe-se essa distorção quando
examinamos o problema central que sociólogos e
instrumentalistas debateram: saber se os juízes
sempre seguem regras, mesmo em casos difíceis e
politicamente controversos, ou se, algumas vezes,
eles criam novas regras e as aplicam
retroativamente.
Para Dworkin, essa discussão só se coloca
porque os debatedores não sabem com clareza o que
significa ‘seguir regras’. Nos casos fáceis (por
exemplo, acusar alguém de dirigir em velocidade
maior do que a permitida na via), fica claro que o
juiz está aplicando uma regra preexistente. Mas e
quando a Suprema Corte derruba um precedente e
ordena que as escolas sejam dessegregadas ou
declara ilegais procedimentos que a polícia vinha
adotando há décadas, sempre com a tolerância dos
tribunais? Nesses casos “dramáticos”, a Suprema
Corte costuma fundamentar suas decisões em
princípios de justiça e de políticas públicas, sem
citar leis escritas. Isso significa que a Suprema
Corte está, ainda assim, seguindo regras, mas de
natureza mais geral e abstrata? Se for assim, de
onde provêm essas regras abstratas e o que as
torna válidas? Isto significa que a Corte está
decidindo o caso de acordo com suas próprias
crenças morais e políticas?
Essas perguntas têm por base a consciência de
que os juízes detêm um grande poder político e da
preocupação em saber se esse poder é justificado.
Mesmo não estando persuadidos de que os juízes que
“criam novas regras” estejam agindo de maneira
imprópria, deseja-se saber até que ponto a
justificativa para o poder dos juízes – que, nos
casos fáceis, assenta no fato de que eles aplicam
normas já estabelecidas – estende-se também aos
casos difíceis. Além disso, deseja-se saber quanta
e que tipo de justificação suplementar é exigida
por esses casos difíceis.
Essa questão da justificação tem ramificações
importantes, pois afeta a extensão da autoridade
judicial e ainda a extensão da obrigação moral e
política do indivíduo de obedecer à lei criada
pelo juiz. Afeta, igualmente, os fundamentos com
base nos quais podemos contestar uma decisão
controversa. Embora seja certo que o juiz deve
seguir os padrões já existentes também nos casos
difíceis, isso não afasta, por exemplo, o
argumento da ‘reserva de consciência’, que vê um
erro jurídico na decisão que considera
constitucional o serviço militar obrigatório.
Ocorre que, se o juiz só pode criar lei nova nos
casos difíceis/juridicamente controversos, essa
alegação não faria sentido. Assim, é muito
importante definir o conceito de ‘seguir regras’,
até mesmo para efeitos práticos.
Como se nota, a controvérsia se refere a
princípios morais. Com efeito, os teóricos do
direito trabalham com a idéia de que uma decisão
judicial é mais equânime quando ela representa a
aplicação de padrões estabelecidos, em vez da
imposição de novos padrões. Por isso, o que a
teoria do direito deve responder é “o que
significa seguir/aplicar regras” e saber se os
juízes, pelo menos em algum sentido, seguem regras
nos casos inusitados. A teoria do direito deveria
responder a essa preocupação explorando a natureza
da argumentação moral, tentando esclarecer o
princípio de equidade, para ver se a prática
judicial realmente satisfaz esse princípio.
Os juristas não precisam de provas de que os
juízes divergem e que suas decisões, com
freqüência, refletem sua formação e seu
temperamento. Contudo, não sabem se isso significa
que os juízes divergem no tocante à natureza dos
princípios jurídicos fundamentais e ao seu núcleo
ou se, ao contrário, isso demonstra que não
existem tais princípios. Os juristas também não
têm certeza se, em qualquer das alternativas, o
fato da divergência deve ser lamentado, aceito
como inevitável ou aplaudido como dinâmico
Anda mungkin juga menyukai
- Teoria dos Direitos FundamentaisDokumen10 halamanTeoria dos Direitos FundamentaisThalita FerreiraBelum ada peringkat
- A teoria compreensiva de Robert Alexy: a Proposta do TrialismoDari EverandA teoria compreensiva de Robert Alexy: a Proposta do TrialismoBelum ada peringkat
- Igual consideração e respeito, independência ética e liberdade de expressão em Dworkin: é possível reconciliar igualdade, liberdade e o discurso do ódio em um ordenamento coerente de princípios?Dari EverandIgual consideração e respeito, independência ética e liberdade de expressão em Dworkin: é possível reconciliar igualdade, liberdade e o discurso do ódio em um ordenamento coerente de princípios?Belum ada peringkat
- A legitimidade na ponderação dos direitos fundamentaisDari EverandA legitimidade na ponderação dos direitos fundamentaisBelum ada peringkat
- Direitos Fundamentais, Jurisdição, Proporcionalidade e ArgumentaçãoDari EverandDireitos Fundamentais, Jurisdição, Proporcionalidade e ArgumentaçãoBelum ada peringkat
- O STF e a prisão em segunda instância: contradições da suprema corte nos julgamentos sobre a presunção de inocênciaDari EverandO STF e a prisão em segunda instância: contradições da suprema corte nos julgamentos sobre a presunção de inocênciaBelum ada peringkat
- Resennha Levando Os Direitos A SérioDokumen4 halamanResennha Levando Os Direitos A SériocarolinefsferriBelum ada peringkat
- ARTIGO - DWORKIN, Ronald. Levando Os Direitos À SérioDokumen14 halamanARTIGO - DWORKIN, Ronald. Levando Os Direitos À SérioAlexsandro GuimarãesBelum ada peringkat
- Fichamento AlexyDokumen12 halamanFichamento AlexyRaique LucasBelum ada peringkat
- Dworkin sobre desobediência civil e direitos individuaisDokumen4 halamanDworkin sobre desobediência civil e direitos individuaisweldsonfBelum ada peringkat
- Fichamento Habermas Direito e DemocraciaDokumen40 halamanFichamento Habermas Direito e DemocraciaSimone MatosBelum ada peringkat
- Marcos Nobre - Apontamentos Sobre A Pesquisa em Direito No BrasilDokumen19 halamanMarcos Nobre - Apontamentos Sobre A Pesquisa em Direito No BrasilLolPimBelum ada peringkat
- Teoria dos Direitos Fundamentais e a Estrutura de NormasDokumen17 halamanTeoria dos Direitos Fundamentais e a Estrutura de NormasMaximusmarcellus Maximusmarcellus100% (1)
- Resenha Ronald DworkinDokumen20 halamanResenha Ronald DworkinJose Francisco Lopes XarãoBelum ada peringkat
- Ensaio Sobre DworkinDokumen20 halamanEnsaio Sobre Dworkinxanoca13100% (2)
- Resenha - Teoria Dos Direitos Fundamentais - AlexyDokumen14 halamanResenha - Teoria Dos Direitos Fundamentais - AlexyIzabela PatriotaBelum ada peringkat
- Do Positivismo Jurídico À Teoria Crítica Do DireitoDokumen14 halamanDo Positivismo Jurídico À Teoria Crítica Do DireitoErick RolimBelum ada peringkat
- Das transformações do positivismo jurídico de Kelsen a HartDokumen13 halamanDas transformações do positivismo jurídico de Kelsen a HartJosé Anselmo de Carvalho JúniorBelum ada peringkat
- Resumo do livro Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro de Nilo BatistaDokumen7 halamanResumo do livro Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro de Nilo BatistaCamila MiottoBelum ada peringkat
- BARROSO, Luis Roberto. A Razão Sem VotoDokumen30 halamanBARROSO, Luis Roberto. A Razão Sem VotoJoilza LeitãoBelum ada peringkat
- Defensoria Pública e o acesso à justiçaDokumen105 halamanDefensoria Pública e o acesso à justiçaEduarda AbreuBelum ada peringkat
- KELSEN, Hans. Teoria Pura Do DireitoDokumen7 halamanKELSEN, Hans. Teoria Pura Do Direitoisabelamaiareboucas100% (1)
- Resenha Do Livro Mitologias Jurídicas Da Modernidade - Paolo GrossiDokumen9 halamanResenha Do Livro Mitologias Jurídicas Da Modernidade - Paolo GrossiEduardo Moretti100% (2)
- Fichamento - Teoria Dos Direitos Fundamentos - Robert AlexyDokumen12 halamanFichamento - Teoria Dos Direitos Fundamentos - Robert Alexymsilva_82250867% (3)
- Dworkin - Teoria InterpretativaDokumen28 halamanDworkin - Teoria InterpretativaAngledy SousaBelum ada peringkat
- Slide de HabermasDokumen12 halamanSlide de HabermasLevi SupeepBelum ada peringkat
- Direitos Fundamentais e Argumentação JurídicaDokumen31 halamanDireitos Fundamentais e Argumentação JurídicaGervano Nascimento100% (1)
- Direitos Fundamentais e Eficácia PrincipiológicaDokumen6 halamanDireitos Fundamentais e Eficácia PrincipiológicaVanessa ToledoBelum ada peringkat
- O Ativismo Judicial Por Meio de Súmulas Vinculantes. Uma Análise Acerca Dos Paradoxos Da Separação de Poderes Na Atualidade - Direito e DemocraciaDokumen13 halamanO Ativismo Judicial Por Meio de Súmulas Vinculantes. Uma Análise Acerca Dos Paradoxos Da Separação de Poderes Na Atualidade - Direito e DemocraciaMichael Procopio AvelarBelum ada peringkat
- Cademartori, Luiz Henrique - O Regime Juridico Brasileiro Dos Bens PublicosDokumen18 halamanCademartori, Luiz Henrique - O Regime Juridico Brasileiro Dos Bens PublicosalessandropgeBelum ada peringkat
- Análise da teoria da maximização de riquezas de Richard Posner aplicada aos Juizados EspeciaisDokumen2 halamanAnálise da teoria da maximização de riquezas de Richard Posner aplicada aos Juizados EspeciaisJohn Wolf100% (1)
- Legitimação Pelo Procediment LuhmannDokumen106 halamanLegitimação Pelo Procediment LuhmannMichelle HoskemBelum ada peringkat
- Regras x Princípios: Distinção e FunçõesDokumen3 halamanRegras x Princípios: Distinção e FunçõesBurg NetoBelum ada peringkat
- Do constitucionalismo ao transconstitucionalismoDokumen135 halamanDo constitucionalismo ao transconstitucionalismoConstituição Cidadã100% (1)
- Neoconstitucionalismo - Daniel SarmentoDokumen41 halamanNeoconstitucionalismo - Daniel SarmentoYvone Abreu100% (1)
- Dois Tratados de Locke sobre GovernoDokumen2 halamanDois Tratados de Locke sobre GovernoSyntyalayny da silva lucenaBelum ada peringkat
- Fundamentos doutrinários da ciência jurídicaDokumen4 halamanFundamentos doutrinários da ciência jurídicaAnne MendesBelum ada peringkat
- Teoria Pura do Direito de KelsenDokumen23 halamanTeoria Pura do Direito de KelsenJaqueline AlmeidaBelum ada peringkat
- Distintas visões sobre a discricionariedade judicialDokumen17 halamanDistintas visões sobre a discricionariedade judicialIsadoraBelum ada peringkat
- Resumo FoucaultDokumen8 halamanResumo Foucaultbrunascarpari100% (1)
- Dworkin e Posner Debate ...Dokumen9 halamanDworkin e Posner Debate ...laats100% (1)
- Introdução A Teoria Geral Do EstadoDokumen8 halamanIntrodução A Teoria Geral Do EstadoAlland SullivanBelum ada peringkat
- 2019.07.02 - Dimitri Dimoulis - Positivismo JurídicoDokumen20 halaman2019.07.02 - Dimitri Dimoulis - Positivismo Jurídicojulia farah scholzBelum ada peringkat
- Princípios Da Interpretação ConstitucionalDokumen3 halamanPrincípios Da Interpretação ConstitucionalKarol ValeBelum ada peringkat
- Ata Audiencia de Instrucao - Responsabilidade CivilDokumen12 halamanAta Audiencia de Instrucao - Responsabilidade CivilDanielNogueiraBelum ada peringkat
- Questões humanísticas e noções de direitoDokumen60 halamanQuestões humanísticas e noções de direitoglauciane184100% (2)
- Estado, Jurisdição e Garantias na Idade MédiaDokumen14 halamanEstado, Jurisdição e Garantias na Idade MédiaAndreBelum ada peringkat
- Fichamento de Leitura - Wolkmer - Introdução Ao Pensamento Jurídico CríticoDokumen6 halamanFichamento de Leitura - Wolkmer - Introdução Ao Pensamento Jurídico CríticoeduardosensBelum ada peringkat
- Acesso À Justiça - Um Olhar Retrospectivo (Artigo) - Eliane B. JunqueiraDokumen15 halamanAcesso À Justiça - Um Olhar Retrospectivo (Artigo) - Eliane B. JunqueiraLucas PoianasBelum ada peringkat
- O Principio Da Seguranca Juridica No Dir PDFDokumen32 halamanO Principio Da Seguranca Juridica No Dir PDFTiago MeloBelum ada peringkat
- O Estado de Direito Entre o Passado e o FuturoDokumen25 halamanO Estado de Direito Entre o Passado e o FuturoJoralvesprof Jorge Alves Junior82% (11)
- VocabDurk PDFDokumen26 halamanVocabDurk PDFKarla KolbeBelum ada peringkat
- Distinção Das Teorias de Alexy e DworkinDokumen5 halamanDistinção Das Teorias de Alexy e DworkinalasilvaadvBelum ada peringkat
- Juízes pensam política na decisão de casosDokumen8 halamanJuízes pensam política na decisão de casosDavid SalomãoBelum ada peringkat
- DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO PRIVADO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A VINCULAÇÃO DOS PARTICULARESDokumen50 halamanDIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO PRIVADO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A VINCULAÇÃO DOS PARTICULARESsergioqueiroz100% (1)
- Sistema Eleitoral BrasileiroDokumen3 halamanSistema Eleitoral BrasileiroRafael Montanaro0% (1)
- Princípio Da Separação de Poderes em Corrente TripartiteDokumen16 halamanPrincípio Da Separação de Poderes em Corrente TripartiteRodrigo UbalBelum ada peringkat
- A Eficácia Horizontal Dos Direitos FundamentaisDokumen6 halamanA Eficácia Horizontal Dos Direitos FundamentaismaitetostaBelum ada peringkat
- Direitos Fundamentais Ingo W SarletDokumen11 halamanDireitos Fundamentais Ingo W SarletJunio Barreto100% (1)
- Judicialização da política e ativismo judicial: notas para uma necessária diferenciaçãoDokumen22 halamanJudicialização da política e ativismo judicial: notas para uma necessária diferenciaçãoMileneBelum ada peringkat
- Magistraturas em Roma PDFDokumen21 halamanMagistraturas em Roma PDFJooLs.Belum ada peringkat
- Estudo Na Carta de TiagoDokumen12 halamanEstudo Na Carta de TiagoSergio Luiz CorreaBelum ada peringkat
- Contrato de locação residencial modeloDokumen4 halamanContrato de locação residencial modeloalbertcarlos376781Belum ada peringkat
- O Depoimento Sem Dano e A "Romeo and Juliet Law".Dokumen3 halamanO Depoimento Sem Dano e A "Romeo and Juliet Law".nevesluanaBelum ada peringkat
- Estatuto da Ordem dos Advogados de MoçambiqueDokumen29 halamanEstatuto da Ordem dos Advogados de MoçambiqueSuraia SulahaBelum ada peringkat
- Apostila Resumo de Direito Constitucional para ConcursoDokumen8 halamanApostila Resumo de Direito Constitucional para ConcursoHudson OliveiraBelum ada peringkat
- Processo de arrecadação da herança jacenteDokumen10 halamanProcesso de arrecadação da herança jacentecelianabgBelum ada peringkat
- USP Direito Romano II PDFDokumen2 halamanUSP Direito Romano II PDFJoão PedroBelum ada peringkat
- Portaria N Comlurb #001 de 05 de Janeiro de 2023Dokumen4 halamanPortaria N Comlurb #001 de 05 de Janeiro de 2023Gustavo PuppiBelum ada peringkat
- 197 - 3 Revista JurisprudênciaDokumen400 halaman197 - 3 Revista JurisprudênciaMarcel SanchezBelum ada peringkat
- Voto STJDokumen15 halamanVoto STJManoela AlcantaraBelum ada peringkat
- Gabarito 2a Fase OAB-SP 2014Dokumen12 halamanGabarito 2a Fase OAB-SP 2014Ale FonsecaBelum ada peringkat
- Max Weber e A História Do DireitoDokumen56 halamanMax Weber e A História Do DireitoAlexBelum ada peringkat
- Regiões Integradas de Segurança Pública na BahiaDokumen3 halamanRegiões Integradas de Segurança Pública na BahiaArnaldo Santos Gomes100% (1)
- Recurso Especial para Justica GratuitaDokumen19 halamanRecurso Especial para Justica GratuitaZenara DomingosBelum ada peringkat
- Contrato Investimento ImobiliárioDokumen6 halamanContrato Investimento ImobiliárioLetícia Gastardelo AngeleliBelum ada peringkat
- Ação de Reconhecimento e Dissolução de Uniao Estável AlimentosDokumen15 halamanAção de Reconhecimento e Dissolução de Uniao Estável AlimentosHanna MarquesBelum ada peringkat
- União de facto na ação executivaDokumen154 halamanUnião de facto na ação executivaCarinaBelum ada peringkat
- Resumao Direito Penal Policial - 220824 - 211333Dokumen39 halamanResumao Direito Penal Policial - 220824 - 211333Fabiano Souza100% (2)
- Direitos Humanos e CidadaniaDokumen4 halamanDireitos Humanos e CidadaniaAlva TrindadeBelum ada peringkat
- Funcionalismo Redutor de Zaffaroni - Luís Augusto BrodtDokumen8 halamanFuncionalismo Redutor de Zaffaroni - Luís Augusto BrodtCarlos Leal Daniela FurtadoBelum ada peringkat
- Do MPSC 2010-10-21ligação03191918800Dokumen13 halamanDo MPSC 2010-10-21ligação03191918800Wexlei SilveiraBelum ada peringkat
- 1 Prova Prática Forense - RogériaDokumen1 halaman1 Prova Prática Forense - RogériaRenato GuerraBelum ada peringkat
- Etica Profissional XXXXXXXXXXDokumen80 halamanEtica Profissional XXXXXXXXXXrosangelaBelum ada peringkat
- Seminário I - Isenção e RmitDokumen6 halamanSeminário I - Isenção e RmitElisa MoraesBelum ada peringkat
- Reconcilia-te com teu adversário internoDokumen94 halamanReconcilia-te com teu adversário internoAntonia Mara NevesBelum ada peringkat
- Testamentos: formas, requisitos e tiposDokumen58 halamanTestamentos: formas, requisitos e tiposAdriano PaesBelum ada peringkat
- Ação Dano MoralDokumen6 halamanAção Dano MoralcristinaBelum ada peringkat
- Esclarecimentos PR 20437.2021Dokumen3 halamanEsclarecimentos PR 20437.2021Gabriela GaspariBelum ada peringkat
- Separacao de Corpos Dynair Veronica Da ConceicaoDokumen7 halamanSeparacao de Corpos Dynair Veronica Da ConceicaoAparecida AparecidaBelum ada peringkat