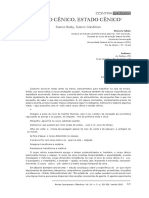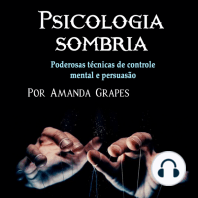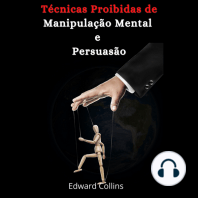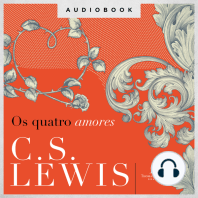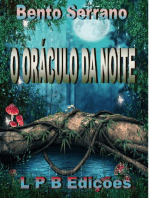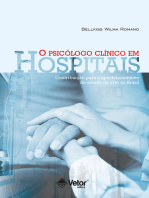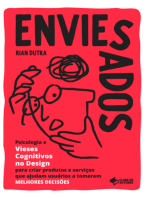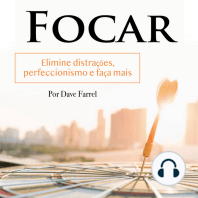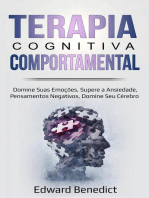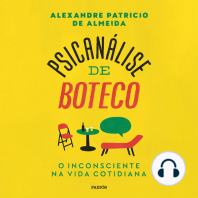Andre Bazin - A Ontologia Da Imagem Fotográfica
Diunggah oleh
joanammendes0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1K tayangan6 halamanJudul Asli
Andre Bazin - A ontologia da imagem fotográfica
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1K tayangan6 halamanAndre Bazin - A Ontologia Da Imagem Fotográfica
Diunggah oleh
joanammendesHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 6
ONTOLOGIA DA IMAGEM FOTOGRÁFICA
André Bazin*
Uma psicanálise das artes plásticas poderia considerar a prática
do embalsamamento como um facto fundamental da sua génese.
Na origem da pintura e da escultura encontraria o «complexo» da
múmia. A religião egípcia, toda ela orientada para a morte, fazia
depender a sobrevivência da perenidade material do corpo. Com
isso, satisfazia uma necessidade fundamental da psicologia
humana: a defesa contra o tempo. A morte não é senão a vitória
do tempo. Fixar artificialmente as aparências carnais do ser é
arrancá-lo ao rio da duração: arrumá-lo na vida. Era natural
salvar estas aparências na própria realidade do morto, na sua
carne e nos seus ossos. A primeira estátua egípcia é a múmia do
homem curtido e petrificado no natrão. Mas as pirâmides e os
labirintos dos corredores não eram garantia suficiente contra a
eventual violação do sepulcro; era preciso ainda tomar outras
providências contra o acaso, multiplicar as hipóteses de
salvaguarda. Assim, colocavam-se perto do sarcófago, junto com
o trigo destinado à alimentação do morto, estatuetas de
terracota, espécies de múmias sobressalentes capazes de
substituírem o corpo no caso de este ser destruído. Deste modo
se revela, nas origens religiosas da estatuária, a sua função
primordial: salvar o ser pela aparência. E sem dúvida se pode
considerar um outro aspecto do mesmo projecto, tomado na sua
modalidade activa, o urso de argila crivado de flechas na caverna
pré-histórica, substituto mágico identificado ao animal vivo para
a eficácia da caça.
É ponto assente que a evolução paralela da arte e da civilização
destituiu as artes plásticas destas funções mágicas (Luís XIV não
se fez embalsamar: contentou-se com o seu retrato, pintado por
Lebrun). Mas esta evolução não podia senão sublimar, em nome
do pensamento lógico, essa necessidade incoercível de exorcizar
o tempo. Não se acredita já na identidade ontológica de modelo e
retrato, mas admite-se que este nos ajuda a recordar aquele e,
portanto, a salvá-lo de uma segunda morte espiritual. A
fabricação da imagem libertou-se decididamente de qualquer
utilitarismo antropocêntrico. Não se trata já da sobrevivência do
homem, mas, de forma mais geral, da criação de um universo
ideal à imagem do real e dotado de um destino temporal
autónomo. «Que coisa vã a pintura» se por trás da nossa
admiração absurda não se descortinar a necessidade primitiva de
resistir ao tempo pela perenidade da forma! Se a história das
artes plásticas não é somente a da sua estética, mas em primeiro
lugar a da sua psicologia, então ela é essencialmente a da
semelhança, ou, se se quiser, do realismo.
A fotografia e o cinema, enquadrados por estas perspectivas
sociológicas, explicariam muito naturalmente a grande crise
espiritual e técnica da pintura moderna que se origina em
meados do século XIX. No seu artigo «Verve», André Malraux
escrevia que «o cinema não é senão o aspecto mais evoluído do
realismo plástico que começa com o Renascimento e encontra a
sua expressão limite na pintura barroca».
É verdade que a pintura universal alcançara diferentes tipos de
equilíbrio entre o simbolismo e o realismo das formas, mas, no
século XV, a pintura ocidental começou a desviar-se da
preocupação primordial com a realidade espiritual expressa por
meios autónomos, para combinar a sua expressão com a
imitação mais ou menos completa do mundo exterior. O
acontecimento decisivo foi sem dúvida a invenção do primeiro
sistema científico e, de certo modo, já mecânico: a perspectiva
(a câmara escura de Da Vinci prefigurava a de Niépce). Esta
permitia ao artista conferir a ilusão de um espaço a três
dimensões onde os objectos se pudessem situar como na nossa
percepção directa.
Daí em diante a pintura viu-se esquartejada entre duas
aspirações: uma propriamente estética — a expressão das
realidades espirituais em que o modelo se encontra transcendido
pelo simbolismo das formas —, e outra que não é senão um
desejo puramente psicológico de substituir o mundo exterior pelo
seu duplo. Esta necessidade de ilusão, ao desenvolver-se tão
rapidamente, em função da sua própria satisfação, devorou
pouco a pouco as artes plásticas. No entanto, não tendo a
perspectiva resolvido senão o problema das formas e não o do
movimento, era natural que o realismo se prolongasse na
procura da expressão dramática do instante, espécie de quarta
dimensão psíquica capaz de sugerir a vida na imobilidade
torturada da arte barroca .
Certamente que os grandes artistas sempre conseguiram a
síntese dessas duas tendências: hierarquizaram-nas, dominando
a realidade e absorvendo-a na arte. Acontece, porém, que nos
encontramos em presença de dois fenómenos essencialmente
diferentes, que uma crítica objectiva deve saber dissociar para
compreender a evolução pictórica. A necessidade de ilusão não
cessou, a partir do século XVI, de trabalhar interiormente a
pintura. Necessidade totalmente mental, em si mesma não
estética, cuja origem só se pode ir buscar à mentalidade mágica,
mas necessidade eficaz, cuja atracção desorganizou
profundamente o equilíbrio das artes plásticas.
A querela do realismo na arte provém deste mal entendido, da
confusão entre a estética e o psicológico, entre o verdadeiro
realismo, que resulta da necessidade de exprimir a significação
simultaneamente concreta e essencial do mundo, e o pseudo-
realismo de aparência enganosa (ou do engano do espírito), que
se contenta com a ilusão das formas . E é por isso que a arte
medieval, por exemplo, parece não sofrer tal conflito:
violentamente realista e altamente espiritual ao mesmo tempo,
ignora o drama que as possibilidades técnicas vieram revelar. A
perspectiva foi o pecado original da pintura ocidental.
Niépce e Lumière foram os seus redentores. A fotografia, ao
redimir o barroco, libertou as artes plásticas da sua obsessão
pela semelhança. Isto porque a pintura se esforçava, em vão,
por nos dar a ilusão, e esta ilusão bastava à arte, enquanto a
fotografia e o cinema são descobertas que satisfazem
definitivamente, e na sua própria essência, a obsessão de
realismo. Por mais hábil que fosse o pintor, a sua obra estava
sempre hipotecada por uma inevitável subjectividade. Diante da
imagem uma dúvida persistia, por causa da presença do homem.
Assim, o fenómeno essencial na passagem da pintura barroca à
fotografia não reside no mero aperfeiçoamento material (a
fotografia ainda continuaria por muito tempo inferior à pintura na
imitação das cores), mas num facto psicológico: a satisfação
completa do nosso apetite de ilusão por uma reprodução
mecânica da qual o homem é excluído. A solução não estava no
resultado, mas na génese .
É por isso que o conflito entre estilo e semelhança é um
fenómeno relativamente moderno, cujos vestígios não se
poderiam encontrar antes da invenção da chapa sensível. Vê-se
bem que a objectividade fascinante de Chardin nada tem a ver
com a do fotógrafo. É no século XIX que começa
verdadeiramente a crise do realismo, da qual Picasso é hoje o
mito, que irá pôr em causa ao mesmo tempo as condições de
existência formal das artes plásticas e os seus fundamentos
sociológicos. Liberta do complexo de semelhança, a pintura
moderna abandona-a ao povo , que passa a identificá-la, daí em
diante, por um lado com a fotografia, e por outro com a única
pintura que lhe é dedicada.
A originalidade da fotografia em relação à pintura reside, pois, na
sua objectividade essencial. Tanto é que se chama precisamente
«objectiva» ao conjunto de lentes que constitui o olho fotográfico
em substituição ao olho humano. Pela primeira vez, entre o
objecto inicial e sua representação nada se interpõe a não ser um
outro objecto. Pela primeira vez também, uma imagem do
mundo exterior se forma automaticamente, sem a intervenção
criadora do homem, segundo um rigoroso determinismo. A
personalidade do fotógrafo só entra em jogo pela escolha, pela
orientação, pela pedagogia do fenómeno: por muito visível que
esteja na obra final, não figura nela na mesma qualidade que a
do pintor. Todas as artes são fundadas na presença do homem;
somente na fotografia usufruímos da sua ausência. Ela age sobre
nós como um fenómeno «natural», como uma flor ou um floco de
neve cuja beleza é inseparável de sua origem vegetal ou telúrica.
Esta génese automática subverteu radicalmente a psicologia da
imagem. A objectividade da fotografia confere-lhe um poder de
credibilidade que está ausente de qualquer obra pictórica. Sejam
quais forem as objecções do nosso espírito crítico, somos
obrigados a acreditar na existência do objecto representado,
efectivamente «re-presentado», isto é, tornado presente no
tempo e no espaço. A fotografia beneficia de uma transferência
de realidade da coisa para a sua reprodução . O mais fiel
desenho pode fornecer-nos mais indícios acerca do modelo, mas
não possuirá nunca, a despeito do nosso espírito crítico, o poder
irracional da fotografia que domina a nossa convicção.
A pintura também já não é senão uma técnica inferior da
semelhança, um sucedâneo dos processos de reprodução. Só a
objectiva nos dá do objecto uma imagem capaz de «libertar», do
fundo do nosso inconsciente, esta necessidade de substituir um
objecto por algo melhor do que um decalque aproximado: o
próprio objecto, mas liberto das contingências temporais. A
imagem pode ser nebulosa, deformada, sem cores, sem valor
documental; mas ela procede pela sua génese da ontologia do
modelo — ela é o modelo. Daí o encanto das fotografias de
álbuns. Essas sombras cinzentas ou sépias, fantasmagóricas,
quase ilegíveis, que deixam de ser os tradicionais retratos de
família para constituírem a inquietante presença de vidas fixadas
no seu tempo, libertas do seu destino, não pelo prestígio da arte
mas em virtude de uma mecânica impassível: porque a fotografia
não cria, como a arte, eternidade, ela embalsama o tempo,
subtraindo-o simplesmente à sua própria corrupção.
Nesta perspectiva, o cinema vem a ser a consecução no tempo
da objectividade fotográfica. O filme não se contenta apenas em
conservar o objecto captado num dado momento, como, nos
fósseis, o corpo intacto dos insectos de uma era passada; ele
liberta a arte barroca de sua catalepsia convulsiva. Pela primeira
vez, a imagem das coisas é também a imagem da sua duração,
como que uma múmia da mudança.
As categorias da semelhança, que especificam a imagem
fotográfica determinam portanto também a sua estética em
relação à pintura. As virtualidades estéticas da fotografia residem
na revelação do real. Um reflexo no passeio molhado, ou um
gesto de uma criança, não depende de mim distingui-los no
tecido do mundo exterior; só a impassibilidade da objectiva,
despojando o objecto de hábitos e preconceitos, de toda a ganga
espiritual que embota a minha percepção, poderia torná-lo
virgem à atenção e, portanto, ao meu amor. Sobre a fotografia,
imagem natural de um mundo que não conhecíamos ou não
podíamos ver, a Natureza, enfim, faz mais do que imitar a arte:
ela imita o artista.
E pode mesmo ultrapassá-lo no seu poder criador. O universo
estético do pintor é heterogéneo ao universo que o envolve. O
quadro encerra um microcosmo essencial e substancialmente
diferente. A existência do objecto fotografado participa, pelo
contrário, da existência do modelo com uma impressão digital.
Com isso, ela junta-se realmente à criação natural em vez de a
substituir por outra.
Foi isso o que o surrealismo vislumbrou, ao apelar à gelatina da
chapa sensível a fim de engendrar a sua teratologia plástica. É
que, para o surrealismo, o efeito estético é inseparável da
eficácia mecânica da imagem sobre o nosso espírito. A distinção
lógica entre o imaginário e o real tende a ser abolida. Toda a
imagem deve ser sentida como objecto e todo o objecto como
imagem. A fotografia constituiu, portanto, uma técnica
privilegiada da criação surrealista, já que ela materializa uma
imagem que participa da Natureza: uma verdadeira alucinação. A
utilização do trompe l’oeil e da precisão meticulosa dos detalhes
na pintura surrealista são disto a contraprova.
A fotografia apresenta-se pois como o acontecimento mais
importante da história das Artes Plásticas. Ao mesmo tempo sua
libertação e realização, ela permitiu à pintura ocidental
desembaraçar-se definitivamente da obsessão realista e
reencontrar a sua autonomia estética. O «realismo»
impressionista, sob os seus álibis científicos, é o oposto do
trompe l’oeil. A cor, aliás, só pôde devorar a forma porque esta
já não possuía importância imitativa. E quando, com Cézanne, a
forma retomou a posse da tela, já não o fora, em todo caso,
conforme a geometria ilusionista da perspectiva. A imagem
mecânica, ao opor à pintura uma concorrência que atingia, para
lá da semelhança barroca, a identidade do modelo, por sua vez
obrigou-a a converter-se em objecto.
De nada vale a condenação pascaliana, uma vez que a fotografia
nos permite, por um lado, admirar na sua reprodução o original
que os nossos olhos não teriam sabido amar, e na pintura um
puro objecto cuja referência à natureza já não é mais a sua razão
de ser.
Em contrapartida, o cinema é uma linguagem.
Anda mungkin juga menyukai
- O filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaDari EverandO filme Zabriskie Point: fotografia e artes plásticas no cinemaBelum ada peringkat
- Ontologia Da Imagem Fotografica - Andre BazinDokumen6 halamanOntologia Da Imagem Fotografica - Andre BazinBruno TeodoroBelum ada peringkat
- Theodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFDokumen3 halamanTheodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFAde EvaristoBelum ada peringkat
- Paisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90Dari EverandPaisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90Belum ada peringkat
- O Contraste Do OlharDokumen22 halamanO Contraste Do OlharRafael SandimBelum ada peringkat
- HUYSSEN (Sobre Gde Divisão e Performance) - O Novo Museu de Andreas Huyssen e A PerformanceDokumen3 halamanHUYSSEN (Sobre Gde Divisão e Performance) - O Novo Museu de Andreas Huyssen e A PerformanceIsmael De Oliveira GerolamoBelum ada peringkat
- Autorretrato em FugaDokumen6 halamanAutorretrato em FugaCarlos MéloBelum ada peringkat
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasDari EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasBelum ada peringkat
- A Pintura Como Paradigma Da Percepção PDFDokumen26 halamanA Pintura Como Paradigma Da Percepção PDFBiagio D'AngeloBelum ada peringkat
- A Educacao Do Nao-Artista Parte I - Allan KaprowDokumen13 halamanA Educacao Do Nao-Artista Parte I - Allan KaprowLetícia BertagnaBelum ada peringkat
- Friedrich Kittler, o Fonógrafo e RilkeDokumen27 halamanFriedrich Kittler, o Fonógrafo e RilkeJorgeLuciodeCamposBelum ada peringkat
- Eleonora Fabião CORPO CÊNICO, ESTADO CÊNICODokumen6 halamanEleonora Fabião CORPO CÊNICO, ESTADO CÊNICOSimone WskiBelum ada peringkat
- A Fixação Da CrençaDokumen23 halamanA Fixação Da CrençaCarlos100% (1)
- André Parente 01Dokumen13 halamanAndré Parente 01Bruno DornelesBelum ada peringkat
- EVANDRO NASCIMENTO. Arquivo PDFDokumen18 halamanEVANDRO NASCIMENTO. Arquivo PDFlisbarbosaBelum ada peringkat
- Ementa (Janus) - Aspectos Do Ensaio FílmicoDokumen1 halamanEmenta (Janus) - Aspectos Do Ensaio FílmicoFernandaBelum ada peringkat
- SOUTO, Mariana. Constelações FílmicasDokumen13 halamanSOUTO, Mariana. Constelações FílmicasTranse FilmesBelum ada peringkat
- Kantor Está Morto! Esqueçam Kantor!Dokumen8 halamanKantor Está Morto! Esqueçam Kantor!Igor GomesBelum ada peringkat
- Estética e MétodoDokumen24 halamanEstética e MétodoKhinnasBelum ada peringkat
- Jacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFDokumen14 halamanJacques Ranciere - Conferência Política Da Arte PDFcamaralrs9299100% (1)
- Iconografia e IconologiaDokumen8 halamanIconografia e IconologiaGuaraci GomesBelum ada peringkat
- Resenha Joel Martins - Ed PoiesisDokumen2 halamanResenha Joel Martins - Ed PoiesisconradoBelum ada peringkat
- Souvenirs de Chris Marker: Memória, Tempo e História em La JetéeDokumen8 halamanSouvenirs de Chris Marker: Memória, Tempo e História em La JetéeVinícius Lima CostaBelum ada peringkat
- Kinografia (Texto para DançaEmFoco)Dokumen13 halamanKinografia (Texto para DançaEmFoco)Alexandre VerasBelum ada peringkat
- AGAMBEN, Giorgio - Arqueologia Da Obra de Arte PDFDokumen14 halamanAGAMBEN, Giorgio - Arqueologia Da Obra de Arte PDFCleberAraújoCabralBelum ada peringkat
- O Que É Semiótica (Resumo)Dokumen2 halamanO Que É Semiótica (Resumo)biapink100% (4)
- Poéticas Das Imagens Desdobradas.Dokumen20 halamanPoéticas Das Imagens Desdobradas.simoneBelum ada peringkat
- GOMES, Paulo. Artes Plásticas No Rio Grande Do Sul: Uma Panorâmica.Dokumen3 halamanGOMES, Paulo. Artes Plásticas No Rio Grande Do Sul: Uma Panorâmica.TatianaFunghettiBelum ada peringkat
- Jean-Claude Bernardet O Processo Como ObraDokumen6 halamanJean-Claude Bernardet O Processo Como ObraRodrigoCerqueiraBelum ada peringkat
- VALVERDE, Monclar - Recepção e ArtisticidadeDokumen39 halamanVALVERDE, Monclar - Recepção e ArtisticidadeRaissa BiribaBelum ada peringkat
- Suely Rolnik - Anotações Antropofágicas de Nosso TempoDokumen2 halamanSuely Rolnik - Anotações Antropofágicas de Nosso TempoMarilene PontesBelum ada peringkat
- A Mulher No Cinema Segundo Ann Kaplan - Entrevista A Denise LopesDokumen8 halamanA Mulher No Cinema Segundo Ann Kaplan - Entrevista A Denise LopesAnderson de SouzaBelum ada peringkat
- Mestiçagens Na Arte Contemporânea - Icleia Borsa CattaniDokumen3 halamanMestiçagens Na Arte Contemporânea - Icleia Borsa CattaniKathleen OliveiraBelum ada peringkat
- Anti-Museu / Anti-MuseumDokumen32 halamanAnti-Museu / Anti-MuseumMartin GrossmannBelum ada peringkat
- O Rosto - Giorgio AgambenDokumen5 halamanO Rosto - Giorgio AgambenLucas MarquesBelum ada peringkat
- A Estética Da MorteDokumen3 halamanA Estética Da MorteWiesengrundLudwigBelum ada peringkat
- Brito, João Batista - Literatura No Cinema - Texto Literário e Filme Como Ler o ConfrontoDokumen83 halamanBrito, João Batista - Literatura No Cinema - Texto Literário e Filme Como Ler o Confrontogabitz88Belum ada peringkat
- Ferreira Gullar - Manifesto NeoconcretoDokumen3 halamanFerreira Gullar - Manifesto NeoconcretoSonia Vaz0% (1)
- Hutcheon - Teoria e Política Da IroniaDokumen8 halamanHutcheon - Teoria e Política Da IroniaLuhren100% (1)
- ACERVO-PERFORMARE - Um Breve Panorama Sobre A Performance No Brasil - DarribaDokumen12 halamanACERVO-PERFORMARE - Um Breve Panorama Sobre A Performance No Brasil - DarribaCivone MedeirosBelum ada peringkat
- Bruno Morais Barulho GraficoDokumen50 halamanBruno Morais Barulho GraficoThaís BarrosBelum ada peringkat
- XAVIER, Ismail Cinema, Revelação e Engano PDFDokumen15 halamanXAVIER, Ismail Cinema, Revelação e Engano PDFSergio100% (1)
- Walter - Benjamin - A Obra de Arte Na Era Da Reprodução Técnica (1935) - MP2011.ppsxDokumen14 halamanWalter - Benjamin - A Obra de Arte Na Era Da Reprodução Técnica (1935) - MP2011.ppsxVanessa PaimBelum ada peringkat
- (TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaDokumen3 halaman(TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaMarcelo AlvesBelum ada peringkat
- A Edicao Fotografica Como Construcao de Uma Narrativa VisualDokumen16 halamanA Edicao Fotografica Como Construcao de Uma Narrativa VisualvaleciaribeiroBelum ada peringkat
- GREINER. O Devir Otaku Do MundoDokumen12 halamanGREINER. O Devir Otaku Do MundoMateus Nimer100% (1)
- A Crítica de Arte PDFDokumen29 halamanA Crítica de Arte PDFlucampanaBelum ada peringkat
- SONTAG, Susan. Na Caverna de Platão in Sobre FotografiaDokumen13 halamanSONTAG, Susan. Na Caverna de Platão in Sobre FotografiaFilipe Affonso VelosoBelum ada peringkat
- Jogos Teatrais o Ficha Rio de Viola Spolin PDFDokumen1 halamanJogos Teatrais o Ficha Rio de Viola Spolin PDFCláudio Zarco IIBelum ada peringkat
- Notas Sobre o Espaço Da GaleriaDokumen3 halamanNotas Sobre o Espaço Da GaleriaKarol RodriguesBelum ada peringkat
- História Do AudiovisualDokumen115 halamanHistória Do AudiovisualAntonio Cícero Sousa100% (1)
- AUTRAN, Arthur. A Noção de Ciclo Regional Na Hist. Cin. Bras.Dokumen10 halamanAUTRAN, Arthur. A Noção de Ciclo Regional Na Hist. Cin. Bras.Yuichi InumaruBelum ada peringkat
- Larrosa - Carta Aos Leitores Que Vão NascerDokumen14 halamanLarrosa - Carta Aos Leitores Que Vão NascerSérgio Mendes100% (1)
- O Sex Appeal Do Inorgânico Reflexões Sobre A Moda e Fetichismo Sexual em Walter Benjamin - Doc.warley Dias VERSAOFINALDokumen16 halamanO Sex Appeal Do Inorgânico Reflexões Sobre A Moda e Fetichismo Sexual em Walter Benjamin - Doc.warley Dias VERSAOFINALWarley Souza DiasBelum ada peringkat
- Edital Processo Seletivo Ppgmpa 2020Dokumen12 halamanEdital Processo Seletivo Ppgmpa 2020Ester Marçal FérBelum ada peringkat
- BURGER - Teoria Da VanguardaDokumen22 halamanBURGER - Teoria Da VanguardaSuzy FerreiraBelum ada peringkat
- Antonio Candido - Formação Da Literatura Brasileira - Momentos Decisivos. 1 e 2-Itatiaia (2000)Dokumen714 halamanAntonio Candido - Formação Da Literatura Brasileira - Momentos Decisivos. 1 e 2-Itatiaia (2000)Theo DuarteBelum ada peringkat
- Resumo ÉticaDokumen2 halamanResumo ÉticaWesley MeloBelum ada peringkat
- Helga FinterDokumen8 halamanHelga FinterCláudio ZarcoBelum ada peringkat
- Uma Investigação Filosófica Acerca Da Origem de Nossas Ideias Sobre o Sublime e o BeloDokumen29 halamanUma Investigação Filosófica Acerca Da Origem de Nossas Ideias Sobre o Sublime e o BeloVic RamosBelum ada peringkat
- Prova de Artes 9 AnoDokumen3 halamanProva de Artes 9 AnoProfº Benedito Leite de Souza JúniorBelum ada peringkat
- Dissertação - Gabriela Rodrigues de OliveiraDokumen133 halamanDissertação - Gabriela Rodrigues de OliveiraSalvador Cumaio JuniorBelum ada peringkat
- mh9 9.2 Século XX - Inovação e Rutura Na ArteDokumen18 halamanmh9 9.2 Século XX - Inovação e Rutura Na ArteJoão Carlos CaladoBelum ada peringkat
- Plano de Curso de Língua Espanhola Atualizado - 2 Série 2023Dokumen15 halamanPlano de Curso de Língua Espanhola Atualizado - 2 Série 2023Marta MenezesBelum ada peringkat
- Quatro Teses Sobre Estética - Rizvana Bradley e Denise Ferreira Da SilvaDokumen8 halamanQuatro Teses Sobre Estética - Rizvana Bradley e Denise Ferreira Da SilvaMayana De Azevedo DantasBelum ada peringkat
- Perpsctiva InvertidaDokumen10 halamanPerpsctiva InvertidaMarcelo Ramos SaldanhaBelum ada peringkat
- 11 Mea Culpa de Doca Street - Uma Histria Biogrfica Ou Uma Biografia LiterriaDokumen9 halaman11 Mea Culpa de Doca Street - Uma Histria Biogrfica Ou Uma Biografia LiterriaMonique Bastos100% (1)
- Estética Na Contemporaneidade: O Estilo KitschDokumen11 halamanEstética Na Contemporaneidade: O Estilo KitschErik IvanovBelum ada peringkat
- MonetDokumen2 halamanMonetSueli ConegundesBelum ada peringkat
- Resumo Do Livro "A Literatura em Perigo" de Tzvetan TodorovDokumen8 halamanResumo Do Livro "A Literatura em Perigo" de Tzvetan TodorovMendes JulianaBelum ada peringkat
- 2009 mediacaoNaArteContemporanea CayohonoratoDokumen19 halaman2009 mediacaoNaArteContemporanea CayohonoratoCayo HonoratoBelum ada peringkat
- A Arte de Comunicação Telemática PDFDokumen13 halamanA Arte de Comunicação Telemática PDFdenisebandeiraBelum ada peringkat
- A Estética Dos Cabelos Crespos em SalvadorDokumen111 halamanA Estética Dos Cabelos Crespos em SalvadorVanessa MarinhoBelum ada peringkat
- Modelo de Plano de Curso - Artes 2018 - 3º AnoDokumen3 halamanModelo de Plano de Curso - Artes 2018 - 3º AnoOlivia lunaBelum ada peringkat
- Arte EducaçãoDokumen478 halamanArte Educaçãootakumangaka2Belum ada peringkat
- TRABALHO DE LITERATURA ALJOFREIIpdfDokumen11 halamanTRABALHO DE LITERATURA ALJOFREIIpdfpaulo M. JulioBelum ada peringkat
- FuturismoDokumen47 halamanFuturismoFabiana DuarteBelum ada peringkat
- 9 - Limites Entre Estética e SaúdeDokumen3 halaman9 - Limites Entre Estética e SaúdeFrank InácioBelum ada peringkat
- Atividades Complementares - Filosofia - 1º Ano - 2º BimestreDokumen14 halamanAtividades Complementares - Filosofia - 1º Ano - 2º BimestreEdi RuizBelum ada peringkat
- Português - Realismo e NaturalismoDokumen9 halamanPortuguês - Realismo e Naturalismoma3845573Belum ada peringkat
- Caminhos de Fayga Ostrower Anna Bella GeigerDokumen10 halamanCaminhos de Fayga Ostrower Anna Bella GeigerMaraVolpi100% (1)
- Hélio Oiticica 'O Supra-Sensorial'Dokumen3 halamanHélio Oiticica 'O Supra-Sensorial'lauranadarBelum ada peringkat
- Marcel Martin e A Linguagem CinematográficaDokumen3 halamanMarcel Martin e A Linguagem CinematográficaMarcelo LopesBelum ada peringkat
- Análise Dos Poemas "Paternidade e "Ninho", de Tião PinheiroDokumen9 halamanAnálise Dos Poemas "Paternidade e "Ninho", de Tião PinheiroKarol SchineiderBelum ada peringkat
- Dadaísmo (Literatura)Dokumen13 halamanDadaísmo (Literatura)Gabriel Barbeiro100% (1)
- Harmonia Dos Contrários - O Grotesco e o Sublime No Fausto de GoetheDokumen90 halamanHarmonia Dos Contrários - O Grotesco e o Sublime No Fausto de GoetheJhoy P. de SouzaBelum ada peringkat
- Treinamento cerebral: Como funcionam a inteligência e o pensamento cognitivo (2 em 1)Dari EverandTreinamento cerebral: Como funcionam a inteligência e o pensamento cognitivo (2 em 1)Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (29)
- O fim da ansiedade: O segredo bíblico para livrar-se das preocupaçõesDari EverandO fim da ansiedade: O segredo bíblico para livrar-se das preocupaçõesPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (16)
- Psicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoDari EverandPsicologia sombria: Poderosas técnicas de controle mental e persuasãoPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (92)
- Elaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoDari EverandElaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoBelum ada peringkat
- Técnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoDari EverandTécnicas Proibidas de Manipulação Mental e PersuasãoPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Focar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoDari EverandFocar: Supere a procrastinação e aumente a força de vontade e a atençãoPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (53)
- O psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilDari EverandO psicólogo clínico em hospitais: Contribuição para o aperfeiçoamento da arte no BrasilBelum ada peringkat
- Treinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisDari EverandTreinamento cerebral: Compreendendo inteligência emocional, atenção e muito maisPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (169)
- As pulsões e seus destinos – Edição bilíngueDari EverandAs pulsões e seus destinos – Edição bilínguePenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Estudo de Casos: Relatos de AvaliaçõesDari EverandEstudo de Casos: Relatos de AvaliaçõesPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1)
- E-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadeDari EverandE-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadePenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Focar: Elimine distrações, perfeccionismo e faça maisDari EverandFocar: Elimine distrações, perfeccionismo e faça maisPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (21)
- Diálogo entre Terapia do Esquema e Terapia Focada na Compaixão: Contribuição à integração em Psicoterapias Cognitivo-ComportamentaisDari EverandDiálogo entre Terapia do Esquema e Terapia Focada na Compaixão: Contribuição à integração em Psicoterapias Cognitivo-ComportamentaisPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Como aprender mais rápido: Métodos e dicas para se tornar mais inteligenteDari EverandComo aprender mais rápido: Métodos e dicas para se tornar mais inteligentePenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (8)
- Psicanálise de boteco: O inconsciente na vida cotidianaDari EverandPsicanálise de boteco: O inconsciente na vida cotidianaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (3)
- Vou Te Ajudar A Fazer As Pessoas Clicar No Seu LinkDari EverandVou Te Ajudar A Fazer As Pessoas Clicar No Seu LinkPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- O brincar na clínica psicanalítica de crianças com autismoDari EverandO brincar na clínica psicanalítica de crianças com autismoPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (2)